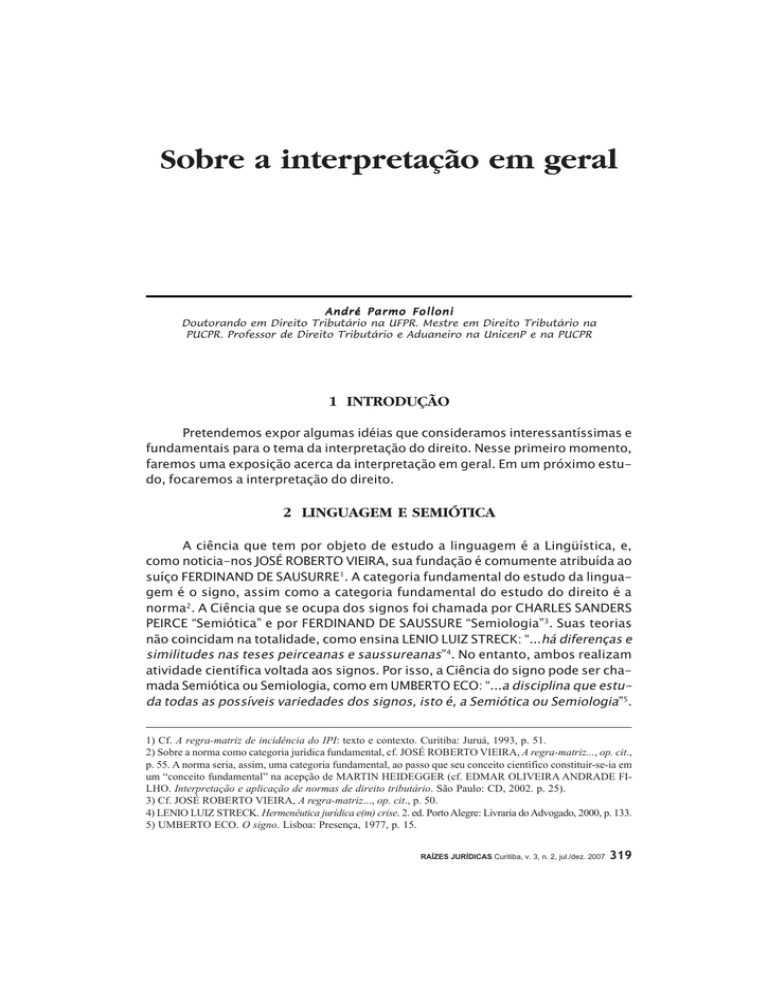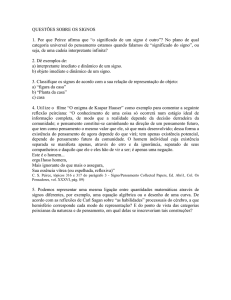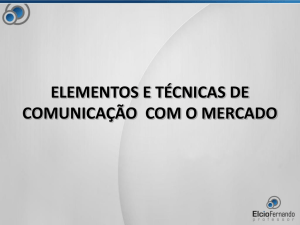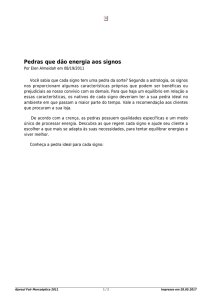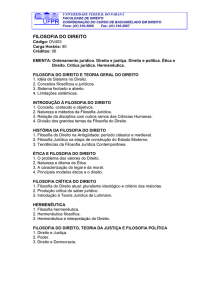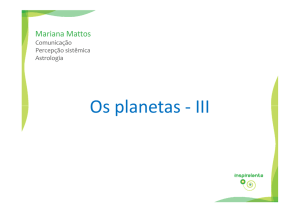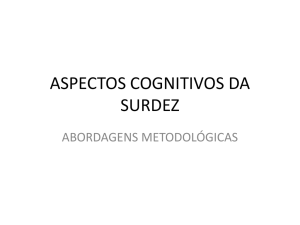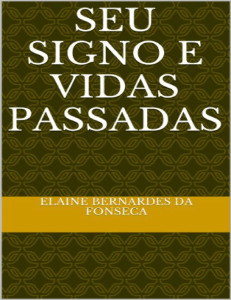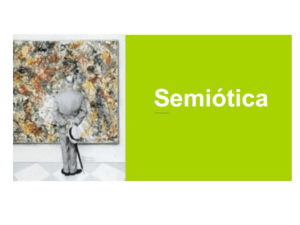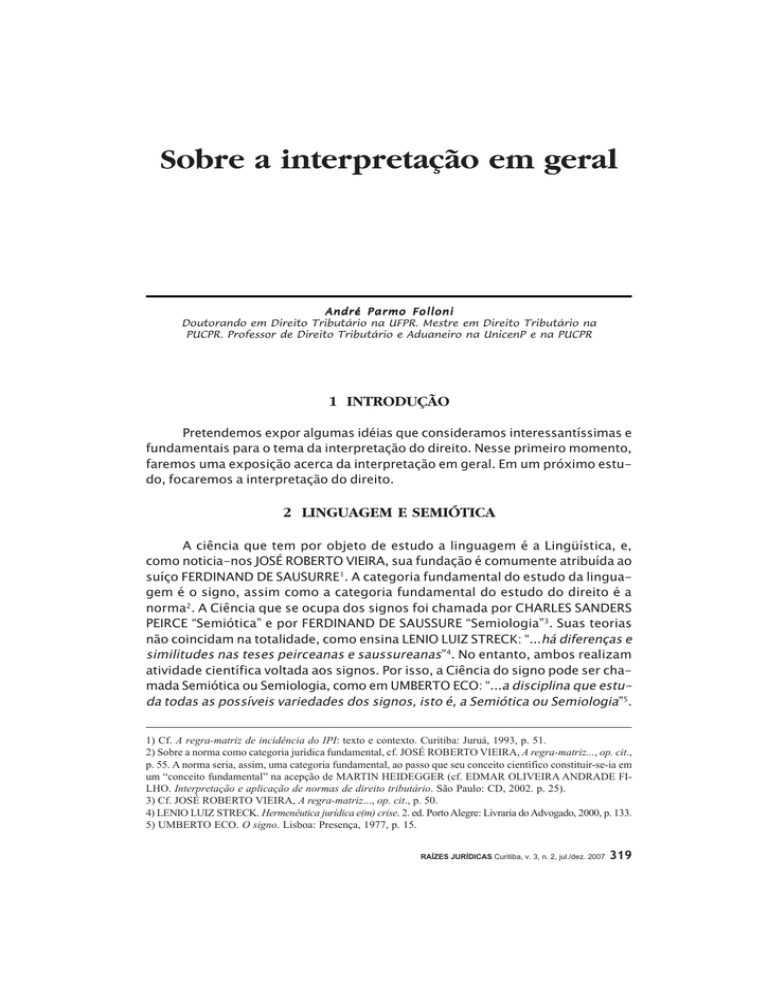
Sobre a interpretação em geral
André Parmo Folloni
Doutorando em Direito Tributário na UFPR. Mestre em Direito Tributário na
PUCPR. Professor de Direito Tributário e Aduaneiro na UnicenP e na PUCPR
1 INTRODUÇÃO
Pretendemos expor algumas idéias que consideramos interessantíssimas e
fundamentais para o tema da interpretação do direito. Nesse primeiro momento,
faremos uma exposição acerca da interpretação em geral. Em um próximo estudo, focaremos a interpretação do direito.
2 LINGUAGEM E SEMIÓTICA
A ciência que tem por objeto de estudo a linguagem é a Lingüística, e,
como noticia-nos JOSÉ ROBERTO VIEIRA, sua fundação é comumente atribuída ao
suíço FERDINAND DE SAUSURRE1. A categoria fundamental do estudo da linguagem é o signo, assim como a categoria fundamental do estudo do direito é a
norma2. A Ciência que se ocupa dos signos foi chamada por CHARLES SANDERS
PEIRCE “Semiótica” e por FERDINAND DE SAUSSURE “Semiologia”3. Suas teorias
não coincidam na totalidade, como ensina LENIO LUIZ STRECK: “...há diferenças e
similitudes nas teses peirceanas e saussureanas”4. No entanto, ambos realizam
atividade científica voltada aos signos. Por isso, a Ciência do signo pode ser chamada Semiótica ou Semiologia, como em UMBERTO ECO: “...a disciplina que estuda todas as possíveis variedades dos signos, isto é, a Semiótica ou Semiologia”5.
1) Cf. A regra-matriz de incidência do IPI: texto e contexto. Curitiba: Juruá, 1993, p. 51.
2) Sobre a norma como categoria jurídica fundamental, cf. JOSÉ ROBERTO VIEIRA, A regra-matriz..., op. cit.,
p. 55. A norma seria, assim, uma categoria fundamental, ao passo que seu conceito científico constituir-se-ia em
um “conceito fundamental” na acepção de MARTIN HEIDEGGER (cf. EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO. Interpretação e aplicação de normas de direito tributário. São Paulo: CD, 2002. p. 25).
3) Cf. JOSÉ ROBERTO VIEIRA, A regra-matriz..., op. cit., p. 50.
4) LENIO LUIZ STRECK. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 133.
5) UMBERTO ECO. O signo. Lisboa: Presença, 1977, p. 15.
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
319
A Semiótica, enquanto ciência que tem por objeto o signo, categoria fundamental
do estudo da linguagem, é ciência indispensável na análise do direito enquanto
fenômeno lingüístico.
O conceito de signo não é unívoco, assim como não o são os conceitos de
direito, norma, sanção, competência, tributo etc. Pode-se atribuir maior ou menor carga semântica ao significante “signo”, e o manejo das várias acepções é
tormentoso. UMBERTO ECO, que dedicou toda uma obra à definição de “signo”,
chegou a afirmar que um livro sobre o conceito de signo deve ocupar-se, simplesmente, de tudo6!
2.1 SIGNO
O signo é um elemento no processo de comunicação. Serve, de acordo com
UMBERTO ECO, para transmitir uma informação de um emissor a um receptor7.
Mas, ao passo que o significante atinge o destinatário da comunicação, o signo
é, também, uma entidade que entra em um processo de significação, pois para
que o receptor entenda aquilo que o emissor pretende seja entendido, precisa
dominar o código no qual este se expressa8.
Alguns preferem definir o signo como uma entidade física. Por exemplo,
uma palavra, um desenho, um sinal, um luminoso, um objeto. A palavra “cavalo” seria assim um signo que estaria no lugar de um cavalo (animal). O desenho de um cavalo seria igualmente um signo. Um sinal de trânsito poderia
ser considerado um signo que está no processo de comunicação a um motorista de que aquela rua é sem saída. Um luminoso pode ser um signo de um
incêndio. Uma garrafa encontrada por uma mãe no quarto do filho pode ser
um signo de alcoolismo. O signo, nesta primeira acepção, confunde-se com o
significante: é algo que está por outro algo. Outros entendem o signo como
relação diádica entre significante e significado, como o faz FERDINAND DE
SAUSURRE, na interpretação que lhe dá LENIO LUIZ STRECK, em um “modelo
bilateral”9. Assim, apenas o significante, enquanto suporte físico, não pode
mais ser considerado o signo, sendo este o estado de relação do significante
com seu significado.
Pode-se, contudo, definir o signo como uma relação triádica que se forma
entre o significante, seu significado e a significação que provoca, como em CHARLES PIERCE: “O signo é, pois, uma relação trinitária entre o próprio signo [aqui
referido por significante, o “suporte físico”], seu objeto [“significado”] e quem
interpreta [“significação”]”10. Assim, a palavra “cavalo” – significante – pode se
referir a um cavalo específico, que ganhou determinada corrida. Este será o sig6) Cf. Idem, ibidem, p. 14.
7) Cf. Ibidem, p. 25.
8) Cf. Idem, ibidem, p. 27.
9) FERDINAND DE SAUSURRE apud LENIO LUIZ STRECK, Hermenêutica..., op. cit., p. 134.
10) Apud JOSÉ ROBERTO VIEIRA, A regra-matriz..., op. cit., p. 51. Esclarecemos nos colchetes, e colocamos,
entre aspas, os termos de EDMUND HUSSERL que adotaremos, também referidos por JOSÉ ROBERTO VIEIRA
na mesma passagem.
320
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
nificado do significante (suporte físico) “cavalo”. Ao ler a palavra “cavalo” escrita
no jornal, o destinatário da mensagem formará, em sua consciência, uma significação qualquer, que não será nem a palavra cavalo escrita, nem aquele cavalo
vencedor, que não pode evidentemente estar dentro de sua cabeça. A significação não se trata de uma entidade física, como o é o significante e como pode ser
(mas nem sempre será) o significado.
A distinção significante/significado/significação tem origem, como relata UMBERTO ECO, na filosofia estóica 11. Nos processo sígnicos, os estóicos
distinguiam i) o semainon, entidade física, o significante; o ii) semainomenon,
o que é dito pelo signo e que não representa uma identidade física, equiparado
ao aqui denominado significação; e iii) o pragma, o objeto a que o signo se
refere, outra entidade física, o significado. Este, contudo, nem sempre será uma
entidade física.
Adotaremos a concepção de signo como relação triádica entre significante,
significado e significação, porquanto assim não abandonaremos o suporte físico
da mensagem emitida, aquilo a que a mensagem se refere e o sentido que outorga à mensagem seu receptor. Mas, restringiremos o conceito para pensarmos
apenas nos significantes textuais. O texto, então, é aquilo que podemos chamar
de um significante, porque significa algo. Significa o que? Significa seu significado, isto é, significa aquilo a que o texto remete. O significado do texto é aquele
objeto a que o significante se remete. Mas como podemos ter acesso ao significado, àquele objeto ao qual o texto remete?
Imaginemos um exemplo singelo; pensemos na palavra “beijo”. Ao lermos
a palavra “beijo” escrita – como aqui e agora o leitor o faz – teremos poucas
dúvidas em supor que aquele que a escreveu certamente referia-se a um beijo.
Isto significa dizer que algum beijo é o significado daquela marca no papel. Isto
é: claramente, o significante “beijo” significa algo, por si só. Contudo, em rigor,
não podemos ter acesso àquele beijo a que o autor do texto se referiu. Mesmo
porque aquele pode ser até um beijo inexistente, caso seja o texto, e. g., uma
ficção ou um poema, e nesse caso ao significante não corresponderá um referente real (no exemplo de UMBERTO ECO, imaginemos o significante “unicórnio”,
que não tem referente físico; seu significado não é um objeto físico12).
Aquela palavra escrita no papel não é um beijo real. Não é nem o beijo real.
Tampouco pode designar a essência do beijo. Um beijo qualquer, a que o autor
do texto se refere, é seu significado, ao qual rigorosamente não temos acesso.
Tudo o que podemos fazer é, a partir do texto, a partir do significante, construirmos, em nossa mente, uma significação. Assim, ao ler o texto pensaremos em
um beijo, procurando dar sentido àquela expressão escrita. Essas as três categorias semióticas formadoras do signo: o significante (o texto, suporte físico), o
significado (aquilo a que o texto se refere) e a significação (aquilo que o intérprete entende do texto).
11) Cf. O signo, op. cit., p. 28.
12) Ibidem, p. 30.
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
321
Ao lermos a palavra beijo, quantos beijos podem nos vir à mente! Sabemos que há vários tipos deles: o beijo do pai no filho, o beijo do namorado na
namorada, o beijo atleta na medalha, o beijo do cavalheiro na mão da dama, o
beijo de Judas em Cristo... Quantas significações podemos produzir a partir de
um único significante!
Isso evidencia que, muito embora o significante tenha significado, porque
do contrário nem significante seria, depende do intérprete o surgimento do signo. Para tal, o intérprete juntará ao significante, que já tem significado, sua – do
intérprete – significação própria. Logo, para cada intérprete haverá, a partir do
significante, um signo diferente.
O que não impede haja núcleos de significação comuns a vários intérpretes. É o que ocorre em linguagens como a jurídica. Para o jurista, deixando de
lado eventual ambigüidade, há um núcleo – mais ou menos vago – do que significa “propriedade”, “competência”, “casamento”, “tributo” etc., e um núcleo,
ainda mais vago, do que significa “interesse público”, “reputação ilibada”, “dignidade humana” etc.
2.2 TRÊS MANEIRAS DE CONSIDERAR O SIGNO
Pode-se considerar o signo em três planos, dimensões ou modos, segundo a proposta de CHARLES MORRIS: o sintático, o semântico e o pragmático13.
No plano sintático há duas possibilidades: o signo é considerado em suas
relações com os outros signos, ou o signo é considerado nas articulações internas do significante. Assim, se se verifica a posição de uma palavra em uma frase
a análise é sintática. Igualmente, se se verifica a estrutura interna da palavra
(suas sílabas, e. g.), faz-se análise sintática.
No plano semântico considera-se o signo na relação entre o significante e
aquilo que significa. Isto é: a cogitação semântica, ensina PAULO DE BARROS
CARVALHO, “...diz respeito às ligações dos símbolos com os objetos significados”14. Procurar definir-se a que se refere o emissor quando utiliza determinado
símbolo é tarefa semântica.
Por fim, o plano pragmático considera as ligações entre os signos e seus
utentes. É análise pragmática a verificação de como emissores e receptores valem-se dos signos quando da comunicação. Analisa, diz TERCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR, a “...conexão situacional na qual os signos são usados...”15.
Em sentido análogo, CHARLES PEIRCE elabora divisões triádicas do signo,
das quais as três mais conhecidas são a relação dos signos entre si, a relação do
signo com seu significado e a relação do signo com seu interpretante, os usuários dos símbolos16; em outras palavras: sintaxe, semântica e pragmática.
13) Cf. UMBERTO ECO, O signo, op. cit., p. 32.
14) Curso de direito tributário. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 97.
15) Direito, retórica e comunicação: subsídios para uma pragmática do discurso jurídico. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 1997. p. IX.
16) Cf. LENIO LUIZ STRECK, Hermenêutica..., op. cit., p. 140. JOSÉ ROBERTO VIEIRA refere-se, ainda, a
RUDOLF CARNAP (Cf. A regra-matriz..., op. cit., p. 51).
322
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
2.3 ANÁLISE DA LINGUAGEM
Quando se entende que a linguagem é um “conjunto sígnico”, como afirma PAULO DE BARROS CARVALHO, percebe-se que se forma dos três componentes que integram o signo: “...um substrato material, de natureza física, que
lhe sirva de suporte, uma dimensão ideal na representação que se forma na
mente dos falantes (plano da significação) e o campo dos significados, vale
dizer, dos objetos referidos...”17.
E se o signo pode ser considerado sob três dimensões, então sabemos,
com PAULO DE BARROS CARVALHO, que a análise de “...toda e qualquer manifestação da linguagem pede a investigação de seus três planos fundamentais: a
sintaxe, a semântica e a pragmática”18, de modo que não se pode descuidar de
nenhum deles se se pretende uma adequada análise lingüística.
A análise de uma linguagem demanda a análise do suporte material do
signo. Em se tratando de substrato escrito, impõe a análise do texto. Mas a análise lingüística não pode estacionar no texto. Deve percorrer, ainda, o plano dos
possíveis significados do texto, ainda que o significado único seja, em rigor,
inalcançável pelo intérprete. Destarte, se o intérprete se depara com determinada
palavra, deverá verificar quais as diversas acepções semânticas possíveis que a
palavra comporta. Com isso, o intérprete produzirá, a partir do texto, uma significação, ente que igualmente integra a análise lingüística.
A verificação de como se comporta o signo em sua estrutura interna e de
como se insere em um conjunto de símbolos, a análise sintática, é também imprescindível. Um sistema de símbolos, para ser bem analisado, merece seja estudado como se relacionam os signos naquela estrutura.
Igualmente imprescindível é a verificação das relações entre os signos e a
forma como são utilizados, que se dá no plano pragmático. Um significado só
pode ser aceito como adequado verificando-se como e por quê seus utentes
utilizam os signos de determinada forma – para demonstrar, explicar, convencer,
persuadir etc.
3 HERMENÊUTICA
Hermenêutica é o estudo a interpretação. Esta, por sua vez, foi definida por
LOURIVAL VILANOVA como a atividade de “...atribuir valores aos símbolos, ou
seja, adjudicar-lhes significações...”19. Logo, interpreta-se produzindo significação, e para a produção da significação é necessária a interpretação. Mas os símbolos não são apenas textuais, e então não apenas a interpretação de textos é objeto
da Hermenêutica e da Semiótica. Para os limites desse trabalho, interessa a Hermenêutica Jurídica enquanto ciência que estuda a interpretação do direito. Entretanto, antes de tratarmos da Hermenêutica Jurídica, é pertinente um estudo da
17) Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 15.
18) Curso..., op. cit., p. 96.
19) Lógica jurídica. São Paulo: Bushatsky, 1976. p. 91.
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
323
Hermenêutica em geral e, ainda, da hermenêutica filosófica, que admite a hermenêutica como forma de compreensão do mundo, resultado de uma reviravolta nos
paradigmas filosóficos ocorrida a partir da segunda metade do século XX.
3.1 MUDANÇA DE PARADIGMAS E A FILOSOFIA DA LINGUAGEM
O estudo da linguagem ganha ares de imprescindibilidade quando a filosofia passa por essa reviravolta, essa mudança de paradigma, que faz surgir a
filosofia da linguagem.
Segundo ensina JÜRGEN HABERMAS, o conceito de paradigma é oriundo da
história da ciência. Contudo, adaptado pelos filósofos, passa a ser aplicado à
história da filosofia, com o que é possível dividir-se “...as épocas históricas com
o auxílio de ‘ser’, ‘consciência’ e linguagem’”20. Fica, então, possível afirmar-se a
existência de três grandes paradigmas na história da filosofia: o paradigma da
filosofia do ser, o paradigma da filosofia da consciência e o paradigma da filosofia da linguagem. Quando se passa do segundo paradigma ao terceiro, a linguagem alcança a categoria de condição de possibilidade do conhecimento, com o
que seu estudo passa a ser cada vez mais valorizado. Essa mudança de paradigma é referida como viragem (ou giro, ou guinada, ou reviravolta) lingüística (linguistic turn), de acordo com os vários autores, e ocorre quando se revoluciona o
pensamento filosófico predominante desde DESCARTES.
3.1.1 O paradigma epistemológico da filosofia do ser e da filosofia
da consciência
Os filósofos imersos nos dois primeiros paradigmas (ser e consciência),
vigorantes desde a antiguidade até a modernidade, têm concepções epistemológicas comuns. Todos pensam, abstraídas as várias variações, que o sujeito, de
alguma forma, seria capaz de apreender a verdade essencial e universal do mundo e das coisas para, em seguida, vertê-la em linguagem. O ser humano racional
chega ao mundo das idéias concebido por PLATÃO, e sua consciência percebe –
diz PLATÃO: “...a alma apreende...”21 – a verdade definitiva, as coisas em si, em
uma atividade contemplativa e cognitiva do real. PLATÃO é um pensador típico
do primeiro paradigma, que pensa a partir do ser, mas as concepções epistemológicas desse paradigma são bastante aproximadas daquelas utilizadas pelos
filósofos já imersos no paradigma da consciência, que se inicia, de acordo com
CELSO LUIZ LUDWIG, com DESCARTES, a quem qualifica como “...o fundador da
filosofia moderna”22. O real estava em algum lugar misterioso, repousando à espera do homem, aguardando ser conhecido. Ensinam EDUARDO BITTAR e GUI-
20) Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990, p. 21. Paradigmas
aos quais CELSO LUIZ LUDWIG adiciona um quarto: vida concreta (cf. Para uma filosofia jurídica da
libertação: paradigmas da filosofia, filosofia da libertação e direito alternativo. Florianópolis: Conceito Editorial, 2006, p. 27).
21) Fédon. In: PLATÃO. Diálogos. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 66.
22) Para uma filosofia…, op. cit., p. 53.
22) Para uma filosofia…, op. cit., p. 53.
324
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
LHERME ASSIS DE ALMEIDA: “Assim, incumbe à alma logística a contemplação da
verdadeira Realidade, de onde se extraem os conhecimentos certos e definitivos
para serem seguidos pelos homens”23. Há, e. g., a idéia do Bom em si, do Justo em
si, do Belo em si, do Maior em si, do Grande em si, do Igual em si etc.
Em diálogo com SÍMIAS, explica SÓCRATES (PLATÃO): “...afirmamos sem dúvida que há um igual em si; não me refiro à igualdade entre um pedaço de pau e
outro pedaço de pau, entre uma pedra e outra pedra, nem a nada, enfim, do mesmo
gênero; mas a alguma coisa que, comparada a tudo isso, disso, porém, se distingue: – O Igual em si mesmo”24. Mais adiante: “E o que é grande é grande por meio
da Grandeza; e o que é maior pelo Maior...”25. O homem, antes de nascer, já esteve
no mundo das idéias, e na vida dele recorda-se, de modo que conhecer é recordar
contemplativamente, abstraindo das condições de homem vivo, como as sensações, as vontades, o corpo, as vaidades etc., agindo apenas a consciência (alma),
de modo que o filósofo deve renunciar às fraquezas do homem comum.
O homem em sua consciência conhece o real (idéia) e, então, nomina-o,
com o que a palavra corresponde à essência real do objeto, anteriormente conhecida sem seu intermédio. O real é conhecido em si mesmo, sem mediação lingüística. A linguagem vem depois, tendo um papel secundário no conhecimento.
Nesse sentido, lembra LENIO LUIZ STRECK, “...para PLATÃO, o significado precede o significante e o determina...”, havendo uma “...relação de semelhança entre
as idéias e as coisas e entre estas e as palavras”26. O conhecimento assim alcançado é puro e certo, pois atinge a essência27. A linguagem é uma ponte, uma
terceira coisa que se põe entre o sujeito e o objeto, consistindo ainda em um
perigo para o conhecimento verdadeiro, uma barreira que dificulta o conhecimento das coisas em si, em razão de suas ambigüidades e vaguezas (“a linguagem mascara o pensamento”, diz LUDWIG WITTGENSTEIN28). Aquele que trabalha
a linguagem, como os sofistas, merece pouco crédito para PLATÃO: “...o que traz
o sofista é uma falsa aparência de ciência universal, mas não a realidade”29. O
conhecimento na linguagem é enganador; na consciência, é verdadeiro.
E a filosofia, no geral, segue esta marcha até a modernidade, quando, e. g.,
IMMANUEL KANT afirma, com suas categorias a priori do pensamento, que o conhecimento do que é ou não dever moral depende de um exercício de racionalidade, patenteando com “...clareza que o princípio do dever é deduzido da razão
pura...”30. Assim, para KANT toda filosofia “...requer um sistema de conceitos racionais puros independente de quaisquer condições de intuição, isto é, uma metafísica”, e então “...nenhum princípio moral é baseado, como por vezes as pessoas
23) Curso de filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2001, p. 77.
24) Fédon, op. cit., p. 77.
25) Ibidem, p. 107.
26) Hermenêutica..., op. cit., p. 107. Grifos do original.
27) Sobre a filosofia da verdade e do conhecimento de PLATÃO, cf. o extraordinário estudo de HANS KELSEN
(A ilusão da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1996).
28) Tratactus logico-philosophicus. Lisboa: Fundação Caloste Gulbenkian, 1995, p. 52.
29) Sofista. In: PLATÃO. Diálogos, op. cit., p. 151.
30) A metafísica dos costumes. Bauru: Edipro, 2003, p. 221.
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
325
supõem, em qualquer sentimento que seja. Qualquer princípio desse jaez é realmente uma metafísica obscuramente pensada, que é inerente a todo ser humano,
devido à sua predisposição racional...”31. Por isso, entende ENRIQUE DUSSEL que
KANT procura “...negar o nível material ou do ‘sentimento moral’ em favor dos
‘primeiros princípios do juízo’ que são conhecidos só pelo ‘entendimento puro’”32.
O objeto é conhecido pela consciência; a verdade é metafísica. Ensina MANFREDO
OLIVEIRA que “para a metafísica clássica, o conhecimento verdadeiro consiste na
captação da essência imutável das coisas, o que, precisamente, é depois comunicado pela linguagem”33. Nesse sentido, a linguagem tem um papel secundário,
pois o conhecimento perfeito é obtido por contemplação. A linguagem é apenas
um veículo de transmissão da verdade revelada na consciência.
LOURIVAL VILANOVA, em algumas passagens, revela-se influenciado por esse
paradigma, quando, e. g., afirma que o sujeito cognoscente conhece o real por meio
sensorial e, em seguida, exprime-o em linguagem: “o ser-verde-da-árvore, que se
me dá num ato de apreensão sensorial, é base para outro ato, o de revestir esse dado
numa estrutura de linguagem, na qual se exprime a relação conceptual denominada
proposição”34. Primeiro o conhecimento metafísico; depois, sua expressão em linguagem, para comunicar o conhecimento havido contemplativamente.
3.1.2 O paradigma da filosofia da linguagem
Entretanto, este paradigma da consciência recebe um duro golpe quando os
filósofos percebem que a verdade depende, em boa medida, daquele que a pensa e
a compreende. Os filósofos, então, passam a admitir que é o ser que outorga sentido ao ente. Não há uma verdade absoluta, uma essência, uma universalidade, o
mundo como ele é, o mundo das idéias, a ser conhecido pelo sujeito mediante
método contemplativo. Nesse novo paradigma, a verdade é construída pelo sujeito. O conhecimento depende do sujeito, e a verdade não é mais obtida por um
método de “contemplação intelectual” (na expressão de HABERMAS35), mas construída em um processo de compreensão, dependente portanto do intérprete. Explica HABERMAS: “o trabalho de constituição do mundo deixa de ser uma tarefa da
subjetividade transcendental para se transformar em estruturas gramaticais”36.
Conhecer é interpretar. O mundo não é conhecido contemplativamente, mas compreendido interpretativamente. E compreender faz parte da ontologia humana.
Destarte, nesse novo paradigma deixa-se de considerar a linguagem como
uma terceira coisa intrometida entre o sujeito e o objeto. A linguagem passa a ser
31) Ibidem, p. 219-220.
32) Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 172.
33 Apud LENIO LUIZ STRECK, Hermenêutica..., op. cit., p. 113.
34) As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 37. Em obra
anterior, revela o mesmo entendimento ao separar o conhecimento em planos: i) o sujeito cognoscente, ii) o ato
subjetivo ou psíquico de conhecer, iii) o dado-de-fato objeto do conhecimento, iv) a linguagem em que se fixa e
se comunica o conhecimento e v) a proposição que declara que o conceito-predicado vale para o conceito sujeito
(Cf. Lógica ..., op. cit., p. 15.
35) Pensamento..., op. cit., p. 40.
36 Ibidem, p. 15.
326
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
entendida como uma condição de possibilidade do conhecimento. Inexiste conhecimento contemplativo, sem linguagem. Ao ser humano é impossível colocar-se
fora da linguagem para apreender a verdade e, então, posteriormente descrevê-la,
surgindo, como relata TERCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR, uma “...concepção do discurso enquanto produção de pensamento e não enquanto instrumento lingüístico
de expressão de coisas pensadas...”37. E o mesmo LOURIVAL VILANOVA agora
mostra-se em consonância com esse novo paradigma: “o conhecimento ocorre
num universo-de-linguagem e dentro de uma comunidade-do-discurso”, com o
que reconhece a “...dimensão inter-subjetiva...” do conhecimento38.
De acordo com CARLOS NIETO BLANCO, a mudança do paradigma da filosofia da consciência em direção ao paradigma da linguagem (viragem lingüística)
ocorreu em três frentes39. A primeira delas é o neopositivismo lógico. Esse movimento, representado pelos integrantes do Círculo de Viena, entendia a filosofia
como o estudo das possibilidades de afirmação da verdade. E as possibilidades de
explicação da verdade dependiam de como se dava a linguagem científica, com o
que acabou, na crítica de LENIO LUIZ STRECK, “...reduzindo a filosofia à epistemologia e esta à semiótica...”40. Entretanto, foram esses mesmos filósofos, continua o
autor, que “...afirmaram que a missão mais importante da filosofia deve realizar-se
à margem das especulações metafísicas, numa busca de questionamentos estritamente lingüísticos...”41. Inicia-se, portanto, o processo de rompimento com o paradigma da filosofia da consciência ao negar-se a metafísica como lá concebida,
buscando ainda a formação de uma linguagem rigorosa e exata para o correto
desenvolvimento das ciências. Esse ideal de uma ciência neutra no campo axiológico, exata e rigorosa levou o neopositivismo lógico a desenvolver ao máximo os
planos sintático e semântico da linguagem científica, com o que enriqueceu sobremaneira seu estudo. O conhecimento científico se dá na linguagem científica.
Contudo, ao abstrair os valores e as formas de utilização da linguagem, o neopositivismo lógico acaba por deixar de lado o plano pragmático.
A segunda frente é a filosofia de LUDWIG WITTGENSTEIN em sua fase madura, com a publicação da obra Investigações Filosóficas. Segundo LENIO LUIZ STRECK, é com WITTGENSTEIN que “...somente temos o mundo na linguagem”, pois
com ele “a linguagem deixa de ser um instrumento de comunicação do conhecimento e passa a ser condição de possibilidade para a própria constituição do conhecimento”42. WITTGENSTEIN abandona a busca do ideal de rigor e exatidão da
linguagem representativa do mundo real, antes preconizado em seu Tratactus Logico-Philosophicus como a linguagem que impede qualquer erro lógico43. Agora
não há mundo real a ser conhecido sem a linguagem, nem possibilidade de uma
37) Direito..., op. cit., p. IX.
38) As estruturas..., op. cit., p. 38.
39) Cf. LENIO LUIZ STRECK, Hermenêutica..., op. cit., p. 149.
40) Op. loc. cit.
41) Op. loc. cit.
42) Hermenêutica..., op. cit., p. 152.
43) Cf. Tratactus..., op. cit., p. 99.
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
327
linguagem unívoca. Valoriza WITTGENSTEIN, no segundo momento, o plano pragmático da linguagem, não admitindo qualquer possibilidade de um ideal de exatidão desvinculado dos casos concretos em que é suscitado. Pergunta, e. g., se “...é
inexato se eu não indicar a distância que nos separa do sol até exatamente 1m? E
se não indicar ao marceneiro a largura da mesa até 0,001mm?”)44.
Por fim, a terceira frente surge com JOHN AUSTIN, que estuda as possibilidades de uso da linguagem para conseguir ações, descrevendo a amplitude de
coisas que a linguagem pode fazer. Novamente uma valorização do plano pragmático. Por outro lado, AUSTIN considera a linguagem ordinária necessariamente
imprecisa e sujeita a arbitrariedades, com o que não pode ser a última palavra,
admitindo a impossibilidade de construção de um discurso científico unívoco.
Essas três frentes, todas elas valorizando a linguagem, seja para propor o
alcance do conhecimento em uma linguagem neutra, rigorosa e com pretensões
de univocidade, seja, pelo contrário, para propor a impossibilidade dessa empreitada, concorreram para a passagem do segundo grande paradigma filosófico,
que se sustentava desde a antiguidade, ao paradigma da filosofia da linguagem.
3.2 HERMENÊUTICA FILOSÓFICA
Em um dado momento a filosofia percebe não haver mais sentido na busca
de uma essência, uma vez que esta ou é inatingível ou, ainda que atingível, não é
comunicável sem a linguagem e suas vicissitudes, e o sábio é enterrado levando
consigo sua essência descoberta. Se é assim, pensar a questão da essência é
atividade absolutamente sem sentido, com ensina TERCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR: “...não se afirma que a essência é inatingível, mas que a questão da essência não tem sentido. A ‘essência’ de ‘mesa’ não está nem nas coisas nem na
própria palavra. Na verdade, ‘essência’ é apenas, ela própria, uma palavra que
ganha sentido num contexto lingüístico: depende de seu uso”45.
A partir daquele momento, a condição de possibilidade do conhecimento
deixa de ser a contemplação do mundo das idéias, passando a compreensão do
mundo a ser buscada por meio da interpretação de sua linguagem. Surge, então, a hermenêutica como forma de compreensão do mundo. Esta hermenêutica
filosófica não se cinge à interpretação de textos, muito menos reduz-se à interpretação das proposições prescritivas do direito positivo, mas trata, segundo HANS GEORG GADAMER, da totalidade de nosso acesso ao mundo passando
por nossa condição de seres necessariamente imersos nesse mundo, realizado
sempre pela e na linguagem46.
O conhecimento não pode mais ser considerado objetivo (como se entende
“objetividade” no paradigma da filosofia da consciência), isto é, uma verdade
alcançada, uma essência descoberta. O conhecimento é construído na linguagem, e, portanto, para valer, deve ser aceito pela comunidade lingüística, com o
44) Investigações filosóficas. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 49.
45) Introdução..., op. cit., p. 36.
46) Cf. LENIO LUIZ STRECK, Hermenêutica..., op. cit., p. 177.
328
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
que passa a ser inter-subjetivo, dependendo do intérprete e de seu auditório. A
busca da essência universal e imutável não nos faz sentido, pois só vemos aparências, de modo que não há fatos, como no antigo WITTGENSTEIN (“o mundo
compõe-se de fatos”47), mas “...há apenas interpretações”, como afirma FRIEDRICH NIETZSCHE48, superando-se, assim, a distinção grega entre aparência e realidade. A realidade para o ser é o que dela lhe aparece. Por isso, ensina LUDWIG
WITTGENSTEIN, é correto o uso da palavra aceito, como tal, pela comunidade
lingüística: “correto e falso é o que os homens dizem; e na linguagem os homens
estão de acordo”49. Em sentido equivalente, JÜRGEN HABERMAS: “uma teoria da
linguagem ... não se orienta mais semanticamente pela compreensão de proposições, mas pragmaticamente, pelos proferimentos através dos quais os falantes
se entendem mutuamente sobre algo”50.
Não há a verdade absoluta na essência do ente, nem há uma verdade empírica nas coisas e fatos, mas há a verdade na linguagem e na interpretação. E nada
mais humano – seres culturais, falíveis e prisioneiros da linguagem que somos!
Na síntese de ERNILDO STEIN: “A hermenêutica será, assim, esta incômoda verdade que se assenta entre duas cadeiras, quer dizer, não é nem uma verdade
empírica, nem uma verdade absoluta – é uma verdade que se estabelece dentro
das condições humanas do discurso e da linguagem. A hermenêutica é, assim, a
consagração da finitude”51.
Ao deitar os olhos sobre um significante textual, o intérprete, para produzir
a significação, deverá procurar um significado, isto é, explorar as relações semânticas entre o significante e seu referente. Para tanto, será necessário verificar o
contexto no qual se insere. A significação que o intérprete produzirá será influenciada pelo significante, pelos significados possíveis, pelo contexto e, inegavelmente, por suas próprias idiossincrasias. O intérprete, se for mais ou menos culto,
produzirá uma significação diferente. E assim se for mais ou menos preconceituoso, mais ou menos objetivo, mais ou menos liberal, mais ou menos ranzinza,
mais ou menos benevolente, mais ou menos ético, mais ou menos conhecedor da
história e dos fatos etc. O intérprete é um homem, não uma máquina.
Nesse sentido, a hermenêutica filosófica de MARTIN HEIDEGGER, que considera a compreensão do texto influenciada por uma pré-compreensão histórica
que o sujeito já traz, fatalmente, acerca do mundo, daí a identidade entre ser e
tempo: “ser enquanto presença é determinado pelo tempo”52. Todo conhecimento produzido pelo intérprete a partir de um significante textual parte de algo préexistente, essa pré-compreensão que representa “uma antecipação do sentido
do que se compreende, uma expectativa de sentido determinada pela relação do
47) Tratactus..., op. cit., p. 29.
48) LENIO LUIZ STRECK, Hermenêutica..., op. cit., p. 124.
49) Investigações..., op. cit., p. 94.
50) Pensamento..., op. cit., p. 33.
51) Apud LENIO LUIZ STRECK, Hermenêutica..., op. cit., p. 161.
52) Tempo e ser. In: MARTIN HEIDEGGER. Conferências e escritos filosóficos. São Paulo: Abril Cultural,
1979, p. 258.
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
329
intérprete com a coisa no contexto da interpretação”53. Esse pré-conhecimento
de HEIDEGGER, de certa forma, acaba por condicionar o sujeito intérprete em sua
atividade interpretativa, uma vez que abrange seu contexto cultural, social e histórico, formando seu sistema de referência. São os pontos de partida de seu
entendimento do mundo, já que, como diz ERNILDO STEIN, “...não temos acesso
aos objetos assim como eles são, mas sempre de um ponto de vista, a partir de
uma clivagem...”54. O pré-conhecimento compreende suas idéias acerca do mundo
que o cerca, sua ideologia e seus valores próprios. O sujeito e sua condição de
sujeito-no-mundo, dele indissociável, é o que dará sentido ao ente. O sujeito
não está longe do mundo, fora dele, e observa-o para entendê-lo, mas está sempre e necessariamente nele inserido. HEIDEGGER introduz, então, o conceito de
Dasein (ser-aí), o ser e as coisas como chegam a ele, o ser-no-mundo. O Dasein
compreende o mundo desde uma perspectiva interna, não externa e contemplativa, como explica LENIO LUIZ STRECK: “O Dasein está no mundo, antes de mais
e fundamentalmente, como compreensão...”55. O Dasein heideggeriano já é constituído por sua inserção no – e por sua relação com o – mundo. Compreender não
é uma maneira de conhecer, mas o próprio modo de ser do sujeito.
Aquilo que se convencionou chamar virada lingüística é resultado da invasão da filosofia pela linguagem e, em seu estudo, do especial relevo que se
deu ao plano pragmático. Na medida em que a verdade é alcançada intersubjetivamente, aceitando-se como verdadeiro aquilo que é concorde, uma vez que a
busca da verdade em si perde sentido, então, ensina LENIO LUIZ STRECK, “...os
problemas da semântica só são resolvidos na medida em que ela atinja uma
dimensão pragmática”56. Como explica TERCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR, “...a
posição da pragmática, dentro da semiótica, se modifica, aparecendo em primeiro lugar, constituindo-se a sintaxe e a semântica a partir dela”57. À pergunta
acerca do que é sintática ou semanticamente correto, responde-se: o que for
pragmaticamente assim definido.
Com a valorização do entendimento intersubjetivo como fonte dessa nova
verdade, agora sempre consensual, a razão torna-se razão dialógica. Alcança-se
a verdade no diálogo. No processo judicial, e. g., a verdade do direito é a decisão
que transita em julgado, influenciada e levando necessariamente em consideração uma série de argumentos que a precedem58. Explica JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES: “estranha afirmação essa, a de que o juiz não faz a sentença. Ela, contudo,
significa apenas que a sentença não resulta exclusivamente de um ato isolado do
juiz, mas da totalidade do diálogo que as partes entretêm no processo”59.
53) MARTIN HEIDEGGER, apud EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO, Interpretação..., op. cit., p. 28.
54) Apud LENIO LUIZ STRECK, Hermenêutica..., op. cit., p. 161.
55) Hermenêutica..., op. cit., p. 178.
56) Ibidem, p. 124.
57) Direito..., op. cit., p. IX.
58) Argumentos que devem, ao lado da fundamentação da decisão, ser transcritos na sentença, como prescreve
o art. 458 do Código de Processo Civil.
59) O contraditório no processo judicial: uma visão dialética. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 26.
330
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
4 À GUISA DE CONCLUSÃO
Um estudo como este jamais pode ser concluído, mas apenas interrompido. Evidentemente, a mudança de paradigmas filosóficos não é capaz, por si só,
de solucionar todos os problemas da filosofia. Ao passo que fornece resposta a
alguns problemas, cria outros. Às questões “o que é a verdade” e “como temos
acesso à verdade” fornece-se outras respostas, possivelmente mais problemáticas do que as respostas anteriores. Encontramos, assim, posicionamentos filosóficos absolutamente céticos quanto à possibilidade de conhecimento do real.
Cientes de que a procura não terminou, mas talvez seja interminável, acatamos, para concluir este estudo, a advertência de NICOLAI HARTMANN: “o filósofo precisa ser muito persistente”60.
REFERÊNCIAS
ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Interpretação e aplicação de normas de direito
tributário. São Paulo: CD, 2002
BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2001
BORGES, José Souto Maior. O contraditório no processo judicial: uma visão dialética. São Paulo: Malheiros, 1996
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 14. ed. São Paulo:
Saraiva, 2002
______. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 1999
DUSSEL, Enrique. Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão. 2.
ed. Petrópolis: Vozes, 2002
ECO, Umberto. O signo. Lisboa: Presença, 1977
FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Direito, retórica e comunicação: subsídios para
uma pragmática do discurso jurídico. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1997
______. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2001
HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990
HEIDEGGER, Martin. Conferências e escritos filosóficos. São Paulo: Abril Cultural,
1979
KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Bauru: Edipro, 2003
KELSEN, Hans. A ilusão da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1996
LUDWIG, Celso Luiz. Para uma filosofia jurídica da libertação: paradigmas da
filosofia, filosofia da libertação e direito alternativo. Florianópolis: Conceito
Editorial, 2006
60) Apud KARL OTTO-APEL. Transformação da filosofia: filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Vol.
I. São Paulo: Loyola, 2000, p. 12.
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007
331
OTTO-APEL, Karl. Transformação da filosofia: filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Vol. I. São Paulo: Loyola, 2000
PLATÃO. Diálogos. 2. ed. S4ão Paulo: Abril Cultural, 1979
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 2. ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2000
VIEIRA, José Roberto. A regra-matriz de incidência do IPI: texto e contexto. Curitiba: Juruá, 1993
VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 2. ed.
São Paulo: Max Limonad, 1997
______. Lógica jurídica. São Paulo: Bushatsky, 1976
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979
______. Tratactus logico-philosophicus. Lisboa: Fundação Caloste Gulbenkian, 1995
332
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 3, n. 2, jul./dez. 2007