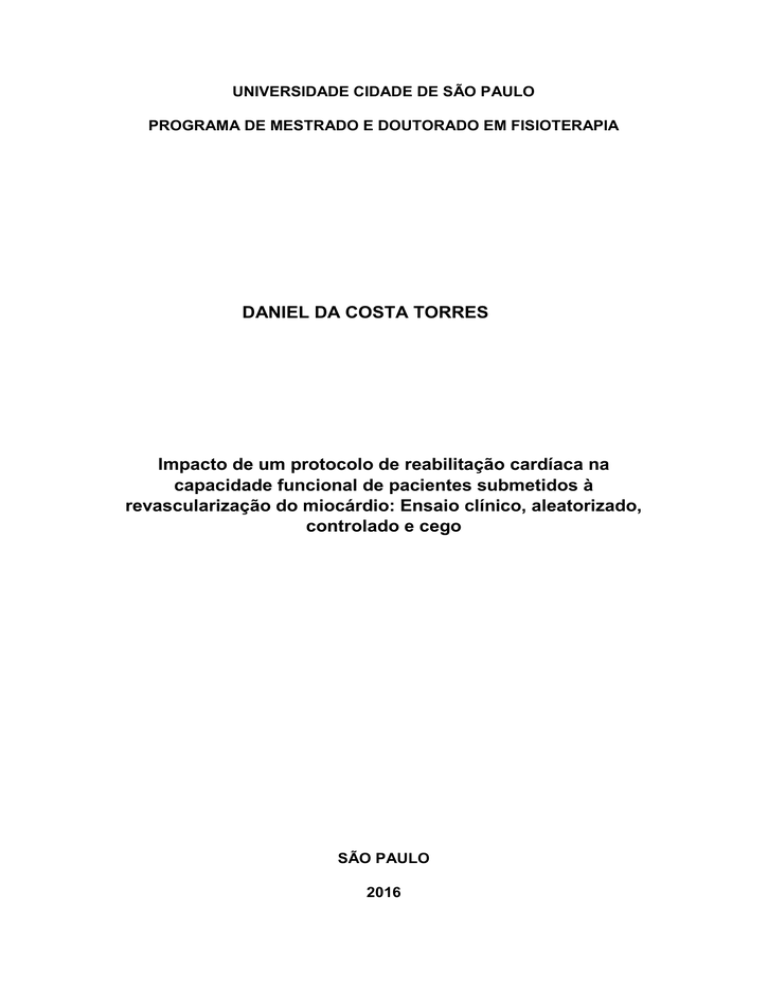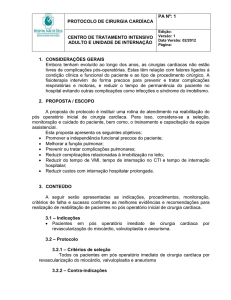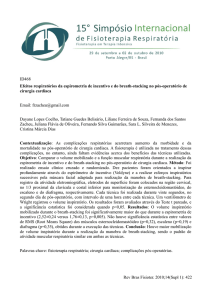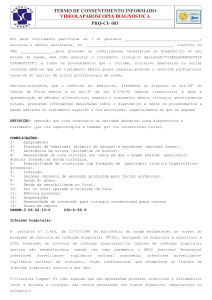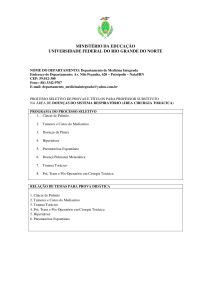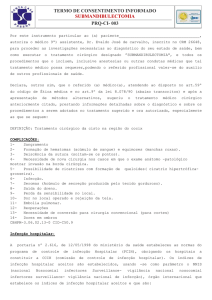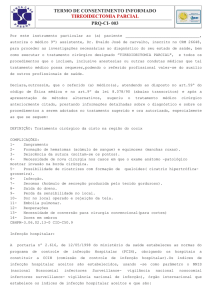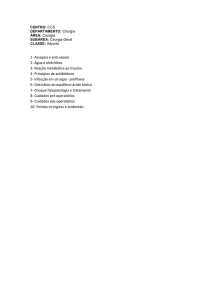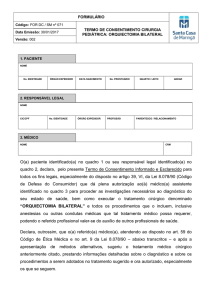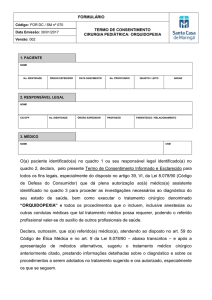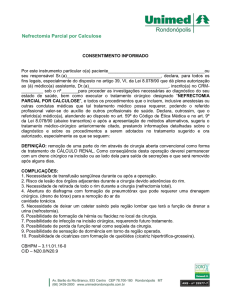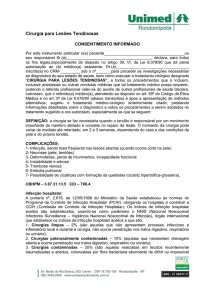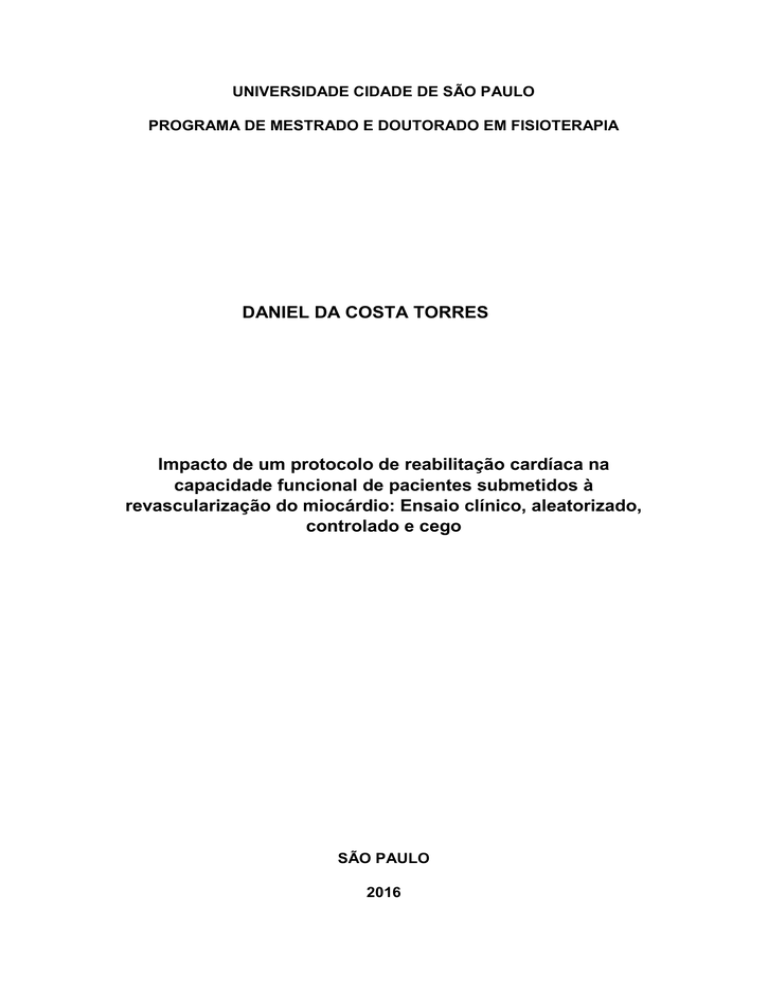
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO EM FISIOTERAPIA
DANIEL DA COSTA TORRES
Impacto de um protocolo de reabilitação cardíaca na
capacidade funcional de pacientes submetidos à
revascularização do miocárdio: Ensaio clínico, aleatorizado,
controlado e cego
SÃO PAULO
2016
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO EM FISIOTERAPIA
DANIEL DA COSTA TORRES
Impacto de um protocolo de reabilitação cardíaca na
capacidade funcional de pacientes submetidos à
revascularização do miocárdio: Ensaio clínico, aleatorizado,
controlado e cego
Dissertação apresentada como requisito para
obtenção do título de Mestre em Fisioterapia ao
Programa de Mestrado e Doutorado em
Fisioterapia da Universidade Cidade de São
Paulo, sob orientação da Prof.ª Dra. Luciana
Dias Chiavegato
SÃO PAULO
2016
Área de Concentração: Avaliação, Intervenção e Prevenção em
Fisioterapia
Data da Qualificação: 26 de fevereiro de 2016
Resultado:_____________________________________________
Banca Examinadora
Profa. Dra. Luciana Dias Chiavegato
Universidade Cidade de São Paulo
_________________________________
Profa. Dra. Natalia Aquaroni Ricci
Universidade Cidade de São Paulo
__________________________________
Prof. Dr. Ricardo Kenji Nawa
Universidade de São Paulo
__________________________________
DEDICATÓRIA
Dedico esta dissertação ao meu avô, Mário Pereira da Costa, o qual
dedicou sua vida ao ensino, sempre com muito respeito, seriedade e ética.
Nunca deixou de medir esforços para investir na educação de seus familiares
e minha formação profissional, ensinando-me que esta é a maior herança que
um filho pode receber. Obrigado por implantar a semente de sonhos que eu
carrego até hoje.
AGRADECIMENTOS ESPECIAIS
Primeiramente a Deus, por me dar saúde, sabedoria, tranquilidade, força
e oportunidade de poder realizar esse tipo de desafio.
Aos meus pais, Benedito Augusto do Rosário Torres e Márcia do
Socorro da Costa Torres, minha avó, Sulamita Lavareda da Costa, e aos meus
irmãos, Mário Augusto da Costa Torres e Jéssica da Costa Torres, pelo
companheirismo e pelo suporte emocional nessa caminhada.
À minha orientadora, Dra. Luciana Dias Chiavegato, pela paciência,
confiança e tolerância durante as orientações, muitas vezes em horários
desconfortáveis, até mesmo em feriados. Sempre será uma referência pra mim.
À minha esposa Taiana Emy Watanabe Torres, por me apoiar em todos
os momentos importantes e de escolha, de minha vida até aqui, sendo um
alicerce emocional para enfrentar momentos de dúvida e desesperança. Amo
você e muito obrigado.
AGRADECIMENTOS
À Universidade Cidade de São Paulo por ter proporcionado essa
oportunidade de pós-graduação.
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior pelo
auxílio financeiro, ao longo de toda a pesquisa.
Aos professores vinculados ao Programa de Mestrado e Doutorado da
UNICID por não medirem esforços para despejarem todos os seus
conhecimentos e experiências com todos os alunos
À Fundação Clínica Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna pela
disponibilidade do local para a realização dos protocolos e avaliação do estudo.
Às equipes multiprofissionais do hospital, dentre eles, à equipe de
fisioterapia pela força e pela paciência nesse período.
A todos os voluntários que fizeram parte da coleta de dados, por terem
cedido um pouco do seu tempo para a formação deste trabalho, meu respeito e
gratidão.
Aos meus alunos da UNAMA, por me auxiliarem em determinados
momentos específicos de coleta do teste de caminhada de seis minutos.
Aos amigos do mestrado pela parceria, pela troca de conhecimentos e
pela amizade.
“Cada dia que amanhece, assemelha-se à
uma página em branco, na qual gravamos
os nossos pensamentos, ações e atitudes.
Na essência, cada dia é a preparação de
nosso próprio amanhã.”
Chico Xavier
RESUMO
Introdução: A hipotrofia muscular e a inatividade prolongada estão associadas
à maior sensação de fadiga e redução da capacidade funcional no pósoperatório de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio
(RM). A reabilitação cardíaca é uma prática comum e contribui para a melhora
da capacidade funcional e qualidade de vida. No entanto, poucos estudos
avaliaram a eficácia de protocolos de mobilização precoce nos padrões de
atividade física e capacidade funcional, durante o período de hospitalização de
pacientes pós RM.Objetivo: Avaliar os efeitos de um programa de mobilização
precoce na capacidade funcional, complicações pós-operatórias e tempo de
permanência hospitalar em pacientes submetidos à revascularização do
miocárdio. Métodos: Estudo prospectivo, aleatorizado, controlado e cego que
avaliou 66 pacientes consecutivos submetidos à cirurgia de RM. Os pacientes
foram aleatorizados em dois grupos: Grupo Controle (GC; N=33): que realizou
exercícios respiratórios e orientações gerais e, Grupo Intervenção (GI; N=33)
que realizou exercícios respiratórios e mobilização precoce. Os grupos foram
submetidos ao treinamento do 1º ao 7º dia de pós-operatório, duas vezes ao
dia. A capacidade funcional (TC6m) foi avaliada antes da cirurgia e reavaliada
após o término do sétimo dia de protocolo e 60 dias após a alta hospitalar. As
complicações pulmonares e os dias de internação hospitalar também foram
avaliados. A análise estatística utilizou modelos lineares mistos e baseada na
intenção de tratamento. O nível de significância foi estabelecido em α = 5%.
Resultados: Em comparação ao GC, os pacientes do GI apresentaram
melhora na capacidade funcional após 7 dias (respectivamente, 355,42 ± 42,44
vs. 434.69 ± 48,38 metros; p <0,05), mas não houve diferença no follow-up.
Pacientes do IG apresentaram redução nos dias de internação na UTI
comparado ao CG (4,3 ± 1,1 vs 7,2 ± 1,6 dias; p <0,05) e menos complicações
pulmonares (24% versus 48%; p = 0,01). Conclusão: Os pacientes que
realizaram a mobilização precoce controlada e padronizada por sete dias
consecutivos no período pós operatório, apresentaram aumento da distância
percorrida no TC6m a curto prazo, com menor permanência na UTI e menor
prevalência de complicações pulmonares, quando comparados ao grupo
controle que realizou apenas exercícios respiratórios e orientações gerais.
Palavras-Chave: Mobilização Precoce; Revascularização do Miocárdio,
Exercício; Reabilitação.
ABSTRACT
Background: Muscle atrophy and prolonged inactivity are associated with
increased sense of fatigue and reduced functional capacity in the late
postoperative period in patients undergoing coronary artery bypass grafting
(CABG). Cardiac rehabilitation is a common practice and contributes to the
improvement in functional capacity and quality of life of these patients.
However, few studies have evaluated the use of early mobilization protocols
during the in-hospital phase. Objective: To investigate the effects of early
mobilization program in functional capacity of patients undergoing coronary
artery bypass grafting, after seven days of completing the protocol and 60 days
after hospital discharge. Methods: Prospective, randomized, controlled and
blinded trial that evaluated 66 consecutive patients undergoing CABG surgery.
Patients were randomized into two groups: Control Group (CG; N = 33): who
performed breathing exercises and guidance and Intervention Group (IG; N =
33) who performed breathing exercises and early mobilization. Both groups
underwent training from 1st to 7th day postoperatively, twice daily. In the
preoperative period were assessed: physical activity (Baecke questionnaire),
Functional Independence Measure (FIM) and functional capacity (six-minute
walk test). Functional capacity was reassessed after the seventh day protocol
and 60 days after hospital discharge. Pulmonary complications and length of
hospital stay were also evaluated. ANOVA two factors for repeated measures
was applied (group and time) with posthoc analysis of Bonferroni. The Student t
test was used to evaluate the difference between the averages for the "length of
stay". For analysis of the variable "postoperative pulmonary complications," we
used the chi-square test for the evaluation between the CG and IG group. It was
considered a significance level of 5% (p <0.05). Results: Both groups showed
improvement in distance walked in six-minute walk test in postoperative reviews
and following 60 days. However, when compared to CG, IG presented a
significant improvement in the short term (434.69 ± 48.38), postoperative followup of seven days, without, however, statistically significant differences at followup of two months. With regard to the days of ICU stay and hospital (total), it was
observed that the GI's patients remained about three fewer days in the ICU
(4.39 ± 1.19 days) compared to the control group (7.27 ± 1.68 days), with a
significant difference. In assessing the presence of postoperative pulmonary
complications, the control group had a frequency of 16 patients (48.48%) and
compared the presence of eight patients in the intervention group, a statistically
significant difference (p = 0.015). Conclusion: Patients who underwent
controlled early mobilization and standardized for seven consecutive days in the
postoperative period, showed improvement in walk distance in the short term
6MWT, with lower ICU and lower prevalence of pulmonary complications when
compared to the control group held just breathing exercises and guidelines.
Key Words: Early Ambulation; Myocardial Revascularization; Exercise;
Rehabilitation
LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1- Delineamento do estudo.................................................................21
FIGURA 2- Fluxograma dos resultados do estudo............................................33
LISTA DE TABELAS
TABELA 1. Dados antropométricos e perfil pré-operatório dos pacientes do
estudo................................................................................................................34
TABELA 2. Dados cirúrgicos e pós-operatórios dos pacientes dos grupos
Controle e Intervenção.......................................................................................35
TABELA 3. Distância percorrida e percentual do valor previsto no teste de
caminhada de seis minutos dos pacientes avaliados nos Grupos Controle
Intervenção........................................................................................................37
TABELA 4. Distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos
avaliada de forma intragrupo.............................................................................38
TABELA 5. Tempo de Internação dos pacientes avaliados nos Grupos
Intervenção e Controle.......................................................................................39
TABELA 6. Complicações pulmonares pós-operatórias entre os grupos
Controle e Intervenção.......................................................................................39
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AFO- Atividades físicas ocupacionais
ALL- Atividades físicas de lazer e locomoção
ATS- American Thoracic Society
CPP- Complicações Pulmonares Pós-operatórias
CVF- Capacidade Vital Forçada
DPOC- Doença pulmonar obstrutiva crônica
EFL- Exercícios físicos no lazer
ERS- European Respiratory Society
EVA- Escala Visual Analógica
f- Frequência respiratória
FC- Frequência Cardíaca
FCMáx- Frequência cardíaca máxima
FCR- Frequência cardíaca de repouso
FCT- Frequência cardíaca de treinamento
FEF25-75%- Fluxo Expiratório Forçado 25-75%
FHCGV- Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
GC- Grupo Controle
GI- Grupo Intervenção
IAM- Infarto Agudo do Miocárdio
IMC- Índice de Massa Corpórea
irpm- Incursões respiratórias por minuto
MIF- Medida de Independência Funcional
MET- Equivalente Metabólico
MMII- Membros Inferiores
MMSS- Membros Superiores
PA- Pressão arterial
PAM- Pressão Arterial Média
PFE- Pico de Fluxo Expiratório
PO- Pós-Operatório
RM- Revascularização do Miocárdio
rpm- Rotações por minuto
SBPT- Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
SCA- Síndrome Coronariana Aguda
SpO2- Saturação de pulso de oxigênio
TC6m- Teste de caminhada de 6 minutos
TCLE- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UTI- Unidade de Terapia Intensiva
VEF1- Volume Expiratório Forçado no 1º segundo
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 10
2. JUSTIFICATIVA ...................................................................................................... 13
3. HIPÓTESE ............................................................................................................... 14
4. OBJETIVOS ............................................................................................................. 15
4.1. Primário ............................................................................................................ 15
4.2. Secundários ..................................................................................................... 16
5. MÉTODOS ............................................................................................................... 16
5.1. Tipo de Estudo, aprovação e registro do estudo .................................. 16
5.2. Critérios de Elegibilidade ............................................................................. 17
5.2.1. Critérios de Inclusão .............................................................................. 17
5.2.2. Critérios de Exclusão ............................................................................. 18
5.2.2.1. Exclusão pré-operatória ................................................................. 18
5.2.2.2. Exclusão pós-operatória ................................................................ 18
5.3. Cálculo Amostral ............................................................................................ 18
5.4. Procedimentos de Avaliação e Delineamento do Estudo ................... 19
5.5 Avaliações Pré-Operatória (caracterização da amostra) ...................... 22
5.5.1. Ficha de Avaliação .................................................................................. 22
5.5.2. Espirometria ............................................................................................. 22
5.5.3. Questionário do Nível de Atividade Física de Baecke .................. 22
5.5.4. Medida de Independência Funcional ................................................. 23
5.5.5. Percepção Subjetiva do Esforço......................................................... 23
5.6. Aleatorização ................................................................................................... 23
5.7. Intervenções .................................................................................................... 24
5.7.1. Grupo Controle ........................................................................................ 25
5.7.2. Grupo Intervenção .................................................................................. 26
5.8. Desfechos do Estudo .................................................................................... 29
5.8.1. Desfecho Primário- Capacidade Funcional ..................................... 29
5.8.2. Desfechos secundários ......................................................................... 30
5.8.2.1. Complicações Pulmonares Pós-Operatórias (CPPO) ............ 30
5.8.2.2. Tempo de Internação na UTI e Hospitalar ................................. 30
5.9 Análise Estatística .......................................................................................... 31
6. RESULTADOS ........................................................................................................ 31
7. DISCUSSÃO ............................................................................................................ 41
8. CONCLUSÃO .......................................................................................................... 48
REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 49
Anexo 1. Aprovação do Comitê de Ética
Anexo 2. Carta de Anuência Institucional
Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Anexo 4. Questionário de Atividade Física de Baecke
Anexo 5. Medida de Independência Funcional
Anexo 6. Escala Visual Analógica
Anexo 7. Escala de Percepção Subjetiva do Esforço de Borg (modificada)
Apêndice 1. Ficha de Avaliação dos Dados Demográficos e Clínicos
Apêndice 2. Ficha de Preenchimento (Teste de Caminhada de Seis
Minutos)
Apêndice 3. Protocolo de Mobilização
10
1. INTRODUÇÃO
A cirurgia de revascularização do miocárdio (RM) é considerada uma
alternativa eficiente para o tratamento de doenças cardíacas isquêmicas. A
indicação cirúrgica da RM, especialmente nas síndromes coronarianas agudas
(SCA), tem como principais objetivos melhorar a função ventricular, reduzir os
sintomas da isquemia miocárdica, evitar a progressão para o infarto agudo do
miocárdio (IAM) e reduzir a mortalidade
(1-3)
. Dessa forma, a decisão de
indicação cirúrgica deve ser baseada nos sintomas, no nível de gravidade
pelas estratificações clínicas e na anatomia coronariana. O resultado tardio da
RM depende de vários fatores: extensão da doença coronariana, resultado da
cirurgia, progressão da aterosclerose nos vasos coronarianos e impacto da
doença não cardíaca (3, 4).
Por outro lado, a cirurgia cardíaca é um procedimento que pode
acarretar repercussões em diversos órgãos, alterando por diferentes caminhos
(4)
os mecanismos fisiológicos de cada paciente
. A RM pode levar a um estado
crítico no período pós-operatório que implica na necessidade de cuidados
intensivos para uma boa recuperação pós-operatória(5,
6)
. Sabe-se que um
controle pré-operatório juntamente com os esforços de uma equipe
multiprofissional, minimiza as chances de ocorrer instabilidades intraoperatórias, assegurando ao paciente uma boa evolução pós-operatória,
mesmo em pacientes mais debilitados
(7)
. Além disso, uma inadequada
preparação e avaliação dos aspectos físicos e clínicos no período préoperatório estão associados a maiores períodos de instabilidade hemodinâmica
intraoperatória, agravando o prognóstico do paciente, e favorecendo as
complicações pós-operatórias graves (8, 9).
11
Os principais fatores para o aparecimento de complicações sistêmicas
no período pós-operatório da RM estão associados ao sexo, doença de base,
idade, tipo e dosagem de medicação utilizada no pré-operatório, condições préoperatórias e fatores de risco intra-operatório (8). Dentre os fatores relacionados
à cirurgia, a indução anestésica tem sido identificada como fator causal de
desequilíbrio da ventilação-perfusão, decorrente do surgimento de atelectasias
e colapso de vias aéreas
(10)
. Além disso, a incisão cirúrgica contribui para a
redução da estabilidade e complacência da caixa torácica e aumento da dor
devido, entre outras coisas, à presença de drenos que estão diretamente
(11)
envolvidos na manutenção de baixos volumes pulmonares
. A dor e o
espasmo muscular, por sua vez, prejudicam a mecânica da caixa torácica e
diminuem os volumes pulmonares, com aumento da probabilidade de colapsos
alveolares e redução da capacidade de tosse
(12)
. O tempo de permanência em
circulação extracorpórea altera a relação ventilação perfusão, reduz a
complacência pulmonar e aumenta o trabalho respiratório dificultando o
desmame ventilatório (13).
O
aparecimento
de
complicações
pós-operatórias
tais
como
complicações pulmonares e cardíacas são frequentes e podem influenciar de
forma negativa a recuperação de pacientes no período após a RM,
aumentando a necessidade de permanência no leito por tempo prolongado e
baixa mobilidade
(14)
. Os efeitos deletérios do imobilismo incluem a diminuição
da síntese de proteínas, aumento da proteólise, perda de massa e força
muscular, comprometendo a capacidade funcional e as atividades de vida
diária(14-16). Em indivíduos saudáveis a perda pode chegar entre 4% a 5% da
força muscular para cada semana de permanência ao leito
(17)
. Para o doente
12
crítico, o início da atrofia muscular é rápida e severa, podendo ser observada
nos primeiros dias de hospitalização, com o aparecimento da sensação de
fadiga muscular
(18)
, Estudos prévios sugerem que a inatividade prolongada
contribui para uma desarmonia entre as respostas anti-inflamatórias e aumento
sistêmico de citoquinas pró-inflamatórias e de estresse oxidativo
(19, 20)
. Sabe-se
que as prováveis sequelas geradas pelo imobilismo podem repercutir durante
meses e até mesmo anos, após o período de internação na unidade de terapia
intensiva (UTI), dificultando ou impedindo que os pacientes possam recuperar
completamente a capacidade funcional basal
(21, 22)
, e atividades de vida diária,
aumentando a possiblidade de re-internações (23-25).
Recentemente tem sido destacado o papel da fisioterapia na UTI, assim
como a sua importância na prática da mobilização precoce
protocolos de exercício físico para pacientes cirúrgicos
(26-30)
, e de
(31-34)
. Além de ter se
mostrado viável e seguro(30), tais protocolos estão associados à diminuição das
complicações respiratórias após cirurgia cardíaca e diminuição ou minimização
da perda da força muscular
(35)
, diminuição da morbidade e mortalidade
(36)
,
melhores resultados funcionais (avaliados por questionários de funcionalidade
ainda não específicos para paciente na UTI)
cognitivas
(38)
(37)
, melhora das condições
e aumento em dias livres de ventilação mecânica. Da mesma
maneira, é muito bem documentado a importância da reabilitação cardíaca pósalta hospitalar
(39)
, sendo recomendado por associações internacionais como a
American Heart Association
(40)
e a European Society of Cardiology
(41)
. Em
cardiopatas, a atividade física associada à mudança do estilo de vida tem
apresentado resultados sobre o sistema cardiovascular, com grandes chances
de melhora da capacidade funcional e diminuição dos novos eventos e re-
13
internações, utilizando programas e estratégias diversificadas de aderência dos
pacientes, seja domiciliar ou institucional (42).
Apesar dos estudos demonstrarem influência positiva na melhora da
capacidade física após implementações de protocolos de exercício físico e
precoce em pacientes pós-cirurgia cardíaca, ainda não há evidência quanto à
intensidade, tipo e duração do exercício e frequência
(43)
. Necessita-se de
estudos com novas estratégias que comprovam os reais benefícios de um
protocolo de exercício. Frente a todas as alterações promovidas pela cirurgia
cardíaca, ainda não se sabe ao certo se após um protocolo de exercício
precoce ainda na fase hospitalar, realizado em dois períodos do dia, com
treinamento específico e seu acompanhamento podem minimizar tais
alterações, propiciando ao paciente retorno ao estado de normalidade
(44)
.
Dessa forma, este estudo visa, primeiramente, avaliar o impacto da
intervenção precoce sobre a capacidade funcional a curto e longo prazo
salientando a importância de identificar a necessidade de protocolos
específicos para reabilitação continuada destes pacientes, bem como novas
estratégias de tratamento fisioterapêutico.
2. JUSTIFICATIVA
14
Baseado no acima exposto, pretendemos investigar o efeito de um
protocolo de mobilização precoce na capacidade funcional e na incidência
de complicações pulmonares pós-operatórias já que até o presente
momento isto é bem pouco estudado.
Entendemos que para estabelecer o real impacto clínico dessa
intervenção, necessitamos de estudos com bons desenhos metodológicos
para detectar o mecanismo de ação da mobilização precoce a curto e médio
prazo. Este estudo pretende trazer novas evidências de terapias
fisioterapêuticas com o objetivo de melhor indicá-las na prática clínica.
3. HIPÓTESE
15
Pacientes que realizaram o programa de mobilização precoce durante a
fase hospitalar apresentam melhor desempenho no teste de caminhada
(distância percorrida) após sete dias de protocolo, bem como após 60 dias da
alta hospitalar comparado aos pacientes que realizaram apenas o programa de
exercícios respiratórios e orientações.
4. OBJETIVOS
4.1. Primário
16
Avaliar o impacto de um protocolo de mobilização precoce na distância
percorrida após sete dias de protocolo e após 60 dias de alta hospitalar em
pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio em
relação a um grupo controle.
4.2. Secundários
Avaliar a influência de um protocolo de mobilização precoce nos dias de
internação
em
desenvolvimento
Unidade
de
de
Terapia
complicações
Intensiva
pulmonares
e
hospitalar e
pós-operatórias
pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio.
5. MÉTODOS
5.1. Tipo de Estudo, aprovação e registro do estudo
no
em
17
O estudo é um ensaio clínico controlado, aleatorizado e cego e foi
realizado na UTI (dez leitos cirúrgicos com média de 4,1 cirurgias por semana)
e na enfermaria cirúrgica da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas
Gaspar Vianna (FHCGV), Belém, Pará, PA, Brasil, após ter sido aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID),
registro CAAE: 34569214.5.0000.0064 (Anexo 1), e anuência formal pela
instituição FHCGV (Anexo 2). O projeto foi também devidamente registrado no
site de registro de ensaios clínicos “Clinical Trials”, registro NCT02312648.
5.2. Critérios de Elegibilidade
Todos os pacientes internados consecutivamente para realização de
cirurgia de revascularização do miocárdio foram elegíveis para o estudo,
seguindo os critérios de inclusão previamente avaliados e determinados.
5.2.1. Critérios de Inclusão
Foram incluídos no estudo, pacientes com idade superior a 21 anos e
Índice de massa corpórea (IMC) entre 18,5 e 29,9 Kg/m 2, candidatos a cirurgia
de revascularização do miocárdio eletiva, estabilidade hemodinâmica com ou
sem uso de inotrópicos positivos, ausência de arritmias e angina, com pressão
arterial média (PAM) 60 PAM 100 mmHg, frequência cardíaca (FC) 60 FC
100bpm, sem sinais de desconforto respiratório tais como batimento de asa de
nariz, uso de musculatura acessória, assincronia toracoabdominal, frequência
respiratória (f) ≤ 20 incursões respiratórias por minuto (irpm) e sem sinais de
infecção.
18
5.2.2. Critérios de Exclusão
5.2.2.1. Exclusão pré-operatória
Foram excluídos pacientes com presença de doenças pulmonares
prévias, com fração de ejeção abaixo de 35% ou maior que 54% (45), com
alterações cognitivas que dificultassem a compreensão de comandos verbais
e/ou instruções, que realizaram cirurgias concomitantes e/ou submetidos à reintervenção cirúrgica. Foram excluídos também pacientes que não aceitaram
assinar o TCLE, bem como aqueles que apresentaram as contraindicações
para a realização do teste de caminhada de seis minutos ou de qualquer
protocolo proposto: limitações ortopédicas, angina instável, FC > 120 bpm em
repouso, pressão sistólica >180 mmHg ou diastólica > 100 mmHg.
5.2.2.2. Exclusão pós-operatória
Foram excluídos pacientes que apresentaram óbito intra-operatório,
tempo de ventilação mecânica acima de 24 horas, bem como os pacientes que
não toleraram realizar os protocolos de exercícios propostos pelo estudo.
5.3. Cálculo Amostral
Para o cálculo amostral, considerando o desfecho primário, nos
reportarmos ao estudo realizado por Hirschhorn et. al
(45)
, que avaliou a
distância percorrida no TC6m após a realização de exercícios de moderada
intensidade em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Obteve-se
como resultado a diferença entre as médias de 67m±87. Chegou-se a um
número amostral de 27 pacientes, considerando-se alfa de 5%, poder
estatístico de 80% e 20% de perda, finalizamos com 33 pacientes por grupo.
19
5.4. Procedimentos de Avaliação e Delineamento do Estudo
O delineamento do estudo está descrito na Figura 1.
Um
examinador,
previamente
treinado,
avaliou
os
critérios
de
elegibilidade e todos os participantes assinaram um termo de consentimento
livre e esclarecido (TCLE), confirmando estarem de acordo com as informações
recebidas e interessados em participar do estudo (Anexo 3). Todos os
pacientes foram avaliados em três momentos distintos: antes do procedimento
operatório (1ª avaliação), após sete dias de acompanhamento pós-operatório
(2ª avaliação) e após 60 dias da alta hospitalar (3ª avaliação).
A 1ª avaliação foi realizada até dois dias antes do procedimento
operatório na seguinte sequência: avaliação dos dados demográficos e clínicos
e avaliação da função pulmonar (espirometria), (Apêndice 1); do nível de
atividade física (questionário de Baecke), (Anexo 4); da medida de
independência funcional (MIF), (Anexo 5), valendo ressaltar que essas
avaliações tinham como importância a caracterização da amostra; e da
capacidade funcional, adotando-se o teste de caminhada de seis minutos,
(Apêndice 2).
Após o procedimento pós-operatório, os pacientes extubados em até 24
horas foram divididos aleatoriamente em 2 grupos: Grupo Controle (GC), que
recebeu o programa de exercícios respiratórios, e Grupo Intervenção (GI) que
20
Triagem para determinação da
elegibilidade do paciente
Exclusão
- Cirurgias de urgência/concomitantes
- DPOC
- FE < 34% ou 54%
- Re-intervenção Cirúrgica
- Contra-indicações Osteomioartculares
TCLE assinado
1º AVALIAÇÃO
- Avaliação Antropométrica
- Função Pulmonar
- Nível de Atividade Física
- Medida de Independência Funcional
- Teste de Caminhada de 6 minutos
Aleatorização
(Após Cirurgia)
Exclusão Pós-Operatória
- Tempo de VM > 24 hours
- Óbito Operatório
Alocação
Grupo Controle
Grupo Intervenção
2º AVALIAÇÃO
7 Sessões
Teste de Caminhada de 6 minutos
Teste de Caminhada de 6 minutos
30 dias após alta
Contato Telefônico
Contato Telefônico
3º AVALIAÇÃO
Teste de Caminhada de 6 minutos
2 MESES DE ALTA
2 Meses
Teste de Caminhada de 6 minutos
Legenda. DPOC- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; FE- Fração de Ejeção; VM- Ventilação Mecânica;
TCLE- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Figura 1. Delineamento do Estudo
21
realizou o programa de exercícios respiratórios associado ao programa de
mobilização precoce.
Ambos receberam orientações pré-operatórias quanto ao procedimento
cirúrgico, à importância da deambulação precoce e ao estímulo à tosse. O
tratamento fisioterapêutico foi iniciado no 1º pós-operatório (PO), padronizado
como descrito abaixo e realizado até o 7º dia de pós-operatório. Os
atendimentos foram realizados duas vezes ao dia com um tempo médio de 30
minutos cada sessão.
Após 30 dias da alta hospitalar foi realizado contato telefônico para a
coleta das seguintes informações: presença de sintomas que sugerissem
complicações cardíacas; necessidade de internação hospitalar (se sim, foi
questionado quanto à causa, o período e os dias de internação, e o paciente foi
automaticamente excluído do estudo); realização de qualquer atividade física
(se sim, foi questionado quanto à natureza da atividade, assim como os
horários e a frequência na semana). Caso relatassem ausência de atividade
física, o paciente foi estimulado a realizar, de forma padronizada, pelos
pesquisadores do estudo.
Na 2ª e 3ª reavaliação foi realizada apenas a avaliação da capacidade
funcional (teste da caminhada de seis minutos). As reavaliações foram
realizadas por pesquisadores cegos à alocação dos pacientes no momento da
alta (sete dias de protocolo) e no retorno do paciente ao Ambulatório de
Cardiologia da mesma instituição, após 60 dias da alta (Figura 1).
22
5.5 Avaliações Pré-Operatória (caracterização da amostra)
5.5.1. Ficha de Avaliação
No primeiro contato com o paciente foi utilizada a ficha padrão de
atendimento
da
fisioterapia
do
FHCGV
juntamente
com
uma
ficha
complementar desenvolvida especificamente para esse estudo. Essas fichas
contêm perguntas sobre os dados pessoais, diagnóstico, antecedentes
médicos, história pregressa e o estado clínico geral, medicamentos,
procedimentos pregressos, avaliação de sinais vitais e hemodinâmica,
avaliação respiratória, avaliação motora e neurológica.
5.5.2. Espirometria
A espirometria (Spirobank, USB) foi realizada, no período pré-operatório,
em todos os pacientes a fim de se excluir a presença de doença pulmonar
obstrutiva crônica. Os procedimentos técnicos e os critérios de aceitabilidade e
de reprodutibilidade foram os recomendados pela diretrizes da
Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), American Thoracic Society
(ATS)/European Respiratory Society (ERS) (46).
5.5.3. Questionário do Nível de Atividade Física de Baecke
O Questionário de Atividade Física Habitual de Baecke é composto por
16 questões que abrangem três escores de atividade física habitual dos últimos
12 meses: atividades físicas ocupacionais (AFO) com oito questões, exercícios
físicos no lazer (EFL) com quatro questões e atividades físicas de lazer e
23
locomoção (ALL) com quatro questões(47, 48). Os indivíduos foram considerados
sedentários quando a pontuação encontra-se <9; ativos com a pontuação entre
9-16 e atletas quando a pontuação está >16
(47)
.
5.5.4. Medida de Independência Funcional
A MIF é um instrumento de avaliação da incapacidade de pacientes com
restrições funcionais de origem variada, tendo sido desenvolvida na América do
Norte na década de 1980, apresentando 18 itens no total (13 questões
relacionadas às funções motoras e cinco às funções cognitivas)
(49)
. Seu
objetivo primordial é avaliar de forma quantitativa a carga de cuidados
demandada por uma pessoa para a realização de uma série de tarefas motoras
e cognitivas de vida diária. As dimensões avaliadas são os autocuidados,
controle de esfíncteres transferências, locomoção, comunicação e cognição
social. Cada uma dessas atividades é avaliada e recebe uma pontuação que
parte de 1 (ajuda total) a 7 (independência completa), assim a pontuação total
varia de 18 a 126 (49, 50).
5.5.5. Percepção Subjetiva do Esforço
A percepção do nível de desconforto respiratório frente ao esforço físico
foi avaliada através da escala numérica de Borg modificada, que varia de 0
(menor esforço) a 10 (maior esforço)
(51)
. O paciente foi orientado quanto ao
uso da escala e solicitada a escolha espontânea de um valor.
5.6. Aleatorização
24
Após o procedimento cirúrgico, os pacientes extubados em um período
até vinte e quatro horas, foram distribuídos aleatoriamente em seus grupos de
tratamento (Grupo Controle e Grupo Intervenção) de acordo com um esquema
de aleatorização gerado pelo programa randomization.com e realizado por um
pesquisador não envolvido com o recrutamento e tratamento dos participantes.
A alocação dos sujeitos foi realizada em blocos (três blocos de vinte e
dois envelopes), secreta, ou seja, por meio de uma sequência numérica
aleatória em envelopes lacrados e opacos. O terapeuta responsável pelo
tratamento, antes de iniciar a intervenção, abriu o envelope contendo o grupo
correspondente. Os envelopes lacrados ainda não utilizados ficaram guardados
em um local seguro e concedidos ao terapeuta responsável à medida que as
avaliações foram ocorrendo.
5.7. Intervenções
Antes de todas sessões de fisioterapia, manhã e tarde, era realizado
com cada paciente um avaliação inicia, além da avaliação da gasometria
arterial, exames laboratoriais e radiograma de tórax.
Todos os pacientes, por ser conduta já padronizada pela equipe
multiprofissional do hospital, realizaram exercícios com pressão positiva em
dois níveis de pressão (BIPAP® Synchrony), com interfaces orofaciais, entre 30
a 60 minutos imediatamente após a extubação oro traqueal e mantido como
rotina diária, de acordo com a necessidade de cada paciente. Os parâmetros
foram pré-determinados da seguinte maneira: pressão inspiratória adequada
para manter um volume corrente ideal para cada paciente a 7 ml/kg; pressão
25
expiratória de 6 cmH2O; e oxigênio suplementar para manter uma SpO 2> 95%.
Todas estas variáveis foram registradas.
Os exercícios foram supervisionados por um fisioterapeuta em ambos os
grupos. Antes da execução dos exercícios, foi solicitado ao paciente que
quantificasse a sua dor e, caso ele descrevesse uma intensidade de dor igual
(52)
ou superior a três na escala visual analógica (EVA), (Anexo 6)
, foi solicitado
ao médico responsável o uso de medicação analgésica do 2º nível (que contém
opióides moderados como tramadol e codeína, segundo recomendações da
organização mundial da saúde. O uso de medicação foi quantificado (droga,
dose e frequência) para posterior comparação entre grupos
(53)
.
Os pacientes dos grupos GC e GI foram acompanhados durante sete
dias após procedimento cirúrgico e após esse período, todos os pacientes
foram remanejados para o atendimento da equipe de fisioterapia do hospital,
dependendo de cada setor onde o paciente se encontrava.
5.7.1. Grupo Controle
Os pacientes do GC foram submetidos a um protocolo de exercícios
respiratórios com orientações, durante sete dias nos turnos da manhã e tarde,
consistindo em exercícios respiratórios diafragmáticos, com três séries de 10
repetições cada.
O paciente foi colocado na posição sentada, com a cabeceira elevada
acima de 45º e, para cada exercício, foi solicitado ao paciente que inspirasse o
ar profunda e tranquilamente até a capacidade pulmonar total, com
deslocamento do compartimento abdominal anteriormente, seguido de uma
26
pausa pós-inspiratória de dois a três segundos, terminando com uma expiração
simples, prolongada e tranquila, com descanso de um minuto entre as séries.
Os pacientes foram também orientados de forma verbal, não controlada,
que realizassem movimentos de membros superiores (flexão, extensão,
adução e abdução de ombro até o limite de 90º, flexão e extensão de cotovelo
e exercícios metabólicos) e inferiores no leito (flexão e extensão de quadril,
joelho e exercícios metabólicos). Caso algum paciente desse grupo solicitasse
ao fisioterapeuta ou algum membro da equipe multiprofissional (não estimulado
antes) para realizar exercícios fora do leito (sentar na poltrona, levantar ou
deambular), o mesmo foi realizado, porém, de forma não controlada, apenas foi
anotado quem e quando o fez.
5.7.2. Grupo Intervenção
Os pacientes do GC foram submetidos a um protocolo de exercícios
respiratórios com orientações, durante sete dias nos turnos da manhã e tarde,
consistindo em exercícios respiratórios diafragmáticos, com três séries de 10
repetições cada.
- 1º dia de pós-operatório: Com o paciente em decúbito de 45º, foram
realizados os mesmos exercícios respiratórios do GC. Posteriormente, foram
realizados exercícios ativos de membros superiores (MMSS) (flexão-extensão
e adução-abdução) de grandes articulações (ombro, cotovelo e punho) em três
séries de dez repetições para cada articulação. Associado aos exercícios de
MMSS, o paciente do GI foi submetido a uma série de exercícios com ciclo
ergômetro para membros inferiores (MMII).
27
A mobilização no ciclo ergômetro sem carga foi realizada de forma ativa,
com duração de 20 minutos, divididos em três etapas: 5 minutos de
aquecimento; 10 minutos de exercício com cadência de 30 rotações por minuto
(rpm); e 5 minutos de recuperação
(54)
. O paciente permaneceu em decúbito
dorsal, com a cabeceira da cama elevada a 45º, enquanto os MMII se
mantiveram planificados. Após posicionamento do paciente, o ciclo ergômetro
(PHYSICAL®) foi ajustado entre os MMII do mesmo até o alcance dos pedais,
para a realização da mobilização. Durante o exercício, os pacientes foram
monitorados quanto à FC, SpO2, pressão arterial e nível de percepção
subjetiva ao esforço (Borg) (Anexo 7).
A intensidade de treinamento atingida foi de 70% da FC máxima obtida
pela equação de Karvonen
(55)
, FCMáx= 220 – idade e FCT = FCR +x% (FC
máx - FCR), onde (FCMáx) = Frequência cardíaca máxima; (FCT) =
Frequência cardíaca de treinamento; (FCR) = Frequência cardíaca de repouso;
x%= percentual da frequência cardíaca desejada para o treinamento, que foi de
70%, pois representa uma faixa adequada de treinamento para pacientes
cardiopatas
(31)
. O programa foi iniciado com de 60% do valor da velocidade
média obtida pela fórmula acima e elevado a cada sessão até atingir 70%. A
atividade foi interrompida na presença de qualquer sintoma ou desconforto
respiratório, retomando-o tão logo apresentasse melhora.
- 2º dia de pós-operatório: Exercícios do 1º dia e estimulação a ficar na posição
ortostática e realizar exercícios de marcha estacionária, três séries de um
minuto (45), com um minuto de descanso entre as séries.
28
- 3º dia de pós-operatório: Exercícios 2º dia, acrescidos do estímulo à
deambulação pela unidade por um período de sete minutos em ritmo livre, para
manter um Equivalente Metabólico (MET) entre 3-4, e ao final do exercício, foi
transferido para uma poltrona alocada ao lado do leito, no qual permaneceu por
no mínimo trinta minutos.
- 4º dia de pós-operatório: Exercícios do 3º dia, aumentando o tempo de
deambulação para 10 minutos e permanência na poltrona por no mínimo uma
hora.
- 5º dia de pós-operatório: Exercícios do 4º dia, aumentando o tempo de
deambulação para 15 minutos e permanência na poltrona por no mínimo duas
horas.(44).
- 6º dia de pós- operatório: Exercícios do 5º dia acrescido com o início ao treino
de escada com a utilização de um degrau (MET 4-5) padronizado com 20 cm
de altura
(56)
, em um lance de sete degraus. O paciente foi estimulado a subir e
descer os degraus, três séries de um minuto cada, com um minuto de
descanso entre elas
- 7º dia de pós-operatório: Exercícios do 6º dia. Ao final da terapia, o paciente
recebeu orientações para manter os exercícios respiratórios até o 30º dia de
pós-operatório e a realizar caminhadas diárias após a alta hospitalar.
Como medida de segurança, os procedimentos foram interrompidos caso o
paciente apresentasse qualquer sinal ou sintoma de intolerância ao exercício,
tais como fadiga muscular, dispneia, cianose, palidez, náusea, aumento da FC
29
inadequada aos valores de repouso, elevação ou aumento súbito da pressão
arterial.
5.8. Desfechos do Estudo
5.8.1. Desfecho Primário- Capacidade Funcional
A capacidade funcional foi avaliada pelo teste de caminhada de 6
minutos (TC6m) seguindo a padronização proposta pela American Thoracic
Society
(57)
.
Para sua execução foi utilizado um corredor de 30 metros de
comprimento, demarcado a cada um metro. O paciente foi instruído a utilizar
roupas e sapatos confortáveis e não realizar esforços duas horas antes do
início do teste. Foram realizados dois testes com intervalo de uma hora entre
eles visando minimizar a variabilidade entre as distâncias percorridas e foi
considerado o teste com a maior distância percorrida.
Foram
registrados
os
seguintes
dados:
frequência
respiratória,
frequência cardíaca, pressão arterial (PA), saturação de pulso de oxigênio
(SpO2), grau de dispneia e cansaço em membros inferiores, utilizando a escala
de Borg Modificada
(51)
. Após esta avaliação inicial, o paciente foi orientado a
caminhar o máximo que conseguir por seis minutos, no espaço demarcado,
porém sem correr ou pular. O avaliador permaneceu próximo ao local,
estimulando-o a cada minuto. Após o primeiro minuto, o avaliador deu o
seguinte estímulo: "Você está indo muito bem. Você tem cinco minutos para
andar". A cada minuto que passar, o avaliador repetiu a mesma instrução de
encorajamento. Concluídos os seis minutos, o teste foi interrompido e foram
anotados os seguintes dados: f, FC, PA, SpO2 e graduação da dispneia e
cansaço de MMII.
30
Foi utilizado como cálculo do valor predito da distância percorrida no
TC6m a fórmula proposta e validada para a população brasileira, por Britto
et.al.(58):
TC6mpred=356.658 (2.303×idade)+(36.648×gênero)+(1.704×altura)+(1.365×ΔFC).
Onde: TC6mpred: valor predito para a distância percorrida no TC6m;
Idade: em anos; gênero: se o indivíduo for do sexo masculino é preenchido o
valor “1”, e no caso do sexo feminino o valor “0”; Altura: em centímetros; e
ΔFC: a variação da frequência cardíaca pós e pré-teste.
5.8.2. Desfechos secundários
5.8.2.1. Complicações Pulmonares Pós-Operatórias (CPPO)
Foram avaliadas as complicações pulmonares durante a internação
hospitalar. Foram consideradas as seguintes CPPO´s: (i) atelectasias com
repercussão clínica
(59)
; (ii) hipoxemia com SpO2<85% e necessidade de
suplementação de O2 (60); (iii) pneumonia e (iv) insuficiência respiratória aguda
(61)
.
5.8.2.2. Tempo de Internação na UTI e Hospitalar
Durante o período de hospitalização, foram ainda averiguados: o tempo
(em dias) de estadia em UTI e hospitalar, a ocorrência de complicações
maiores não respiratórias, necessidade de retorno a UTI e mortalidade. Em
vigência de qualquer uma destas complicações, o paciente teve seu
treinamento suspenso e seu tratamento foi realizado de acordo com os critérios
clínicos necessários.
31
5.9 Análise Estatística
Os dados foram duplamente digitados e testados previamente quanto a
normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para o artigo final, os efeitos
médios das intervenções e as diferenças entre os grupos para o desfecho
primário ( distância percorrida no TC6) foram calculados utilizando-se modelos
lineares mistos(62), que incorpora termos para os grupos de tratamento, tempo,
e termos de interação grupos de tratamento versus tempo. Para o momento, foi
aplicado o teste de ANOVA dois fatores para amostras repetidas (grupo e
tempo), com análise de posthoc de Bonferroni. O teste t de Student foi utilizado
para avaliar a diferença entre as médias para o “tempo de internação”. Para
análise da variável “complicações pulmonares pós-operatórias” foi utilizado o
teste Qui-Quadrado para a avaliação entre os grupo GC e GI. A análise seguiu
os princípios de intenção de tratamento, utilizando os resultados dos últimos
testes realizados, caso o paciente não completasse todo o delineamento do
estudo. Na análise estatística foi utilizado o software estatístico IBM SPSS
versão 21 para Windows software (IBM Corporation, Armonk, New York),
considerando-se um nível de significância (α=5%).
6. RESULTADOS
32
Foram considerados elegíveis para o estudo 269 pacientes, de setembro
de 2014 a Outubro de 2015. Destes, 44 não preencheram os critérios de
inclusão. Foram excluídos do estudo 141 pacientes (27 pacientes que
realizaram cirurgia de urgência ou realizariam cirurgias concomitantes, 68
pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, 21 pacientes com fração de
ejeção do ventrículo esquerdo menor que 34 % ou maior que 54%, 13
pacientes que iriam ser submetidos a re-intervenções cirúrgicas e 12 pacientes
com contraindicações motoras para realização das atividades propostas pelo
estudo).
Sendo
assim,
84
pacientes
em
pré-operatório
de
cirurgia
de
revascularização do miocárdio foram incluídos no estudo. Após o procedimento
pós-operatório, 18 pacientes foram excluídos do estudo, por óbito intraoperatório e pelo tempo de ventilação mecânica acima de 24 horas. Dessa
forma, 66 pacientes foram alocados aleatoriamente nos grupos controle (n=33)
e intervenção (n=33). Todos ao pacientes realizaram os protocolos sem perdas
até o sétimo dia de seguimento. Após dois meses de alta hospitalar, um
paciente do grupo controle não realizou o TC6m por desistir do estudo e dois
pacientes de ambos os grupos por re-internações, totalizando ao final, para
análise dos dados, 31 pacientes para o GC e 32 para o GI, conforme
demonstrado no fluxograma dos resultados da Figura 2.
Os dados demográficos dos pacientes, bem como as médias e desvios
padrão das variáveis mensuradas na linha de base, estão dispostos na Tabela
1.
33
TRIAGEM
(N=269)
NÃO PREENCHERAM OS
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
(N=44)
EXCLUSÃO (N=141)
- Cirur. Urgên/Conc. (N=27)
- DPOC (N=68)
- FE < 34% ou 54% (N=21)
- Re-inter. Cirúrg. (N=13)
- Contra Indic. Osteomi. (N=12)
AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA (N=84)
- Função Pulmonar
- Nível de Atividade Física
- Medida de Independência Funcional
- Teste de Caminhada de 6 minutos
EXCLUSÃO PÓS-OPERATÓRIA (N=18)
- Óbito (N=10)
- Tempo de VM > 24 h (N= 8)
ALEATORIZAÇÃO
(N=66)
GRUPO CONTROLE
(N=33)
GRUPO INTERVENÇÃO
(N=33)
Teste de caminhada de seis minutos
(N= 33)
7º Sessão
Teste de caminhada de seis minutos
(N= 33)
Contato Telefônico
(N= 33)
30 dias após
alta hospitalar
Contato Telefônico
(N= 33)
Teste de caminhada de 6 minutos
(N= 31)
60 dias dias após
a alta hospitalar
Teste de caminhada de seis minutos
(N=32)
Analisados 33 pacientes
Análise dos
34
Tabela 1. Dados antropométricos e perfil pré-operatório em relação ao uso
de medicamento, fração de ejeção, espirometria, nível de atividade física e
medida de independência funcional dos pacientes dos Grupos Controle e
Intervenção.
Características*
Gênero N (%)
Masculino
Feminino
Idade (anos)
Peso (kg)
Altura (cm)
IMC (Kg/ m2)
Comorbidades N (%)
HAS (%)
DM (%)
Dislipidemia (%)
Número de Lesões
Coronarianas (N)
1
2
3
4
Medicamentos (N)
Nitratos
IECA
Betabloqueadores
Diuréticos
AAS
Digitálicos
Fração de Ejeção
Espirometria
CVF(L)
VEF1(L)
VEF1(%)
VEF1/CVF(L)
VEF1/CVF(%)
Nível de Atividade Física
(Baecke) N (%)
Sedentários (<9)
Ativos (>9)
Medida de Independência
Funcional (MIF– total 126)
Grupo Controle
(n= 33)
Grupo Intervenção
(n=33)
p
22 (66,67)
11 (33,33)
21 (63,64)
12 (36,36)
0,72
0,46
60,87 ± 12,29
75,15 ± 10,50
172 ± 9,56
25,26 ± 2,91
60,57 ± 15,54
71,15 ± 7,99
168,18 ± 10,21
25,20 ± 2,77
0,64
0,12
0,66
0,98
25 (75,76)
22 (66,67)
15 (45,45)
24 (72,73)
17 (51,52)
14 (42,42)
0,71
0,15
0,87
3 (9,09)
15 (45,45)
13 (39,39)
2 (6,06)
4 (12,12)
16 (48,48)
12 (36,36)
1 (3,03)
0,54
0,67
0,79
0,49
16 (48,48)
18 (54,54)
25 (75,75)
22 (66,66)
16 (48,48)
21( 63,63)
51,24 ± 2,12
12 (36,36)
20 (60,60)
27 (81,81)
21 (63,63)
20 (60,60)
19 (57,57)
50,57 ± 2,80
0,78
0,87
0,98
0,79
0,80
0,83
0,16
3,52±3,75
3,34±2,03
82,79±7,24
87,31±8,09
97,33±9,07
3,44±2,50
3,41±1,25
81,90±9,12
86,22±09,93
98,53±10,14
0,68
0,79
0,90
0,82
0,91
18 (54,55)
15 (45,45)
17 (51,52)
16 (48,48)
0,25
0,79
121,02±2,44
122,87±1,07
0,45
Legenda: IMC (Índice de massa corpórea); HAS (Hipertensão arterial sistêmica); DM
(Diabetes mellitus); CVF (Capacidade vital forçada); VEF1 (Volume expiratório forçado no
primeiro segundo); CEC (Circulação extracorpórea). IECA (Inibidores da enzima conversora
de angiotensina); AAS (Ácido acetilsalicílico).
* Variáveis contínuas estão expressas em média e desvio padrão e variáveis categóricas
estão expressas em frequência e proporção.
35
Pode-se notar nessa tabela que não houve diferença estatística entre os
grupos controle e intervenção quando comparados os dados antropométricos
(gênero, idade, peso, altura, IMC), bem como valores de espirometria,
medicamentos, fração de ejeção, lesões coronarianas, nível de atividade física
36
e medida de independência funcional, refletindo a homogeneidade dos grupos
no período pré-operatório.
Os dados referentes à cirurgia e perfil pós-operatório, como tempo de
ventilação mecânica, dias e tempo médio de ventilação não invasiva e dias de
drogas vasoativas estão apresentados na Tabela 2.
Os dados cirúrgicos e pós operatórios referentes ao tempo de cirurgia,
tempo de CEC, pinçamento de aorta, tempo de ventilação mecânica e
Tabela 2. Dados cirúrgicos e pós-operatórios dos pacientes dos grupos
Controle e Intervenção.
Características
Dados operatórios
Tempo de Cirurgia (min)
Tempo de CEC (min)
Pinçamento de Aorta (min)
Tempo de Ventilação Mecânica
(horas)
Números de Anastomoses (N)
1
2
3
APACHE (0-71)
Grupo Controle
(n= 33)
Grupo Intervenção
(n=33)
p
157,96 ± 12,82
83,71 ± 7,86
41,21 ± 7,22
7,62 ± 2,10
155,87 ± 12,34
81,03 ± 9,06
44,56 ± 8,64
7,15 ± 1,77
0,22
0,25
0,21
0,44
4 (12,12)
19 (57,58)
10 (30,30)
5 (15,15)
17 (51,52)
11 (33,33)
0,76
0,53
0,79
5,96 ± 1,21
6,03 ± 1,04
0,51
Dias de Ventilação Não-Invasiva
3,66 ± 1,61
2,84 ± 0,61
0,04*
Tempo de VNI (min)**
45,99 ± 10,62
39,91 ± 8,33
0,59
Drogas Vasoativas Pós-Operatória
4,75 ± 1,41
2,12 ± 0,92
0,00*
(dias)
Variáveis contínuas estão expressas em média e desvio padrão e variáveis categóricas estão
expressas em frequência e proporção
Legenda: CEC (Circulação extracorpórea); APACHE (Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation); VNI (Ventilação Não-invasiva)
*p<0,05
** tempo de VNI por período de 6 horas
APACHE II não apresentaram diferença estatisticamente significativa quando
comparados ambos os grupos. Porém, os pacientes do grupo controle
37
realizaram mais dias de VNI (apesar de não apresentar diferença no tempo
diário do procedimento) com média de 3,66 ± 1,61 e p=0,04, quando
comparado com o grupo intervenção. Da mesma forma, os pacientes do grupo
controle receberam DVA, no período pós-operatório por mais dias, 4,75 ± 1,41,
do que o grupo intervenção, com p<0,05.
A Tabela 3 mostra que houve diferença significativa entre os grupos na
avaliação do período pós-operatório ou sétimo dia de acompanhamento, para o
desfecho da distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos. O
grupo intervenção obteve um resultado com média de 434,69 (48,38),
aproximadamente 100 metros caminhados a mais do que os seus valores de
basais (pré-operatório).
Todos os participantes, de ambos os grupo, toleraram realizar o teste,
apresentando desempenhos similares e quando comparados no período préoperatório, não houve significância estatística (p=0,39), com médias de 335,32
(40,82) para o grupo controle e 326,31 (42,25) para o intervenção. O mesmo
resultado foi obtido no follow-up de dois meses, demonstrando que o grupo
controle apresentou uma melhora importante da distância percorrida e o grupo
intervenção permaneceu próximo do seu valor de acompanhamento do sétimo
dia pós-operatório, porém sem diferença estatística entre os mesmos.
Tabela 3. Distância percorrida e percentual do valor previsto no teste de
caminhada de seis minutos dos pacientes avaliados nos Grupos Controle
Intervenção.
Média ± DP
Grupo Intervenção
versus
Grupo Controle
38
Período
Grupo
Controle
Grupo
Intervenção
Diferença entre médias
(IC 95%)
p
Pré-operatório
% previsto
335,32±40,82
57,05±5,85
326,31±42,25
54,75±6,77
9,01 (-11,93 a 29,95)
2,30 (-0,81 a 5,42)
0,39
0,14
Pós-operatório (7 dias)
% previsto
355,42±42,44
60,16±6,02
434,69±48,38
73,39±8,26
-79,26 (102,22 a -56,31)
-13,23 (16,79 a -9,67)
0,00*
0,00*
Follow-up (2 meses)
% previsto
435,52±30,87
73,66±4,55
447,56±54,47
73,39±8,26
-12,04 (-34,45 a 10,35)
-2,82 (-6,08 a 0,43)
0,28
0,08
Legenda: * A diferença entre as médias é considerada significativa com p<0,05.
Os dados estão apresentados em média e desvio padrão, diferença entre médias e intervalo
de confiança de 95%.
O percentual do valor predito da distância percorrida no teste de
caminhada de seis minutos entre os grupos no período pré-operatório
apresentou diferença significativa no período pós-operatório, com grupo
intervenção melhorando, aproximadamente, 20% a mais do seu valor de
baseline. Não foram observado diferença significativa entre os grupo, no
período pré-operatório (sinalizando que os pacientes apresentaram um
comportamento homogêneo antes da cirurgia) e no período de 60 dias após a
alta hospitalar, com p= 0,14 e p=0,08), respectivamente.
A Tabela 4 mostra que, quando analisados de forma intragrupo, os
indivíduos de ambos os grupos apresentaram melhora, de forma progressiva,
do desempenho no teste de caminhada de seis minutos no período pósoperatório e follow-up comparados aos resultado do pré-operatório. Embora
menos de 20% de todos os indivíduos do estudo, não estivessem realizando
alguma atividade física após a alta, a distância percorrida no seguimento de 60
39
dias apresentou diferença estatística quando comparada ao momento de
avaliação do sétimo dia pós-operatório.
Tabela 4. Distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos
avaliada de forma intragrupo.
GRUPO
Comparação entre os períodos
Diferenças entre as médias
p
(IC 95%)
Grupo
Pré-Operatório
Controle
(N=33)
Pós-Operatório
Grupo
Pré-Operatório
Intervenção
(N=33)
Pós-Operatório
Pós-Operatório
-20,09 (-33,65 a -6,54)
0,002*
-100,19 (-115,12 a -85,26)
0,000*
20,09 (6,54 a 33,65)
0,002*
-80,09 (-91,02 a -69,16)
0,000*
Pós-Operatório
-108,37 (-121,71 a -95,03)
0,000*
Follow up
-128,84 (-143,54 a -114,14)
0,000*
108,37 (95,03 a 121,71)
0,000*
-20,46 (-31,22 a -9,71)
0,000*
Follow up
Pré-Operatório
Follow up
Pré-Operatório
Follow up
Legenda: * A diferença entre as médias é considerada significativa com p<0,05;
Os dados estão apresentados com intervalo de confiança de 95%.
O resultado dos dados dos dias de internação na UTI, enfermaria e
hospitalar, dos grupos controles e intervenção, estão apresentados na Tabela
5. Pode-se observar que os pacientes do GC permaneceram mais tempo
internados na UTI, com média de 7,27±1,68 dias e quando comparado ao GI
(4,39 ±1,19), demonstrou um resultado significantemente estatístico com
p=0,01. Porém, apesar do grupo controle manter os valores de permanência de
internação, tanto na enfermaria como hospitalar, maiores que o grupo
intervenção, tais resultados não apresentaram diferença estatística, com
p=0,40 e p=0,45, respectivamente.
40
Tabela 5. Tempo de Internação na unidade de terapia intensiva, enfermaria e
internação hospitalar dos pacientes avaliados nos Grupos Intervenção e
Controle.
Média ± DP
Grupo Intervenção
Versus
Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo
Intervenção
Diferença entre médias
(IC 95%)
p
UTI
7,27±1,68
4,39 ±1,19
2,87 (2,16 a 3,59)
0,01*
Enfermaria
8,12±2,10
6,15±1,62
1,97 (-1,04 a 2,89)
0,40
Hospitalar
15,33±2,96
11,52±6,37
3,81 (-1,22 a 1,37)
0,45
Internação
(dias)
Legenda: * A diferença entre as médias é considerada significativa com p<0,05
Os dados estão apresentados em média e desvio padrão, diferença entre médias e
intervalo de confiança de 95%.
A avaliação da presença de complicações pulmonares pós-operatórias
(Tabela 6), mostra que 16 pacientes (48,48%) do grupo controle e 8 (24,24%)
pacientes no grupo intervenção, apresentaram tais complicações, sendo esta
diferença entre os grupos estatisticamente significativa (p=0,015).
Tabela 6. Complicações pulmonares pós-operatórias entre os grupos
Controle e Intervenção. Os dados estão apresentados em frequência e
proporção.
Presença de Complicação
N (%)
Grupo
Grupo
Controle
Intervenção
Complicação Pulmonar
16 (48,48)
8 (24,24)
Atelectasia
4 (25,00)
1 (12,50)
Hipoxemia com SpO2<85%
5 (31,25)
5 (62,50)
Tipo de Complicação
p
0,015*
41
Pneumonia
6 ( 37,50)
2 (25,00)
Insuficiência Respiratória
1 (6,25)
0
Legenda: * A diferença entre as médias é considerada significativa com p<0,05
SpO2: Saturação de pulso de oxigênio
7. DISCUSSÃO
Este ensaio clínico controlado aleatorizado e cego mostrou que os
pacientes submetidos a um protocolo de reabilitação cardíaca no pósoperatório de cirurgia de revascularização, apresentaram melhora a curto prazo
da capacidade funcional, por meio do aumento da distância percorrida no teste
de caminhada de seis minutos, no sétimo dia de acompanhamento.
Os pacientes do estudo apresentaram características muito semelhantes
no momento da avaliação pré-operatória. Dentre elas, enaltecemos que os
pacientes de ambos os grupos não eram tão idosos (com média de idade de 60
anos,
aproximadamente)
e
com
apresentavam
menor
frequência
de
comorbidades (excluindo-se HAS e DM). Além disso, embora todos os
pacientes fossem independentes na realização de suas atividades, ressaltamos
o efeito “teto” após a realização do questionário que avalia a funcionalidade
(MIF), demonstrando a dificuldade de escolha de ferramentas específicas e
fidedignas para avaliar o perfil funcional de cada paciente, ainda mais tratandose de um paciente internado na unidade de terapia intensiva. Dessa forma,
temos consciência que tais características podem influenciar os achados pósoperatórios, como por exemplo, tempo médio de cirurgia e de CEC
satisfatórios, fato comum de ser encontrado em pacientes mais hígidos que se
submetem a cirurgia cardíaca.
Apesar de não ser um tema tão recente, atualmente tem-se destacado a
importância da mobilização precoce nos pacientes em situações críticas
(63-66)
.
42
Já bem descrito na literatura, a associação de fatores relacionados à cirurgia
(CEC, artefatos invasivos, dor, medicamentos)(67) e a restrição pós-operatória
ao leito, gerariam maior imobilismo, redução de propriedades de força e
endurance de musculatura periférica e respiratória, com consequente
diminuição da capacidade funcional.(68-70) Dessa forma, neste estudo, optou-se
pela elaboração de um protocolo precoce e controlado, enaltecendo o exercício
aeróbico e a retirada do paciente do leito.
Apesar do aumento progressivo dos exercícios ao longo dos dias, o
protocolo de mobilização precoce foi bem tolerado pelos pacientes. Estudos
atuais realizados em pacientes críticos (em ventilação mecânica ou não) não
demonstraram efeitos adversos quando utilizado variados tipos de protocolos
de mobilização.(26, 71, 72) Corroborando com estes dados, não foram observadas
repercussões hemodinâmicas e/ou respiratórias durante a realização das
atividades, apenas pausas periódicas para descanso ou pequenas alterações
de horários devido procedimentos rotineiros da UTI, assim como não houve a
necessidade de aumento ou diminuição de drogas vasoativas devido ao fato do
paciente ser submetido precocemente aos exercícios. Podemos inferir, dessa
forma, que nosso protocolo apresentou-se de forma viável e bastante seguro.
Assim como Wang et. al.(73), em 2014, em um estudo prospectivo e de coorte,
realizou um protocolo de mobilização precoce (baseado em exercícios ativos
no leito, em ortostatismo e deambulação) em 33 pacientes internados em
UTI´s, durante sessões de hemodiálise, e observou que as atividades não
promoviam repercussões e/ou efeitos adversos aos pacientes, desmistificando
a recomendação da maioria das equipes médicas, do repouso máximo durante
sessões de terapia de substituição renal. Também em um estudo realizado por
43
Kirkeby-Garstad et. al
(74)
, em 20 pacientes com o perfil pós-cirúrgicos de
cirurgia cardíaca, foi observado que o protocolo de mobilização não promoveu
repercussões hemodinâmicas e alterações significativas nos valores de SvO2
mesmo com pacientes que evoluíram com piora da função miocárdia (< 50%
de fração de ejeção), além do que já era esperado no pré-operatório.
Nossos resultados contrariam uma revisão sistemática realizada por
Connolly et. al(75), na qual não se pôde concluir que a mobilização em pacientes
pós-internação na UTI teve influência positiva nas variáveis de funcionalidade,
apesar de três artigos apontarem diferença significativa na melhora da
funcionalidade e qualidade de vida de pacientes que realizaram protocolos de
mobilização.
Podemos inferir que os pacientes do grupo intervenção obtiveram
melhora progressiva da capacidade de exercício principalmente com maior
tolerância ao exercício submáximo, com prováveis repercussões positivas de
caráter hemodinâmico (menor contratilidade, redução de trabalho e consumo
do oxigênio do miocárdio) e estabilização dos sinais vitais, com possíveis
benefícios de aumento da perfusão periférica, amenização da perda de força
muscular periférica e respiratória, associados ainda à resolução parcial ou total
das lesões coronarianas que antes comprometiam a função cardíaca. (77-79)
Acreditamos que esses fatores tornaram os pacientes do grupo intervenção
mais aptos e confiantes para a realização do treinamento aeróbico e
principalmente de caminhadas sem auxílio.
Assim como no estudo de Ghashghaei et. al
(76)
, 2012, que realizou um
estudo com pacientes pós-cirurgia cardíaca, no qual apresentou resultados
satisfatórios de um protocolo de mobilização precoce multiprofissional na
44
capacidade funcional e cardíaca, avaliados por meio do TC6m, teste
ergométrico e ecocardiograma, nosso estudo apresentou resultado similar com
melhora significativa da distância percorrida no teste de caminhada de seis
minutos, nos pacientes que foram alocados no grupo de intervenção.
A partir do segundo dia de protocolo até o final (sétimo dia), os pacientes
caminharam em média, dentro da UTI, em torno de 130 a 200 metros por dia.
O mesmo resultado foi encontrado no estudo de Castro-Ávila et. al.(80), 2015, o
qual demonstrou por meio de uma revisão sistemática com meta-análise que
os pacientes que realizaram a mobilização precoce na UTI, apresentaram
melhora significativa da capacidade de deambulação sem auxílio no período de
alta hospitalar, mesmo sem significância estatística nos status funcional, força
muscular, qualidade de vida e utilização de serviços de reabilitação.
Em relação à avaliação da distância percorrida no TC6m no seguimento
de dois meses, não foi observada diferença significante entre os grupos
estudados e ambos mantiveram os valores em torno de 70% do previsto pela
equação de Brito et.al, 2013. Apesar de ter sido esperado que o grupo
intervenção mantivesse, após a alta hospitalar, os exercícios regulares que
faziam durante a internação, isto não ocorreu. Acreditamos que, a similaridade
entre os grupos neste momento após dois meses, possa ser justificada pelo
fato de que, no momento da alta hospitalar, os pacientes eram orientados pela
equipe médica local a não realizarem exercícios sem supervisão por um
período mínimo de três meses, mesmo com a orientação fisioterapêutica,
previamente aprovada pela mesma equipe, de que fizessem os exercícios aos
quais já estavam habituados.
45
Embora todos os pacientes tenham sido encaminhados a um centro de
reabilitação pós-cirúrgica, menos de 20% frequentaram. A baixa adesão dos
pacientes quando encaminhados para serviços de reabilitação foi também
observada em alguns estudos(81-87), os quais relatam que a falta de assiduidade
na reabilitação pós-alta hospitalar é justificada, por exemplo, pela ausência de
motivação financeira e pessoal, conflito de tempo de trabalho, associados
ainda à ausência de sintomas, antes presentes no período pré-operatório
(dispneia, fadiga de membros inferiores, precordialgia). Este fato faz com que a
recuperação se restrinja principalmente às atividades de vida diárias e
atividades ocupacionais. Apesar de não ter sido observado valores importantes
em nosso estudo ( aproximadamente 3% no grupo GI e 6% GC),
et.al(88), 2009, e Takahashi et.al.(89), 2015,
Macchi
sugerem ainda que esse
comportamento pode estar relacionado com maiores índices de re-internações
(com frequência de re-internação de 19%, por sinais de insuficiência cardíaca).
Outros fatores que possam ter influenciado a baixa adesão dos pacientes do
nosso estudo são a distância para locomoção até o centro de reabilitação (uma
vez que uma grande parte dos pacientes eram oriundos de outros estados ou
de regiões distantes da capital) e pelo centro de reabilitação não ser específico
e direcionado para o atendimento de pacientes pós-cirúrgicos.
Com relação aos dias de internação na UTI e hospitalar (total), foi
observado que os pacientes do grupo intervenção permaneceram cerca de três
dias a menos internados na UTI (4,39±1,19 dias) em relação ao grupo controle
(7,27±1,68 dias), com diferença significativa. Esse mesmo comportamento é
observado e muito bem descrito na literatura atual
(90-92)
. Protocolos de
mobilização quando implantados precocemente em pacientes internados na
46
UTI, apresentam relação direta com menor tempo de internação na UTI e
hospitalar, e podem ser justificados pela resolução precoce do motivo da
internação
na
unidade,
menor
tempo
de
ventilação
mecânica
e
consequentemente, menor incidência de complicações pulmonares(66, 93, 94).
Embora
os
dias
de
internação
hospitalar
(total)
não
tenham
demonstrado significância estatística, vale ressaltar que o grupo controle
permaneceu internado aproximadamente, em média, quatro dias a mais que o
grupo intervenção. Deve-se salientar que a permanência prolongada está
diretamente relacionada com aumento de custos hospitalares (95), embora não
tenha sido objetivo deste estudo verificar tal dado. Da mesma forma, por ser
um hospital de referência em Cardiologia, que atende à demanda de outros
estados do norte do país, a rotatividade de leitos é um ponto forte a ser
considerado nesse aspecto.
Quanto à presença de complicações pulmonares, observou-se o dobro
de casos no grupo controle quando comparado ao grupo intervenção (16
pacientes no GC e 8 no GI). Além disso, vimos que todos os pacientes que
apresentaram complicações pós-operatórias apresentaram três ou quatro
lesões coronárias na avaliação antes da cirurgia. Comumente os pacientes no
período pós-operatório de RM apresentam riscos para evolução com tais
complicações pulmonares, como: a CEC, o grau de sedação, a intensidade da
manipulação cirúrgica e o número de drenos pleurais, sendo os fatores intraoperatórios os principais responsáveis por alterar a mecânica respiratória no
pós-operatório imediato.(96,
97)
.A anestesia geral parece reduzir a capacidade
residual funcional pulmonar em cerca de 20%; a circulação extracorpórea
prejudica a troca gasosa, e os pacientes cujas artérias mamárias são
47
dissecadas apresentam um risco maior de derrame pleural, com subsequentes
complicações pulmonares.(96)
Embora o grupo controle tenha evoluído com número maior de pacientes
com complicações pulmonares, ambos os grupos, juntos, apresentaram taxa
acima da média citada na literatura, (36,36%). Soares et.al.
(98)
, em 2011,
relatou em seu estudo que 31,02% pacientes submetidos a cirurgia cardíaca
evoluíram com complicações pulmonares. Porém, devemos enaltecer que
ambos os grupos apresentaram pouca frequência de casos de insuficiência
respiratória, complicação apresentada como sendo mais prevalente nestes
estudos, fato que pode relacionar-se com maior índice de mortalidade.
Deve-se ressaltar que o estudo apresenta algumas limitações.
O
crescente aumento de número de pacientes com o perfil DPOC/ICC, nos leva a
crer que poderíamos ter realizado o acompanhamento de pacientes que foram
inicialmente excluídos do protocolo por apresentarem DPOC e/ou com fração
de ejeção considerados baixos, com o objetivo de avaliar a prevalência de
complicações pulmonares, re-internações e internação hospitalar.
Ainda, ressaltamos que a escolha de um tempo curto de seguimento
após a alta hospitalar, limitou a análise do retorno dos pacientes às atividades
físicas, assim como para a avaliação de re-internação hospitalar, para que
pudéssemos ter dados suficientes para comparação com a literatura atual,
sugerindo então a inclusão de pacientes com DPOC e/ou com fração de ejeção
bem baixa, além de incluir avaliação de seguimento por um período superior a
três meses.
48
8. CONCLUSÃO
Concluiu-se, nesse estudo, que um protocolo de mobilização precoce
apresenta influência positiva, capaz de melhorar a distância percorrida no
teste de caminhada de seis minutos, quando comparado a um grupo
controle, após sete dias de seguimento em pacientes submetidos à cirurgia
de revascularização do miocárdio, no entanto, sem apresentar diferença
significativa após 60 dias de alta hospitalar.
Além disso, os pacientes que realizaram tal protocolo, permaneceram
menos tempo internados na UTI (sem diferença significante nos período
total
de
internação
hospitalar),
com
menor
desenvolvimento
de
complicações pulmonares pós-operatórias, quando comparados aos
pacientes que realizaram exercícios respiratórios e orientações.
Porém, ressalta-se a importância da elaboração de novos estudos
que abordem este tema, com novos perfis de pacientes e com ferramentas
de avaliação mais precisas.
49
REFERÊNCIAS
1. Hillis LD, Smith PK, Anderson JL, Bittl JA, Bridges CR, Byrne JG, et al. 2011
ACCF/AHA Guideline for Coronary Artery Bypass Graft Surgery: executive
summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American
Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2011 Dec
6;124(23):2610-42.
2. Noyez L, de Jager MJ, Markou AL. Quality of life after cardiac surgery:
underresearched research. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011
Nov;13(5):511-4.
3. Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of C,
the European Association for Cardio-Thoracic S, European Association for
Percutaneous Cardiovascular I, Wijns W, Kolh P, Danchin N, et al. Guidelines
on myocardial revascularization. Eur Heart J. 2010 Oct;31(20):2501-55.
4. Eagle KA, Guyton RA, Davidoff R, Edwards FH, Ewy GA, Gardner TJ, et al.
ACC/AHA 2004 guideline update for coronary artery bypass graft surgery: a
report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task
Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1999 Guidelines for
Coronary Artery Bypass Graft Surgery). Circulation. 2004 Oct 5;110(14):340437.
5. ABB; EKS, Zimerman LI. Prevenção da fibrilação atrial após cirurgia de
revascularização do miocárdio: estado atual REBLAMPA Rev bras latinoam
marcapasso arritmia. 2001;14(4):203-7.
6. TaniguchiI FP, SouzaII ARd, MartinsIII AS. Tempo de circulação
extracorpórea como fator risco para insuficiência renal aguda. Revista brasileira
de cirurgia cardiovascular : orgao oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Cardiovascular. 2007;22(2):201-5.
7. Rajaei S, Dabbagh A. Risk factors for postoperative respiratory mortality and
morbidity in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Anesth Pain
Med. 2012 Fall;2(2):60-5.
8. Antunes PE, de Oliveira JF, Antunes MJ. Risk-prediction for postoperative
major morbidity in coronary surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2009
May;35(5):760-6.
9. Bianco ACM. Insuficiência respiratória no pós-operatório de cirurgia
cardíaca. Rev Soc Cardiol Estado de Säo Paulo. 2001;11(5):927-40.
10. Hedenstierna G, Rothen HU. Respiratory function during anesthesia: effects
on gas exchange. Compr Physiol. 2012 Jan;2(1):69-96.
11. Laghi F, Tobin MJ. Disorders of the respiratory muscles. Am J Respir Crit
Care Med. 2003 Jul 1;168(1):10-48.
12. Fiore JF, Jr., Chiavegato LD, Denehy L, Paisani DM, Faresin SM. Do
directed cough maneuvers improve cough effectiveness in the early period after
open heart surgery? Effect of thoracic support and maximal inspiration on
cough peak expiratory flow, cough expiratory volume, and thoracic pain. Respir
Care. 2008 Aug;53(8):1027-34.
50
13. Ortiz LD, Schaan CW, Leguisamo CP, Tremarin K, Mattos WL, Kalil RA, et
al. Incidence of pulmonary complications in myocardial revascularization. Arq
Bras Cardiol. 2010 Oct;95(4):441-6.
14. Winkelman C. Bed rest in health and critical illness: a body systems
approach. AACN Adv Crit Care. 2009 Jul-Sep;20(3):254-66.
15. Ferrando AA, Lane HW, Stuart CA, Davis-Street J, Wolfe RR. Prolonged
bed rest decreases skeletal muscle and whole body protein synthesis. Am J
Physiol. 1996 Apr;270(4 Pt 1):E627-33.
16. Kortebein P, Ferrando A, Lombeida J, Wolfe R, Evans WJ. Effect of 10 days
of bed rest on skeletal muscle in healthy older adults. JAMA. 2007 Apr
25;297(16):1772-4.
17. Berg HE, Larsson L, Tesch PA. Lower limb skeletal muscle function after 6
wk of bed rest. J Appl Physiol (1985). 1997 Jan;82(1):182-8.
18. Helliwell TR, Wilkinson A, Griffiths RD, McClelland P, Palmer TE, Bone JM.
Muscle fibre atrophy in critically ill patients is associated with the loss of myosin
filaments and the presence of lysosomal enzymes and ubiquitin. Neuropathol
Appl Neurobiol. 1998 Dec;24(6):507-17.
19. Truong AD, Fan E, Brower RG, Needham DM. Bench-to-bedside review:
mobilizing patients in the intensive care unit--from pathophysiology to clinical
trials. Crit Care. 2009;13(4):216.
20. Winkelman C. Inactivity and inflammation in the critically ill patient. Crit Care
Clin. 2007; 23(1):21-34.
21. Laizo A, Delgado FE, Rocha GM. Complications that increase the time of
Hospitalization at ICU of patients submitted to cardiac surgery. Rev Bras Cir
Cardiovasc. 2010; 25(2):166-71.
22. Nery RM, Martini MR, Vidor CdR, Mahmud MI, Zanini M, Loureiro A, et al.
Alterações na capacidade funcional de pacientes após dois anos da cirurgia de
revascularização do miocárdio. Revista brasileira de cirurgia cardiovascular :
orgao oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular.
2010;25(2):224-8.
23. Herridge MS, Tansey CM, Matte A, Tomlinson G, Diaz-Granados N, Cooper
A, et al. Functional disability 5 years after acute respiratory distress syndrome.
N Engl J Med. 2011; 364(14):1293-304.
24. Hough CL, Needham DM. The role of future longitudinal studies in ICU
survivors: understanding determinants and pathophysiology of weakness and
neuromuscular dysfunction. Curr Opin Crit Care. 2007;13(5):489-96.
25. Mendez-Tellez PA, Nusr R, Feldman D, Needham DM. Early Physical
Rehabilitation in the ICU: A Review for the Neurohospitalist. Neurohospitalist.
2012 Jul;2(3):96-105.
26. Camargo Pires-Neto R, Fogaca Kawaguchi YM, Sayuri Hirota A, Fu C,
Tanaka C, Caruso P, et al. Very early passive cycling exercise in mechanically
ventilated critically ill patients: physiological and safety aspects--a case series.
PloS one. 2013;8(9):e74182.
27. Clark DE, Lowman JD, Griffin RL, Matthews HM, Reiff DA. Effectiveness of
an early mobilization protocol in a trauma and burns intensive care unit: a
retrospective cohort study. Phys Ther. 2013; 93(2):186-96.
28. Engel HJ, Needham DM, Morris PE, Gropper MA. ICU early mobilization:
from recommendation to implementation at three medical centers. Crit Care
Med. 2013;41(1):S69-80.
51
29. Hodgson CL, Berney S, Harrold M, Saxena M, Bellomo R. Clinical review:
early patient mobilization in the ICU. Crit Care. 2013;17(1):207.
30. Hopkins RO. Early activity in the ICU: beyond safety and feasibility. Respir
Care. 2010;55(4):481-4.
31. Canadian Cardiovascular Society Heart Failure Management Primary P,
Moe GW, Ezekowitz JA, O'Meara E, Howlett JG, Fremes SE, et al. The 2013
Canadian Cardiovascular Society Heart Failure Management Guidelines
Update: focus on rehabilitation and exercise and surgical coronary
revascularization. Can J Cardiol. 2014;30(3):249-63.
32. Piepoli MF, Corra U, Benzer W, Bjarnason-Wehrens B, Dendale P, Gaita D,
et al. Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to
implementation. A position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the
European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J
Cardiovasc Prev Rehabil. 2010;17(1):1-17.
33. Zomorodi M, Topley D, McAnaw M. Developing a mobility protocol for early
mobilization of patients in a surgical/trauma ICU. Crit Care Res Pract.
2012;2012:964547.
34. Pinto JSST, Sarmento LA, Silva APPd, Cabral CMN, Chiavegato LD.
Effectiveness of conventional physical therapy and Pilates’ method in
functionality, respiratory muscle strength and ability to exercise in hospitalized
chronic renal patients: A study protocol of a randomized controlled trial. Journal
of Bodywork & Movement Therapies. 2014:1-12.
35. Borghi-Silva A, Mendes RG, Costa Fde S, Di Lorenzo VA, Oliveira CR,
Luzzi S. The influences of positive end expiratory pressure (PEEP) associated
with physiotherapy intervention in phase I cardiac rehabilitation. Clinics (Sao
Paulo). 2005;60(6):465-72.
36. Balady GJ, Ades PA, Bittner VA, Franklin BA, Gordon NF, Thomas RJ, et al.
Referral, enrollment, and delivery of cardiac rehabilitation/secondary prevention
programs at clinical centers and beyond: a presidential advisory from the
American Heart Association. Circulation. 2011;124(25):2951-60.
37. Rivas-Estany E. El ejercicio físico em La prevencion y La rehabilitacion
cardiovascular. Rer Esp Cardiol. 2011;11:18–22.
38. Brummel NE, Jackson JC, Girard TD, Pandharipande PP, Schiro E, Work B,
et al. A combined early cognitive and physical rehabilitation program for people
who are critically ill: the activity and cognitive therapy in the intensive care unit
(ACT-ICU) trial. Phys Ther. 2012;92(12):1580-92.
39. Jelinek HF, Huang ZQ, Khandoker AH, Chang D, Kiat H. Cardiac
rehabilitation outcomes following a 6-week program of PCI and CABG Patients.
Front Physiol. 2013;4:302.
40. Leon AS, Franklin BA, Costa F, Balady GJ, Berra KA, Stewart KJ, et al.
Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease: an
American Heart Association scientific statement from the Council on Clinical
Cardiology (Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention)
and the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee
on Physical Activity), in collaboration with the American association of
Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Circulation. 2005 J;111(3):36976.
41. Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren M, et al.
European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice
(version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of
52
Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in
Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited
experts). Eur Heart J. 2012;33(13):1635-701.
42. Dalal HM, Zawada A, Jolly K, Moxham T, Taylor RS. Home based versus
centre based cardiac rehabilitation: Cochrane systematic review and metaanalysis. BMJ. 2010;340:b5631.
43. Galve E, Castro A, Cordero A, Dalmau R, Facila L, Garcia-Romero A, et al.
Update in cardiology: Vascular risk and cardiac rehabilitation. Rev Esp Cardiol.
2013;66(2):124-30.
44. Achttien RJ, Staal JB, van der Voort S, Kemps HM, Koers H, Jongert MW,
et al. Exercise-based cardiac rehabilitation in patients with coronary heart
disease: a practice guideline. Neth Heart J. 2013;21(10):429-38.
45. Hirschhorn AD, Richards D, Mungovan SF, Morris NR, Adams L.
Supervised moderate intensity exercise improves distance walked at hospital
discharge following coronary artery bypass graft surgery--a randomised
controlled trial. Heart Lung Circ. 2008;17(2):129-38.
46. Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, et al.
Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005;26(2):319-38.
47. Baecke JA, Burema J, Frijters JE. A short questionnaire for the
measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. Am J Clin
Nutr. 1982;36(5):936-42.
48. Florindo AA, Latorre MdRDdO. Validação e reprodutibilidade do
questionário de Baecke de avaliação da atividade física habitual em homens
adultos. Rev Bras Med Esporte. 2003;9(3):121-8.
49. Riberto M, Miyazaki MH, Jucá SSH, Sakamoto H, Pinto PPN, Battistella LR.
Validação da Versão Brasileira da Medida de Independência Funcional. Acta
Fisiatr 2004;11(2):72-6.
50. Sansone GR, Alba A, Frengley JD. Analysis of FIM instrument scores for
patients admitted to an inpatient cardiac rehabilitation program. Archives of
physical medicine and rehabilitation. 2002 Apr;83(4):506-12.
51. Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports
Exerc. 1982;14(5):377-81.
52. Breivik H, Borchgrevink PC, Allen SM, Rosseland LA, Romundstad L, Hals
EK, et al. Assessment of pain. Br J Anaesth. 2008;101(1):17-24.
53. Saúde OMd. Cancer pain relief with a guide to opioide [cited 2009
20/08/2014].
Available
from:
disponível
em:
http://whqlibdoc.who.int/publication/9241544821.pdf
54. Matsunaga A, Masuda T, Ogura MN, Saitoh M, Kasahara Y, Iwamura T, et
al. Adaptation to low-intensity exercise on a cycle ergometer by patients with
acute myocardial infarction undergoing phase I cardiac rehabilitation. Circ J.
2004 ;68(10):938-45.
55. Karvonen MJ, Kentala E, Mustala O. The effects of training on heart rate; a
longitudinal study. Ann Med Exp Biol Fenn. 1957;35(3):307-15.
56. da Costa JN, Arcuri JF, Goncalves IL, Davi SF, Pessoa BV, Jamami M, et
al. Reproducibility of cadence-free 6-minute step test in subjects with COPD.
Respir Care. 2014;59(4):538-42.
57. Laboratories ATSCoPSfCPF. ATS statement: guidelines for the six-minute
walk test. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166(1):111-7.
53
58. Britto RR, Probst VS, de Andrade AF, Samora GA, Hernandes NA, Marinho
PE, et al. Reference equations for the six-minute walk distance based on a
Brazilian multicenter study. Braz J Phys Ther. 2013;17(6):556-63.
59. Duggan M, Kavanagh BP. Pulmonary atelectasis: a pathogenic
perioperative entity. Anesthesiology. 2005;102(4):838-54.
60. American Association of Respiratory Care. AARC clinical practice guideline.
Oxygen therapy in the home or alternate site health care facility--2007 revision
& update. Respir Care. 2007;52(8):1063-8.
61. Polverino E, Torres A. Diagnostic strategies for healthcare-associated
pneumonia. Semin Respir Crit Care Med. 2009;30(1):36-45.
62. Twisk JW. Longitudinal data analysis. A comparison between generalized
estimating equations and random coefficient analysis. European journal of
epidemiology. 2004;19(8):769-76.
63. Bartolo M, Bargellesi S, Castioni CA, Bonaiuti D. Early rehabilitation for
severe acquired brain injury in intensive care unit: multicenter observational
study. European journal of physical and rehabilitation medicine. 2015; 45(3); 5659.
64. Dafoe S, Chapman MJ, Edwards S, Stiller K. Overcoming barriers to the
mobilisation of patients in an intensive care unit. Anaesthesia and intensive
care. 2015;43(6):719-27.
65. Fraser D, Spiva L, Forman W, Hallen C. Original Research: Implementation
of an Early Mobility Program in an ICU. The American journal of nursing.
2015;115(12):49-58.
66. Laurent H, Aubreton S, Richard R, Gorce Y, Caron E, Vallat A, et al.
Systematic review of early exercise in intensive care: a qualitative approach.
Anaesthesia, critical care & pain medicine. 2015.
67. Titoto L, Sansão MS, Marino LHC, Lamari NM. Cardiac rehabilitation in
patients submitted to myocardial revascularization: A review of Brazilian
Literature. Arq Ciênc Saúde. 2005;12(4):216-19.
68. Gosselink R, Bott J, Johnson M, Dean E, Nava S, Norrenberg M, et al.
Physiotherapy for adult patients with critical illness: recommendations of the
European Respiratory Society and European Society of Intensive Care
Medicine Task Force on Physiotherapy for Critically Ill Patients. Intensive care
medicine. 2008;34(7):1188-99.
69. Schweickert WD, Kress JP. Implementing early mobilization interventions in
mechanically ventilated patients in the ICU. Chest. 2011;140(6):1612-7.
70. van der Schaaf M, Beelen A, de Groot IJ. Critical illness polyneuropathy: a
summary of the literature on rehabilitation outcome. Disability and rehabilitation.
200;22(17):808-10.
71. Ko Y, Cho YH, Park YH, Lee H, Suh GY, Yang JH, et al. Feasibility and
Safety of Early Physical Therapy and Active Mobilization for Patients on
Extracorporeal Membrane Oxygenation. ASAIO journal. 2015;61(5):564-8.
72. Nydahl P, Ewers A, Brodda D. Complications related to early mobilization of
mechanically ventilated patients on Intensive Care Units. Nursing in critical
care. 2014.
73. Wang YT, Haines TP, Ritchie P, Walker C, Ansell TA, Ryan DT, et al. Early
mobilization on continuous renal replacement therapy is safe and may improve
filter life. Critical care. 2014;18(4):R161.
74. Kirkeby-Garstad I, Stenseth R, Sellevold OF. Post-operative myocardial
dysfunction does not affect the physiological response to early mobilization after
54
coronary artery bypass grafting. Acta anaesthesiologica Scandinavica.
2005;49(9):1241-7.
75. Connolly B, Salisbury L, O'Neill B, Geneen L, Douiri A, Grocott MP, et al.
Exercise rehabilitation following intensive care unit discharge for recovery from
critical illness. The Cochrane database of systematic reviews. 2015
76. Ghashghaei FE, Sadeghi M, Marandi SM, Ghashghaei SE. Exercise-based
cardiac rehabilitation improves hemodynamic responses after coronary artery
bypass graft surgery. ARYA atherosclerosis. 2012;7(4):151-6.
77. Ades PA, Waldmann ML, Meyer WL, Brown KA, Poehlman ET, Pendlebury
WW, et al. Skeletal muscle and cardiovascular adaptations to exercise
conditioning in older coronary patients. Circulation. 1996;94(3):323-30.
78. Hambrecht R, Wolf A, Gielen S, Linke A, Hofer J, Erbs S, et al. Effect of
exercise on coronary endothelial function in patients with coronary artery
disease. The New England journal of medicine. 2000;342(7):454-60.
79. Thompson PD, Buchner D, Pina IL, Balady GJ, Williams MA, Marcus BH, et
al. Exercise and physical activity in the prevention and treatment of
atherosclerotic cardiovascular disease: a statement from the Council on Clinical
Cardiology (Subcommittee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention) and the
Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on
Physical Activity). Circulation. 2003;107(24):3109-16.
80. Castro-Avila AC, Seron P, Fan E, Gaete M, Mickan S. Effect of Early
Rehabilitation during Intensive Care Unit Stay on Functional Status: Systematic
Review and Meta-Analysis. PloS one. 2015;10(7)
81. Ades PA, Waldmann ML, McCann WJ, Weaver SO. Predictors of cardiac
rehabilitation participation in older coronary patients. Archives of internal
medicine. 1992;152(5):1033-5.
82. Andrew GM, Oldridge NB, Parker JO, Cunningham DA, Rechnitzer PA,
Jones NL, et al. Reasons for dropout from exercise programs in post-coronary
patients. Medicine and science in sports and exercise. 1981;13(3):164-8.
83. Cannistra LB, Balady GJ, O'Malley CJ, Weiner DA, Ryan TJ. Comparison of
the clinical profile and outcome of women and men in cardiac rehabilitation. The
American journal of cardiology. 1992;69(16):1274-9.
84. Evenson KR, Fleury J. Barriers to outpatient cardiac rehabilitation
participation and adherence. Journal of cardiopulmonary rehabilitation.
2000;20(4):241-6.
85. Ferguson EE. Cardiac Rehabilitation—An Effective and Comprehensive but
Underutilized Program to Reduce Cardiovascular Risk in Patients with CVD. US
CARDIOVASCULAR DISEASE. 2006.
86. Nohara R, Kambara H, Mohiuddin IH, Ono S, Okuda K, Makita S, et al.
Cardiac sports rehabilitation for patients with ischemic heart disease. Japanese
circulation journal. 1990;54(11):1443-50.
87. Pell J, Pell A, Morrison C, Blatchford O, Dargie H. Retrospective study of
influence of deprivation on uptake of cardiac rehabilitation. Bmj. 1996 Aug
3;313(7052):267-8. PubMed PMID: 8704538. Pubmed Central PMCID:
2351655.
88. Macchi C, Polcaro P, Cecchi F, Zipoli R, Sofi F, Romanelli A, et al. Oneyear adherence to exercise in elderly patients receiving postacute inpatient
rehabilitation after cardiac surgery. American journal of physical medicine &
rehabilitation / Association of Academic Physiatrists. 2009;88(9):727-34.
55
89. Takahashi T, Kumamaru M, Jenkins S, Saitoh M, Morisawa T, Matsuda H.
In-patient step count predicts re-hospitalization after cardiac surgery. Journal of
cardiology. 2015;66(4):286-91.
90. Castro E, Turcinovic M, Platz J, Law I. Early Mobilization: Changing the
Mindset. Critical care nurse. 2015;35(4):e1-5
91. Hunter A, Johnson L, Coustasse A. Reduction of intensive care unit length
of stay: the case of early mobilization. The health care manager.
2014;33(2):128-35.
92. Morris PE, Goad A, Thompson C, Taylor K, Harry B, Passmore L, et al.
Early intensive care unit mobility therapy in the treatment of acute respiratory
failure. Critical care medicine. 2008;36(8):2238-43.
93. Cameron S, Ball I, Cepinskas G, Choong K, Doherty TJ, Ellis CG, et al.
Early mobilization in the critical care unit: A review of adult and pediatric
literature. Journal of critical care. 2015;30(4):664-72.
94. Parry SM, Puthucheary ZA. The impact of extended bed rest on the
musculoskeletal system in the critical care environment. Extreme physiology &
medicine. 2015;4:16.
95. Stephen AE, Berger DL. Shortened length of stay and hospital cost
reduction with implementation of an accelerated clinical care pathway after
elective colon resection. Surgery. 2003;133(3):277-82.
96. Katsura M, Kuriyama A, Takeshima T, Fukuhara S, Furukawa TA.
Preoperative inspiratory muscle training for postoperative pulmonary
complications in adults undergoing cardiac and major abdominal surgery. The
Cochrane database of systematic reviews. 2015;10:CD010356.
97. Vegni R, Almeida GF, Braga F, Freitas M, Drumond LE, Penna G, et al.
Postoperative cardiac artery bypass graft complications in elderly patients.
Revista Brasileira de terapia intensiva. 2008;20(3):226-34.
98. Soares GMT, Ferreira DCS, Gonçalves MPC, Alves TGS, David FL,
Henriques KMC, et al. Prevalence of major postoperative complications in
cardiac surgery. Rev Bras Cardiol.2011;24(3):139-146
56
Anexo 1. Aprovação do Comitê de Ética
57
58
59
60
Anexo 2. Carta de Anuência Institucional
61
Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de cunho
científico do Programa de Mestrado em Fisioterapia da Universidade Cidade de
São Paulo/Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, intitulada: “Impacto
da mobilização precoce na capacidade funcional de pacientes submetidos
à revascularização do miocárdio: Ensaio clínico aleatorizado, controlado
e cego”, que tem como objetivo principal avaliar o impacto de um protocolo de
mobilização precoce na capacidade funcional no sétimo dia de seguimento
pós-operatório e após 60 dias em pacientes submetidos à cirurgia de
revascularização do miocárdio. O tema escolhido se justifica pela importância
de se ter um protocolo bem definido de mobilização em pacientes póscirúrgicos e pela dúvida que se há sobre a sua real influência na recuperação
desses indivíduos.
O trabalho está sendo realizado pelo fisioterapeuta Daniel da Costa
Torres e sob a supervisão e orientação da Prof.ª Dra. Luciana Dias
Chiavegato.
Para alcançar os objetivos do estudo serão realizados um protocolo de
avaliação, no qual o sr. /sra. será avaliado(a) em três momentos diferentes:
antes do procedimento operatório (1ª avaliação), no sétimo dia pós-operatório
(2ª avaliação) e após 60 dias da alta hospitalar (3ª avaliação). Após o
procedimento da cirurgia, quando retirado um “tubo”, em até 24 horas, que o/a
ajuda a respirar, serão realizados protocolos de exercícios pré-estabelecidos.
Os dados de identificação serão confidenciais e os nomes reservados.
Os dados obtidos serão utilizados somente para este estudo, sendo os
mesmos armazenados pelo pesquisador principal durante 5 (cinco) anos e
após serão totalmente destruídos (conforme preconiza a Resolução 196/96).
EU,__________________________________________________, cujo CPF
_________________________________, recebi as informações sobre os
62
objetivos e a importância desta pesquisa de forma clara e concordo em
participar do estudo.
Declaro que também fui informado:
• Da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento
acerca dos assuntos relacionados a esta pesquisa.
• De que minha participação é voluntária e terei a liberdade de retirar o meu
consentimento, a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que
isto traga prejuízo para a minha vida pessoal e nem para o atendimento
prestado a mim.
• Da garantia que não serei identificado quando da divulgação dos resultados e
que as informações serão utilizadas somente para fins científicos do presente
projeto de pesquisa.
• Sobre o projeto de pesquisa e a forma como será conduzido e que em caso
de dúvida ou novas perguntas poderei entrar em contato com o pesquisador:
Daniel da Costa Torres, telefone (91) 8129-1251/ (91) 3233-9220, e- mail:
[email protected] e endereço: Tv. Alferes Costa s/n, Bairro Pedreira – Belém
Pará, UTI Coronariana (UCA), ramal: 4005 2586.
• Também que, se houverem dúvidas quanto a questões éticas, poderei entrar
em contato com Adriana Oliveira Lameira Verissimo, Coordenadora-geral do
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas pelo telefone 40052676, endereço Tv. Alferes Costa s/n, 1° andar.
Declaro que recebi cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
ficando outra via com o pesquisador.
Belém,_____ de___________ de 20_______ .
__________________________
____________________________
63
Assinatura do entrevistado
Nome
Assinatura do pesquisador
Nome do pesquisador
Este formulário foi lido para _______________________________________,
em________ /_________ /__________pelo
___________________________________ enquanto eu estava presente.
_________________________
Assinatura da testemunha
Data: _____ /______ /______
Anexo 4. Questionário de Atividade Física de Baecke
64
65
Tabela de Pontuação do Questionário de Baecke
66
Anexo 5. Medida de Independência Funcional
(Riberto et.al, 2004)
67
Anexo 6. Escala Visual Analógica
Anexo 7. Escala de Percepção Subjetiva do Esforço de Borg (modificada)
68
Apêndice 1. Ficha de Avaliação dos Dados Demográficos e Clínicos
IDENTIFICAÇÃO
69
DATA DA INTERNAÇÃO: ____/____/____
____/____/____
GRUPO: ( ) INTERVENÇÃO
_______________
DATA DA ALTA:
( ) CONTROLE
TEMPO de VM:
Nome__________________________________________________________
RG: __________________Idade: _____ Sexo: ( ) M ( ) F
Peso: _____ Altura: _____ IMC: _______
TELEFONE: _____________________________Profissão:
_______________
Data da internação:________ Data da cirurgia: __________
Data da alta (UTI/Hospitalar):________
Tempo de CEC:_________
GRUPO: ( ) INTERVENÇÃO
VNI ( ) sim
( )não
( ) CONTROLE
ANTECEDENTES
( ) HAS ( ) DM ( ) Dislipidemia ( ) Obesidade ( ) Tabagismo ( )
Sedentarismo
( ) História Familiar
( ) IAM Prévio ( ) AVC Prévio ( ) CATE Prévio
( ) ATC Prévio ( ) RM Prévio
70
ESPIROMETRIA
CVF (L)______
CVF (%)________ VEF1 (L)________ VEF1 (%)_________
VEF1/ CVF _________
EXAME FÍSICO
SINAIS VITAIS:
FC: _______bpm
SpO2 : _________ %
PA: _______ mmHg f:___rpm
Ausculta Pulmonar:
_______________________________________
MARCADORES E ENZIMAS
CK:
( ) Positivo ( ) Negativo Valor: __________ HORÁRIO:
CKMB: ( ) Positivo ( ) Negativo Valor: __________ HORÁRIO:
TROPONINA: ( ) Positivo ( ) Negativo
Valor: __________ HORÁRIO:
MIOGLOBINA: ( ) Positivo ( ) Negativo Valor: __________ HORÁRIO:
MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS
(
) Morfina
(
) Heparina
Cálcio
(
(
) O2
(
(
) Nitrato
) Inibidor ECA
) Inibidor IIb-IIIa
(
Outro _______________________
(
(
) AAS
) Diurético
) Digital
(
(
) Beta-Bloqueador
(
) Bloqueador de
) Anti-arrítmico
(
)
71
(
) SK
(
) ATC
–
STENT? (
) Sim
(
) Não
Artéria?_______________________
Complicações Pós-operatórias: ________________________________
Apêndice 2. Ficha de Preenchimento (Teste de Caminhada de Seis
Minutos)
IDENTIFICAÇÃO
NOME__________________________________________________________
_____________
RG: __________________IDADE: _____ SEXO: ( ) M ( ) F PESO: _____
ALTURA:
GRUPO: ( ) INTERVENÇÃO
_______________
( ) CONTROLE
TEMPO de VM:
72
AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA
1º TESTE DA CAMINHADA DE 6 MINUTOS
FCinicial: _________ bpm
f inicial: _________ irpm
PA inicial :
_____mmHg
SpO2 inicial: ________ %
FC final: _________ bpm
BORG inicial: ____________
f final: _________ irpm
PA final: _________
mmHg
SpO2 final: ________ %
BORG final: ____________
Distância Percorrida: ___________ m
Intercorrência:
______________________
2º TESTE DA CAMINHADA DE 6 MINUTOS
FCinicial: _________ bpm
f inicial: _________ irpm
PA inicial :
_____mmHg
SpO2 inicial: ________ %
FC final: _________ bpm
BORG inicial: ____________
f final: _________ irpm
PA final: _________
mmHg
SpO2 final: ________ %
BORG final: ____________
73
Distância Percorrida: ___________ m
Intercorrência:
______________________
AVALIAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA
1)
TC6M Alta Hospitalar
FCinicial: _________ bpm
f inicial: _________ irpm
PA inicial :
_____mmHg
SpO2 inicial: ________ %
FC final: _________ bpm
BORG inicial: ____________
f final: _________ irpm
PA final: _________
mmHg
SpO2 final: ________ %
BORG final: ____________
Distância Percorrida: ___________ m
Intercorrência:
______________________
2)
TC6M 60º após Alta Hospitalar
FCinicial: _________ bpm
f inicial: _________ irpm
PA inicial :
_____mmHg
SpO2 inicial: ________ %
BORG inicial: ____________
74
FC final: _________ bpm
f final: _________ irpm
PA final: _________
mmHg
SpO2 final: ________ %
BORG final: ____________
Distância Percorrida: ___________ m
______________________
Intercorrência:
10
Apêndice 3. Protocolo de Mobilização
Exercícios Respiratórios
Exercícios Respiratórios: Exercícios Diafragmáticos, 3 séries de 10
repetições. Orientação: Inspiração profunda e tranquilamente até a
+
CPPT, com deslocamento do compartimento abdominal anteriormente,
Exercícios Ativos de
seguido de uma pausa pós-inspiratória de dois a três segundos,
Membros
terminando com uma expiração simples.
Exercícios ativos de membros inferiores / superiors: 3 séries de 10
superiors/inferiores
Ventilação Mecânica
repetições; cama inclinado a 45º.
Conduta padronizada pela equipe multiprofissional do hospital,
Modo e Aparelho: Pressão positiva em dois níveis de pressão (BIPAP®
Não-invasiva
Synchrony);
Tempo:
Entre
30
a
60
min;
Interface:
Orofacial;
Parâmetros: Pins: manter VC a 7 ml/kg; PEEP: 6 cmH2O; e oxigênio
suplementar para manter uma SpO2> 95%.
11
Cicloergômetro
Forma de Mobilização: Ativa; Posicionamento: Decúbito dorsal, com a
cabeceira da cama elevada a 45º, enquanto os MMII se mantiveram
o
o
(1 e 2 PO´s)
planificados;
Duração:
20
minutos
(três
etapas:
5
minutos
de
aquecimento (sem carga); 10 minutos de exercício de baixa intensidade,
com cadência de 30 rpm; e 5 minutos de recuperação (sem carga).
Intensidade de treinamento: 70% da FC máxima pela Equação de
Karvonen, FCMáx= 220 – idade e FCT = FCR +x% (FC máx - FCR).
Marcha Estacionária
Orientação: O paciente foi incentivado a permanecer na posição
ortostática e realizar exercícios de marcha estacionária. Frequência: três
o
(2 PO)
séries de um minuto, com um minuto de descanso entre as séries.
12
Sentar na Poltrona
A transferência para uma poltrona ao lado do leito, na qual cada paciente
perrmaneceu durante um tempo pré-determinado.
(3º ao 7º PO)
Duração: 3º PO- Mínimo 30 minutos/ 4º PO- Mínimo 60 minutos/ 5º, 6º e
7º PO´s- Mínimo 2 horas.
Deambulação
Orientação: Estímulo à deambulação pela unidade. Intensidade:
manutenção de um Equivalente Metabólico (MET) entre 3-4.
(3º ao 7º PO)
Duração: 3º PO- 7 minutos/ 4º PO- 10 minutos/ 5º PO- 15 minutos/ 6º e
7º PO´s- 20 minutos.
13
Treino de Escada
Treino de escada com a utilização de um degrau (MET 4-5) padronizado
com 20 cm de altura, em um lance de sete degraus. Orientação e
(6º e 7º PO´s)
duração: O paciente foi estimulado a subir e descer os degraus.
Frequência: três séries se um minuto cada, com um minuto de descanso
entre elas