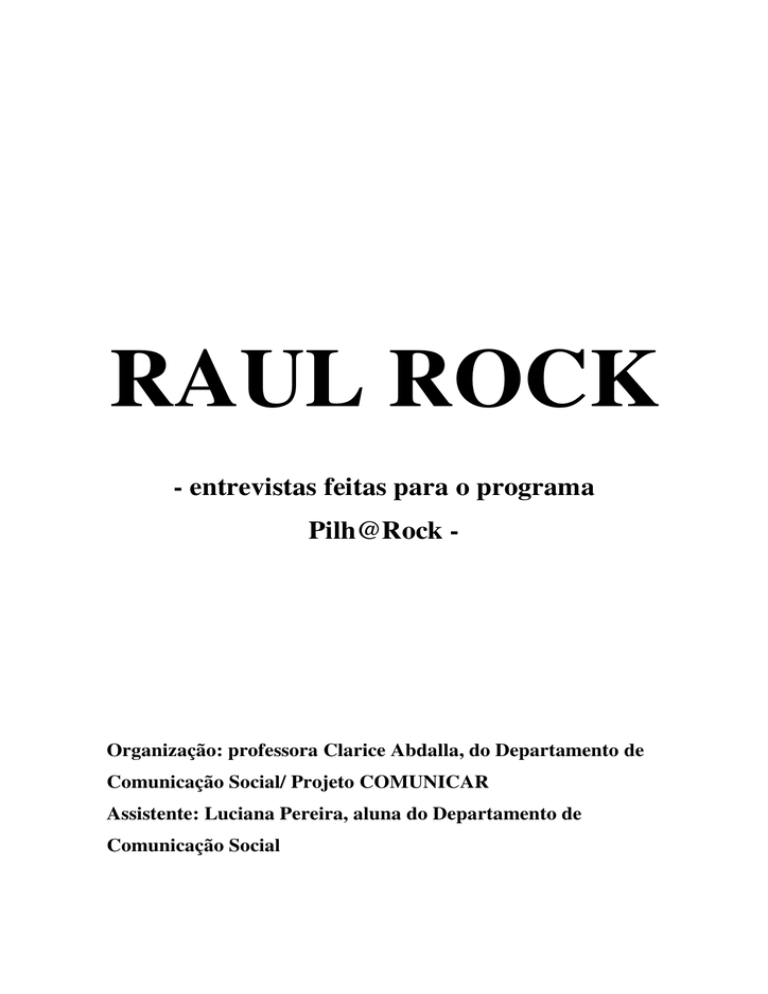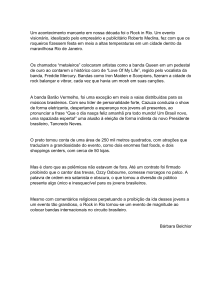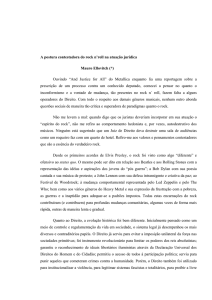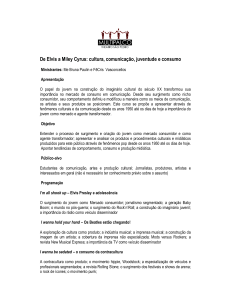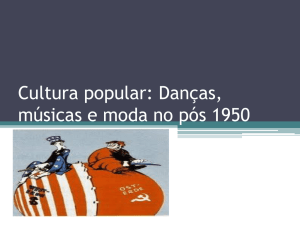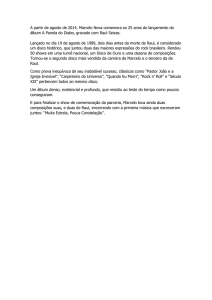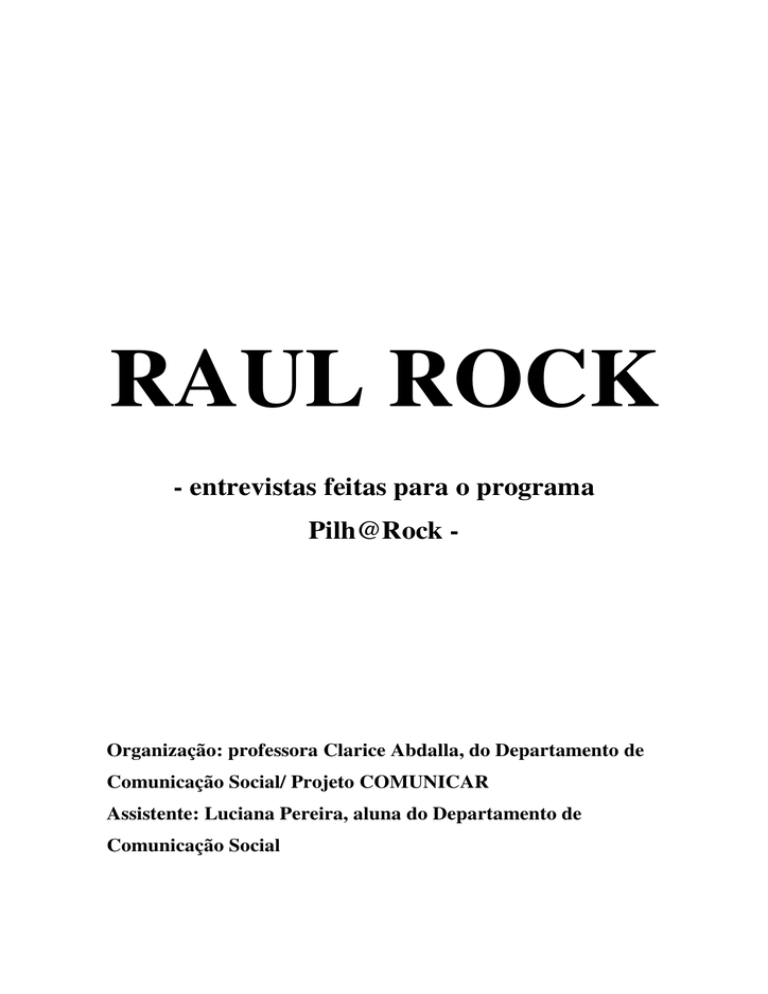
RAUL ROCK
- entrevistas feitas para o programa
Pilh@Rock -
Organização: professora Clarice Abdalla, do Departamento de
Comunicação Social/ Projeto COMUNICAR
Assistente: Luciana Pereira, aluna do Departamento de
Comunicação Social
ÍNDICE
Introdução ----------------------------------------------------------------------- 3
(por André Marcelo Soares)
Entrevista com Kika Seixas ---------------------------------------------------------- 5
(por Clarice Abdalla e Leonardo Moura)
Entrevista com Paulo Coelho --------------------------------------------------------- 10
(por Luciana Pereira)
Entrevista com Tárik de Souza ------------------------------------------------------- 11
(por Joana Calmon)
Entrevista com Maurício Valladares ------------------------------------------------- 15
(por Felipe Gomberg e Eduardo de Souza)
Entrevista com Toni Marques -------------------------------------------------------- 25
(por Alessandra Amaral, Elaine Gomes e Luciana Pereira)
Entrevista com Jerry Adriani ---------------------------------------------------------- 34
(por Rodrigo Breves)
2
SEIXAS, Raul: UM VERBETE
André Marcelo M. Soares
Foram tempos confusos aqueles da chegada do rock no Brasil. Houve uma
verdadeira febre na juventude. Ninguém escapou, nem mesmo o jovem baiano Raul Santos
Seixas, que passava seus dias trancado no quarto viajando nas histórias de um cientista
louco chamado Mêlo. O som metálico das guitarras norte-americanas envolvia uma
multidão de jovens que logo passou a se comportar de um jeito diferente. O rock não era só
uma música, mas um modo de vestir e de falar característico dos rapazes que, com seus
“brotos”, se sentiam livres e poderosos sobre suas lambretas. No meio disso tudo estava
Raulzito que, ao lado de Valdir Serrão e dos Panteras, começou a escrever a história
tropical do rock’n roll.
No início, a música ainda não havia ganho um lugar de destaque para Raul. Suas
preocupações eram mais metafísicas. Preocupava-se com a origem do homem, com o
destino da humanidade, com a vida e com a morte. Só algum tempo mais tarde é que a
música foi ganhando o lugar principal. Seus primeiros ídolos eram os mesmos de sua
geração: Chuck Bery, Little Richard, Bill Haley, Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. E quanto
a música popular brasileira? Bom, com esta Raul pouco se importava no início. Tirando
Luís Gonzaga, ouvido quase que diariamente por seus pais, pouco conhecia sobre MPB.
Sua paixão era mesmo a música de raíz negra norte-americana, que passando pelo gospel
deu origem ao rock.
Como já disse, foram tempos confusos aqueles do rock no Brasil. Tratava-se de um
cenário bastante incomum: a bossa nova de João Gilberto reivindicando um nacionalismo
musical sob a forma de uma releitura de nossas heranças rítmicas, a tropicália de Caetano e
Gil contra o purismo musical que fazia questão de manter afastado da MPB o som dos
instrumentos elétricos, a jovem guarda de Erasmo e Roberto Carlos que uniu o romantismo
da bossa com o estilo Beatles de bons meninos da rainha e o rock de Raul, que não gostava
de falar português e que, já naquela época, se apresentava sob uma roupagem globalizada.
3
A música de Raulzito é por definição transnacional, pluriinstrumental e
pluridimensional. Ela transcende qualquer tipo de expressão nacionalista, não privilegia
este ou aquele instrumento ou som musical e nem se preocupa com uma única dimensão da
existência humana. Suas letras revelam a loucura de todo mundo que se julga normal e a
normalidade que se esconde por detrás de toda loucura. Elas falam da comicidade da vida
cotidiana e de insólitas realidades. Senão todas, porém uma boa parte das dimensões
humanas estão lá em suas letras.
Quanto as transformações no rock de Raul Seixas, elas seguem as pegadas de suas
paixões musicas, que vão desde as letras sensuais do rock requebrante de Elvis passando
pelo som caseiro dos Beatles e culminando no rock de Frank Zappa, que o inspirou na
criação da sociedade alternativa. Com tudo isso, se tivéssemos que definir Raul Seixas em
poucas palavras, certamente, a melhor definição seria aquela que ele mesmo canta em uma
de suas músicas: “uma metamorfose ambulante”.
4
Entrevista com Kika Seixas
Clarice Abdalla - CA
Leonardo Moura - LM
Kika Seixas – KS
De que você se lembra quando dá de cara com o nome Raul Seixas? Sociedade
Alternativa? Raulzito e os Panteras? Parcerias com Paulo Coelho? Maluco Beleza? Ou
penas rock n'roll brasileiro de importância não só musical, mas também cultural? Raul foi
um homem aflito, preocupado com seu tempo e com os rumos que seu país e o mundo
estavam tomando. Talvez tenha sido essa angústia em relação a um planeta habitado, em
sua maioria, por seres humanos alienados das questões mais importantes da vida / que
tenha levado Raul à morte por alcoolismo em 89.
Hoje, dez anos após este triste acontecimento, Kika Seixas, viúva do artista, nos
recebeu em sua casa no Rio de Janeiro. Em um clima amigável de bate-papo, Kika nos
mostrou o verdadeiro Baú do Raul. Há discos, fitas, gravações inéditas, além de um vasto
material escrito do artista que data desde de sua infância. Você confere tudo isso aqui no
Pilh@.
Kika bate um papo inteligente sobre sua vida com Raul e sobre os caminhos
trilhados pelo rock brasileiro, mas sem esconder sua alegria e emoção em meio às
homenagens feitas ao falecido artista.
CA - Dez anos da morte de Raul Seixas...o que ficou depois desse tempo todo?
KS - É surpreendente como nesses dez anos Raul está mais vivo do que nunca. É
surpreendente ver a quantidade de fãs de 13, 14 e 15 anos que se comunicam comigo e
conhecem a obra do Raul. São fãs que nunca viram Raul ao vivo, nunca foram a show,
praticamente só conhecem a obra depois da morte dele. Isso, para mim, é o mais
gratificante e justifica todo o trabalho artístico do Raul.
CA - Inclusive as músicas de Raul ainda estão tocando muito nas rádios
ultimamente...
5
KS - Ultimamente não, completamente, porque o Raul é o terceiro artista mais executado
da ECAD (Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais). Nós não podemos nos guiar só
pelo o que ouvimos nas capitais Rio ou São Paulo, que é axé e pagode. Raul, no Brasil
todo, ainda é um dos dez maiores artistas executados em rádio.
CA - Conte-nos um pouco alguns fatos do dia-a-dia de Raul Seixas.
KS - Aí é complicado. O Raul vivia 24 horas por dia dedicado à música e à arte dele.
Quando compramos o apartamento em São Paulo, uma de suas primeiras providências foi
montar o estúdio dentro do apartamento em um dos quartos para não incomodar mais os
vizinhos, pois ele ficava compondo e ouvindo música muito alta. Eu estava, nesta época,
com o bebê recém nascido, a Vívian. Raul acordava cedo, pois dormia muito pouco porque
achava que dormir era uma perda de tempo. Ele dizia que tinha mais coisas para fazer, o
mundo estava girando, havia guerras e sofrimento e as pessoas deveriam ter consciência do
que estava acontecendo . Raul se sentia na obrigação de passar educação, filosofia e
ensinamentos para as pessoas.
CA - Como era a cabeça de Raul em se tratando de política e engajamento?
KS - Raul sempre dizia ter nascido no lugar errado e na hora errada. Ele tinha aversão a
política, pois achava que a busca da política era a busca pelo poder. Sobre a religião, ele
achava a mesma coisa, pois no final das contas, a religião era deturpada. Raul era uma
pessoa aflita e nervosa com os caminhos que o mundo já estava tomando. Ainda achava que
as cabeças pensantes já não estavam pensando mais.
CA - Ele também era um grande poeta. Como era a relação dele com a literatura?
KS - Raul lia muito. A música sempre esteve presente na vida dele. Em meados da década
de 60, ele já tinha a bandinha dele e cantava Little Richards. Elvis Presley era o que mais
tinha acesso em Salvador, na Bahia. A partir de 1968, quando ele se juntou aos Panteras,
começou a reparar que ele podia compor as próprias músicas. Mas, na época, se tocava
mais jovem guarda, música romântica... O que eu acho que foi bacana no Raul é que nesse
período ele trabalhou na CBS como produtor de Jerry Adriani, Wanderléia, Renato e seus
Blue Caps... Mas a moda na época era o iêiêiê romântico, como ele chamava. Rapidamente
6
ele sentiu que deveria aproveitar aquela oportunidade que estava tendo como produtor para
pensar realmente. Utilizou os conhecimentos que ele tinha da literatura para botar a
filosofia de vida dele para fora, o que aconteceu nas músicas Metamorfose Ambulante,
Ouro de Tolo... O primeiro disco dele - Sociedade da Grâ-ordem Cavernísta - que fez com
Sérgio Sampaio, Edi Star e Miriam Batucada, já tem a criação de uma sociedade diferente
daquela onde ele vivia. Já há algumas músicas não políticas, mas raulseixístas. Em política,
ele não acreditava, então ele fez uma sociedade raulseixista.
CA - O que seria, então, a sociedade alternativa?
KS - Acho que é exatamente isso: uma sociedade que daria uma alternativa àquilo que ele
estava vivendo.
CA - Por que o governo pegou tanto no pé de Raul Seixas?
KS - Por volta de 73/74, quando estava começando a carreira artística de Raul, não mais
como produtor, mas já como Raul Seixas, estávamos no auge da ditadura e ele fazendo
músicas como Sociedade Alternativa, fazendo shows onde mandava as pessoas fazerem o
que quisessem, chamando a atenção das pessoas para se envolverem mais intelectualmente
e não só aceitarem o que estava imposto pelas regras...
CA - ...apesar de Raul não ter uma política partidária, ele incomodava no aspecto de
fazer com que as pessoas pensassem e até participassem para saber o que elas
queriam. Até pensar nisso naquela época era proibido, você não acha?
KS - Exatamente isso.
CA - E ele falava para você sobre esta época com algum tipo de mágoa?
KS - Raul nunca teve mágoa de nada e nunca se arrependeu de nada. Ele dizia o que queria
dizer. O exílio dele fez parte, foi preso junto com Paulo Coelho, sofreu agressão e nunca
me contou aquilo como se fosse um coitadinho. Ele dizia que o negócio dele era com
filosofia e não com política, o que na ditadura já era suspeito.
CA - Agora vamos falar do rock. O Raul deu uma cara bem brasileira ao rock.
7
Como você vê essa mescla do rock internacional com o jeito brasileiro?
KS - O Raul era baiano, por isso sofreu influência de Luiz Gonzaga e de outros
compositores da época. Ao mesmo tempo, adorava de paixão o Elvis Presley, e assim criou
o rock brasileiro, como os Mutantes também fizeram.
CA - Ele nunca teve o preconceito de aceitar a música do nosso país. O que
você acha disso?
KS - Bacanérrimo! Ele é brasileiro mesmo, mas ele não deixava de fazer crítica ao Brasil,
pois temos um lado muito bacana mas outro, socialmente, muito deplorável, muito aquém
do que se podia fazer por este país.
LM - O que ele criticava na cultura brasileira?
KS - Tinha uma música minha com ele chamada "Se não fosse Cabral", onde ele dizia
assim: falta de cultura para cuspir na estrutura. Era essa a opinião de Raul a respeito da
cultura: não havia cultura no Brasil ou ela estava muito pobre, pois as pessoas não se
esforçavam para criar alguma coisa cultural. Mas isso, só com educação.
LM - E como você está vendo o rock hoje, tanto nacional como internacional?
KS - Eu estou sentindo falta do rock, realmente estou louca para ouvir uma manifestação
rock n´roller original, mas até os nossos músicos estão deixando de tocar o rock para fazer
músicas acústicas e românticas para vender mais. Mas eu não vejo isso como uma
deterioração. Acho que daqui a pouco vai voltar o rock bacana, com letras legais, pois eu
acho que as letras é que são importantes.
LM - Você acha que está faltando uma atitude mais rock?
KS - Não tem nem jeito. Com tanto Tchan, tanta garrafa, com tanto Só para Contrariar, a
imprensa está entregue e as gravadoras estão bilionárias vendendo isso. O que existe muito
é a preocupação comercial. Isso pressiona os músicos de rock a fazerem o vendável naquele
momento, distanciando o artista da sua inspiração. Rapidamente, o rock volta, pois eu acho
que isso é apenas uma moda.
8
CA - Você diria que hoje em dia o rock nacional está mais para o pop?
KS - Exatamente.
CA - Você acha que ainda tem alguma banda brasileira tocando o rock autêntico?
KS - Como diria Raul Seixas, só telefonando. Nos últimos dois ou três anos, não tenho
visto nenhuma.
9
Depoimento de Paulo Coelho
Paulo Coelho definitivamente não é um escritor de meio termos. É impossível
gostar mais ou menos de suas obras, que já venderam mais de 20 milhões de cópias.
Mas, sendo a favor ou contra, o fato é que ele está entre um dos 15 autores mais
vendidos em todo mundo. Seus livros estão traduzidos em quase quarenta línguas e
são best-sellers em dezenas de países. O mais famoso, “O Alquimista”, se tornou
fenômeno literário e ganhou fãs famosos, como a cantora Madonna.
Durante a sua carreira de jornalista, compositor, autor de teatro e diretor,
além de escritor, é claro, Paulo Coelho já compôs para os maiores nome da MPB,
como Elis Regina e Rita Lee. A parceria com Raul Seixas foi sem dúvida um fato
marcante em sua vida.
Raul e Paulo se conheceram em 1973 quando Paulo era redator de uma revista
chamada A Pomba. Raul publicou um artigo sobre discos voadores na revista e a
partir deste contato, começa a parceria com o escritor.
Os dois não trabalham juntos muito tempo, apenas três anos. Mas isso não
impediu que fizessem mais de sessenta composições que marcaram a época, como
“AL CAPONE” e “GITA”.
Durante a Bienal do Livro de 99, Paulo Coelho participou do Café Literário,
uma série de palestras que reuniu profissionais da literatura. Foi lá que Paulo falou
sobre Raul em depoimento exclusivo para o Pilh@.
Paulo Coelho: Eu já escrevi um livro sobre o Raul, mas não levei ele até o final. Mas
pretendo escrever ainda sobre o Raul e ele foi muito importante porque foi a época em que
eu aprendi a escrever com simplicidade. Ele me ajudou muito.
Luciana Pereira: Paulo Coelho disse ainda que ser escritor foi sempre o seu sonho.
Apesar de não ter tido apoio da família, Paulo tinha a convicção de que ia conseguir.
Pois é, mesmo passando por vários caminhos antes de encontrar o da literatura, ele
conseguiu. O resultado você pode conferir em seus polêmicos, mas reconhecidos
livros. Luciana Pereira para o Pilh@.
10
Entrevista com Tárik de Souza
Joana Calmon – JM
Tárik de Souza - TS
Para falar de rock, nada melhor do que alguém que entenda do assunto. E o jornalista
Tárik de Souza certamente entende. Além de crítico de música, ele assina uma coluna
semanal no Caderno B, do Jornal do Brasil. Em entrevista exclusiva para o Pilh@,
Tárik faz uma análise do rock atual e dá sua opinião a respeito de bandas e roqueiros
que marcaram os tempos áureos do movimento, como, por exemplo, Raul Seixas.
Tárik de Souza: Raul Seixas e Rita Lee, com os Mutantes, foram as pessoas que
concretizaram um projeto de rock brasileiro. Antes, houve várias tentativas. Primeiro,
Sérgio Murilo, Celi e Toni Campelo, que praticamente só faziam versões e uma ou outra
música deles. A segunda fase foi a Jovem Guarda e a terceira começa com Mutantes. O
Raul era interessante porque gostava e estudava filosofia e, ao mesmo tempo, foi produtor
de música brega, como Jerry Adriane e outros de grande vendagem. Ele conjugou a
facilidade da música brega, fácil de ouvir, fazer sucesso e vender, com letras bem pensadas,
bem imaginadas, letras que traziam mensagens de rock mais profundas. Por causa disso, a
permanência dele é tão grande. Ele penetrou mesmo na população, no povo, e conseguiu
criar uma nova roupagem para o rock no Brasil.
Joana Calmon: O rock foi durante muito tempo um movimento de vanguarda, que
influenciou muito o comportamento e a atitude dos jovens. Você acha que o rock de
hoje perdeu esse caráter inovador e até subversivo?
TS: Depende do que você chama de rock. Esses grupos novos, como o Prodigy, por
exemplo, fazem rock com música eletrônica. Então, o rock sofreu uma transformação, mas
ele continua sendo um elemento de mudança de comportamento, continua sendo uma
vitrine da juventude. Aonde tem rock, tem jovem. Na autobiografia do Miles Davis, ele
falou algo muito interessante. Muita gente o “pichou” porque ele juntou o jazz com o rock,
mas ele disse ter feito isto porque sentiu que as pessoas da platéia de jazz estavam ficando
muito velhas. E ele queria ficar com a juventude, como era a platéia de jazz no início.
11
Então, ele associou os dois estilos por causa disso, porque o rock realmente é um sinônimo
de música jovem. Por ser um produto reciclável, o rock pega as platéias novas, as platéias
que estão vindo. Tome como exemplo o show que o Kiss fez recentemente no Brasil.
Apesar de se tratar de um grupo bem antigo, veterano, atraiu gente muito jovem. Pela sua
simplicidade e pela pouca profundidade, o rock é muito ligado à juventude. Há uma maior
ligação com a parte corporal, é uma coisa mais física mesmo. Como o jovem tem mais
energia física para gastar, ele se liga mais no rock.
JC: Na sua opinião, qual foi o melhor roqueiro e o maior grupo da história do rock?
TS: O maior grupo é fácil. Foram os Beatles. É uma unanimidade mundial porque eles
conseguiram juntar a melodia bonita e bem feita com a rebeldia do rock. É fácil perceber
isto pela vendagem. Foi o grupo mais imitado, mais aplaudido. Já o roqueiro em si... A
pessoa que simbolize o rock... Talvez seja o Jimmy Hendrix, que teve uma carreira muito
curta e, ao mesmo tempo, muito luminosa. Até saiu um disco dele recentemente. Ele é um
cara que morreu, mas continua lançando discos. Quando se ouve o som da sua guitarra,
parece que ele está vivo. Embora tenham aparecido milhares de guitarristas depois dele, a
guitarra do Hendrix jamais foi ultrapassada. Ele tocava tão bem e tirava tanto partido da
microfonia, que todos os efeitos de guitarra suja que aparecem no grunge e em outros
estilos, hoje em dia, ele já fazia há muito tempo atrás. Para mim, ele é o símbolo de
roqueiro.
JC: Este ano, vai ser realizado, nos Estados Unidos, o Woodstock III. O que você acha
de reviver um momento que foi tão importante para a história do rock, como o
primeiro festival?
TS: O primeiro Woodstock, em 69, realmente foi histórico. Algo totalmente espontâneo,
realizado de forma completamente desorganizada. Eles não esperavam que fosse aquela
multidão. Não havia estrutura para receber tanta gente, não teve condições de higiene, nem
de nada. Foi uma loucura! Aquilo foi uma nação que se moveu e criou aquele festival.
Agora, os festivais seguintes, o 2o e este que estão organizando agora, são eventos
12
comerciais, explorando a marca Woodstock, que não têm mais valor cultural. Pode ter uma
ou outra banda boa. Um festival recente, moderno, que movimentou o público jovem foi o
Lula Paloosa, que também já foi desativado porque chega a um ponto que aquilo começa a
virar uma coisa exclusivamente comercial.
JC: Você falou anteriormente do grande sucesso dos Beatles e ressaltou o fato deles
serem imitados até hoje. O que você acha do grupo Oasis, que sofre grande influência
do quarteto inglês e é até considerado por muitos uma cópia escancarada do grupo?
TS: Por um lado, eles são um bom grupo de rock, pois sabem tocar bem guitarra, se
apresentam no palco com atitude de rock. Eu assisti o show deles aqui no Brasil. Mas por
outro lado, eles não têm originalidade. Então, o vôo dele é curto. Dentro da história do
rock, eles não vão ser lembrados por muita coisa, pois eles não criaram nem acrescentaram
muito.
JC: Voltando ao rock no Brasil: na minha opinião o rock se misturou muito com o
pop. Algumas bandas que já foram essencialmente roqueiras como Paralamas do
Sucesso e Titãs estão regravando músicas românticas e aderindo cada vez mais ao
popular. Você concorda com isto? Acha que estes grupos estão perdendo a essência?
TS: O problema é o seguinte: depois que um grupo cresce muito, principalmente num país
como o Brasil, que é uma miscigenação de estilos muito grande, ele acaba tendo que abrir
espaço para novas platéias. Então, para conquistá-las, os Titãs gravam Roberto Carlos, por
exemplo. Porque eles querem acrescentar mais uma faixa de vendagem. Isto vai
descaracterizando a proposta inicial. O grupo de rock em geral acaba virando pop. O
Engenheiros do Havaí acaba gravando com violino... Quanto aos Paralamas, eu acho até
que eles são um dos grupos mais fiéis à proposta inicial deles, que, desde os selvagens,
misturam rock e mpb. Eles foram pioneiros nisto. Mas eu acho que quando um grupo
cresce muito, vira um grande nome e começa a ter platéias maiores, a tendência é
descaracterizar mesmo.
13
JC: Qual foi o maior roqueiro ou grupo de rock do Brasil?
TS: Para mim, foram os Mutantes. Eu acho que eles fizeram todas as propostas do rock
brasileiro, que depois só vieram a ser confirmadas. Tanto assim, que o rock americano
reconheceu isso. O próprio Kurt Kobain, quando esteve aqui, mandou um bilhete para o
Arnaldo. Eles reconheceram que foi uma coisa muito inovadora, ainada mais para um país
de terceiro mundo. Os Mutantes aliavam a inovação musical, de letras, a uma inovação
tecnológica, porque um dos irmãos dos Mutantes, o Cláudio, era um criador de guitarras, de
instrumentos. Eles estavam muito avançados para a época. Eu acho os dois primeiros discos
dos Mutantes, até hoje, clássicos do rock brasileiro.
JC: Você acha que a extinção da Rádio Fluminense prejudicou o rock brasileiro?
TS: Não foi só isso. Houve a extinção da Rádio Fluminense e não apareceu nada no lugar.
Hoje em dia houve praticamente a extinção do rádio no Brasil. Não existe mais rádio.
Todas são uniformizadas, é tudo a mesma coisa. Além disso, há muito jabá. É um jogo de
cartas marcadas. Não há a possibilidade de um grupo realmente novo, com uma proposta
nova, arrombar a festa e, de repente, todo mundo começar a ouvir aquilo. É muito difícil. A
gravadora programa quanto vai investir naquela banda e, a partir daí, ela começa a tocar no
rádio. Dependendo da verba, ele toca mais. Se for menor, toca menos. A Fluminense era
justamente um canal de escoamento para as coisas novas. Aparecia demos de grupos que
ninguém sabia quem era e, de repente, estourava. Foi por aí que o rock brasileiro se
implantou.
14
Entrevista com Maurício Valladares
Felipe Gomberg – FG
Eduardo de Souza – ES
Maurício Valadares – MV
Ex-apresentador dos programas Rockalive na Rádio Fluminense FM e
Radiolla na Globo FM, Maurício Valladares, de 45 anos, é hoje o locutor do programa
Ronca Ronca na Rádio Imprensa. Seus programas foram responsáveis pelo
lançamento de bandas como Paralamas do Sucesso e Legião Urbana, além da
introdução de estrangeiras como The Cure e U2. Formado em publicidade, ele se
arrepende por não ter estudado jornalismo. Antes de Maurício Valladares se tornar
radialista, ele já era fotógrafo, uma atividade que exerce até hoje. Suas fotos
começaram a ser publicadas em 1973 em vários meios como no Jornal de Música e na
Revista Som Três. Atuando como free-lancer, fez a capa do primeiro disco dos
Paralamas, Cinema Mudo. Ele nunca tinha pensado em fazer alguma cosia para rádio
antes de entrar para a Fluminense em 1982. Segundo Valadares, as pessoas, hoje,
estão acomodadas. Muita gente se esqueceu que tem aparelho de rádio. Atualmente, o
DJ e radialista tamb;em atua como produtor na BMG. Ele é o coordenador do Selo
Plug da gravadora, que é destinado ao lançamento de novas bandas como Pato Fu.
Agora, você ouvirá a entrevista que Maurício Valadares deu ao programa
Pilh@Rock.
Felipe Gomberg: Maurício, qual foi a influência do rádio para a explosão do rock no
Brasil?
Maurício Valladares:Sabe que eu não sei te responder. Porque aí a gente vai cair por rádio
lá dos anos cinqüenta. Porque o rádio tá fazendo, o rock tá fazendo 50 anos. Mas eu
acredito que qualquer coisa relacionada a música se não tiver uma conexão muito estreita
com o rádio não vai acontecer de jeito nenhum. Então, eu acredito que há muitos anos atrás,
once upon a time, se alguma coisa aconteceu com o rock na década de cinqüenta no Brasil,
ele deve ter tido a influência do rádio porque o rádio é o canal de comunicação para
qualquer estilo musical.
15
Eduardo de Souza: Você poderia falar pra gente um pouco da história do rock no
Brasil, da jovem guarda e a parte relacionada aos Mutantes também?
MV: Pois é, aí eu acho que já entra a jovem-guarda, ela já entra, já tem além do rádio o
papel da televisão que serviu como não sei se o principal, talvez até o principal na época,
nos anos 60, o programa do Roberto Carlos deve ter sido muito mais importante do que
qualquer rádio da época divulgando a música. Quer dizer, a televisão era novidade, o estilo
musical era novidade, quer dizer, a coisa estava cercada de todos os lados. Então eu acho
que a jovem guarda especificamente teve esse bum, essa força, essa popularidade graças a
televisão também, independente do rádio. E as coisas aconteciam, as gravadoras tinham
uma posição mais clara de atuação, de orçamento, de descoberta de talentos, enfim, acho
que a coisa se fechou de todos os lados na época, nos anos sessenta. Não só no Brasil, quer
dizer, as coisas sempre são muito ligadas, hoje muito mais, mas o fenômeno da jovem
guarda é um fenômeno mundial, é explosão do rock na Europa, nos Estados Unidos e aqui
também, na Argentina. Argentina então, foi muito mais que o Brasil.
Por que você acha que não existe mais uma rádio de rock como existiu a Fluminense?
MV: Não, as rádios de rock até existem algumas poucas, mas eu acho que o papel pioneiro
da Fluminense se deu porque na época da Fluminense não existia nenhuma.
Então,
independente da Fluminense não ter tido uma concorrência, o que foi ruim para ela, ela teve
a oportunidade de lançar uma série de artistas que se tornaram muito populares. Quer dizer,
ela não jogou horas e horas de transmissão de rádio no lixo. O que ela fez foi aproveitado.
Qual a diferença na sua opinião entre o rock dos anos 60 e 70 para o rock atual?
MV: Eu acho que basicamente não existe nenhuma até porque eu não sei definir muito bem
o que que é rock. Mas se rock é baixo, guitarra e bateria, o rock que se faz hoje de bandas
como Oasis ou Verve ou até se eu pegar bandas que saem dessa formação e caia como
Prodgy ou Chemical Brothers, se é que isso é rock, eu acho que é também, tirando a
tecnologia que hoje eles tem de uma forma muito mais presente, eu acho que o que eles
16
fazem hoje é pegar aquilo e reaproveitar com uma outra ótica. Então eu acho que o rock,
como se convenciona é uma coisa que vem passando há cinco décadas e sendo refeito e
assimilado evidentemente com novas influências, novas interferências, mas a essência da
coisa é basicamente a mesma.
Qual a importância do Raul Seixas no rock brasileiro?
MV: Eu acho que o Raul Seixas é o principal nome do rock porque ele tem tudo o que se
pode esperar que seja algo rock. Ele tem a genialidade dele, o talento dele de intérprete e de
autor, ele tem a atitude dele, as posições que ele tomou durante a vida dele, enfim o Raul
Seixas deveria chamar Rock Seixas porque ele é o rock n`roll sob duas pernas.
Kika Seixas, viúva do Raul Seixas disse em recente entrevista para o programa Pilh@
que está sentindo falta de rock nos meios de comunicação. Você acha que o rock vem
perdendo a sua força nos últimos anos na mídia?
MV: Com certeza sim por uma ausência de uma rádio ou de uma televisão que distribua
mais essa informação e pelo estrangulamento mesmo da mídia, das gravadoras que quando
descobrem um filão para ganhar dinheiro, só sabem falar daquilo, só sabem vender aquilo,
só sabem se expressar daquela maneira. Então, o rock, eu digo mais uma vez, eu não sei
dizer muito o que é, mas vindo da Kika dá pra ter uma idéia melhor, hoje em dia, o espaço
dele é muito limitado mesmo.
Você acha que a segmentação é um fator determinante pra falta de rock hoje nas
rádios e na mídia?
MV: A não-segmentação, com certeza. O fato de a gente não ter rádios voltadas para uma
proposta musical, seja ela qual for, seja música clássica, seja música tribal ou música
brasileira, enfim, a falta de segmentação, onde se incluiria uma rádio voltada para o rock
determina esse esquecimento. Determinadas coisas são muito fortes. O samba, o samba já
foi assassinado umas oitenta vezes, mas não vai morrer o samba. O rock já foi assassinado
umas outras tantas, o rock não vai morrer também. Quer dizer: Ah, o rock morreu? Essa
pergunta se faz desde 1951, quando o rock tinha um ano, ou 54 ou 55. Essa pergunta vem
17
sendo feita, mas a cada ano que passa chega-se a conclusão que dá uma adormecida para
voltar revigorado mais adiante.
Maurício, você acredita que seja então uma diluição do estilo rock?
MV: Como sempre houve. Como nos anos 60 houve, como nos anos 70 houve o rock
sinfônico, como houve o punk, o hardcore com música eletrônica e hoje esses elementos
eletrônicos são muito mais presentes também. Eu acho que o rock existe até, não é para ser
diluído, é para ser relido.
O Titãs agora tá tocando balada, né?
MV: Mas eu acho que isso é natural também porque os Titãs não tem mais 20 anos. Eles
têm 35, tudo pai de dois, três filhos, sabe, as pessoas envelhecem também. Quer dizer,
então, o Keith Richards não ouve rock n`roll na casa dele, ele faz aquilo pra ganhar
dinheiro. (risos) Então os Titãs estão, é o processo normal das pessoas. Não se deve cobrar
dos Titãs uma atitude como se eles fossem o Little Richard no início dos anos 50 ou se
fosse o Johnny Rotins em 77. Eles estão fazendo música em 99. O que eles fizeram, eles
fizeram. Eles estão fazendo uma outra coisa, evidentemente com a mesma base, a mesma
origem.
Mas você acha que tem uma contribuição do mercado para uma influência cada vez
maior do pop no rock? E de outros estilos de música no rock?
MV: Com certeza, como sempre houve. Em todas as décadas sempre aconteceram outras
influências. Quer dizer, músicas de todos os estilos, o pop, o reggae, a música africana, a
música sinfônica. É natural, isso aí é uma bola. Daqui a trinta anos vai ser a mesma coisa.
Daqui a trinta anos vão estar fazendo a mesma pergunta para você.
Você acredita que existe uma banda fiel ao estilo rock tradicional ainda hoje?
18
MV: Brasileira?
Sim.
MV: Existe. Evidentemente que existe sim, quer dizer, nem sei se existe. Vamos supor, os
Ratos de Porão, por exemplo, o João Gordo é o cara mais odiado que existe na face da
Terra pelos caras que começaram junto com ele aquela coisa punk. Ele é um cara que veste
griffe não sei o que, tem programa na MTV, mas o som dele acho que continua o mesmo.
Não é uma banda que eu preste muita atenção, mas eu acho que eles se mantém ligados
mesmo, a mesma origem deles assim sonoramente. Mas ele não é mais a mesma pessoa.
E do internacional?
MV: Eu acho que não porque as coisas são muito rápidas, também, ne? Cada vez mais a
vida de uma banda é encurtada. Não tem mais aquela coisa: Ah, o Led Zeppelin durou
tantos anos, os Rollings Stones duraram tantos anos. Hoje é difícil você ter uma banda que
dure 20 anos, 30 anos. Tantos anos quanto o The Who durou. A necessidade de uma
substituição, não que a coisa seja descartável, mas o mundo é cheio de informação. Você
não vai acompanhar a carreira de uma banda como você acompanhava antigamente.
E quais as bandas de rock do Brasil e de fora que, na sua opinião, mais se destacaram
na História do Rock?
MV: Tem as bandas clássicas que não tem como fugir delas. Como Who, Led Zeppelin,
Stones, Beatles, como o Bob Dylan, que pra mim é o cara mais importante de todos, e
bandas mais recentes como Sex Pistols, pessoal mais ligado a Blues. As bandas que mais se
descataram nesses cinqüenta anos são as bandas clássicas mesmo. Ou bandas qiue duraram
pouco como Sex Pistols, que revolucionaram o mercado, revolucionaram tudo. Eu acho
que a banda brasileira de rock mais significativa sem dúvida foram os Mutantes, até porque
eles passaram esse período todo, lançaram discos geniais, influenciaram um número muito
19
grande de pessoas e bandas e hoje, trinta e tantos anos depois deles terem lançado o
primeiro disco deles, eles se mantém atuais e reverenciados.
De todas essas bandas que você falou, de qual você mais gosta?
MV: Eu não tenho uma banda preferida. Eu acenderia todo dia uma vela para o “Bob
Dylan”, para o “Bob Marley”. Adoro bandas como “The Who”, “Led Zeppelin”, “Rolling
Stones” numa determinada fase. Nunca fui beatlemaníaco, mas gosto de determinadas
coisas dos “Beatles”. Também gosto de bandas pouquíssimo conhecidas, como “Family”,
que existiu entre os anos sessenta e setenta. Esta é uma banda maravilhosa que eu adoro.
Também adoro “Humble Pie”, “Free” e o início do “Rod Stewart” com “Faces”. Gosto de
bandas atuais como Verve. Gosto de tudo literalmente.
Você destacaria uma banda de rock que pode ser uma grande revelação?
MV: Volta e meia me fazem esta pergunta, mas no Brasil é muito difícil você apontar hoje,
com esse estrangulamento da mídia, alguém do rock que traga alguma coisa inovadora que.
Não sei dizer ninguém que eu aposte, como apostei algum tempo atrás em “Paralamas do
Sucesso”, “Legião Urbana” ou no “Skank” mesmo. Lá fora também é complicado porque a
reposição, o surgimento de bandas é uma coisa muito grande. As bandas não têm mais
aquela pretensão de querer continuar por muito tempo. Sei lá: Qual foi a última grande
banda que surgiu? Posso responder “Oasis”, mas eu não acho que esta banda vai ser
lembrada daqui há uns vinte, trinta anos.
Sobre o seu trabalho, como surgiu a idéia de fazer o “Ronca-Ronca” programa?
MV: Fazer rádio é a coisa que eu mais gosto e melhor sei fazer. É o que me dá mais prazer.
Infelizmente, nunca ganhei dinheiro fazendo rádio, mas espero ganhar alguma coisa um
dia. O programa surgiu deste desejo que eu tenho de fazer rádio, da cobrança das pessoas e,
sem dúvida alguma, da necessidade de ocupar um espaço que eu tive na Rádio Fluminense
20
e que eu continuei tendo na Panorama e na Globo FM; que eu acho que é uma coisa que
tem o seu espaço dentro do dial.
E porque o nome Ronca-Ronca?
MV: Porque o “Ronca-Ronca” surgiu do “Ronca Tripa”, que era o programa que eu tinha
na Panorama. Aí você me pergunta: Como surgiu o “Ronca Tripa”? Eu não sei dizer direito
da onde saiu, mas “Ronca Tripa”, para mim, era uma expressão tipo “mete bronca”, “o som
vai ser de fazer a galera roncar”, alguma coisa assim, não sei se é exatamente isso. Mas foi
uma expressão sonora que as pessoas estranharam muito na época. Foi dose de manter este
nome no programa. Quando o programa acabou e eu fui para a Globo FM para fazer o
“Radiolla”, eu queria ter uma referência a alguma coisa que eu tivesse feito. Dois meses
depois de ter começado o “Radiola”, eu descobri que o programa tinha o mesmo nome da
equipe de som do Maranhão. Se eu soubesse disso antes, eu não teria colocado este nome.
Quando eu escolhi “Radiola”, eu estava pensando que fosse um nome super original, por
mais que a palavra não fosse original. Quando a MTV começou com o programa “Radiola”,
as pessoas me perguntavam se eu tinha esse nome registrado e eu respondia que não porque
tinha descoberto que era o mesmo nome da equipe de som de São Luís do Maranhão. Não
era um nome meu, de criação minha. Nesta época já tinha a festa, que era o “RoncaRonca”. Eu cheguei a fazer o programa “Radiola”, na Globo FM, e a festa do “RoncaRonca”, ao mesmo tempo. Mas quando o “Radiola” acabou, eu já não estava muito feliz
com o nome devido à sua falta de originalidade. Então resolvi botar o nome de “RoncaRonca” porque me remetia ao “Ronca-Tripa”. Não quis repetir o “Ronca-Tripa” e o
“Ronca-Ronca” já era o nome da festa. Com isso, ficou tudo uma encrenca só.
Qual é a intenção do seu programa? O que você tenta passar aos seus ouvintes com o
programa?
MV: É a mesma intenção que eu tenho em praticamente tudo o que eu faço, em tudo que eu
tenho a possibilidade de me expressar, seja por fotografia, nas festas, trabalhando em
gravadora ou escrevendo. Eu acho que é passar adiante da maneira mais simples possível
21
uma informação quer seja musical ou não, que envolva a vida das pessoas. Fazer um
programa ser uma coisa importante na vida das pessoas. Elas, evidentemente, se
identificam com aquilo que você está fazendo. A minha meta sempre foi socializar a
informação musical.
Você dá muita informação no seu programa. Como você estrutura o seu programa
para dar essas informações de qualidade aos ouvintes?
MV: Eu acho que é um papel que eu tenho. Infelizmente são poucas as pessoas que hoje
desenvolvem um trabalho ligado à rádio. Não é uma coisa que eu desejo mesmo. Eu
gostaria que fossem dezenas de pessoas. Na hora em que eu me vejo sozinho nisso, eu sinto
que a minha importância é maior ainda. E eu tenho esse retorno claramente através de
cartas que eu recebo desde 1982, onde as pessoas passam para mim a importância que o
programa tem e as coisas que eu falo e mostro. As informações são naturais na minha vida,
independente de eu ter um programa de rádio. Então, essa coisa musical, cultural, que
envolve cinema, fotografia, enfim, jornalismo, é a minha vida. É uma extensão das coisas
que eu faço diariamente. Evidentemente que com o programa no ar, a responsabilidade é
muito maior. Se hoje eu não tivesse um programa de rádio, eu compraria um jornal e duas
revistas. Com o programa, eu compro dois jornais e quatro revistas importadas para passar
as informações. Se eu não tivesse programa de rádio, eu compraria dois ou três discos. Eu,
hoje, com o programa tenho que comprar de cinco a sete discos. É um compromisso que eu
assumi. Eu vejo muitas pessoas que tentaram ou tentam fazer programa de rádio achando
que para se ter um programa, basta você botar meia dúzia de discos, ligar o microfone e
tocar aqueles discos. Talvez aí esteja uma desinformação ou talvez uma falta de noção do
que é um programa de rádio. Eu não vou à uma estação de rádio, eu não gasto do meu
dinheiro, eu não ganho nada para fazer rádio e para tocar musiquinha. Não vou mesmo. Isto
é uma coisa que eu sempre falei. Se for para tocar musiquinha, eu fico em casa. Eu toco a
musiquinha e falo alguma coisa relacionada à música, às pessoas que fazem música. As
pessoas têm uma certa falta de realidade do que é um programa de rádio. São muito poucos
os programas de rádio. E muitos não existem por causa desta falta de noção que fazer um
programa de rádio é muito difícil e complicado. É uma extensão natural do meu trabalho,
22
da minha vida, mas é uma coisa de muita determinação e força de vontade violenta. Mais
do que você ter acesso à uma revista ou falar com a pessoa certa na hora certa ou ainda ter
contato com as coisas que estão acontecendo, tem que se ter uma força de vontade que a
maioria das pessoas não têm. Acham que é uma brincadeira, uma curtição. Muitas pessoas
tiveram oportunidade de fazer um programa de rádio, mas sempre viram como uma
curtição.
E no seu programa, como surgiu a idéia do correspondente em Paquetá?
MV: É uma coisa que eu sempre fiz. Eu tive uma correspondente em Madrid, já tive a Ana
Maria Baiana, de Los Angeles. A participação dos ouvintes é uma coisa muito importante
para dar um dinamismo, para a pessoa que está ouvindo o programa se sentir retratada
através de alguém que esteja entrando no programa além da minha pessoa. Então, várias
pessoas entram, como o taxista, o cara lá de Cachoeiro de Macacu e um outro em cima de
uma laje em Parada de Lucas. No caso do Ferrari, ele entrou para reclamar de uma coisa
que eu tinha falado, esculhambando o “Super Trap”. Eu achei que o papo telefônico dele
foi bacana e a sua participação engraçada, com uma dose de “seriedade”. A coisa funcionou
do mesmo modo que tinha funcionado com o Molina e o Cláudio Paiva, do Casseta &
Planeta, que fez durante algum tempo na globo FM, um repórter celular que foi demais,
maneiríssimo. Da mesma forma que hoje está o Ferrari, amanhã pode estar outro.
Como você vê o futuro do rock?
MV: Eu não consigo dissociar o rock das outras formas musicais. Eu sempre ligo a
produção musical por onde esta vai ser mostrada. Assim como a jovem guarda e o rock dos
anos 80 tiveram a televisão e o rádio. Eu vejo o futuro do rock com todas as suas variantes
de uma forma meio cinza-escuro porque o que eu vejo, de um lado, são os meios de
comunicação cada vez se fecharem mais para algo que fuja do padrão, mas ao mesmo
tempo, eu vejo, de um outro lado não massificante, a possibilidade de se comunicar e se
expressar, como a internet e os canais a cabo que, evidentemente, daqui há uns anos terão
uma força muito grande. Mas basicamente, a internet é que vai ser o palco de qualquer
23
pretensão musical não massificada. Assim como eu acho cinza-escuro a tonalidade da
música não-massificada, eu acho que sempre vai haver possibilidade de se fugir da
mesmice da coisa obtusa mesmo.
24
Entrevista com o Editor do Caderno Ela do Jornal O Globo Toni Marques
Toni Marques - TM
Luciana Pereira - LP
Alessandra Amaral - AA
Elaine Gomes - EG
Nos últimos 50 anos, vários estilos e modelos já desfilaram nesta passarela chamada
rock n`roll. De Elvis aos skatistas, de Little Richard ao techno. Tudo tem seu lugar e
importância jeito rock de ser. O editor do caderno Ela do jronal O Globo Toni
Marques falou, em entrevista exclusiva para o Pilh@ sobre esse mix de cores,
tatuagens, cabelos e roupas que formam a moda rocker. Ele analisa como ela surgiu e
qual foi a resposta das indústrias para o seu crescimento.
Toni Marques: O rock tem um elemento de repetição, de síntese daquilo que já vinha
sendo feito em termos de massa jovem na Europa e sobretudo nos Estados Unidos. Ele
talvez tenha unificado os diferentes, mas que já existiam, já tinham um desenvolvimento
histórico próprio. Ele pode ser visto como uma radicalização da cultura popular. Uma
radicalização tecnológica até da música popular. Mas ele traz uma novidade, ou melhor, ele
aparece mais como uma novidade dentro de todo o universo da cultura pop: cinema,
quadrinhos, teatro, televisão porque talvez ele tenha colocado em contato uma grande
massa de pessoas, como poesia, por exemplo. Pessoas que jamais teriam esse tipo de
contato se não fosse com o rock. Ele é uma espécie de facilitador da entrada de pessoas não
letradas no mundo espiritualizado em termos artísticos. Ao mesmo tempo ele tem um
problema sério que dificilmente é resolvido e que pesa contra ele que é o fato de os grupos
de rock só durarem o tempo de uma juventude, com raríssimas exceções. Você não vê um
Bob Dylan com a mesma força de antes ou nem mesmo um Rolling Stones com a mesma
força ao contrário das outras manifestações artísticas, como a literatura que o sujeito
melhora com o tempo. Então, a indústria pop é muito parecida com a indústria do sport e do
ballet também, você só tem o tempo de sua juventude. Isso não quer dizer que seja uma
coisa ruim, mas ele não conseguiu resolver de uma outra forma. Você veja que shows de
25
Dinossauros do Rock, eles são vistos por pessoas que eram jovens quando o grupo foi
lançado. Tem ali um grupo de pessoas de outras faixas de geração que gostam também, mas
que na verdade não chegam a representar uma coisa mais larga.
Sempre houve na história da moda uma pista de mão dupla. Os desenhistas, os
ateliês, as indústrias, as costureiras, elas sempre trabalharam a partir de idéias próprias, mas
a partir também de idéias que elas capturam das ruas, das pessoas. Nessa interação, você
vai ter uma pesquisa que um desenhista e que uma empresa pagou para que ela fosse feita e
ao mesmo tempo você vai ter uma observação direta da realidade das pessoas. Então, com o
rock eu acho que não foi diferente. É claro que a indústria da moda nos anos 60 é muito
diferente do que é hoje, mas o rock trouxe uma liberdade, um despojamento de
apresentação visual que porém não foi tão forte quanto o sportwear. Na verdade o que todas
as pessoas vestem hoje é sportwear. O sportwear coincide com o rock em termos
cronológicos nos Estados Unidos, que é anos 60 e 70 e ele se tornou muito mais forte
porque o sportwear ele não te compromete com nenhum conteúdo imediatamente
reconhecível de tribo, de gang e até mesmo de idade. Você pode sair com uma camisa polo
aos 12 anos ou aos 60 anos de idade. Ao passo que a indumentária do rock, ela marca muito
uma idéia de faixa de geração também porque o rock está muito comprometido com a
juventude, só dura o tempo de uma juventude. Então eu acho que é muito mais fácil você
vender sportwear do que vender uma indumentária rock. Eu não acredito que haja clubbers
com 50, 60 anos de idade e que vão se vestir da mesma maneira que se vestiam aos 20. No
caso do jeans e do rock, eu acho que existe um elemento de permanência que o rock ajudou
a consolidar do jeans por intermédio da identificação do público e dos rockeiros com os
trabalhadores que foram as primeiras pessoas que usaram jeans. Não uma identificação
ideológica ou estética ou qual quer que seja, mas no momento em que o primeiro rockeiro
colocou o primeiro jeans, a mensagem que você podia ler nisso era: “Nós estamos fora da
sociedade assim como os trabalhadores estão”.
Elaine Gomes: A questão do jeans tem uma postura de se contra. Os jovens quando
começaram a usar na época, década de 60 e 70, foi uma coisa assim: “Nós somos
diferentes dos nossos pais”. Você acha que hoje ainda existe essa identidade forte, essa
conotação de protesto?
26
Toni Marques: Não, eu acho que não porque todo protesto, é duro dizer isso, mas é
verdade. Tudo aquilo que foi movimento contestatório de jovem virou presente par ao
capitalismo, até com os punks foi assim. No momento que a classe média que a classe
dominante se apropria disso, aquilo que era considerado uma coisa vulgar, uma coisa ruim
de repente passa a virar moda, porque algum rico elegeu aquilo como uma coisa legal.
Luciana Pereira: Então foi isso que você acha que aconteceu com o Raul? Ele
começou criticando a moda e de repente a indústria se apodera das críticas dele e
torna isso moda.
TM: E você não pode fazer nada, como é que você pode impedir? Se você vai cantar de
fraque e calção e amanhã alguém bota fraque a calção na loja, como é que você vai dizer
que aquilo ali é seu e que não pode usar? Não tem como, não existe direito autoral sobre
visual. Mesmo quando é fruto do acaso, ou é algo não combinado, você não tem como
impedir que haja um certo tipo de apropriação. O Paulo Coelho é o próprio exemplo disso.
O Paulo Coelho que era um letrista dele de repente sai de marginal para main stream.
Então, essa é uma tendência. E depois, num país como nosso, a marginalidade, num bom
sentido, ela não te sustenta, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos que o país
mais rico do mundo. Quando é um país rico, o marginal pode continuar marginal porque
haverá uma indústria, uma sub-indústria sustentando ele. Agora em países em
desenvolvimento, isso não é possível. Você pega assim os estilistas mais alternativos de
São Paulo, todos eles querem crescer. E estão certos, é o caminho natural das coisas. O que
eu acho é que o consumidor, no caso o consumidor que é fã de rock, ele não vai diferir nada
de qualquer outro tipo de consumidor. Se você gosta de roupa, gosta de visual, gosta de
atitude, o interessante é que você tenha o mínimo de alfabetização sobre isso e escolha
aquilo que tem mais a ver com você, queira você se identificar diretamente com o seu
grupo, queira você marcar uma diferença com relação a esse grupo.
Alessandra Amaral: Como você acha que o rock repercutiu nos cabelos?
TM: Da melhor maneira possível. Ele ressuscitou os cabelos grandes, no caso dos homens,
que não são novidade. Ele trouxe uma vaidade masculina que também sempre existiu, mas
ele acentuou. E o rock junto com a luta para a emancipação feminina beneficiou os homens,
27
no caso dos homens jovens, mas também os homens de mais idade. Agora, houve ali
também um culto a sujeira, o impuro, ao misturado, ao promíscuo que no entanto, foi coisa
de criança se comparado aos punks. Esses pegaram pesado e eu acho que a influência punk
é muito menor em termos de visual e de cabelo do que a influência do rock como um todo.
Você quase não vê ninguém de cabelo moicano, mas você está vendo homem de cabelos
compridos o tempo todo e agora, que está essa onda neo-hippie que está aí de novo na
moda, as moças voltaram a deixar os cabelos crescerem loucamente.
EG: Essa questão dos cabelos, por exemplo, os Beatles representaram muito bem,
explodiu muito bem a questão dos cabelos e daquelas calças largas. Na sua opinião,
em relação ao rock brasileiro, existe alguma banda nacional que tenha representado
tão forte quanto os Beatles representaram?
TM: Não, eu acho que não porque os Beatles, até um dado momento da carreira deles, eles
foram bons meninos, bons moços. Ao passo que os Rolling Stones desde o começo eram
bad boys. E eu acho que o visual do Mick Jagger e do resto da banda está muito mais vivo
hoje do que o dos Beatles. Agora, no Brasil eu acho que acontece a mesma coisa do que
acontece no resto do mundo. Você tem muitos mercados, muitos segmentos, muitas tribos
diferentes e não dá para dizer que uma se sobressaia e se imponha em relação às outras.
Digamos, se você é um negro de classe média aqui do Rio de Janeiro e quer cantar hip hop.
Em São Paulo, você provavelmente vai ser mal recebido porque os hip hopers de lá são
mais agressivos, são mais radicais, são mais comprometidos com as questões sociais. Eu
imagino que uma tendência seria rechaçar. Então, o visual desse cara em São Paulo seria
zero. Ao passo que grandes bandas dos anos 80 que sobraram, quer dizer, o Barão
Vermelho, Titãs e Paralamas, acho que são essas três. O Barão, a última informação que eu
tenho deles é uma certa produção quase clubber, os Titãs estão usando muito terno, eles
sempre foram chiques, sempre foram diferentes, na verdade. Eu acho até que eles são os
mais chiques de todos porque eles conseguem dosar muito bem aquilo que é a convenção e
aquilo que é a transgressão. E do Paralamas, eu acho que ali, a única figura de maior
impacto visual é o Hebert, mas ele sempre foi um pouco comportado. Eu acho que
pessoalmente os Titãs são os mais elegantes, eu não sei, talvez Pato Fu, J. Quest, mas a
tendência, se for um pop, sem muitas derivações, sem sair para rap, hip hop, eu acho que
28
tudo se mistura, tudo se confunde e você não tem muito como separar não. Talvez o visual
dependa muito do som que a banda produz e os Titãs, mesmo com as mudanças na carreira
deles, da abordagem deles, eu acho que eles conservam alguma identidade de visual, mas
não diria que chega a ser algo que influencia as pessoas não. Eu acho que a influência
maior está mais no hip hop hoje.
LP: Já que você está falando nessa mudança dos Titãs, o Tony Belloto falou para a
gente, na entrevista que ele deu para o Pilh@ que o rock é uma música que consegue
incorporar vários ritmos, que uma coisa como Elvis Presley é completamente
diferente de um Titãs, de um Rolling Stones, ele incorpora várias coisas. E isso vai
acontecendo com a moda, por exemplo, a moda que o Elvis lançou não é a moda de
rock hoje e parece que cada grupo que vai sendo lançado produz uma moda diferente.
Como é que você acha que isso acontece?
TM: Eu acho que são pessoas que, ou instintivamente tem uma capacidade de lançar moda,
ou pessoas que tem uma alfabetização de moda e que usam essa alfabetização para poder
trazer uma mensagem nova. Mas eu acho que no futuro vai valer tudo. No futuro, um
astronauta vai sair de mão dada com Luiz XV, eu acho que se você vai numa festa, você vai
ver uma drag queen, um cara de terno, a outra quase nua, o outro cheio de tatuagem, a outra
com o piercing no olho. Eu acho que vai ter uma mistura baseada e referendada pela
progressiva liberação dos costumes e pela progressiva desrepressão e pela perda da
inibição.
LP: Porque hoje é muito fácil você ver um cara com piercing na língua escutando
música clássica e uma patricinha escutando punk.
TM: Pois, é. E isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro. É claro que ainda
existem algumas resistências. Mas eu vejo em termos de Brasil, uma possibilidade muito
interessante que é dos anos 90 e que é da música jovem e que é a fusão do exterior com as
coisas folclóricas, com o destaque para a turma do Recife. Eles não são totalmente novos
porque se não me engano, os Mutantes, o próprio Caetano, Gil, algumas pessoas já tinham
feito a mistura do chiclete com banana. E, em termos de estilo, é uma coisa interessante a
ser explorada, acho que tem muito mais a se explorar.
29
EG: E a tatuagem? Você tem um livro sobre tatuagem. Qual você acha que é o espaço
que a tatuagem exerce, exerceu e como ela representa o rock e as características em
relação a isso?
TM: Eu acho que tatuagem foi a bandeira íntima do rock, é uma espécie de medalha
permanente porque o que acontece é o seguinte: até os anos 60, tatuagem ou era coisa de
nobre, rei, imperador, duque, ou era coisa de gentalha, com alguma entrada a classe média,
mas muito tímida, muito escondida, muito temerosa e nunca do ponto de vista de massa. Na
cultura ocidental, sempre foi uma coisa ou de um extremo ou de outro, ou dos dominantes
ou dos dominados. Nos anos 60, em São Francisco, que sempre foi uma cidade muito
contestadora, tinha lá um número x de tatuadores, um dos quais que é mais do que um
tatuador, é um historiador da tatuagem, que está vivo, ele tem 67 anos. Esse cara foi o cara
que estava na hora certa, no lugar certo, foi o cara que tatuou Janis Joplin, Peter Fonda, que
é o ator do Easy Ryder e (Aslam Baes), no início dos anos 70. E ali que começa o que a
juventude entende hoje como tatuagem, quer dizer, a tatuagem sempre existiu no Brasil, na
Oceania, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África, mas como movimento
urbano de massa, só nos Estados Unidos, na década de 60 que começa. Um pouco na
Inglaterra, um pouco na Holanda, um pouco na Alemanha, um pouco na Bélgica, mas o
grande boom foi São Francisco hippie e ela se tornou por intermédio dos astros que
começaram a se tatuar o emblema de contestação da juventude. Eu discordo disso como
contestação, mas entendo que seja assim. Porque na verdade, foi uma contestação por causa
da mentalidade burguesa e pequeno-burguesa do homem branco porque numa sociedade da
Polinésia, por exemplo, tatuagem não é uma contestação, é uma obrigação. Então, o temor
de o corpo dos filhos da classe média não pertencerem mais aos seus pais, é que aflorou, eu
acho essa coisa da tatuagem e ela foi uma bandeira de contestação. Mas na verdade ela é
um adorno como outro qualquer, tão razoável quanto por exemplo, um furo na orelha. A
tatuagem é uma marca pessoal que, quer a pessoa saiba, quer não, contém uma informação
biológica e uma informação social. Em geral, as pessoas fazem isso quando passam para a
adolescência ou passam para a vida adulta. No momento em que você passa a utilizar isso
no rock, passa a ser um documento coletivo, mas de jeito nenhum se pode dizer que é
efetivamente um documento coletivo porque na verdade não passa disso, não passa de um
30
adorno corporal primitivo que foi recuperado pela sociedade Ocidental. Agora o número de
artistas do rock tatuados é imenso, só tende a crescer. Eu acho que é uma coisa que veio
para ficar.
LP: E o Brasil? A moda brasileira em relação ao rock, como é que ela foi se
modificando, como ela recebeu o rock?
TM: Bom, ela recebeu o rock, não vou dizer de braços abertos, mas eu acho que recebeu
bem, mas não o rock que era feito no Brasil, e sim o rock como fenômeno mundial, na
esteira da onda hippie. Então, você tinha aqui, nos anos 60 e70 boutiques no Rio de Janeiro
que faturavam em cima disso, uma delas era a Lixo, teve a Biba, a Veniche Bobo e mais
algumas outras que eu acho que não se espelharam diretamente num Raul Seixas, numa
Rita Lee ou em quem quer que tenha sido. Eu acho que eles pegaram uma coisa mais
mundial. Agora, eu acho que Caetano e Gil tiveram papel interessante nisso, embora não
sejam rockeiros porque foram figuras que ajudaram o brasileiro bem informado a se tornar
menos conservador e mais aberto ao novo.
LP: E a jovem-guarda?
TM: Bom, a jovem-guarda teve um papel de formador de opinião, de visual, de imposição
de uma estética, mas a identidade dela, visual, pelo menos, não era tão diferente assim
dessa ala mais comportada do rock, do pop, do rockabilly, do Elvis. Era uma coisa que
ficava um pouco ali, um pouco Beatles. O próprio Roberto Carlos era um cara que entrava
um pouco pela onda hippie também. Agora, uma coisa é o cara subir no palco, outra coisa é
o cara em casa. Ou seja, Marilyn Menson, por exemplo é uma pessoa como outra qualquer,
aquilo ali é um personagem público ou Ozzy Osbourne. O fato é que dificilmente alguém
como Raul Seixas, em termos de comportamento e visual apareceu na música brasileira no
sentido de tentar autenticidade doa a quem doer, custe o que custar. Acho que jovemguarda, os próprios Mutantes e Caetano Veloso daquela época seguiram a onda mundial. O
Raul não, ele já era uma coisa, ele tinha um quê de mendigo, muitas sobreposições que é
típico de mendigo. Ele tinha um quê que beatnick, que foi uma onda que o Brasil não teve
em massa, uma onda existencialista, de roupa preta, de gente muito branca. Isso aqui não
teve, e ele tinha um pouco disso, um pouco hippie, mas um pouco também da estética da
31
pobreza. Não que fossem ruins, mas você vê os mendigos, eles tem um casaco em cima do
outro, um short em cima da calça, pega a calça e começa a amarrar coisas na barra. Ele
tinha um quê disso e talvez ele tenha sido o único realmente autêntico, o único que a partir
de uma informação interna, do Brasil e uma formação externa tenha feito algo e também
coisas do folclore brasileiro.
AA: E no aspecto da dança? Como é que o rock repercutiu a dança a partir dos anos
50?
TM: Eu acho que ela reflete do ponto de vista social, o individualismo da cultura pop,
porque as pessoas passaram a dançar separadas, passaram a dançar sozinhas inclusive.
Então, pode ser que haja uma ligação entre uma coisa e outra. No momento em que a
indústria cultural pop disse para você: “Seja autêntico, busque seus sonhos”, com uma
ênfase muito maior do que a idéia de coletividade que havia no movimento hippie, uma
idéia de consumo que não havia originalmente no movimento hippie, no movimento do
rock, pode ser que isso tenha tido reflexo até nas maneiras das pessoas dançarem.
32
Entrevista com Jerry Adriani
Rodrigo Breves – RB
Jerry Adriani – JR
Jair Alves de Souza ou simplesmente o cantor e compositor Jerry Adriani
começou como "crooner" do grupo "Os Rebeldes". Nos anos 60 e 70 com a Jovem
Guarda, que popularizou o rock no Brasil, Jerry estourou vários sucessos como
"Doce, Doce Amor".
Em 71, ele foi produzido pelo seu amigo Raul Seixas que por pouco tempo foi
diretor musical da então CBS, atual Sony. Agora Jerry está preparando um livro onde
conta entre outras coisas a história do rock, sua própria história e as curiosidades dos
bastidores como seu ligeiro "affair" com Nara Leão. Em entrevista ao Pilh@, Jerry
Adriani começa contando o início do rock ainda nos Estados Unidos.
Jerry Adriani: Na verdade, pós-guerra (foi) quando começaram a aparecer as primeiras
coisas do "rock and roll" propriamente dito que teve sua origem no "rhythm and blues" e no
"country western". A soma destes dois movimentos nos Estados Unidos que resultou esse
movimento("rock and roll"). Tinha anteriormente o "ragtime", o "boogiewoogie", então
uma soma do "ragtime" e do "boogiewoogie", que era aquela coisa do piano na mão
esquerda (imita piano) e da mão direita, foi daí que resultou o termo. Esse termo "rock and
roll" na verdade significava uma coisa obscena. As pessoas diziam que simulava-se um ato
sexual dançando "rock and roll". Era uma coisa meio maldita na época que começou a ser
lançado. E nos Estados Unidos então alguns cantores de "country" que caminharam para o
"rhythm and blues" e alguns cantores do "rhythm and blues" que assimilaram alguma coisa
do "country western" somaram aqueles movimentos e aí começaram a aparecer os
primeiros grupos cantando verdadeiramente o "rock and roll" que teve esse nome batizado
por um "disk jockey" americano. Verdadeiramente a coisa do "rock and roll", para
simplificar, começou em 55 com Bill Halley e seus cometas que gravaram uma música
chamada "Rock Around the Clock". O filme que lançou esse "Rock Around the Clock" foi
um filme chamado "No Balanço das Horas". Oficialmente foi em "No Balanço das Horas"
33
que foi apresentada a história do "rock and roll". Depois começaram a aparecer algumas
coisas.
A primeira vez que uma pessoa gravou "rock and roll" no Brasil foi a Nora Ney que
nem tinha nada a ver com rock. Não haviam os cantores de rock no Brasil. Então Nora Ney,
a própria Marisa Gatamansa gravou, Cauby Peixoto, Moacyr Franco, até o Grande Otelo
cantou nos filmes nacionais que dão muita cobertura a esta coisa do "rock and roll". Aí em
1958 o Carlos Gonzaga gravou uma versão do "Diana", que tinha aquela coisa do "calipso",
que era um dos derivados do "rock and roll". O Carlos Gonzaga foi a primeira pessoa que
fez sucesso no Brasil cantando o tal chamado "rock and roll" que era de uma versão do
"Diana" do Paul Anka. Fez sucesso mesmo, sucesso cantando em português, porque a Nora
Ney havia gravado em inglês, no original em 55. Aí apareceu a Cely Campelo, Tony
Campelo, no Rio de Janeiro em 59 aparecia o Sérgio Murillo, Demétrius. Sérgio Murillo
que foi grande no início do "rock and roll", tinha um público enorme. Depois apareceu
Demétrius, já "iniciozinho" da década de 60, Jorge Freedman. A primeira pessoa quer fez
rock brasileiro foi uma pessoa chamada Baby Santiago. Ele fez o "Rock do Saci", "O
Adivinhão". Enfim este foi o pessoal que abriu caminho no final da década de 50, para no
início da década de 60 obviamente estou falando em termos de Brasil. Todo mundo vinha
na esteira de Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Bud Holly que eram as pessoas
que tinham começado esta revolução lá nos Estados Unidos.
A Jovem Guarda, na metade da década, na esteira também da coisa dos "Beatles",
"Rolling Stones", "Herman Hermits", foi um equivalente desse movimento mundial. Os
"Beatles" estouraram no mundo inteiro, fizeram uma revolução continuando com a coisa do
rock. Até o final da década de 60 quebrou um pouco aquela coisa inicial que vinha como
um rolo compressor porque o Elvis foi para o exército, o Bud Holly morreu num acidente
de avião, outros tiveram problema de justiça, problemas com as carreiras e tudo mais. E os
"Beatles" retomaram essa coisa no início da década. Aí começou a se lançar uma campanha
enorme no mundo inteiro , uma nova fase de um "rock and roll" com uma nova cara.
Obviamente sempre retratando as coisas da época, se empurrando as barreiras dos
convencionalismos. E a Jovem Guarda foi um equivalente disso no Brasil e começou de
uma maneira não-programada. A coisa foi assim: apareceu o Roberto, Wanderléa, Renato e
34
seus Bluecaps, Golden Boys, Erasmo Carlos, depois o Jerry Adriani, Wanderley Cardoso,
Leno e Lílian, Jovens e essa turma era chamada de "A Turma do Iê Iê Iê".
Rodrigo Breves: E como você entra na Jovem Guarda?
JA: Eu era uma pessoa... a Jovem Guarda era dividida em facções. Eu e o Wanderley
Cardoso, nós fazíamos uma facção da Jovem Guarda, nós éramos um segmento da Jovem
Guarda. Tinha o grupo do Roberto, tinha o Jerry e o Wanderley, tinha o Eduardo Araújo e a
Silvinha, tinha o Ronnie Von que fazia um grande sucesso com o "Pequeno Príncipe" lá em
São Paulo. Então eram coisas que representavam o mesmo movimento mas seguiam
caminhos paralelos dentro da mesma coisa. Por exemplo, eu não cantei tantas vezes assim
no programa do Roberto Carlos, eu cantei algumas vezes, poucas até. Porque eu tinha
programas de televisão na época, tinha meus próprios programas. Eu tinha um programa na
televisão que a idéia era rivalizar com o programa Jovem Guarda que chamou-se Excelsior
A Gogo.
RB: A Rede Record é que tinha o programa Jovem Guarda do Roberto.
JA: Foi que depois deu o nome ao movimento. A Jovem Guarda, por exemplo, foi um
programa que inicialmente ia ser apresentado por Roberto Carlos e Celly Campelo. Aí a
Celly Campelo não quis apresentar e ficou só o Roberto Carlos e aconteceu tudo que
aconteceu. Era um programa que substituía o futebol nas tardes de domingo, porque o
futebol começou a ter problemas de transmissão. Proibiram as transmissões de futebol e
ficou aquele buraco. Então naquele buraco onde havia a transmissão de futebol lançaram
um programa que era dedicado à juventude.
RB: Qual a influência do Elvis Presley no teu estilo, Jerry?
JA: Toda. Eu tenho uma grande influência do Elvis. Porque o Elvis foi o nosso ídolo de
adolescência. Foi aquela pessoa que marcou a minha infância, como marcou a vida dos
"Beatles", como marcou a vida de tantas outras pessoas. Os "Beatles" começaram imitando
35
o Elvis com aquele topete, jaquetas e tudo mais, era todo um clima. Em Hamburgo no
"Cavern Club", por exemplo, as primeiras vezes que tocaram, ainda na época do "Cory
Man" que era o primeiro nome dos "Beatles", depois mudou para "Silver Beatles" e depois
"Beatles" já na década de 60, eles cantavam Elvis, Bud Holly, Chuck Berry e tudo mais,
um rock tradicional. Eles deram uma nova cara para o rock com novas melodias, melodias
mais trabalhadas com mais acordes.
RB: E no início dos anos 70, o Raul Seixas foi seu produtor. Como era esse
relacionamento com o Raul?
JÁ: Eu conheci o Raul na Bahia na época da Jovem Guarda e fizemos um show juntos. Ele
foi substituir uma banda que ia me acompanhar. Por acaso a banda não pôde tocar, ele
tocou com a banda dele de improviso e dali eu convidei o Raul para vir para o Rio. Eles
passaram a ser a minha banda de apoio: Raulzito e os Panteras. E aí nasceu uma amizade
muito grande e eu sempre fui muito amigo do Raul. E gravei a primeira música dele, depois
eu convidei para produzir um disco meu. Esse basicamente foi o início dele
profissionalmente porque ele começou a produzir outros artistas. Depois no início da
década de 70, ele finalmente realizou o grande sonho dele que era gravar um disco solo. Ele
gravou aquele disco pela Polydor que foi o "Ouro de Tolo". Foi uma coisa que foi um
estouro e deixou uma marca indelével, uma marca profunda no rock do Brasil. Era um rock
com uma brasilidade muito grande com influências nordestinas com coisas do baião. "Let
Me Sing", por exemplo, é uma mistura do baião com "rock and roll". Então aí aflorou a
personalidade do Raul e ele deixou realmente muita coisa maravilhosa e uma saudade
grande no coração da gente. Ele é meu compadre, uma pessoa que eu tenho o maior
carinho. Até hoje faz muita falta para o público e para nós que éramos amigos dele.
RB: Até porque 10 anos depois do falecimento dele, que faz nesse ano 1999, ele ainda
tem uma influência muito grande hoje em dia, você não acha?
JA: Sem sombra de dúvida. O Raul é um ponto importante. Teve uma personalidade muito
forte, deixou um trabalho incrível e influenciou muita gente também.
36
RB: Outro, que eu não sei se a gente pode dizer roqueiro, que você se identifica muito
é o Renato Russo do Legião Urbana.
JA: É, porque foi uma coisa do timbre vocal. As pessoas diziam que ele tinha um timbre
vocal muito parecido com o meu. E realmente ele tinha um timbre parecido com o meu.
Então houve mais esse ponto convergente para a história do rock e essa coisa toda. Para
mim foi uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa ter uma ponte do que nós fizemos, da
nossa personalidade, da nossa vida com alguém da nova geração e um alguém tão
respeitado como o Renato Russo.
RB: O que mudou do rock daquela época dos anos 60 para hoje em dia? Você vê
alguma mudança?
JA: Houve uma evolução enorme. Naquela época a coisa não era tão profunda como é hoje,
as pessoas vão muito mais fundo na problemática. Então houve uma evolução, as coisas
vão evoluindo de acordo com a época. A música, o que ela é na verdade? O músico, ele é
um analista da sua época, ele retrata o que está acontecendo, ele é um repórter do cotidiano.
O "rock and roll", ele é isso. Você vê, por exemplo, falando de outra coisa que não
evidentemente nada a ver com rock. Você fala de um rap, por exemplo, o que ele retrata?
Ele retrata a realidade dos problemas urbanos, da vida dos guetos, da problemática toda. E
o "rock and roll" é isso. Nas periferias de São Paulo você vê aqueles grupos, as pessoas que
se reúnem, ouvem aquelas coisas de música e fazem aquele rock pesado, a "metaleira"
como se diz, aquela história toda. Tudo isso retrata uma condição urbana mesmo da vida
em si, das grandes cidades, dos grandes centros, da neurose, dos problemas que você
enfrenta no cotidiano, é um retrato daquilo tudo.
RB: Fala um pouco também do livro que você está escrevendo. O que é esse livro?
JA: Eu estou escrevendo um livro falando essas coisas todas muito mais profundamente,
com muito mais dados. Isso tudo que nós falamos aqui eu estou falando no livro contando a
37
minha história: como eu apareci, como é que foi minha vida. Intercalado com isso a história
do rock, a história do que me influenciou, não a história da música não tenho a pretensão de
escrever a história da música, mas das coisas que me influenciaram musicalmente falando.
Eu falo alguma coisa do movimento, da minha visão, uma coisa interessante.
RB: Para terminar, Jerry, olhando para essa vista aqui da Enseada de Botafogo, é
fácil ter inspiração, né?
JA: É verdade, é uma coisa muito bonita. O Rio de Janeiro é uma maravilha, foi a cidade
que eu adotei apesar de ser paulista e amar minha terra. Mas eu fico feliz de poder morar
aqui e de poder ter vivido por muito tempo e continuar vivendo aqui no Rio de Janeiro.
Apesar de que eu vou muito a São Paulo, trabalho muito lá.
38