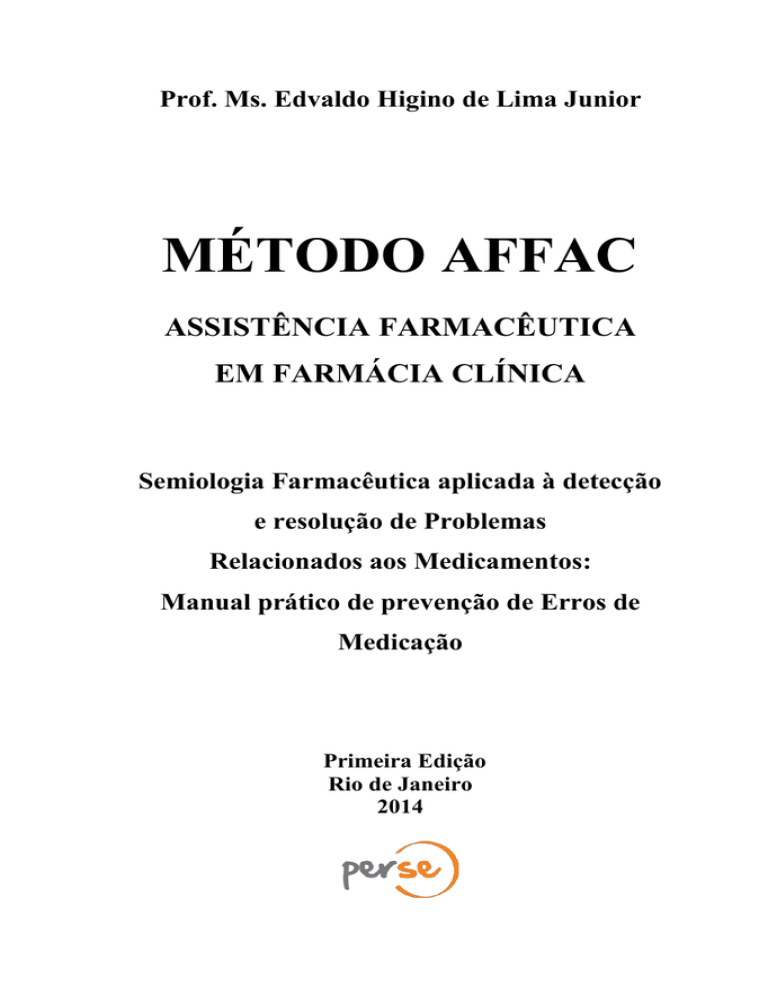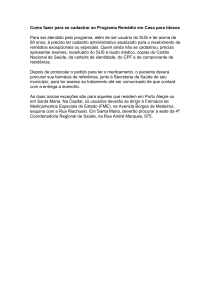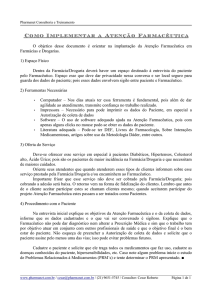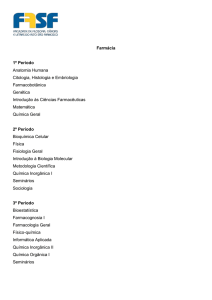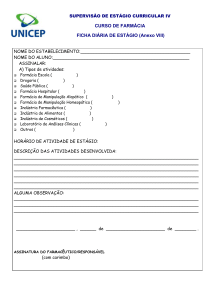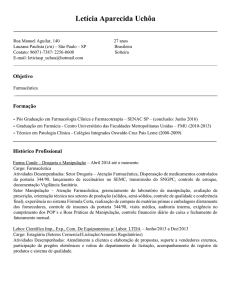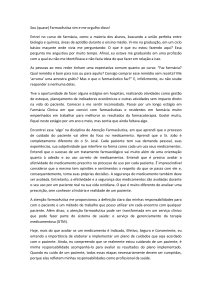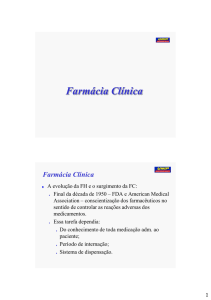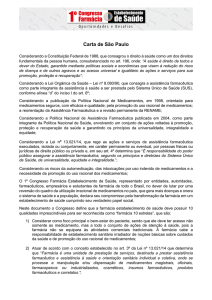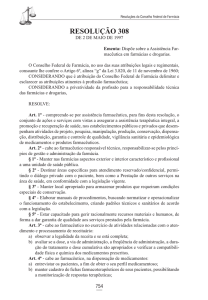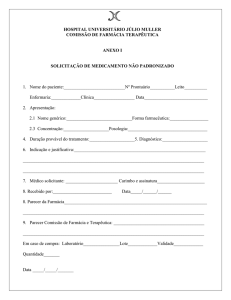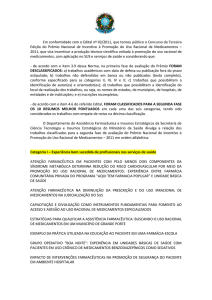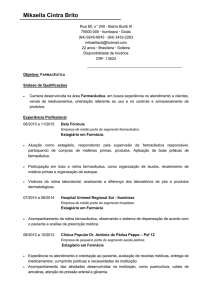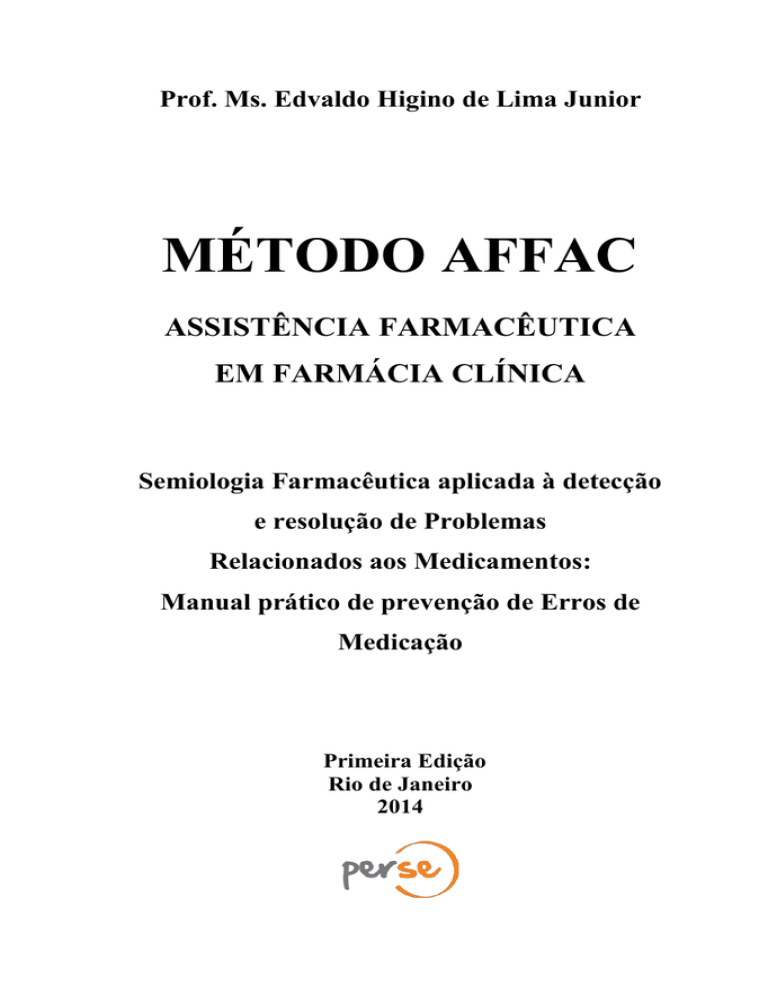
Prof. Ms. Edvaldo Higino de Lima Junior
MÉTODO AFFAC
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
EM FARMÁCIA CLÍNICA
Semiologia Farmacêutica aplicada à detecção
e resolução de Problemas
Relacionados aos Medicamentos:
Manual prático de prevenção de Erros de
Medicação
Primeira Edição
Rio de Janeiro
2014
Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei
9.610, de 19/02/1998.
Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia
por escrito da editora, poderá ser reproduzida ou
transmitida sejam quais forem os mecanismos
empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográficos,
gravação ou quaisquer outros meios.
AGRADECIMENTOS
A Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas.
Aos meus pais, falecidos durante a trajetória deste
trabalho, um deles por erro de medicação.
À minha família, pelo incentivo e compreensão,
principalmente a minha esposa Yaciara de Morais Nunes.
Ao Cliciano pela contribuição para a semiologia
farmacêutica.
Aos ex-membros da gerência de risco do Hospital
Estadual Pedro II, Eduardo Corsino, Fátima Cristina
Alves de Araújo, Heverton Alemand, Eliézio Higino,
Rafael Carneiro, Yaciara de Morais Nunes, Jorgete de
Deos, Messias Sant”Ana, José Carlos Pierre de Araújo e
Ana Carolina Pace.
Ao Diretor Marco Aurélio, a administradora Eliziane, ao
Dr. Alencar Nascimento Pinto, às equipes Médica e de
Enfermagem da Clínica Médica Masculina e Feminina,
CTI adulto, UTI neonatal e CTQ do Hospital Estadual
Pedro II sem os quais nada teria sido feito.
Ao NVH / CCIH pelo acolhimento da Gerência de Risco.
Aos estagiários da Faculdade Bezerra de Araújo (FABA)
e do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM)
que colaboraram ativamente na execução das atividades
da Gerência de Risco do HEPII.
A todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para a
realização deste trabalho.
SUMÁRIO
SUMÁRIO .......................................................................4
PREFÁCIO.......................................................................6
CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA ........................ 11
Discussão de conceitos para dar sentido ao tema
Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica .................11
A Farmácia Clínica e a Atenção Farmacêutica no
contexto da Saúde Pública Brasileira .....................11
A Farmácia Clínica no Brasil .................................27
Otimização da farmacoterapia pela Farmácia
Clínica: Detecção e Resolução de Problemas
Relacionados aos Medicamentos e de Reações
Adversas aos Medicamentos ..................................31
Farmacovigilância no Brasil...................................34
Farmacovigilância no Estado do Rio de Janeiro ....37
APRESENTAÇÃO DO MÉTODO AFFAC..................42
AMPLIAÇÃO DA PERSPECTIVA DE VISÃO DO
FARMACÊUTICO CLÍNICO ...................................58
Histórico da Criação do Método AFFAC ...................... 63
Caracterização do Hospital Estadual Pedro II (lócus de
estudo) ........................................................................63
PROCEDIMENTOS ESSÊNCIAIS PARA
APLICAÇÃO DO MÉTODO AFFAC ...................... 79
Apresentação: ......................................................... 79
Coleta de dados: .....................................................79
Instrumento de entrevista: Ficha de Atenção
Farmacêutica .......................................................... 80
Técnicas de entrevista: Semiologia e Semiotécnica
aplicadas à Farmácia ..............................................81
Anamnese Farmacêutica ........................................89
Atenção Farmacêutica durante o Método AFFAC .99
Interação com a Equipe Multiprofissional ...........101
RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MÉTODO
AFFAC .........................................................................103
TESTE DO MÉTODO AFFAC EM AMBIENTE
AMBULATORIAL ...................................................... 107
Utilização do Método AFFAC em um estudo sobre a
Adesão à Terapia Antirretroviral.............................. 109
PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL NA UTILIZAÇÃO DO
MÉTODO AFFAC NA PREVENÇÃO DOS ERROS DE
MEDICAÇÃO .............................................................. 132
Definição e Classificação dos Resultados dos Erros de
Medicação ................................................................ 134
CONSIDERAÇÕES FINAIS: ......................................142
REFERÊNCIAS CONSULTADAS ............................. 144
INFORMAÇÕES SOBRE O AUTOR DESTE LIVRO E
CO-AUTORES DO MÉTODO AFFAC: ..................... 158
PREFÁCIO
Em 2004 foi realizado um projeto de pesquisa, com
vistas à implantação de um modelo de Assistência
Farmacêutica em Farmácia Clínica, para unidades de
pacientes internados, denominado como Método AFFAC.
Este projeto foi desenvolvido nas enfermarias destinadas
à cardiologia, dos setores das clínicas médica masculina e
feminina, do Hospital Estadual Pedro II (HEPII), situado
na cidade do Rio de Janeiro e era baseado na detecção e
resolução
dos
Problemas
Relacionados
aos
Medicamentos (PRM). Os resultados desse projeto foram
descritos no trabalho de conclusão do curso de graduação
em
farmácia
por
Eduardo
Corsino
Freire,
na
Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy,
na cidade do Rio de Janeiro, sob orientação do Professor
Ms Edvaldo Higino de Lima Junior. Esta primeira etapa
de trabalho criou condições para a posterior implantação
de um Serviço de Farmácia Clínica no HEPII em 2006.
Neste ano, Cliciano de Souza da Faculdade Bezerra de
Araújo, na cidade do Rio de Janeiro, desenvolveu as
bases da semiologia farmacêutica em seu trabalho de
conclusão de curso de graduação em farmácia, dando
forma a um importante instrumento de detecção e
resolução de problemas relacionados aos medicamentos
(PRM), também sob orientação do Professor Ms Edvaldo
Higino de Lima Junior.
Com o intuito de compilar estas experiências e
divulgá-las
aos
profissionais
de
saúde,
inclusive
farmacêuticos que desejam atuar em Farmácia Clínica,
mas ainda não sabem que atividades devem realizar na
prática, decidimos publicar um livro que sirva como um
norteador para os que querem abraçar este ramo da
farmácia, sem demagogias e com consistência.
Neste livro, apresentamos nossa experiência em
Farmácia Clínica sistematizada em um novo método de
detecção e resolução de PRM. Este método propõe uma
nova classificação para os PRMs baseada na origem dos
problemas relacionados aos medicamentos. Em nossa
classificação quanto à origem, os PRMs podem ser: Tipo
P (de origem na prescrição), Tipo D (de origem na
dispensação), Tipo A (de origem na administração) e
Tipo U (de origem no usuário). Os PRMs podem ser
reais, quando os problemas se apresentam ou potenciais
quando ainda não se apresentaram. O método foi testado
no HEPII do Rio de Janeiro nos setores de cardiologia,
clínica médica e unidade materno-infantil. Nossos
resultados sugerem que o Método AFFAC aumentou a
qualidade da assistência multiprofissional, integrando-a,
reduzindo o tempo de internação e, consequentemente, os
custos. Este método propõe uma investigação lógica,
organizada no tempo, e eficaz na detecção dos PRMs
potenciais, reduzindo a frequência dos PRMs reais,
identificando com clareza qual foi a atividade de origem
do PRM e facilitando, assim, a resolução. O Método
AFFAC mostrou-se de utilização universal, passível de
ser aplicado pelos profissionais de saúde em diversas
clínicas, pois resolver PRM é uma das responsabilidades
da equipe multiprofissional.
Paralelamente ao desenvolvimento do Método
AFFAC em ambiente hospitalar, decidimos testar o
Método AFFAC em sua modalidade ambulatorial.
Através de uma parceria entre a Gerência de Risco do
HEPII e o Ambulatório da Providência (São Cristóvão,
Rio de Janeiro – Brasil), foram avaliadas a dispensação
de medicamentos antirretrovirais pelo Serviço de
Farmácia e a adesão dos usuários ao tratamento, durante
o período entre novembro de 2006 e novembro de 2007.
Todos os pacientes eram adultos, com faixa etária
predominante entre 41-50 anos, sendo 68% do sexo
masculino e 32% do sexo feminino. A pesquisa foi
realizada em dois momentos, onde o primeiro se
caracterizou
por
dispensação
de
medicamentos,
acompanhadas de acordo com o método Assistência
Farmacêutica em Farmácia Clínica (AFFAC), e o
segundo por dispensação sem a metodologia citada. Os
dados obtidos mostraram uma maior regularidade nos
pacientes abrangidos pelo AFFAC, sugerindo 91,7 + 1,4
% de adesão, enquanto os não abrangidos ficaram em
torno de 68 + 3 %, aumentando a adesão ao tratamento
em, aproximadamente, 23%.
Estes resultados sugerem que o método utilizado
neste trabalho foi de grande influência na aderência dos
pacientes ao esquema terapêutico. A metodologia de
Atenção Farmacêutica utilizada mostrou-se bastante
satisfatória, pois o custo de sua implantação não foi
elevado e proporcionou a oportunidade de um maior
contato com o paciente por parte do farmacêutico.
Esperamos que este método seja útil para os
profissionais de saúde, inclusive farmacêuticos que
desejem realizar atividades de Farmácia Clínica, mas não
possuem direcionamentos claros sobre o que exatamente
executar junto ao paciente e à equipe multidisciplinar.
Nós nos dispomos a propor uma metodologia clara e de
fácil execução. Este método, apesar de descrito sob um
olhar farmacêutico, também pode ser aplicado pelos
demais profissionais de saúde que realizam assistência
ambulatorial ou à beira do leito, pois qualquer
profissional de nível superior devidamente capacitado
pode detectar e solucionar PRM, colaborando para o
sucesso da assistência farmacológica recebida pelo
paciente.
Prof. Ms. Edvaldo Higino de Lima Junior
CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA
Discussão de conceitos para dar sentido ao tema
Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica
A Farmácia Clínica e a Atenção Farmacêutica no
contexto da Saúde Pública Brasileira
Um dos grandes avanços na saúde pública
brasileira foi conseguido pela Constituição Brasileira de
1988. O artigo 196 desta Constituição definiu a saúde
como direito de todos e dever do Estado, devendo existir
políticas sociais e econômicas que garantam à população
o acesso universal e equitativo às ações e serviços de
saúde (BRASIL, 1988).
A instituição da saúde como direito social
modificou profundamente a ótica sobre a saúde pública
brasileira. Diversas modificações se fizeram necessárias
para se iniciar o processo de tornar este direito uma
realidade. Uma das modificações foi a criação do Sistema
Único de Saúde (SUS) pela mesma Constituição
(BRASIL, 1988).
Os objetivos do SUS são a promoção, proteção e
recuperação da saúde da população. Para tal, o SUS
precisou ser regulamentado em suas ações e serviços de
11
saúde quanto a direção e gestão, competência e
atribuições
de
cada
esfera
do
governo.
Esta
regulamentação foi conseguida através da Lei n° 8080 de
1990, conhecida como lei orgânica da saúde (BRASIL,
1990a). A lei orgânica da saúde definiu os princípios que
deveriam nortear as ações do SUS: universalidade,
equidade,
participação
social,
controle
social
e
atendimento integral.
Os princípios da universalidade e da igualdade,
respectivamente, definem que o SUS deve atender a
todos gratuitamente, de acordo com suas necessidades,
independente se o indivíduo paga ou não a previdência
social, e que este atendimento deve ser realizado e
pautado na igualdade da assistência à saúde sem
discriminação, preconceitos ou privilégios (BRASIL,
1990a).
O princípio da equidade postula que o SUS deve
respeitar
as
desigualdades
priorizando
os
mais
vulneráveis e necessitados (BRASIL, 1990a).
O controle social prevê a participação da
comunidade nos Conselhos e Conferências de Saúde com
objetivo de fiscalizar e participar da gestão (BRASIL,
1990a) (BRASIL, 1990b)
12
O princípio da integralidade postula que as ações
do SUS devem garantir a população um atendimento
integral a saúde, assegurando seu acesso a todas as ações
e serviços nos três níveis de atenção, envolvendo
promoção, prevenção, cura e reabilitação. Deve existir
um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos, individuais e coletivos exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade.
Ainda segundo a lei orgânica da saúde, deve ser
assegurado
ao indivíduo dentro do contexto da
assistência integral, a assistência farmacêutica.
Esta
garantia
promoveu
um
processo
de
reorganização dos serviços de saúde no Brasil envolvidos
no ciclo de produção e utilização dos medicamentos. Para
orientar este processo de reorganização da assistência
farmacêutica no serviço publico de saúde, a portaria
MS/GM n° 3916 de 1998 definiu a Política Nacional de
Medicamentos. A lei orgânica da saúde prevê, dentro do
campo de atuação do SUS, a formulação de uma política
de medicamentos de interesse para a saúde (BRASIL,
1998).
Dentro deste contexto, a Política Nacional de
Medicamentos buscou observar e fortalecer os princípios
13
e as diretrizes constitucionais legalmente estabelecidos
explicitando, em suas diretrizes básicas, as prioridades a
serem conferidas em sua implementação para a
concretização do SUS.
A Política Nacional de Medicamentos tem como
propósito garantir a necessária segurança, eficácia e
qualidade destes produtos, a promoção do uso racional e
o acesso da população àqueles considerados essenciais,
buscando promover ações direcionadas a uma efetiva
implementação de ações capazes de promover a melhoria
das condições de assistência à saúde da população. Para
tal, a Política Nacional de Medicamentos exige, para a
sua implementação, a continua definição ou redefinição
de planos, programas e atividades específicas nas esferas
federal, estadual e municipal.
Dentre as principais diretrizes desta política estão o
estabelecimento da relação de medicamentos essenciais e
a reorientação do modelo da assistência farmacêutica no
Brasil.
A adoção da Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME) tem como objetivo definir o
elenco de medicamentos essenciais considerados básicos
e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de
14
saúde da população, ficando a cargo do Ministério da
Saúde o estabelecimento de mecanismos que permitam
sua continua atualização.
A Política Nacional de Medicamentos postula que
o modelo de assistência farmacêutica seja reorientado de
modo a que não se restrinja à aquisição e à distribuição
de medicamentos no âmbito das três esferas do SUS.
A assistência farmacêutica no SUS deverá,
portanto, englobar as atividades de seleção, programação,
aquisição, armazenamento e distribuição, controle da
qualidade e utilização. Na atividade de utilização do
medicamento, estão compreendidas sua prescrição e
dispensação que devem ser realizadas de modo a
promover o uso racional de medicamentos, garantindo o
acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e
de qualidade.
Esta
política
ainda
postula
que
a
farmacoepidemiologia e farmacovigilância devem ser
utilizadas como ferramentas para a concretização do uso
racional
de
medicamentos.
As
ações
de
farmacovigilância, além de tratar dos efeitos adversos,
devem ser utilizadas, também, para assegurar o uso
racional dos medicamentos. Para tanto, deverão ser
15