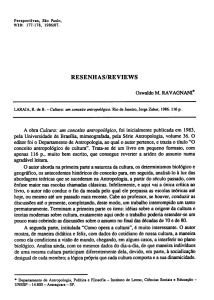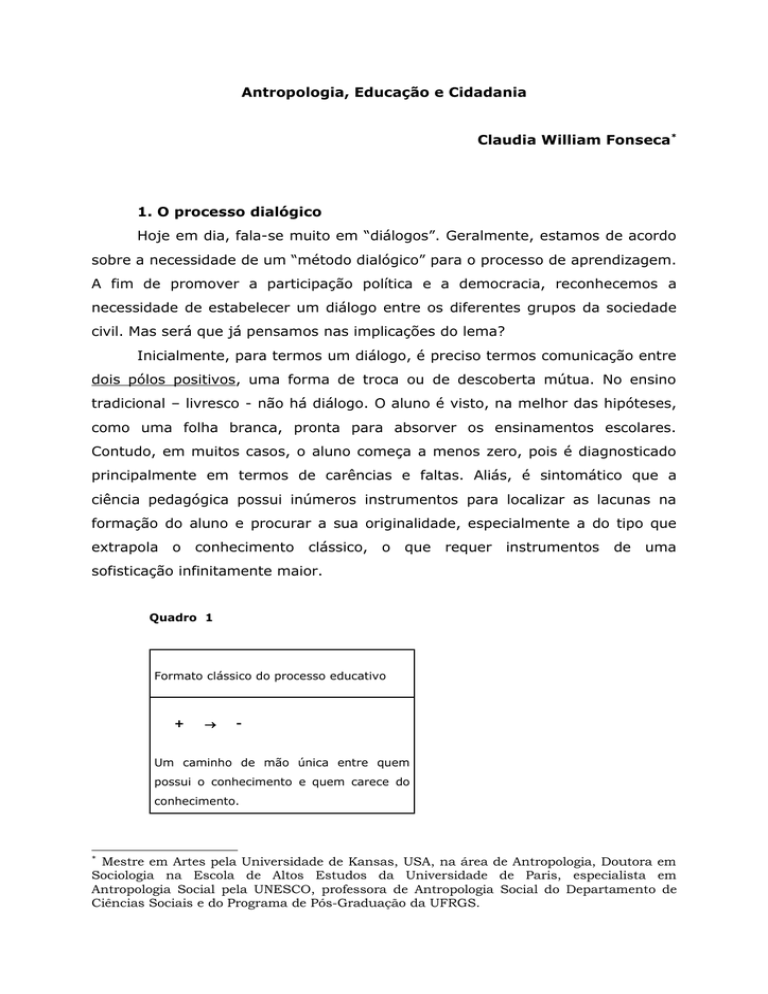
Antropologia, Educação e Cidadania
Claudia William Fonseca*
1. O processo dialógico
Hoje em dia, fala-se muito em “diálogos”. Geralmente, estamos de acordo
sobre a necessidade de um “método dialógico” para o processo de aprendizagem.
A fim de promover a participação política e a democracia, reconhecemos a
necessidade de estabelecer um diálogo entre os diferentes grupos da sociedade
civil. Mas será que já pensamos nas implicações do lema?
Inicialmente, para termos um diálogo, é preciso termos comunicação entre
dois pólos positivos, uma forma de troca ou de descoberta mútua. No ensino
tradicional – livresco - não há diálogo. O aluno é visto, na melhor das hipóteses,
como uma folha branca, pronta para absorver os ensinamentos escolares.
Contudo, em muitos casos, o aluno começa a menos zero, pois é diagnosticado
principalmente em termos de carências e faltas. Aliás, é sintomático que a
ciência pedagógica possui inúmeros instrumentos para localizar as lacunas na
formação do aluno e procurar a sua originalidade, especialmente a do tipo que
extrapola o conhecimento
clássico, o que requer
instrumentos
de uma
sofisticação infinitamente maior.
Quadro 1
Formato clássico do processo educativo
+
→
-
Um caminho de mão única entre quem
possui o conhecimento e quem carece do
conhecimento.
*
Mestre em Artes pela Universidade de Kansas, USA, na área de Antropologia, Doutora em
Sociologia na Escola de Altos Estudos da Universidade de Paris, especialista em
Antropologia Social pela UNESCO, professora de Antropologia Social do Departamento de
Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação da UFRGS.
Assim, para participar de um diálogo a pessoa precisa tanto escutar
quanto falar, precisa se interessar pelo seu interlocutor precisa acreditar que este
tem algo para lhe ensinar. Se esse processo de assim “positivar” a imagem do
outro já é difícil, em se tratando da relação adulto/criança é mais problemática
ainda, quando - como em tantas escolas brasileiras- o adulto é da classe média e
a criança dos grupos populares.
Muitas vezes, o professor nem se dá conta do caráter essencialmente
negativo da imagem que ela projeta dos alunos “carentes”. Com a melhor das
intenções, ele procura “resgatar a humanidade” da criança, localiza o aluno com
“potencial” e procura reformá-lo, separando seu destino do de sua família
(“desestruturada”) e de seus vizinhos...
Quadro 2
“Resgatando a humanidade” do aluno negando sua
identidade de grupo
Professor
+
Aluno
→
família
criança
grupo social
Não estamos negando o bom senso dos objetivos educacionais básicos.
Estamos de acordo que é desejável desenvolver nos alunos certas habilidades do
mundo escrito e que os alunos têm potencial para adquirir essas habilidades.
Entretanto, é uma linha tênue que separa o ensinar do disciplinar. Uma coisa é
pegar crianças isoladas e inculcar nelas os bons modos, crenças e valores da
sociedade dominante e é outra coisa dialogar com sujeitos históricos que têm
uma vasta bagagem cultural. Portanto, participar de uma troca de experiências e
conhecimentos significa provocar transformações tanto no professor quanto no
aluno.
Para tanto, é necessário encarar as crianças enquanto integrantes de
grupos sociais historicamente constituídos. Não se trata de cair num romantismo
retrógrado, idealizando o modo de vida destes grupos como algo mais “natural”,
“autêntico” ou “espontâneo”, etc. Antes, trata-se de reconhecer
valores
familiares e sociais particulares, gerados por pessoas inteligentes a partir de sua
experiência de vida. O “plus” da equação (veja quadro 3) não representa mais a
idéia de algo moralmente superior.
Representa a idéia de algo moralmente superior, a ser preservado e
transmitido a toda humanidade. Ainda, representa a idéia de um determinado
sistema de pensamento cultural a ser investigado e compreendido. O professor,
ao reconhecer “lógicas alternativas” razoavelmente bem adaptadas a um
determinado contexto, inicia o árduo trabalho de colocar em perspectiva sua
própria lógica (também fruto da experiência de vida de uma determinada classe
histórica). Assim, a partir daí, pode começar o diálogo.
Quadro 3
O início do processo dialógico
Professor e aluno enquanto sujeitos históricos
Professor
Família
Indivíduo
+
+
+
Aluno
↔
+
+ Família
+ Indivíduo
Grupo social
Grupo social
O professor passa a considerar seus próprios valores como fruto de
uma dinâmica familiar, da vivência de um determinado grupo social.
2. Construção e desconstrução no método antropológico
Na
cabeça
de
muita gente,
a
antropologia ainda
é
sinônimo
do
pensamento evolucionista do século dezenove. Assim como as demais ciências
sociais
é verdade que a nossa disciplina começou no mundo da Europa
colonialista onde os teóricos pensavam em termos de povos “primitivos” e povos
“civilizados”. Faziam de seu mundo o centro do universo, o topo moral do
processo evolucionário e classificavam o resto da humanidade em função de
quem estava mais perto ou mais longe deles.
Certos pensadores, menos à vontade com as implicações deste tipo de
raciocínio, abraçaram uma espécie de “etnocentrismo às avessas”. Retornaram
de Rosseau a idéia de que tribos “primitivas” são moralmente superiores, mais
“naturais” ou “espontâneas” do que nós. De certa forma, estavam mantendo a
lógica evolucionista, simplesmente trocando os elementos dentro dela. Os
critérios pelos quais julgavam o que era “natural” e “espontâneo”, isto é, os
valores que glorificavam a imagem do “bom selvagem”, eram, casualmente,
todos tirados do mundo da aristocracia européia. A imagem do “bom selvagem”
nada mais era do que uma projeção daquele sistema de valores, talhada para
confirmar os (pré) conceitos daquela cultura.
Todo o trabalho das últimas décadas tem sido no sentido de desconstruir a
visão “etnocêntrica” do mundo para escapar aos ardis tanto do preconceito
racista como do romantismo rousseauniano. Agora tentamos freiar a nossa ânsia
de julgar e hierarquizar, para primeiro compreender o comportamento dos
outros. Fala-se muito em “alteridade”, procura-se captar a “lógica do outro” - um
processo que não é tão óbvio quanto poderia parecer à primeira vista. Isso por
que implica no esforço de sair de nosso próprio sistema simbólico - que nos
acompanha como o ar que respiramos- para tentar penetrar no sistema do
“outro”. Implica em reconhecer que nosso sistema de pensamento –científico,
moral, intelectual - longe de ser a suprasúmula do desenvolvimento humano é
um sistema entre outros.
O conceito de cultura, tal como é empregado pela grande maioria de
antropólogos
contemporâneos,
representa
uma
negação
do
pensamento
evolucionista novecentista. A única coisa que é inerente ao ser humano, e que
todos os povos têm em comum, é a fabricação de um universo simbólico, um
sistema cultural que atribui significados aos elementos da existência e que dota a
vida de um sentido. No entanto, o conteúdo específico destes significados
assume um número quase infinito de formas.
Em todos os grupos sociais, por exemplo, existem práticas que parecem
com aquilo que chamamos “casamento”. Entretanto, se não levarmos em conta a
configuração de valores que circunda estas práticas em cada contexto, não
compreenderemos grande coisa. Entre os Todas da Índia, marido e mulher nunca
chegam a morar juntos, a esposa mora com seus próprios irmãos, gerando filhos
com uma série de amantes oficiais. Em outro grupo, agora da África Oriental,
achamos uma espécie de casamento entre duas mulheres – rito acionado para
assegurar a descendência da linhagem quando a herdeira principal é uma mulher
estéril. Em ainda outro, nós vemos mulheres oficialmente casadas com meninos
de dez a quinze anos mais jovens, que elas ajudam a criar antes de assumir a
vida conjugal.1 Em outras palavras, os antropólogos acham inúmeros exemplos e
ainda em sociedades relativamente complexas, que contradizem tudo que
imaginamos, em nossa cultura, como sendo o comportamento “natural”.
Muitas vezes, quando faço uma conferência, sinto que a platéia está
esperando que eu, o antropólogo, venha dar a última palavra sobre o que é
verdadeiramente
“natural”
ao
ser
humano:
casamento
monogâmico
ou
promiscuidade sexual, ganância ou generosidade, a mentalidade autoritária ou
democrática,
racionalismo
ou
magia...?
Querem
uma
definição
clara
da
“essência” humana para assim decretar todos os outros comportamentos e
valores como alienantes “obstáculos” ao progresso, etc. Eu, como a maioria dos
antropólogos hoje, não usaria a noção “natural”. No seu lugar, falaria de
“normal”
e ainda com grande cautela. Desta forma, é um “normal” definido
segundo as normas postuladas pelo grupo social e não pela “natureza”. Em um
lugar, a comunidade pode considerar “normal” as mulheres casadas terem
amantes, em outro, tal comportamento pode chocar de tal forma que provoca a
desagregação do grupo. É justamente essa variabilidade de formas culturais que
impede o pesquisador de chegar a conclusões apressadas sobre qualquer grupo
social e que o obriga a olhar, observar, para chegar a entender o que naquele
lugar específico é normal.
No ensino da antropologia, gostamos de dizer que o estudante não deve
levar idéias pré-concebidas para a pesquisa de campo. Certamente ele tem a
obrigação familiarizar-se com as teorias científicas pertinentes ao problema e à
comunidade que quer estudar. O pesquisador não vai para o campo de cabeça
1
O artigo clássico que relativiza essas noções é: LEVY-STRAUSS, Claude. 1956. “A família”.
In Homem, cultura e sociedade. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura.
vazia, esperando ser “iluminado pelos fatos”, mas deve estar sempre consciente
de que o material “científico” não fornece mais do que conjecturas hipotéticas,
isto é, hipóteses que quase por definição, se modificam com cada confronto à
realidade.
É por isso que seria difícil para eu comunicar a vocês quaisquer “regras”
sobre valores e comportamentos em famílias de grupos populares. A partir das
minhas experiências em bairros periféricos de Porto Alegre, montei diversas
hipóteses: que a unidade significativa de organização social é a família extensa;
que essa família extensa prioriza
laços consangüíneos antes do que a relação
conjugal; e que a circulação de crianças entre diferentes mães de criação faz,
historicamente, parte da dinâmica familiar destes grupos.2 Enquanto hipóteses
são
idéias válidas,
mas
jamais poderíamos
pressupor
que
mecanicamente às pessoas com as quais vocês estão lidando.
se
apliquem
Muitas teorias
deveriam constar, entre outras, no repertório de “explicações possíveis”,
eventualmente úteis para esclarecer o comportamento familiar em determinados
grupos. Contudo, este corpus teórico não pode jamais eximir o agente social da
responsabilidade de “descobrir” ele mesmo a realidade, complexa, heterogênea e
cambiante, em que está atuando.
É neste sentido, que a contribuição da antropologia para este debate vem
mais de seu método do que de seu estoque de conhecimentos. O famoso
“estranhamento” do método antropológico, herdado das nossas andanças em
lugares exóticos, nada mais é do que esta desconfiança diante de receitas fixas,
esta sensação de que diante de cada experiência é necessário construir uma
nova análise.
3. A cidadania: um campo desafiador de investigação
Agora voltemos a nossa atenção para os grupos populares aqui no Brasil.
Vivemos
em
econômicas
uma
e
sociedade
políticas
de
classes
ultrapassam
os
onde
as
limites
desigualdades
da
imaginação.
sociais,
Essas
desigualdades são responsáveis pela situação de “apartação” reinante, na qual,
muitas vezes, “rico” e “pobre” só se encontram em situações de faxina ou
assalto. Por um lado condomínios de luxo, rodeados de grades de ferro, por
outro, favelas que se estendem até os quatro horizontes, levando a justaposição,
2
Ver vídeo etnográfico “Ciranda, cirandinha: Histórias de circulação de crianças em grupos
populares”, Laboratório de Antropologia Social, PPG em Antropologia Social, UFRGS.
na mesma sociedade, de modos de vida radicalmente diferentes um do outro. É
responsabilidade de todo cidadão zelar pela erradicação desta desigualdade,
resultado de estruturas políticas e econômicas perversas.
As diferenças culturais que existem no Brasil são, sem dúvida nenhuma,
em parte ligadas a esta desigualdade, mas são ligadas enquanto conseqüência e
não causa. Ao mesmo tempo em que obramos para mudar a situação ao nível
estrutural, devemos, na medida do possível, tentar compreender a lógica dos
sistemas simbólicos que surgiram em função do atual contexto, mas essa
compreensão não pode se dar num processo autoritário. Esta só pode se dar
através de um processo dialógico em que, eventualmente, as próprias categorias
do “observador” se transformem em função do contato intersubjetivo.
Podemos tomar a noção de cidadania como exemplo. Existem definições
claras sobre o que é a cidadania- definições inscritas nos livros políticos e nas
cláusulas da Constituição. Montamos todo um sistema institucional para
corresponder a esta noção e ficamos frustados quando constatamos a relutância
entre integrantes das classes trabalhadoras de exercer os direitos que lhes foram
outorgados. Muito dos esforços dos educadores é no sentido de estimular ou
reforçar, entre seus alunos, as “atitudes adequadas à democracia moderna”.
No entanto, a indignação diante da injustiça social e a boa vontade não
bastam para viabilizar a transformação da sociedade que almejamos. Há um
perigo que esta indignação saia pela culatra, levando a uma visão esterotipada
da realidade e barrando o caminho para uma compreensão aprofundada da visão
dos sujeitos. Na história recente, temos diversos exemplos deste tipo de erro.
A denúncia tende a pintar os grupos populares de vítimas ou de santos.
Considerados durante os anos setenta como “atrasados”, estes grupos foram
alvo
de
inúmeras
campanhas
educativas
promovidas
para
superar
sua
"mentalidade tradicional". No final dos anos setenta, veio à tona uma nova
filosofia pedagógica “libertadora”, calcada na experiência de vida dos alunos.
Porém, as sutilezas dialógicas da teoria original foram se perdendo com as
tentativas sucessivas. Muitas campanhas educativas simplesmente substituíram o
antigo rótulo “ignorante” pelo novo “alienado”, deixando, neste caso, a
“conscientização” a repetir os mesmos erros do processo autoritário que a
precedeu.
Enquanto os educadores continuarem colocando a culpa pela pobreza nas
“mentalidades” (atrasadas ou alienadas) dos grupos trabalhadores, o processo
educativo seguirá os moldes tradicionais- a mão única- de um “plus” para
“menos”. Pelo contrário, o reconhecimento das causas estruturais da pobreza
abre o caminho para um processo dialógico entre diversos grupos e para a ação,
eventualmente em conjunto, que transformará a sociedade. Para o novo lema
“cidadania” ter efeito, terá que representar mais do que uma modificação de
retórica, terá que ser acompanhado por cada educador, por cada segmento
social.
Aqui, não é questão de negar a validade dos direitos fundamentais da
cidadania. Certamente, todo indivíduo deve possuir conhecimentos sobre o
sistema partidário, o funcionamento básico das instituições políticas, etc. No
entanto, o Brasil representa um contexto histórico particular em que pode haver
outras formas de participação política, formas populares, por exemplo, que não
previstas pelos legisladores. Há, por exemplo, uma mobilização significativa da
coletividade em torno de clubes de futebol, escolas de samba e até mesmo em
terreiros de religião. Num registro um pouco diferente, os arrastões e os saques
de supermercados também poderiam ser interpretados como reivindicação pelos
direitos fundamentais de cidadania. O problema que se coloca é como modificar o
aparato institucional do país para que ele se torne mais sensível a estas formas
de participação. Ou, a um nível mais modesto, como professor, na sala de aula,
ou em confronto com pais de alunos, pode ser sensível a formas diferentes de
expressão que levem ao “pleno exercício de cidadania”.
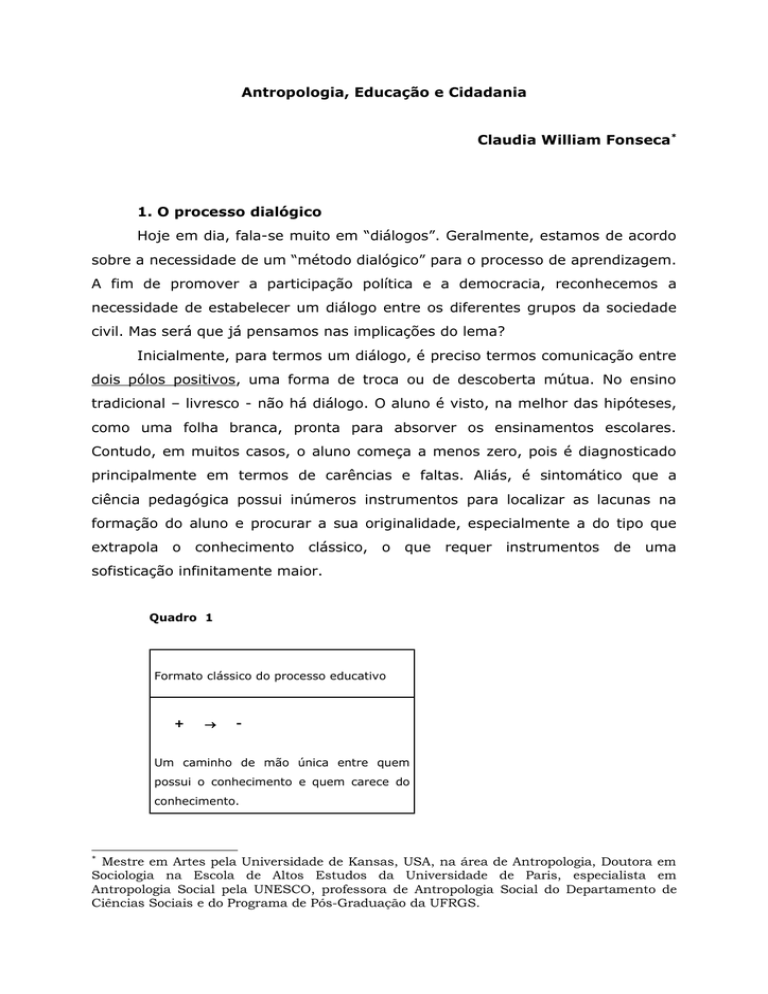


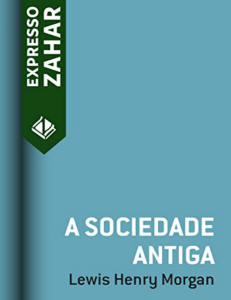
![Prova Discursiva [2ª Chamada] - Administração [para o público]](http://s1.studylibpt.com/store/data/002404746_1-5800314de091640fb66d887c62bc62e6-300x300.png)