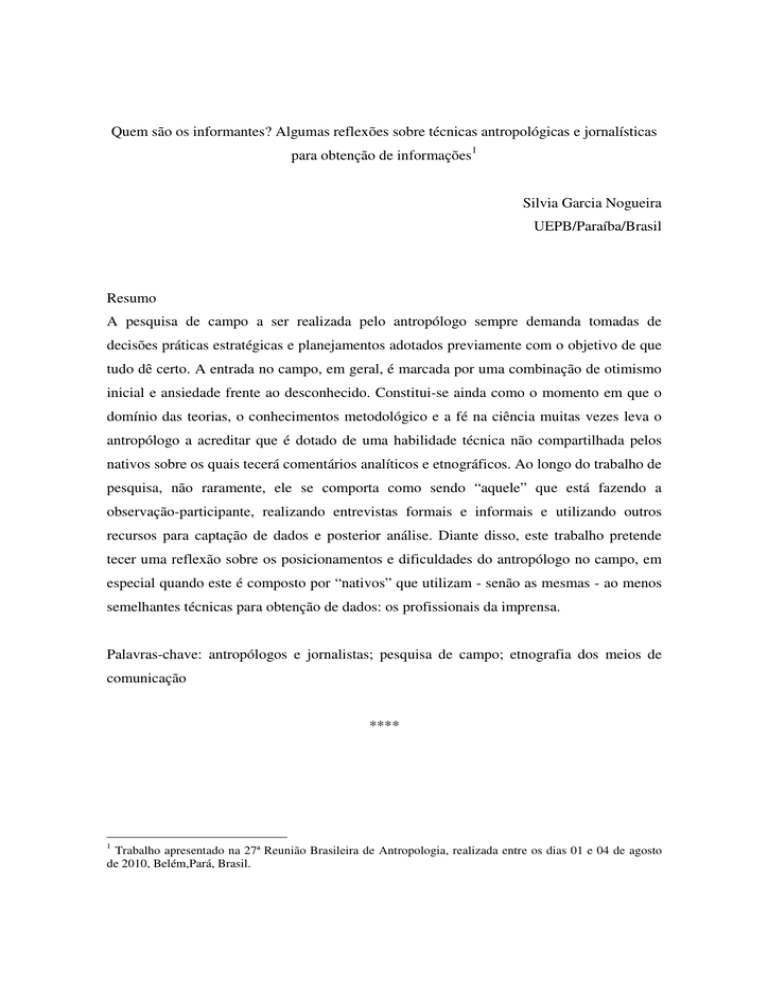
Quem são os informantes? Algumas reflexões sobre técnicas antropológicas e jornalísticas
para obtenção de informações1
Silvia Garcia Nogueira
UEPB/Paraíba/Brasil
Resumo
A pesquisa de campo a ser realizada pelo antropólogo sempre demanda tomadas de
decisões práticas estratégicas e planejamentos adotados previamente com o objetivo de que
tudo dê certo. A entrada no campo, em geral, é marcada por uma combinação de otimismo
inicial e ansiedade frente ao desconhecido. Constitui-se ainda como o momento em que o
domínio das teorias, o conhecimentos metodológico e a fé na ciência muitas vezes leva o
antropólogo a acreditar que é dotado de uma habilidade técnica não compartilhada pelos
nativos sobre os quais tecerá comentários analíticos e etnográficos. Ao longo do trabalho de
pesquisa, não raramente, ele se comporta como sendo “aquele” que está fazendo a
observação-participante, realizando entrevistas formais e informais e utilizando outros
recursos para captação de dados e posterior análise. Diante disso, este trabalho pretende
tecer uma reflexão sobre os posicionamentos e dificuldades do antropólogo no campo, em
especial quando este é composto por “nativos” que utilizam - senão as mesmas - ao menos
semelhantes técnicas para obtenção de dados: os profissionais da imprensa.
Palavras-chave: antropólogos e jornalistas; pesquisa de campo; etnografia dos meios de
comunicação
****
1
Trabalho apresentado na 27ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 01 e 04 de agosto
de 2010, Belém,Pará, Brasil.
- É melhor nós irmos para o estúdio de gravação, que a qualidade da gravação fica
melhor.
- Tá bom. [no estúdio] Tô gravando.
- [com voz impostada] Eu sou (nome) e hoje é dia (data). [Desligando o gravador] Vamos
ver se a gravação ficou boa.[ouvindo a gravação]. Está ótima. Vamos continuar.
O diálogo acima poderia ter sido travado entre um repórter e sua fonte, em uma
situação de entrevista cotidiana. No entanto, ele ocorreu durante uma pesquisa de campo
realizada em Ilhéus, no Sul da Bahia, em 2002, envolvendo um radialista e eu, antropóloga
que realizava entrevistas gravadas sobre trajetórias de vida dos radialistas atuantes no
município, dentro de uma investigação sobre o universo radiofônico local.
Longe de ser um acontecimento episódico, ao longo do processo de realização das
cerca de 60 entrevistas, cena semelhante se repetiu várias vezes. Os informantes
preocupavam-se com a qualidade da gravação, com a impostação de suas vozes, com a
clareza das frases, com a inteligibilidade do que diziam e alguns pediam que certas
passagens de seus relatos fossem consideradas em off (ou seja, não fossem publicizadas,
tratadas como sigilosas).
No desenrolar das entrevistas, ao lado de minhas perguntas, figuravam indagações
deles sobre minha trajetória, minha vida e minha opinião sobre os mais diversos assuntos,
proferidas em tons às vezes formais às vezes não. Nesses encontros, claro, em geral,
procurava retornar a meus propósitos iniciais de ouvi-los e tentar compreender suas
interpretações de si e do mundo que o cercavam, além de aprofundar algum fato ocorrido
pouco compreendido por mim somente com a observação. Mas isso ocorria somente em
parte das entrevistas.
Ao longo de várias delas, conseguia perceber a inversão de papéis quando eu
respondia como se fosse a informante e os entrevistados como se fossem os interessados em
me conhecer. Na verdade, atuei realmente como informante - preocupada com o que eu iria
dizer, com o que iriam achar, com o meu tom de voz - e eles pareciam mesmo estar
interessados no que eu tinha a dizer, formulando perguntas encadeadas e aprofundando
alguns assuntos sobre os quais tinham mais interesse. Eu simplesmente me deixava levar,
respondendo às perguntas e comentários nativos. Confesso que várias vezes nos instantes
mesmos em que as entrevistas se desenrolavam, deixei-me capturar por meus
interlocutores: fui seduzida por tons de vozes2, por perguntas bem formuladas e tinha a
preocupação de responder algo que não desagradasse a eles.
Ao reler anos depois meu diário de campo - no qual depois de algumas dessas
situações registrei a sensação recorrente que qualifiquei na época como estranha -, a
experiência em Ilhéus me levou a refletir sobre as técnicas de coleta de dados junto a
jornalistas3 e radialistas, ao longo de mais de uma década de estudo antropológico sobre os
meios de comunicação de massa, particularmente com abordagem etnográfica, e alguns
anos de experiência como jornalista.
Esse passeio intelectual me estimulou a pensar sobre as especificidades
metodológicas de se realizar pesquisas junto a grupos que possuem técnicas profissionais
semelhantes - no caso, jornalistas/radialistas e antropólogos -, embora os objetivos
norteadores dessas práticas sejam bem diversas.
Diante disso, este trabalho corresponde a uma tentativa inicial de reflexão sobre os
pontos de convergência entre o ofício de jornalista/radialista e o de antropólogo, a partir do
domínio de algumas técnicas utilizadas para a obtenção de informações, e alguns efeitos
dessa interseção sobre a pesquisa etnográfica do campo jornalístico/radiofônico.
Para isso, além das minhas próprias vivências, três textos serão adotados como
referências principais: o artigo “Reflexões sobre como fazer trabalho de campo”4, do
antropólogo Carlos Rodrigues Brandão (2007); o livro A Arte de Entrevistar Bem, da
jornalista Thaís Oyama (2009); e a comunicação da jornalista e antropóloga Isabel
Travancas, “Jornalistas e antropólogos – semelhanças e distinções da prática profissional”
(2002).
A escolha dos dois primeiros autores se baseia na percepção de que ambos
expressam interpretações nativas compartilhadas por cada um dos campos a respeito de
como antropólogos e jornalistas em formação devem proceder no desempenho de suas
2
Para uma análise mais completa sobre a importância das vozes (tons, timbres, dicção, etc.) no universo
radiofônico ver Nogueira (2005, capítulo 5).
3
Os jornalistas foram tema de investigação durante uma pesquisa realizada no mestrado, que resultou na
dissertação intitulada A construção das notícias em dois jornais cariocas: uma abordagem etnográfica, no
Museu Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, defendida em 1998.
4
Na verdade, o artigo publicado na revista Sociedade e Cultura v. 10, n. 1, jan/jun, 2007, p. 11-27, é uma
transcrição de uma entrevista gravada com o autor por Niuvenius Paoli, cujo objetivo seria transmitir a
professores e alunos da Universidade Federal de Minas Gerais práticas de campo. Ela ocorreu no início da
década de 1980, com Roberto Lima observa no artigo ao apresentar a transcrição editada.
principais atividades profissionais no que se referem à coleta de dados – a pesquisa de
campo, no primeiro caso, e a entrevista, no segundo. No caso de Travancas, por se
constituir já uma reflexão sobre essa aproximação entre o fazer jornalístico e o fazer
antropológico.
Este trabalho, portanto, divide-se em três partes. A primeira traz experiências
etnográficas pessoais a partir de pesquisa realizada junto a jornalistas e radialistas. A
segunda parte procura apresentar superficialmente algumas técnicas e atitudes semelhantes
a antropólogos e jornalistas no que se refere à coleta de dados. Finalmente, na terceira parte
procura-se dialogar com o trabalho de Travancas, focalizando uma reflexão metodológica
sobre o encontro entre o campo jornalístico/radiofônico e o antropológico.
Antes, durante e depois: técnicas e atitudes para coleta de dados
Antes de entrar no campo ou realizar uma entrevista, antropólogos e jornalistas
compartilham o que pode ser entendido como um “dever de casa”, ou seja, um
procedimento obrigatório para que seu trabalho tenha boa qualidade (científica ou
jornalística): conhecer e ter lido obras e documentos que versem sobre o objeto de
investigação, dominar teorias e técnicas úteis à captação e análise de informações, conhecer
o máximo possível sobre o “outro” (nativos e fontes, e o universo social no qual estão
inseridos) de quem se extrairá dados. Em poucas palavras, é indispensável a realização de
uma pesquisa anterior sobre quem ou o que se pretende conhecer.
A esse respeito, tanto Brandão quanto Oyama, didaticamente apresentam seus
próprios passos iniciais. Brandão (2007:23) relata que quando chega numa comunidade,
procura, “em primeiro lugar, chegar com algum conhecimento prévio”. Oyama diz que
antes de fazer uma entrevista, “seja ela de informação ou de perfil”, mergulha na leitura da
maior quantidade possível de material publicado sobre e pelo entrevistado. “No caso da
entrevista-perfil, aquela em que o foco está no entrevistado e não no assunto do qual ele
trata, gosto também de conversar antes com seus amigos e inimigos” (Oyama 2007:15).
Isso porque, como analisa a jornalista, a entrevista bem-sucedida é resultado de um
conjunto de fatores que, “desgraçadamente, independe do repórter”. Mas, entre as
“variáveis que determinam o destino de uma entrevista, a única que é de exclusivo domínio
do repórter, excetuando-se, evidentemente o seu talento, é a pesquisa” (2009:13). E nisso
também se assemelha às incertezas do ofício antropológico: quando se entra em um campo
pela primeira vez, nunca se sabe como ele será, não existem resultados esperados nem
hipóteses a serem confirmadas. Também não é possível prever de que forma observadores e
observados, analistas e nativos, irão interagir, nem em que bases.
Particularmente no que se refere à situação de entrevista, e o tipo de interação social
entre os agentes, Brandão e Oyama classificam em seus trabalhos os diferentes tipos de
entrevistas ou de entrevistados, trazendo informações pessoais sobre como se comportam
quando entrevistam alguém.
O antropólogo aponta três tipos de entrevistados: 1) entrevistado de dado (pobre de
experiência, ou fechado, de quem se extrai poucos dados; 2) o informante que dá material
crítico, sujeito que fala, que explica, que interpreta fatos e conta história de vida; 3) o
informante especialista, que produz dados populares com precisão, entende profundamente
da coisa e fala como um especialista (Brandão 2007: 20-21).
Do ponto de vista do procedimento da entrevista em si, faz perguntas coladas no
que o informante dizia, utilizando categorias das pessoas, e ainda perguntas com um roteiro
pré-definido - mas mesmo nesses casos diz respeitar o entrevistado e suas categorias. Sua
preocupação é com a resposta de espelho, em que ele vai responder para o analista aquilo
que ele quer dizer, porque é aquilo que o analista quer ouvir (:26).
A jornalista qualifica os tipos de entrevista pelos objetivos a elas relacionados.
Citando Nilson Lage (2006), para quem existem nesse sentido, quatro categorias de
entrevistas (ritual, temática, testemunhal e em profundidade5), Oyama (2009:8) prefere
resumir a dois tipos principais:1) a de informação e 2) a de perfil (mostrar quem é o
entrevistado).
A relação com o entrevistado no ato da entrevista também se aproxima do relato de
Brandão: as questões relativas às entrevistas são mais “tópicos e lembretes” (:16) do que
um conjunto fechado de perguntas precisas, para não afetar a “naturalidade” existente entre
observador e observado.
5
Entrevista ritual seria quase uma formalidade, breve e “feita em pé”; temática é aquela em que o
entrevistado fala sobre algo que supostamente domina; testemunhal é aquela em que o entrevistado fala sobre
algo que participou ou assistiu; e em profundidade corresponde aquela em que o foco esta no entrevistado,
em sua atividade ou sua personalidade (Oyama 2009:8).
Outro passo importante para um bom trabalho de campo ou uma boa entrevista
depende do modo como se chega. Brandão relata que costuma “passar algum tempo de
‘contaminação’ com o local”, não entra diretamente em relação de pesquisa, e que procura
“espreitar” o contexto a partir do que ele chama de primeiro nível, o “sentir”. Mas o que se
sente? “Como é que o lugar é, como é que as pessoas são, como é que eu me deixo
envolver” (:13-14).
Sob certos aspectos, e guardada as devidas proporções em relação ao fator tempo
para antropólogos e jornalistas/radialistas6, Oyama também aponta para a importância de se
quebrar o gelo, aquele momento anterior à entrevista propriamente dita: para a autora, uma
entrevista deve ser uma conversa, e esta para começar, “exige um mínimo de cordialidade,
simpatia e palavras jogadas fora”(:24).
Outro elemento fundamental para as relações que se estabelecem entre aqueles de
quem se extrai informações e os que as coletam é a empatia. Como lembra Favret-Sadah
(2005), existem duas acepções para o termo: uma que supõe a distância, a partir da
experimentação indireta de sensações, percepções e pensamentos do outro; a segunda
relacionada à instantaneidade da comunicação que, na fusão com o outro, lhe permite
conhecer por mecanismos de identificação os afetos de outrem.
Tanto jornalistas quanto antropólogos estão de acordo que “as conversas” – para
usar o termo de Oyama – tornam-se mais interessantes e proveitosas quando há empatia,
pois a partir dela fica mais fácil o estabelecimento de uma relação de confiança e
credibilidade entre nativos e antropólogos (condição fundamental para a realização da
pesquisa), repórteres e fontes.
Durante a coleta de um depoimento, seja para obter informações gerais, traçar perfil
ou tecer trajetória de vida, um instrumento de coleta de dados em especial gera reflexão
prévia sobre seu uso: o gravador. Gravar ou não uma entrevista ou um depoimento provoca
debate acadêmico-profissional entre jornalistas7 e antropólogos. Os principais problemas
detectados relacionam-se à inibição e ao cuidado excessivo do entrevistado com o que vai
6
Em geral, as atividades de jornalistas e radialistas lidam diferentemente com o fator tempo. Para Travancas
(2002), o antropólogo “não corre atrás do tempo como o jornalista”, já que não sofre a pressão de um dead
line (prazo final para se executar um trabalho) tão apertado (ver também Pereira 1998 sobre o tempo no
jornalismo), já que o trabalho de campo não se resume a “algumas horas de conversa com os entrevistados”.
Como a autora nos lembra, há o “tempo da partida e o da volta, da pesquisa e da escrita, e entre eles há o
tempo da reflexão” .
7
No caso dos radialistas em particular a gravação é um item indispensável no exercício profissional.
dizer, podendo levar ao efeito espelho de que fala Brandão. Diante da possibilidade de
registro formal do que se conta, a falta de espontaneidade do informante quase sempre é o
risco a ser enfrentado. Além disso, como lembra Oyama, ainda podem ocorrer problemas
técnicos: a não gravação ou a gravação com baixa qualidade sonora por problemas técnicos
das mais diversas naturezas (bateria fraca, ruído exterior, defeito mecânico, etc.).
Por outro lado, do ponto de vista positivo, a fala do entrevistado é preservada tal
como é, o entrevistador pode se concentrar mais na entrevista ou coleta de depoimento, e
como ficou registrado, pode voltar à gravação sempre que quiser, podendo corrigir sua
própria performance (Oyama 2009:19). Além da prática de se ouvir que é compartilhada –
o que “me mostra falhas”, segundo Brandão (2007:22) -, a gravação possibilita a
preservação da “riqueza” do discurso para o antropólogo (:21).
Com exceção de uma reportagem investigativa, no caso de jornalistas, ambos os
profissionais avisam sobre a utilização do gravador e tendem a respeitar, por uma questão
ética, um pedido de off-record (não identificação da fonte ou supressão de algum trecho).
Uma alternativa ou mesmo um instrumento tão ou mais importante que o gravador
é o bloco de anotações do jornalista e o diário de campo do antropólogo8. Brandão, assim
como quase todos os antropólogos, procura anotar o que observa no campo, de modo
descritivo inicialmente – “descrever a banalidade do cotidiano” (2007:15) – e, depois, de
modo mais articulado, conforme sua compreensão de “determinadas organizações e
relações” vá aumentando. Paralelamente ao registro de uma descrição densa – para utilizar
o termo clássico de Geertz (1989) -, registra-se ainda impressões, sentimentos e digressões
do pesquisador9.
No jornalismo, não raramente mesmo aqueles que gravam suas entrevistas
costumam ainda registrar as informações em bloco de anotações. Em geral, ao contrário do
diário de campo do antropólogo, os dados anotados tendem a ser codificados e sucintos,
pela pressa e pelo fato de que, depois daquelas anotações serem publicadas sob forma de
matérias, entrevistas ou o que for, tendem a perder seu sentido.
8
Embora aqui estejamos tecendo comparações superficiais entre o bloco de anotações do jornalistas e o
diários de campo de antropólogos, acredita-se que o diário de campo na Antropologia e na produção de
etnografias possui para a Antropologia importância simbólica e metodológica mais central do que a posição
que o bloco de anotações ocupa no campo jornalístico.
9
Exatamente por funcionar também como um diário íntimo, quando seu conteúdo se torna público por algum
motivo, em geral a aura científica construída em torno do antropólogo sofre impactos, tal como o clássico
diário de Malinowski.
Oyama (2009:20-21) vê as seguintes utilidades do uso do bloco: 1) funciona como
backup caso o gravador de algum problema e ajuda a “rememorar a conversa”; 2) o lado
interno da capa pode ser utilizado para anotar as perguntas ao entrevistados longe de seus
olhares; 3) serve para registrar os raciocínios não finalizados pelo entrevistado e
eventualmente retornar a esses pontos; 4) funciona como roteiro para edição da entrevista;
5) pode sinalizar mensagens para o entrevistado.
O momento final, que fecha o ciclo do trabalho antropológico ou jornalístico, é o da
edição
10
na escrita. Nela, escolhe-se o que descartar e o que reter, o modo de encadear as
informações coletadas, a organização final do texto, e insere-se outros dados pertinentes e
interpretações sobre o todo. Para isso utiliza-se tanto teorias (no caso antropológico),
quanto dados provenientes de outras fontes.
Quando se tratam de entrevistas e depoimentos gravados, jornalistas e
antropólogos tendem a proceder do mesmo modo: ao fazerem a transcrição da fita, tendem
a já organizar os conteúdos por blocos de assunto, para facilitar o trabalho na escrita do
texto.
Sobre a escrita em si – tema amplamente discutido por teóricos da Comunicação e
da Antropologia -, como bem resumido por Travancas (2002)11, a principal discussão
ocorre em torno da objetividade ou subjetividade do texto. E nisso a intenção da distância
entre os dois campos é particularmente desejável pelos antropólogos, para os quais, como
observa a autora, o textos jornalístico é superficial e descartável, de consumo imediato.
Apesar disso, é interessante notar um ponto de interseção para além de tais
discursos de diferenciação. O bom texto jornalístico para os próprios jornalistas é aquele no
qual existe de algum modo um componente subjetivo que o particulariza dos demais – uma
percepção, um olhar e eventualmente até a revelação pessoal dos sentimentos do repórter
que participou do acontecimento no instante em que este se desenrolava. Para os
antropólogos, o bom texto é aquele que exatamente por explicitar ao máximo a
10
Embora antropólogos não utilizem o termo, na verdade é isso o que se faz no momento da escrita da
etnografia. No caso dos radialistas, também são realizadas edições sonoras, ou seja, seleciona-se o que irá ao
ar e o que será descartado.
11
Alem da própria autora, em trabalho anterior (2005) teço um panorama sobre essa discussão,
particularmente em relação ao campo jornalístico. Geertz (1989), Rorty (1991), Cardoso (1986), Velho (1978)
são alguns dos muitos que discutiram essa questão no que se refere à Antropologia.
subjetividade que a experiência da observação-participante no campo pressupõe12 - e,
portanto, revelar o ponto de vista adotado para tecer a análise, incluindo-se como parte -,
consegue alcançar o nível de objetividade científica desejada, podendo ser utilizado para se
pensar teoricamente outros contextos culturais semelhantes.
Etnografando jornalistas e radialistas
Talvez uma das frases que mais li e ouvi repetidamente em textos e aulas
expositivas de Antropologia nas graduações em Comunicação Social e Ciências Sociais,
sobre a tarefa do antropólogo, tenha sido: “transformar o exótico em familiar e o familiar
em exótico”, de Roberto Da Matta (1974). Paralelamente, durante a faculdade de
jornalismo, íamos recebendo treinamento para perceber ou o que era extraordinário ou o
que era muito comum, compartilhado.
Foi com esses pressupostos profissionais que me lancei pela primeira vez na
pesquisa etnográfica junto a jornalistas de duas grandes redações de jornais do Rio de
Janeiro, durante o mestrado. Tratava-se da minha primeira experiência como antropóloga,
uma identidade que ia sendo construída aos poucos, já que até aquele momento eu ainda me
via como jornalista.
Durante o Doutorado, já antropóloga, parti para Ilhéus, no Sul da Bahia, para fazer
uma etnografia sobre os meios de comunicação locais. O foco final da tese recaiu sobre o
universo radiofônico e seus múltiplos significados.
Comparando os campos, tomando como referência a técnica da observaçãoparticipante, pode-se dizer que no primeiro fui mais observadora e no segundo mais
participante. A familiaridade apontada por Da Matta e discutida por Velho (1981), entre
outros autores, esteve presente sempre: ora eu simplesmente observava acontecimentos que
não me eram completamente estranhos (as técnicas de entrevistas, redação, os ciclos das
atividades nas redações marcados pelo tempo), ora desempenhava um papel que já havia
desempenhado antes como jornalista (apurar algum dado, escrever algum texto, entrevistar
por telefone, atender uma fonte ou uma fã, no caso do rádio) e ora era solicitada no campo
como uma especialista ou uma companheira de trabalho (tecendo opiniões sobre um
12
Sem necessariamente resultar na etnografia do próprio antropólogo, numa autobiografia em que ele aparece
mais que o grupo estudado.
programa de televisão no ar, participando de um debate como uma estudiosa dos meios de
comunicação, ajudando a produzir programas de rádio).
Minha apresentação ao dar início à pesquisa variou. Nas redações de jornal no Rio,
me apresentei como estudante de antropologia que estava fazendo pesquisa sobre o
cotidiano da produção de notícias. Somente no meio do trabalho de campo revelei que era
jornalista, apesar do conhecimento do fato por alguns que eu conhecia previamente e que
trabalhavam em editorias diferentes das que acompanhei de perto - a editoria Geral, em um
jornal, e a Nacional, em outro, lembrando que uma redação era composta por cerca de 100
profissionais e a outra por cerca de 300 pessoas.
No caso de Ilhéus, me apresentei como alguém que estava fazendo pesquisa sobre
os meios de comunicação locais, e meus interlocutores logo deduziram que eu era da área
de comunicação13. Não neguei, e vários dos nossos diálogos iniciais variaram em torno da
posição que eles achavam que eu ocupava naquele universo: como uma pessoa de dentro e
como alguém de fora, mas não tão de fora assim.
Em ambos os contextos, procurei fazer um pouco diferente do que em geral se
recomenda. No caso das redações cariocas, antes de entrar no campo, procurei me
distanciar do objeto de pesquisa. Ele me era muito familiar. A estratégia adotada para a
construção de um mínimo de distanciamento ocorreu principalmente pela não leitura de
bibliografia sobre o tema. Como as regras, os pressupostos e os valores profissionais de
algum modo ainda estavam interiorizados pela minha atuação como repórter - no período
que antecedeu os cinco meses de trabalho de campo - optei por ter o mínimo de contato
com o assunto, investindo mais tempo em textos gerais e teóricos de antropologia.
No caso da etnografia realizada em Ilhéus, como as atividades no rádio me eram
menos familiares, minhas leituras se voltaram mais para conhecer a história da região, da
cultura do cacau e seus significados sociais do que para os meios de comunicação, embora
eu já o tivesse feito na ocasião da volta do campo nas redações de jornais. Sobre rádio, na
época, conhecia apenas o que me foi ensinado na cadeira de Radiojornalismo.
Em ambos os casos, minha opção metodológica sempre foi me deixar contaminar
(tomando emprestado o termo de Brandão) no período inicial e confesso que durante quase
13
Com o passar do tempo expliquei que a pesquisa tinha um enfoque diferente do da Comunicação, e que não
estava ali para julgar o trabalho deles – o que alguns profissionais pensavam no início de nossas interações.
toda a pesquisa. Foi essa contaminação que me permitiu também ser afetada (agora para
usar o termo de Favret-Sadah), particularmente durante a pesquisa entre os radialistas.
Nas redações de jornal, em um primeiro momento, pela própria dinâmica local, eu
observava muito – passava mais de dez horas fechada nas redações durante 5 ou 6 dias da
semana -, reparando nos ritmos, nos comportamentos e eventualmente falando com alguém
que em alguns raros momentos tinha disponibilidade para conversar.
Duas vivências no campo exemplares, entretanto, quebraram o gelo (o termo agora
foi emprestado de Oyama) e me fizeram lembrar da “tarefa antropológica” relativa ao
familiar e ao exótico, e de como às vezes fica muito difícil perceber o que é familiar e o que
é exótico, o que significa ser afetada e perder o “controle” nesse sentido.
Uma delas ocorreu no dia das eleições em um dos jornais, o maior, no qual toda a
redação estava voltada para a cobertura desse acontecimento: repórteres haviam sido
deslocados de outras editorias para acompanhar candidatos, apurações e outras pautas. Na
Nacional, que englobava a editoria de Política, o ritmo era frenético. Repórteres saiam e
chegavam às redações o tempo todo, a cada apuração ou incidente iniciava-se novo enfoque
e deslocamento para acompanhar o ocorrido, entrevistas foram feitas por telefone e assim
foi o dia inteiro até o primeiro fechamento14. O segundo, terceiro e o quarto (em geral vai
até o segundo) foram mais tranqüilos, correspondendo principalmente a atualizações de
dados de resultados eleitorais. O último terminou cerca de 4 horas da manhã.
Durante esse dia, e já mais próxima do próprio grupo, que a essa altura sabia que eu
havia sido jornalista, no momento das atividades mais intensas de apuração das notícias,
ofereci minha ajuda para uma repórter na redação, menos por interesse na pesquisa em si do
que pelo compartilhamento da angústia do deadline que se aproximava. Ela nem chegou a
me responder verbalmente: me passou o telefone avisando que eu estava entrevistando
Denise Frossard, juíza na época com fama de durona e que havia proferido discursos na
imprensa sobre a Lei Seca (que proibia a venda de bebidas alcoólicas durante o dia das
eleições). A repórter me passou dois pontos - escritos em uma folha do bloco de anotações
- que ela queria que eu abordasse para que pudesse completar a matéria sobre a Lei Seca.
Claro que, além desses pontos, fiz outras perguntas. Depois disso, auxiliei ainda em mais
14
Fechamento é o termo nativo que indica que o processo de produção na redação terminou, e que o conteúdo
não pode mais ser modificado, pois o passo seguinte é a impressão do jornal. Para mais informações ver
Pereira (1998).
tarefas e, no final de tudo, lá pelas 4h30 do dia seguinte, fui convidada para tomar um
chope com a galera num bar de encontro de jornalistas no Leblon (zona sul do Rio de
Janeiro).
Outro episódio, registrado como menos agradável do que esse, foi o dia em que
tomaram de minhas mãos em uma reunião de editoria o meu diário de campo. Eu
participava dessa reunião e, ingenuamente, anotava as informações que considerava
relevante. Em um momento tenso da reunião, fiz o que sempre fazia: escrevi o que estava
acontecendo. O editor, que acabara de falar, notou meu registro e muito rapidamente
quando me dei conta o diário estava sendo lido para os presentes, em especial um trecho
que continha uma frase de um dos presentes. O comentário de um deles foi: “ela escreve até
palavrões”. Cabe esclarecer que este fato ocorreu antes do anterior. E que rendeu a fama na
redação de espiã – que foi como alguns me chamavam -, até esse status se modificar
definitivamente com a participação no episódio anterior do chope com a galera.
Ambas as experiências interpretadas com olhares atuais deixaram claro para mim
que minhas habilidades como jornalista ajudaram no primeiro caso relatado, fazendo com
que me aproximasse do grupo, por ter sido naquele instante considerada um deles.
Diferentemente, no segundo, meus condicionamentos jornalísticos fizeram com que eu os
tratasse como fontes de informações, tal como numa cobertura da imprensa comum, como
se tivesse cobrindo a reunião. E nesse caso, involuntariamente, fiz com que eles se
sentissem na posição de fontes e de observados, e não como agentes da observação.
Penso que parte desses resultados junto ao grupo pode ser explicada pelo domínio
de um savoir-faire de técnicas comuns a antropólogos e jornalistas: realização de
entrevistas, importância da clareza e precisão da comunicação, a anotação e o registro em
um bloco ou um diário, a empatia entre os interlocutores. Por trás delas, a avidez pelo
conhecimento da vida alheia e a transmissão dela para um público (massivo ou científico),
a adoção de uma posição de distanciamento e objetividade um tanto superior construída a
partir da percepção de quem é que relata e analisa o que vê e vivencia, a consciência dos
significados da diferença do papel de observador em relação ao de observado, o pleno
conhecimento das possibilidades de uso de depoimentos gravados e paralelamente as
possibilidades de um processo judicial por alguém que se sinta prejudicado.
A experiência junto a radialistas15 teve em comum com os jornalistas a adoção
inicial de contaminação, sentir antes o lugar, as pessoas e aceitar o lugar que me
destinavam: primeiro de estudiosa especialista no campo da comunicação, depois como
alguém que entendia o ofício mesmo não dominando as técnicas específicas do rádio, e
finalmente como alguém da casa (como passei a ser apresentada e tratada) que passara por
um processo de aprendizado (chegaram a me oferecer emprego, o que gerou um mal estar
entre alguns profissionais e eu, o que obviamente me levou a deixar claro que minha
intenção em Ilhéus era pesquisar e não trabalhar).
Para discutir o tema deste trabalho, ao contrário da pesquisa nas redações em que
escolhi dois casos exemplares para analisar, nas rádios foi o cotidiano, aqueles
acontecimentos banais e repetitivos que me levam a refletir sobre técnicas e atitudes
compartilhadas por jornalistas e antropólogos.
Particularmente ao longo do meu primeiro trabalho de campo, em que o ponto de
contato entre eu e os profissionais das rádios eram os meios de comunicação – eles porque
trabalhavam em um, e eu porque era estudiosa do assunto -, os temas da neutralidade, da
(im)parcialidade e da objetividade sempre eram levantados por eles. Todos diziam que
esses eram elementos importantes no exercício profissional, que buscavam isso, mas que a
realidade era bem diferente. Alguns achavam que esses pressupostos profissionais só
aconteciam nas capitais, outros que nem nas capitais.
Chamava a atenção, porém, que eles tenham imaginado que essa era uma questão
importante para mim, dando a impressão que eu estaria avaliando seus desempenhos em
função desses quesitos16. Por outro lado, essa também parecia ser uma questão importante
para eles, mesmo que esses ideais profissionais não fossem reconhecidos como presentes
no cotidiano de suas atividades. Desse modo, a fala do ouvinte no ar sendo colocada sob a
classificação de “opinião” em contraposição à fala do locutor como “apresentação do caso”
ou a transmissão de diversas versões de um acontecimento são alguns desses procedimentos
estratégicos adotados.
15
Ao todo, o trabalho de campo durou cerca de um ano, dividido em dois momentos nos anos de 2000 e 2002.
Era recorrente a pergunta que me faziam a respeito da qualidade do trabalho deles, comparando-se com o
de radialistas no Rio de Janeiro. Em resposta, sempre procurei deixar claro que não estava realizando
nenhuma comparação, e que não acreditava nem imparcialidade nem em neutralidade da imprensa em lugar
nenhum. Posicionando-me abertamente, declarei com sinceridade achar que quanto mais explícitas fossem as
posições adotadas pelos veículos de comunicação, mais honestas seriam as atividades desenvolvidas para
atingir os públicos consumidores de informações.
16
Esse procedimento não era muito diferente do que os antropólogos fazem de ouvir
os vários lados e diversas interpretações dos fatos. Em minha pesquisa, fiz isso o tempo
inteiro colocando em diálogo as várias visões de radialistas das cinco emissoras locais
pesquisadas. Conscientes desse processo também necessário à minha investigação em si,
me consultavam sobre a opinião dos colegas, mas me respeitavam por alegar o off-record17
a que todos tinham direito – desrespeitar essa regra antropológica (o anonimato dos
informantes) e jornalística (o direito ao sigilo quando pedido) significaria ferir um valor
ético básico e fundamental.
Ao longo do tempo, fui deixando de ser ouvida como especialista e passei a
desempenhar várias atividades, em especial em uma das emissoras AM. Passei a pagar
contas, abrir a emissora quando a secretária responsável por isso precisava faltar ao
trabalho (ela era responsável pela chave), atendia ouvintes e participava de programas no
ar, falando diretamente no microfone ou dentro do estúdio quando um locutor se referia a
mim e minhas opiniões nos bastidores, ajudava a produzir programas dando palpites.
Particularmente sempre que eu falava no ar – sendo vista mais como participante –
ou que realizava uma gravação sobre trajetórias de vida de radialistas – sendo vista,
portanto, como pesquisadora -, os radialistas (em especial os locutores) me davam dicas
sobre minha comunicação oral: que eu deveria falar mais devagar, tomar cuidado com o
“s”, que um bom exercício seria ler com um lápis entre os dentes para melhorar minha
dicção. Especificamente antes das gravações dos depoimentos, eles tendiam a escolher os
lugares mais silenciosos para não afetar a qualidade do som, testavam ou indicavam que eu
fizesse um teste antes com o gravador, impostavam suas vozes (e esperavam que eu fizesse
o mesmo) e, tanto quanto eu, faziam perguntas e respondiam.
Do mesmo modo como no dia das eleições durante o campo no Rio de Janeiro, eu
simplesmente me deixava levar. As ações deles e minhas próprias faziam sentido para mim,
tanto como jornalista quanto como antropóloga. Sendo afetada ou talvez reafetada – já que
revivi em situações diversas e com outras pessoas algo que já me era bastante familiar
como profissional, mas que no processo de construção de minha identificação como
17
Embora no repertório antropológico o termo não seja esse, já que o anonimato é praxe na pesquisa
antropológica para que as vidas das pessoas sejam preservadas, eu utilizava a categoria nativa por
compreender que eles entenderiam que o que estava em jogo entre observadora e observados era uma relação
de confiança semelhante ao que pode ser estabelecido entre jornalistas/radialistas e suas fontes.
antropóloga andava adormecido em algum lugar. Ou seja, voltei a fazer parte e a sentir que
pertencia ao universo social jornalístico, compartilhando vários de seus elementos (valores,
preocupações, domínio de técnicas, comportamentos), sem deixar, contudo, de sentir que
apesar disso também era antropóloga, já que estava diante de técnicas e formas de jogar o
jogo da interação social parcialmente comuns.
Jornalistas e Antropólogos
Peirano (1992:12), ao refletir sobre o papel da etnografia no campo antropológico,
chama a atenção para o fato de que o diálogo das teorias dos antropólogos com as teorias
nativas ocorrem “no antropólogo”. Para ela, “o processo de descoberta antropológica” é um
“‘diálogo’, não entre indivíduos – pesquisador e nativos – mas, sim, entre a teoria
acumulada da disciplina e o confronto com uma realidade que traz novos desafios para ser
entendida e interpretada; um exercício de ‘estranhamento’ existencial e teórico”.
Quando, no entanto, esse diálogo ocorre, sim, entre indivíduos reais tanto quanto
entre “teoria acumulada da disciplina” e “o confronto com uma realidade”, algumas das
categorias clássicas da Antropologia tornam-se menos delineadas: quem observa pode
transformar-se no observado, quem detém (ou acredita que detém) o controle sobre os
dados (o etnógrafo) pode ser manipulado pelo objeto (nativos) e responde-se a
determinadas situações não como se fosse um nativo a partir da empatia, mas naqueles
momentos sendo um, ou ao menos sentindo-se um deles, ou sendo percebido como um de
casa.
Uma das explicações, compartilhada com Travancas (2002), é que embora
jornalistas e antropólogos sejam profissionais com objetivos, métodos e visões de mundo
distintas18, é possível “reuni-los na categoria mais ampla de mediadores”19. E como tal,
18
Creio que no caso de antropólogos jornalistas ou jornalistas antropólogos essa distinção seja menos
marcada do ponto de vista da percepção de si em sua relação com um outro que é diferente mas ao mesmo
tempo muito familiar.
19
A autora (:2)diz ainda: “Entendo aqui mediação como fenômeno sociocultural, como afirma G. Velho
(2001:9), o qual, a partir da interação entre os indivíduos, produz e possibilita a troca e a comunicação.
Jornalistas e antropólogos estão o tempo todo vivenciando em suas práticas profissionais o papel de
mediadores, na medida em que a vida em sociedade se dá através das diferenças, e estes dois profissionais
estão intermediando relações entre diversos grupos e categorias sociais. Eles podem ser vistos como elo entre
distintos universos de significação. A diferença, conceito fundamental e definidor para a antropologia, tem
também um papel importante na construção da notícia, se pudermos associar a novidade a um fato original ou
incomum”.
compartilham algumas técnicas, pressupostos e comportamentos semelhantes. A
comparação entre as orientações elencadas por Brandão e Oyama para os iniciantes no
Jornalismo e na Antropologia assim o mostram.
Como Travancas observa com agudeza perspicaz, para poder transitar por distintas
esferas, jornalistas e antropólogos precisam “desenvolver um sentimento de familiaridade
com todos os locais e acontecimentos”, precisam se contaminar ou quebrar o gelo, como
dizem Brandão e Oyama. Para Travancas, essa desenvoltura possui relação direta com o
fato de que “a sociedade tem relevância”.
Além das diferenças apontadas pela autora, o tempo possui significados simbólicos
distintos no Jornalismo e na Antropologia: o jornalismo se define por uma relação bastante
estreita com o tempo, e é ele que ajuda a definir o que é notícia (e possui valor) e o que é
velho (e deve ser descartado). A Antropologia, por sua vez, busca a “permanência”, a
“solidez que o saber científico propicia” (:10). O texto em si e a presença/ausência da
subjetividade/objetividade na escrita jornalística e antropológica também seriam pontos de
distanciamento, embora ela acredite um tenha muito a aprender com o outro.
E nesse sentido, Travancas, nas “Conclusões” de seu artigo, citando Robert Park
(um dos fundadores da Escola de Chicago), lembra que para ele, “que nunca negou seu
passado como jornalista”, o sociólogo, o cientista social, era um tipo de “super repórter”
(:11).
Em minha experiência particular etnografando os meios de comunicação e os
profissionais da imprensa, penso que fui afetada ou reafetada várias vezes. Algumas das
conseqüências (ou sinais) disso tornaram-se evidentes no campo e mesmo depois dele. No
caso da pesquisa nos jornais, a perda da noção de tempo por ficar diariamente, por um
longo período, sob a luz artificial das redações hermeticamente fechadas sem comunicação
com o exterior, onde a marcação do tempo ocorre pelo ritmo das atividades jornalísticas
(reuniões, momentos de saída para apuração na rua, retornos da rua para elaboração de
matérias, edição, fechamentos). E, em Ilhéus, na pesquisa sobre rádios e radialistas, o
aguçamento de uma sensibilidade auditiva para sons e tons de vozes, paralelamente ao
desenvolvimento do gosto musical sui generis em sintonia com referenciais das emissoras
locais, em especial AM, sem contar os exercícios para melhorar minha dicção.
Deixando-me levar pela espontaneidade de grande parte das interações sociais
vivenciadas no campo (mas com os devidos distanciamentos posteriores na volta deles),
tenho certeza que aquela sensação registrada em meu caderno de campo como estranha, de
que falava no começo deste trabalho, foi fruto da aproximação mais do que da distinção
presente no diálogo entre a metodologia antropológica e a jornalística.
Isso significa que antropólogos e jornalistas compartilham algumas técnicas e
pressupostos inerentes às próprias profissões. Entre as técnicas comuns estão a pesquisa
documental; a contextualização; as anotações em bloco ou diário; a realização de
entrevistas; e a produção de dados para um público dentro de parâmetros de clareza e
precisão. Entre os pressupostos de conduta profissional, deixar o outro à vontade para obter
informações, buscando constantemente por elas; possuir curiosidade pela diferença e
consciência do papel de mediação; e ter clareza sobre a presença dos processos de
manipulação de impressões – no sentido de Goffman (1975) – que envolvem observadores
e observados.
Esse diálogo acontece tanto na dimensão externa da própria pesquisa, sob os olhares
do etnógrafo, quanto na interna do pesquisador, – que percebe os mecanismos de
identificação pela familiaridade que as técnicas comuns a nativos e analistas produzem. É
justamente na combinação dessas duas dimensões que reside a dificuldade para o
antropólogo que faz pesquisa entre seus iguais (ou ao menos muito semelhantes): como
apresentar uma perspectiva teórica que faça sentido para os nativos (e que pode ser
prejudicada pelos valores da objetividade e distanciamento científicos), uma interpretação
analítica que não embarque sem cuidados nas representações e nos discursos nativos (o que
pode ocorrer se nos esquecemos do objetivo primeiro que é pesquisar e não só viver o
cotidiano do campo) satisfazendo as exigências científicas e, ainda assim, enxergar um
pouco mais além.
Referências
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. “Reflexões sobre como fazer trabalho de campo”.
Sociedade e Cultura, v. 10, n.1, jan/jun, 2007. p. 11-27.
DA MATTA, Roberto. “O ofício do etnólogo ou como ter ‘anthropological blues’”.
Publicações do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional,
1974.
FAVRET-SAADA, Jeanne. “Ser afetado”. Cadernos de Campo, n.13, 2005.
GEERTZ, Clifford. “Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura”. In: A
Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.
GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, 1975.
LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de
Janeiro: Record, 2006.
NOGUEIRA, Silvia Garcia. Facetas do rádio: uma etnografia das emissoras de Ilhéus (Sul
da Bahia). Tese de doutorado, PPGAS/MN/UFRJ, 2005.
OYAMA, Thaís. A arte de entrevistar bem. São Paulo: Contexto, 2009.
PEIRANO, Mariza G.S. “A favor da etnografia”. Série Antropologia, n. 130. Brasília,
1992.
PEREIRA, Silvia Garcia Nogueira. A construção da notícia em dois jornais cariocas: uma
abordagem etnográfica. Dissertação de Mestrado, PPGAS/Museu Nacional/ UFRJ, 1998.
RORTY, Richard. Objectivity, relativism and truth. New York: Cambridge University
Press, 1991.
TRAVANCAS, Isabel S. “Jornalistas e antropólogos – semelhanças e distinções da prática
profissional”. Comunicação apresentada no XXV Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação, Salvador/BA, entre 1 e 5 de setembro de 2002.
VELHO, Gilberto. “Observando o familiar”. In: Individualismo e Cultura. Notas para uma
antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahaar Editor, 1981.
______. A utopia urbana: um estudo de Antropologia Social. (3ª ed.). Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1978.
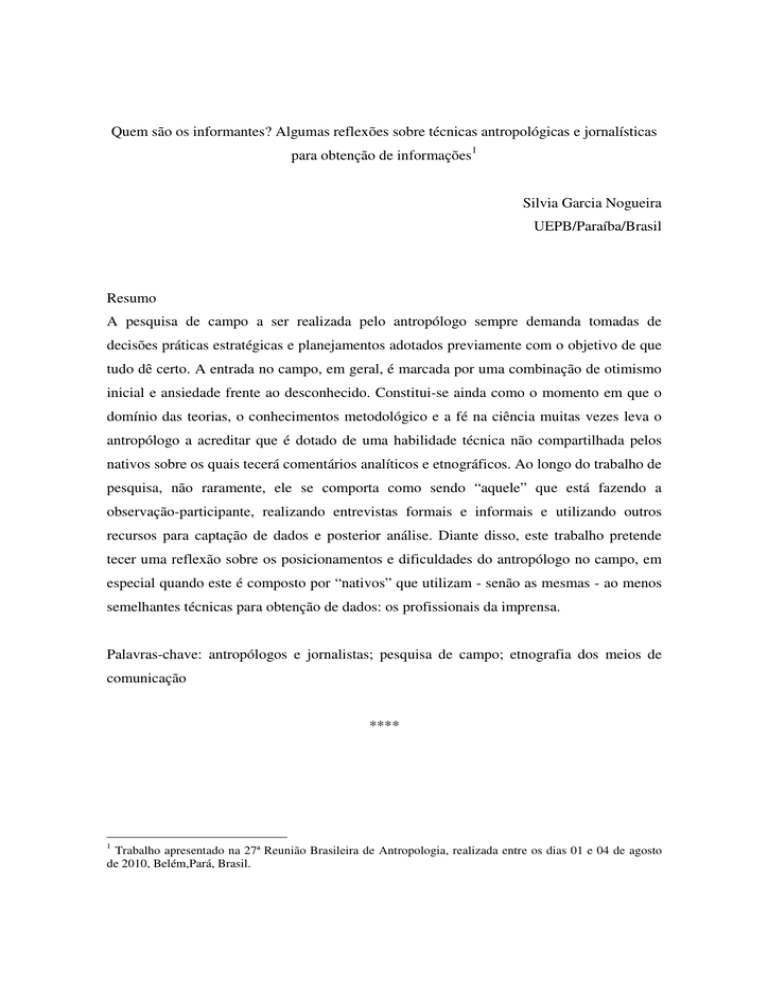
![Prova Discursiva [2ª Chamada] - Administração [para o público]](http://s1.studylibpt.com/store/data/002404746_1-5800314de091640fb66d887c62bc62e6-300x300.png)
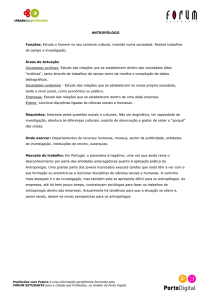
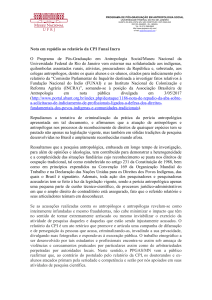
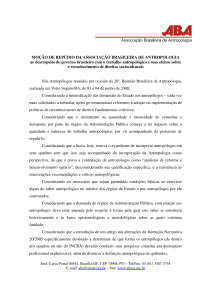
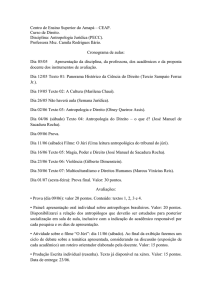
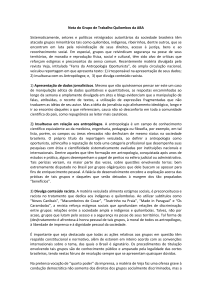
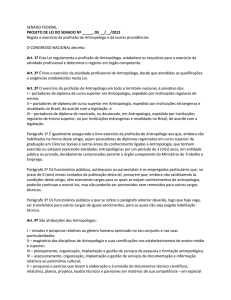
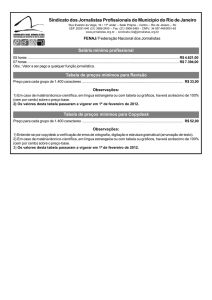
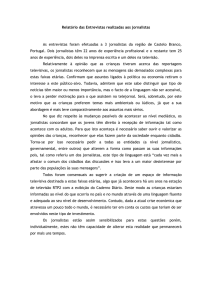
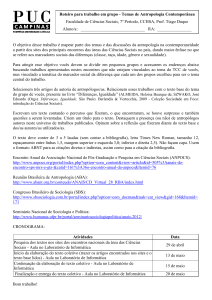
![Apresentação do PowerPoint - Administração [para o público]](http://s1.studylibpt.com/store/data/001808374_1-1de063b91118d5e606da87cbce07162d-300x300.png)