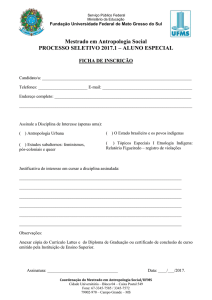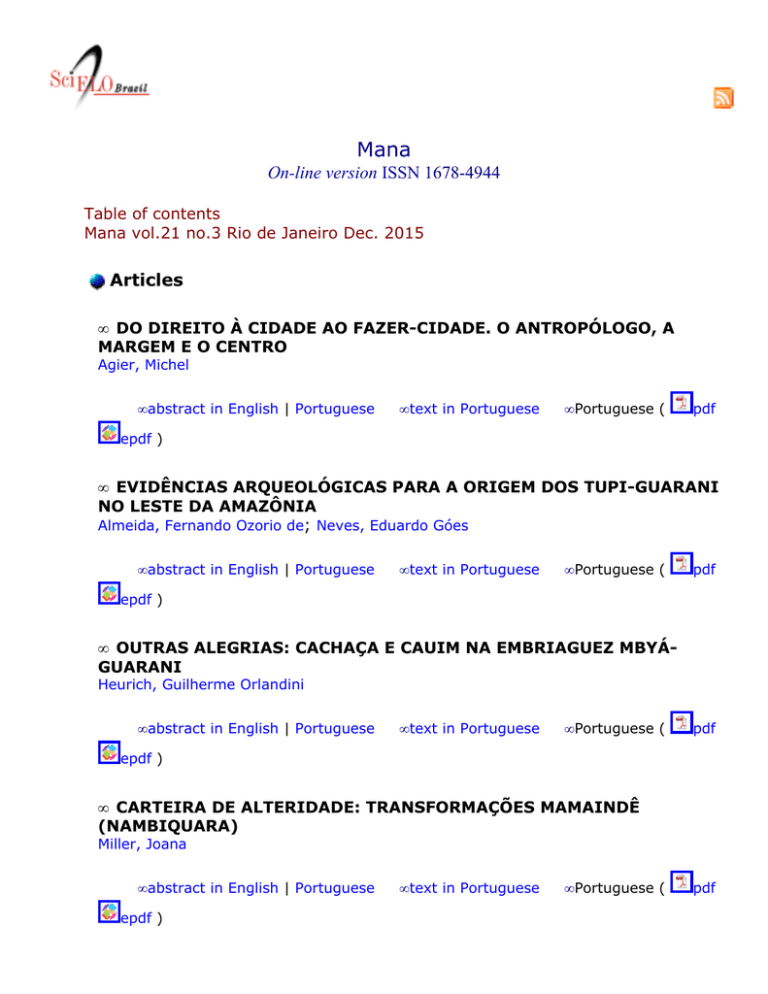
Mana
On-line version ISSN 1678-4944
Table of contents
Mana vol.21 no.3 Rio de Janeiro Dec. 2015
Articles
• DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE. O ANTROPÓLOGO, A
MARGEM E O CENTRO
Agier, Michel
• abstract in English | Portuguese
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
epdf )
• EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI
NO LESTE DA AMAZÔNIA
Almeida, Fernando Ozorio de; Neves, Eduardo Góes
• abstract in English | Portuguese
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
epdf )
• OUTRAS ALEGRIAS: CACHAÇA E CAUIM NA EMBRIAGUEZ MBYÁGUARANI
Heurich, Guilherme Orlandini
• abstract in English | Portuguese
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
epdf )
• CARTEIRA DE ALTERIDADE: TRANSFORMAÇÕES MAMAINDÊ
(NAMBIQUARA)
Miller, Joana
• abstract in English | Portuguese
epdf )
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
• NOMES QUE (DES)CONECTAM: GRAVIDEZ E PARENTESCO NO RIO DE
JANEIRO
Rezende, Claudia Barcellos
• abstract in English | Portuguese
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
epdf )
• A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE
COOPER: CLÁSSICOS E HISTÓRIA NO ENSINO DE ANTROPOLOGIA NO
BRASIL
Sanabria, Guillermo Vega
• abstract in English | Portuguese
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
epdf )
Documenta
• "QUINHENTOS ANOS DE CONTATO": POR UMA TEORIA ETNOGRÁFICA
DA (CONTRA)MESTIÇAGEM
Goldman, Marcio
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
epdf )
Reviews
• ARNOLD, Denise & ESPEJO, Elvira. 2013. El textil tridimensional: la
naturaleza del tejido como objeto y como sujeto. La Paz: Fundación
Interamericana / Fundación Xavier Albó / Instituto de Lengua y Cultura
Aymara. 375 pp.
Caballero, Indira Viana
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
epdf )
• BECKER, Howard. 2015. Truques da escrita: para começar e terminar
teses, livros e artigos. Tradução de Denise Bottmann. Revisão técnica de
Karina Kuschnir. Rio de Janeiro: Zahar. 253 pp.
Lima, Cleverton Barros de
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
epdf )
• CAIAFA, Janice. 2013. Trilhos da cidade: viajar no metrô do Rio de
Janeiro . Rio de Janeiro: 7Letras. 392 pp.
Bispo, Raphael
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
epdf )
• MUSSI, Joana. 2014. O espaço como obra: ações, coletivos artísticos e
cidade . São Paulo: Annablume Editora/ Fapesp/ Invisíveis Produções.
259 pp.
Miranda, Ana Carolina Freire Accorsi
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
epdf )
• PAXSON, Heather. 2013. The life of cheese - crafting food and value in
America . Berkeley/ Los Angeles / London: University of California
Press. 303 pp.
Dupin, Leonardo Vilaça
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
epdf )
• SEEGER, Anthony. 2015. Por que cantam os K•sêdjê . Trad. Guilherme
Werlang. São Paulo: Cosac Naify. 320 pp.
Nonato, Rafael
• text in Portuguese
• Portuguese (
pdf
epdf )
All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed
under a Creative Commons Attribution License
Quinta da Boa Vista s/n - São Cristóvão
20940-040 Rio de Janeiro RJ Brazil
Tel.: +55 21 2568-9642
Fax: +55 21 2254-6695
[email protected]
MANA 21(3): 483-498, 2015 – DOI http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p483
DO DIREITO À CIDADE
AO FAZER-CIDADE.
O ANTROPÓLOGO,
A MARGEM E O CENTRO*
Michel Agier
Para introduzir esta reflexão, eu devo dizer logo de saída que o vínculo
que será estabelecido aqui entre etnografia das margens e antropologia da
cidade não pretende reproduzir a oposição radical ou mesmo “ontológica”
entre a marginalidade e a centralidade em si. Muito ao contrário, eu pretendo descrever uma dinâmica, uma dialética, uma relação necessária e, por
fim, certa continuidade entre uma e outra. Mais profundamente, eu desejo
implementar um método que permita pensar a universalidade da cidade
fora de qualquer pretensão normativa, ou seja, segundo uma concepção ao
mesmo tempo epistemológica e política. Baseada em pesquisa etnográfica
urbana, esta concepção defende a ideia de uma construção/ desconstrução
de seu objeto “cidade”, rejeitando qualquer definição a priori da mesma
enquanto ferramenta analítica. A questão seria antes: o que faz e desfaz a
cidade permanentemente? Ela conduz à divulgação de processos e portanto
à política que impulsiona o movimento necessário à sua existência, às suas
reprodução e transformação.
A cidade é um “objeto virtual”, escrevia Henri Lefebvre em Le droit à
la ville, no início de 1968 (Lefebvre 2009:97). Esta afirmação foi em seguida
verificada, indiretamente, na constatação de que o urbano ultrapassava a
cidade: o filósofo, por extrapolação da cidade existente, antecipava o nascimento de uma sociedade “completamente urbana” tanto quanto planetária (Lefebvre 1970). Isto conferiu mais força teórica e política à ideia de
uma virtualidade da cidade. Mais recentemente, o geógrafo David Harvey
observava, após Lefebvre, que o “direito à cidade” aponta no fundo para
“alguma coisa que já não existe”; é um “significante vazio”, ele escreve,
“tudo depende de quem lhe conferirá sentido” (Harvey 2011:42). Como em
eco, podemos observar que os atores dos movimentos sociais desta última
década, que reclamam o “direito à cidade”, não leram necessariamente a
obra de Henry Lefebvre... mas fizeram deste apelo um horizonte de sua
484
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
ação em meio urbano e transformando o urbano. Neste sentido, o que me
parece possível descrever, ao estudar o “fazer-cidade” dos citadinos, é de
que, de qual sentido e de que matéria é preenchido este significante vazio
denominado “direito à cidade”. E a resposta que eu proponho é a seguinte:
a cidade é feita essencialmente de movimento.
O princípio de relatividade pode ser aplicado à dinâmica urbana como
a todos os objetos da ciência social. Ele nos permite evitar os pensamentos normativos que, por sua vez, tendem a congelar as dinâmicas sociais.
De fato, para o universo urbano, assim como para o universo em geral, podemos evocar simultaneamente a relatividade no espaço (ela pode ser observada
quando postulamos a igualdade espistemológica entre todas as formas urbanas
assim como entre todas as culturas) e a relatividade no tempo (as cidades nascem, transformam-se ou desaparecem, como o demonstram sobre este último
aspecto as histórias de Detroit ou Filadélfia). Se a antropologia pode e tem
todo o interesse em se apoiar nesta teoria da relatividade urbana no tempo e
no espaço, é porque a dinâmica e a transformação podem ser reconhecidas
em um saber livre de amarras políticas, normativas e institucionais, como é o
saber antropológico. São portanto a descrição e a compreensão do movimento permanente de transformação urbana no tempo e no espaço que podem
constituir a contribuição do olhar antropológico sobre a cidade.
Este movimento é o de “fazer-cidade”. Ele é incitado por uma ausência
(“a cidade está morta”, escrevia Lefebvre) e é impulsionado por uma imagem: um mito perdido, um horizonte inatingível. De fato, não temos senão
cidades ideais ou cidades de ficção científica, dizia ainda Lefebvre (2009:110)
e, segundo o filósofo da cidade Jean-Christophe Bailly, nós vemos por trás
de qualquer cidade o “fantasma de um ideal perdido”. Da perda provém a
potência da virtualidade da cidade, horizonte de um “apelo” e de uma “exigência” (Lefebvre 2009:107). Horizonte aberto, é o movimento permanente
do “fazer-cidade” que pode nos permitir encontrar alguma coisa da cidade
que observamos nas experiências concretas do espaço.
Epistemologia do fazer-cidade
“Coisa humana por excelência”, a cidade é a “forma mais complexa e refinada da civilização”, escrevia Lévi-Strauss, mas ela lhe parecia ser também
o lugar de uma individualização extrema e de um borramento dos limites
sociais, atingindo o inapreensível caos.1 Multitude sem totalidade, a cidade
seria heterogênea demais para que o etnólogo conseguisse aceder à sua
complexidade sem se perder... ainda que seja também para ele, ocidental
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
que realiza seu trabalho de campo em lugares “exóticos”, o local em que
mantém sua vida privada, seu local de repouso. No melhor dos casos, a cidade
poderia ser — segundo as palavras irônicas que Lévi-Strauss utilizou para
seus próprios comentários sobre São Paulo, onde viveu de 1935 a 1939 —
o lugar para uma “etnografia de domingo” (apud Magnani 1999).
No entanto, esta abordagem etnográfica, fundada sobre a pesquisa
relacional, local e “micrológica” que pareceu justificar a suposta incompatibilidade entre a antropologia e a cidade imensa, complexa e impenetrável, é
precisamente aquela que torna possível, do meu ponto de vista, a elaboração
de uma antropologia da cidade.
Meu argumento é epistemológico: é a relação de construção e desconstrução entre o campo de pesquisa e o objeto de pesquisa que torna possível
um olhar antropológico sobre a cidade. Dito de outro modo, a resposta à
questão de saber se uma antropologia da cidade é possível se encontra no
coração mesmo do modo de conhecimento da antropologia, que constrói
e desconstrói seus objetos de pesquisa a partir de sua maneira particular,
empírica, relacional e reflexiva de apreender o “campo”. Em primeiro lugar,
porque esta abordagem permite descrever a cidade do interior por aquela
ou aquele que está implicada(o). “Eu só observo situações”, escrevia Jean
Bazin a propósito da pesquisa antropológica em geral, e precisava a propósito da “sociedade” (o que pode ser dito também a propósito da “cidade”):
“Não é uma coisa que eu possa observar”. Por mais distante ou pequena
que ela seja, o ponto de vista de Sirius não me é acessível” (Bazin 1996).
Minha própria abordagem deve muito às reflexões formuladas de maneira
pioneira por Gérard Althabe, segundo as quais a situação de pesquisa e
de comunicação vivenciada pelo etnógrafo é o que funda o ponto de vista
antropológico sobre a cidade — o “lugar” de onde se fala — , o que restitui
toda a potência analítica ao caráter relativo e subjetivo da etnografia.2
Podemos até mesmo reverter a nosso proveito o desconcerto dos urbanistas, dos sociólogos e de outros experts em estudos urbanos e em política
da cidade, segundo os quais a cidade se desfaz, diluindo-se no exterior até o
urbano “desterritorializado” e planetário, e fragmentando-se em seu seio segundo os princípios de um novo “urbanismo por afinidade” (Donzelot 1999).3
Podemos opor a este desconcerto as questões e a abordagem da antropo-lógica das cidades, já que buscam compreender a gênese e o processo da
cidade em geral. Elas visam descrever os começos da cidade por toda parte
onde ocorrem. Assim, a compreensão das cidades terá muito a ganhar ao se
dirigir não mais somente ao que se perde nos espaços da “não cidade”,4 mas
também ao que nasce ali mesmo, como expressão de uma dialética mais
geral do vazio e do pleno, do fraco e do forte.
485
486
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
Nesta pesquisa necessária, a exemplaridade das antropologias enraizadas no campo e sensíveis aos processos pode ser mais eficaz que a
“representatividade” dos dados estatísticos que dependem de definições a
priori externas, globais e normativas do que é — e do que não é — a cidade.
Dito de outro modo, há lugar, diante desta cidade “desfeita” e neste momento de crise urbana, para a imaginação e a representação de uma cidade
que seja o resultado da descrição da cidade pelo antropólogo, e que tenha
alguma chance de ser mais verdadeira que aquela produzida ou levada em
consideração pelas abordagens quantitativas, as representações gráficas e
as políticas urbanas. É o que denominei cidade bis, ideia que não é estranha
àquela das “cidades invisíveis” de Italo Calvino, enquanto ferramenta crítica
do “realismo sociológico” dos experts da cidade, ou seja, da crença de que
a cidade é uma coisa dada que se confunde com a realidade de tudo que se
passa ali. Ao falar em cidade bis, eu quis dizer que era possível “desenhar”
uma cidade múltipla, partindo do ponto de vista das práticas, das relações
e das palavras dos citadinos tais como o próprio pesquisador as observa, as
coleta e anota, direta e situacionalmente, e que esta cidade não é menos real
que aquela dos urbanistas ou dos administradores. É outra.
Partirei, portanto, da forma indutiva do raciocínio antropológico, que
vai do campo à teoria. Em qualquer pesquisa etnográfica, todo objeto se
define por um limite, que o distingue de um exterior e o faz existir. De modo
mais geral, é sempre sobre uma fronteira existente, na qual ganha sentido
a relação entre identidade e alteridade, que o “outro” começa a existir para
“mim” ou para “nós”. Podemos estender este princípio e considerar que o
lugar da fronteira, descentrado, é o quadro privilegiado para se observar e
compreender a existência de qualquer coisa.5 Se a cidade é um conjunto
de “coisas” (edifícios, bens, relações, agrupamentos, textos...) difíceis de
definir como “essencialmente” urbanos, este conjunto procede de limites ou
fronteiras que o cirscunscrevem e a partir dos quais ele comença a existir.
Contudo, se quisermos ser coerentes com esta concepção relativa, devemos
precisar de saída que as delimitações e as caracterizações de cada cidade
estudada em um dado momento não são nem eternas, nem definitivas.
Esta atenção à constituição de qualquer coisa por seu limite me leva
logicamente a apreender a cidade a partir do vazio deixado por sua não
existência, a partir de seu limite, de sua negação, de seu exterior e de sua
margem: “o menos longínquo de todos os alhures”, segundo a bela fórmula
do filósofo da cidade Jean-Christophe Bailly a propósito da periferia na
França (Bailly 2013). É o ponto de observação ideal do movimento e da passagem de um estado a outro, de um ambiente ou de uma condição a outra.
É o que me conduz a considerar que a etnografia das “margens” ou dos
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
limites é o método ideal para uma antropologia da cidade. Não a margem
como fato social, geográfico ou cultural, mas a margem como posição epistemológica e política: apreender o limite do que existe — e que existe sob
a aparência oficial e afirmada do realizado, do estabelecido, do ordenado,
central e dominante — permite perceber a dialética do vazio e do cheio e
descrever o que, a partir de quase nada ou de um estado aparentemente
caótico, faz cidade.
Um objeto exemplar, mas precário:
o fazer-cidade dos citadinos sem cidade
A partir de pesquisas etnográficas realizadas na África e na América Latina,
interesso-me por diferentes aspectos desta questão: a fundação da cidade
desde as margens urbanas — bairros populares ou “invasões”, estabelecimentos provisórios de migrantes, campos de refugiados — ou, para dizer
de modo mais geral, interesso-me por pensar a cidade a partir dos espaços
precários e de um certo despojamento de bens, de sentidos e de relações.
Existem múltiplas maneiras de se fazer cidade. Múltiplos processos nos
falam sobre um começo de cidade em geral, como aquele que me pareceu
possível evidenciar ao observar os campos de refugiados que considerei
como “rascunhos de cidade” (Agier 2011).
Detenhamo-nos um instante sobre o caso dos acampamentos de estrangeiros de Patras, na Grécia, e de Calais, no norte da França, duas cidades
portuárias nas quais os migrantes estabeleceram acampamentos que ficaram
de pé por 12 anos, no primeiro caso, e por seis anos, no segundo, antes de
sua destruição pela polícia em julho e setembro de 2009.6 Com o tempo, o
que emerge do interior desses locais precários, no lugar das primeiras tendas
e toldos emergenciais, são porções de cidade feitas de tela, sucata e madeira.
Tábuas de madeira ou gradis de arame roubados próximo ao porto servem
para fabricar as estruturas das cabanas. Estrados de madeira são dispostos
sobre o solo para isolar as tábuas, enquanto as paredes são isoladas graças
a placas de poliestireno dispostas lado a lado; o restante destas “paredes”
é feito de toldos de plástico e de papelão. Pedaços de carpete encontrados
pelas ruas se tornam tapetes, e patchworks de tecidos e de cobertores servem de cortina.
São citadinos ordenadores que aparecem nesses lugares nascidos
como refúgios, abrigos ou esconderijos no coração da Europa. O que fazem
se parece com o que denominamos, nos bairros periféricos da África, da
Ásia ou da América Latina, bairros “espontâneos”, “informais” ou em “au-
487
488
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
toconstrução”: as práticas e os saberes aprendidos e experimentados nas
situações sociais precárias são comparáveis. A partir da matéria-prima disponível (terra, água, madeira da floresta) ou da matéria residual de produtos
manufaturados (tábuas de madeira, estrados de madeira, toldos de plástico,
tecidos de sacolas, folhas metálicas de embalagens, placas de poliestireno
etc.) uma arquitetura dos acampamentos se desenvolve, como, aliás, uma
arquitetura das favelas ou dos bidonvilles.
Paradoxo desses “locais fora de lugar” (hors lieux), ao mesmo tempo
frágeis localmente, eles se estabilizam em uma dimensão supralocal. Assim,
após 12 anos de existência, o acampamento de Patras tornou-se um ponto
de referência para os migrantes, um ponto fixo em suas múltiplas rotas. Patras é conhecida de todos aqueles que tentam essas rotas, bem como o são
Zahedan (na fronteira entre o Irã, o Paquistão e o Afeganistão), Calais (no
norte da França), Roma (ver Mazzitelli 2012) ou a Gare de l’Est em Paris.
Estes locais tornaram-se, em parte, cruzamentos cosmopolitas: são as etapas
do percurso que têm o mundo como escala, um percurso sempre arriscado,
imprevisível que vai agora do Afeganistão (ou do Paquistão, ou do Irã) à
Europa, mas o exílio pode mudar de perímetro. É o caso do exílio africano
que se dirige principalmente à Europa (via Mediterrâneo ou leste da Europa),
mas que tende a se orientar, recentemente, em direção ao Oriente Próximo,
à América Latina e à Ásia, criando assim novas rotas e novos locais-etapas
nestes novos percursos.
Estes pontos de referência cosmopolitas nos percursos transnacionais
são também bastante locais e o são duplamente. Se eu me refiro a Patras e
a Calais, posso observar, antes de mais nada, que eles têm vários anos de
existência: uma pátina foi feita, recém-chegados encontraram habitats que já
estavam lá, já construídos e “habitados” e se inseriram como nos inserimos
em um “lugar antropológico” (Augé 1992). Este último já tem um pouco
de história (12 anos de existência em Patras, quase sete anos em Calais),
algumas relações internas (amizades tecidas e desenvolvidas nos momentos de espera, mas também rivalidades e tensões em Patras com os curdos
iraquianos ou sudaneses). Ele tem também uma identidade externa (em
Calais, é denominado “a floresta dos afegãos”, na Grécia, “o acampamento
de Patras”). Por fim, estes estabelecimentos já fazem parte da história das
cidades nas quais nasceram: histórias de conflitos e de solidariedades tanto
em Patras como em Calais.
Quando os conflitos colocam em cena habitantes das cidades de chegada, autodenominados “ribeirinhos” ou “autóctones”, assim como as autoridades administrativas, os apoios provêm de outros habitantes e de associações
destas cidades, que podem ser humanitárias, jurídicas ou políticas. Assim, o
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
acampamento de Patras deve seus 12 anos de existência (de finais de 1996
até a sua destruição pelo fogo e as retro-escavadeiras em julho de 2009) à
persistência de uma “tolerância” municipal, resultado de um acordo entre
a pressão de certos nativos pouco acolhedores, as associações de defesa
dos direitos dos estrangeiros e os migrantes em busca de uma via para um
porto/ fronteira e instalados no acampamento. Apesar do importante turn
over dos ocupantes, alguns puderam se estabelecer ali por até dois anos,
abrindo uma loja de restauração, de produtos de primeira necessidade,
trabalhando ocasionalmente nos laranjais vizinhos ou ainda ocupando posições de liderança. Mahmoud é apresentado como “líder” do acampamento.
Sua formação é de assistente social, mas lá, na migração, ele circula entre
Patras e Atenas. Ele é o proprietário de uma das duas lojas do acampamento.
Ele nos diz: “Patras é uma cidade fora da lei”.
Diferentemente desses acampamentos que encontramos nas fronteiras
e nos interstícios das cidades, alguns campos de refugiados são mais estabilizados e duram várias décadas (Agier 2014a). Nestes casos, é a forma
dos campos-cidades que emerge. A abordagem que adotei para lidar com
esses “locais fora de lugar” (hors lieux) é a de uma etnografia urbana dos
acampamentos. Aqui também a questão não tem qualquer conteúdo normativo ou evolucionista. Procuro dar conta das criações sociais, mudanças
culturais e eventualmente de novas formas políticas que aparecem, a partir
do momento em que as pessoas se encontram reunidas por um tempo indefinido em um dado espaço, qualquer que seja ele, e que pode ser considerado
como uma “implantação relativamente permanente e densa de indivíduos
heterogêneos”, segundo os termos utilizados por Louis Wirth para definir a
cidade nos anos 1930 (Wirth 1984). Procuro também compreender as transformações do espaço que esta situação implica: um acampamento que tem
cinco anos de existência já não é mais um alinhamento de tendas, ele pode
se assemelhar tanto a um imenso bidonville como pode fazer pensar em um
museu etnográfico onde cada um tenta, com os materiais que encontra por
ali, reconstituir o melhor possível seu habitat de origem. O resultado é, por
vezes, uma paisagem híbrida, os toldos de cor azul e branca da UNHCR7
recobrindo as frágeis construções feitas de galhos ou de terra, os tecidos dos
sacos nos quais se vê estampado “União Europeia” ou “USA” servindo de
cortina na entrada das tendas.
Esses processos de começo de uma cidade — e começo de uma vida
social, econômica, cultural, política inédita — podem ser comparados, por
exemplo, ao se passar de um campo de refugiados a uma favela, de um acampamento “autoinstalado” de migrantes “clandestinos”, aos antigos acampamentos dos comerciantes itinerantes na África (Dias 2013; Agier 2013).
489
490
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
Ocupação e favela. A política do acampamento
Na África e na América Latina, a proporção de urbanização dita “informal”
é, como sabemos, muito importante. Nestes contextos, a cidade, caso seja
apreendida inteiramente e segundo a igualdade epistemológica defendida
mais acima, pode ser descrita como um espaço multiforme e extremamente
precário. As palavras bidonville, slum ou favela ressoam por toda parte midiaticamente ou no plano político, mas são inoperantes e mesmo contraproducentes no plano do conhecimento. Trata-se da cidade, mas autoconstruída,
do habitat, mas em tábuas de madeira, em toldos plastificados ou de papelão,
que se transformará progressivamente utilizando materiais mais sólidos
(tijolos, cimento). Ao suspender qualquer julgamento cultural, estético ou
social, todas estas formas devem ser consideradas como partes do processo
da cidade em contextos de desigualdades.
Diante de algumas grandes favelas ou “complexos” de favelas do Rio de
Janeiro, podemos ser levados a comparar e a reconhecer uma forma urbana
atualmente conhecida no mundo inteiro por intermédio das mídias e da pesquisa, ou ainda pelas políticas públicas: aquela das “mega-slums”, uma forma
que compartilham também, por exemplo, os bairros e as zonas denominadas
Chalco na periferia da cidade do México, Agua Blanca em Cali, New Bell em
Douala, Dharavi em Mumbai e muitas outras ainda. Os termos genéricos que
as designam, slum ou bidonville e mais ainda “mega” têm o inconveniente
de estigmatizar globalmente a população que ali vive e torná-la muito mais
homogênea sociologicamente do que é na realidade. Por outro lado, eles revelam uma forma urbana amplamente disseminada nos países do Sul global.
E pode-se pensar que a publicidade que se faz deles os tira um pouco de sua
invisibilidade, o que pode contribuir para torná-los objeto de pesquisa e de
debate público.8 Mas para o pesquisador, nomear e classificar não diz nada,
é preciso descrever e compreender os processos cujas formas observamos e
que não são senão um momento. É o que eu gostaria de tentar agora, tendo
em mente a proposição que guia esta reflexão, a compreensão do fazer-cidade
como processo geral ou mesmo universalizável.
A qual cidade a “favela” dá nome? Se a favela é célebre no mundo todo
é por designar um processo universal de conquista do espaço. Ela encarna
uma modalidade de cidade como movimento. Favelas, slums, bidonvilles: é
preciso ao mesmo tempo esquecer e desconstruir as palavras para encontrar
o sentido dos processos que elas não fazem senão nomear.
No caso das “invasões” que estão na origem das favelas,9 alguém chegou
e ocupou um espaço vago. Em seguida, outra pessoa chegou, declarando ser
o proprietário ou ter um direito sobre esse espaço e disse: “eu te deixo ocupar
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
o espaço com a condição de que a gente entre em acordo sobre isto e aquilo”, por exemplo: “vocês serão minha clientela eleitoral!”. “Ok, de acordo”,
respondem os ocupantes, “nós seremos seus eleitores, mas com as seguintes
condições etc.”. Há uma negociação, mas, para que ela exista, é preciso que
em um dado momento alguma coisa tenha acontecido, uma comunidade em
movimento, pessoas que chegaram e fizeram o gesto político da ocupação.
Compreender o que se passou ali, ao se situar no interior da própria situação,
na experiência vivenciada, permite descrever de que modo, em um certo
momento, pessoas expressaram uma injustiça, com estas palavras, por exemplo : “nós não somos marginais; temos direito a um alojamento” (slogan do
movimento DAL — Direito ao Alojamento, na França), ainda que, uma vez
tendo ocupado o espaço, alguém chegue e lhes diga: “vocês são o meu curral eleitoral”. A negociação vem após o primeiro movimento, o da ocupação.
O que é importante compreender, me parece, é este agir ao mesmo tempo
político e urbano: ele marca uma linha de partilha entre antes e depois. Esse
movimento é uma tomada do espaço tanto quanto uma tomada da palavra,
é o momento político porque é aquele que cria uma situação radicalmente
nova.10 Eis por que os atores da margem, citadinos sem cidade, ocupam um
lugar à parte, precário mas exemplar nos movimentos que fazem a cidade.
A margem e o centro. O agir urbano como movimento e desejo
O fazer-cidade deve ser entendido como um processo sem fim, contínuo e
sem finalidade. Ele faz sentido no contexto de uma expansão contínua dos
universos sociais e urbanos. Eis por que parece possível elaborar a hipótese
teórica (e a aposta política) segundo a qual o fazer-cidade é uma declinação
pragmática, aqui e agora, do “direito à cidade”, sua instauração. O movimento é essencial nesta concepção da cidade como construção permanente.
Uma de suas declinações é o deslocamento. Este último já está presente
em outra noção que atravessa toda a proposição do “direito à cidade” de
Lefebvre, aquela da centralidade.
O movimento em direção ao centro desde as periferias e os subúrbios
ou as “zonas de miséria” é um deslocamento e uma conquista espacial em
certa medida. É o que ilustra a interpretação feita por Henri Lefebvre, retomada por David Harvey (2011), da Comuna de Paris de 1871 como uma luta
urbana mais que proletária. Pois a Comuna é um “desejo de revanche” e,
para alguns, “uma nostalgia do mundo urbano destruído por Haussmann”,
e ela estabelece uma relação com estratégias de controle e de modernidade
(Harvey 2011:14). Para este autor, a centralidade histórica desapareceu
491
492
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
atual­mente, mas há “um impulso em sua direção”. Este impulso em direção
a uma centralidade virtual encarnada pelo coração vital e pela identidade da
cidade, ao mesmo tempo desejo insaciável e movimento infinito da fronteira
em direção ao centro, é o motor do agir urbano.
Os debates recentes a propósito do conteúdo e das formas das lutas urbanas ganhariam força se pensassem a cidade a partir de espaços precários
da margem. Precariedade, mas exemplaridade do limite, como enfatizamos
mais acima. Assim, uma das questões políticas que se colocam na França
atualmente é a de saber se é preciso manifestar-se em passeatas e protestos
para obter alojamentos decentes para as famílias denominadas “roms”,11 ou
se é preciso defender e reforçar a instalação precária, urbanizá-la, ou seja,
torná-la mais habitável, ou mesmo confortável, e assim impor sua existência,
sua presença no mundo e na cidade.12
Esta questão conduz imediatamente a duas respostas, que se apresentam
geralmente em oposição. O que se deve fazer? Manifestar-se nas ruas contra
este tratamento de exceção — o “acampamento”13 — que questiona frontalmente o humanismo que reivindicam (em nome do pertencimento às “sociedades democráticas”) os mesmos que implementam essa governança urbana
de exceção para populações consideradas estrangeiras? Ou ajudar as pessoas
que ali estão a ocupar e a habitar o lugar para impor aos fatos sua presença
e seu reconhecimento? A alternativa pode não ser uma oposição, mas uma
política que se desdobra. É o que ilustra um fato observado na América Latina
nos acampamentos urbanos de migrantes, assim como nos antigos campos de
refugiados que se urbanizam na África, na Ásia ou no Oriente Próximo: a forma
“ ocupação ” tornou-se mundialmente uma das maneiras para os mais pobres
de fazerem reconhecer seu direito a estar ali. A ocupação urbana é um agir político cujo objeto é um direito humano e, ao mesmo tempo, um direito à cidade.
As duas formas são igualmente políticas, mas de modos distintos.
O movimento mais radical atualmente, aquele que faz com que ainda exista
a questão política do horizonte da cidade, é o que a faz existir não como
uma abstração, mas como uma imanência, uma construção em curso e em
movimento. Uma política do acampamento que se confunde com a política
em geral, no momento em que o mundo em geral se torna cada vez mais
urbano, até formar, em breve, uma imensa conurbação.
Conclusão
A antropologia do fazer-cidade abordada de um ponto de vista social, político e cultural, que quis expressar aqui, permite evidenciar três efeitos
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
do agir urbano, que podemos resumir, à guisa de conclusão, da seguinte
maneira:
Em primeiro lugar, ele permite a sobrevivência em um distanciamento
(um acampamento, uma invasão de um local vazio). É o gesto primeiro da
invasão entendida como desobediência e como ilegalidade assumida —
ainda que o termo invasão seja atualmente considerado “incorreto” pelos
meios associativos e acadêmicos, como, por exemplo, em Salvador, onde o
termo foi por muito tempo (até os anos 1990) considerado — e ainda continua
a ser na linguagem popular — equivalente a “favela”, no Rio de Janeiro, e
equivalente também a “invasión”, em castelhano, utilizado, por exemplo, na
Colômbia para designar os setores mais pobres e ilegais das periferias urbanas.
Em segundo lugar, o agir urbano continua na presença recalcitrante
sobre o próprio local deste distanciamneto (“eu ficarei aqui, não importa
o que haja”), sob a forma mais estabelecida, senão durável, da ocupação.
Em terceiro lugar, o agir urbano opera uma transformação urbana
graças a mecanismos duráveis de instalação. Nesta última configuração
podem ser destacadas três declinações possíveis a partir de três exemplos
quase simultâneos. Na França, o reconhecimento dos acampamentos denominados “roms” como “bidonvilles” é o objeto de uma luta semântica.
Esta última é levada a cabo por alguns assistentes socais, associações e
pesquisadores, por um lado, que defendem o termo “bidonville” e tendem
assim a uma urbanização da “questão rom”. Por outro lado, a polícia, os
governos distritais e o Ministério do Interior (mas também alguns assistentes sociais, associações e pesquisadores) utilizam os termos “campos”
e “acampamentos”, geralmente associados a “populações estrangeiras”;
neste caso, é o paradigma da segurança e eventualmente humanitário que
prevalece. Nesta mesma configuração da instalação e da transformação
urbanas, pode-se ainda notar a urbanização dos campos de refugiados
ou mesmo a reconstrução urbana planificada de campos de refugiados
palestinos destruídos no Líbano (Puig 2014), e por fim no Brasil, a legalização das favelas ou a política chamada de “favela-bairro”, que prevaleceu
desde a década de 1990 após um longo período de repetidas tentativas de
erradicação pelos poderes públicos.14
Na acumulação destes três efeitos de invasão/ ocupação/ instalação
encontra-se o movimento do direito à cidade enquanto direito de estar ali
e de ali levar uma vida urbana. É neste momento, nesta pragmática, que
o fazer-cidade se torna objeto real e observável do “direito à cidade”. Para
além da necessidade humana de fundação e refundação permanente dos
lugares, por mais precários que sejam, esta dinâmica da cidade e do agir
urbano mostra o estreito vínculo entre a mobilidade das pessoas e a expansão
493
494
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
urbana, esta última sendo uma condição para a sedentarização ainda que
provisória e da ancoragem local das pessoas em movimento.
Locais, particulares ou precárias, as práticas do fazer-cidade revelam
assim uma certa universalidade da cidade, no sentido de que deixam entrever
inícios, gêneses, processos e lógicas da cidade, cujo final não conhecemos.
Mas de qual cidade conhecemos o fim? Por mais monumentais, gigantescas, altas, densas, extensas, difusas ou disformes que sejam, todas as
cidades bem como todas as localidades estão destinadas à transformação,
que é uma forma de seu desaparecimento.
Recebido em 16 de setembro de 2015
Aprovado em 22 de outubro de 2015
Tradução de Roberta Ceva
Michel Agier é antropólogo, directeur d’études na École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS) e pesquisador no Institut de Recherches pour le
Développement (IRD). E-mail: <[email protected]>
Notas
* Este artigo é a versão escrita e aumentada da conferência “Da etnografia das
margens à antropologia da cidade”, proferida em 17 de outubro de 2014, no Colégio
Brasileiro de Altos Estudos (CBAE/UFRJ), no quadro do programa da cátedra francesa
do consulado da França na UERJ (Departamento de Antropologia). Eu agradeço a
Peggy Scremin (consulado da França), Patricia Birman (UERJ) e José Sergio Leite
Lopes (CBAE) por esta oportunidade.
Ver Claude Lévi-Strauss (1955). Yves Hersant (1999) a ele se refere na introdução ao dossiê “Lumières sur la ville”. José Guilherme Magnani (1999) dedica um
estudo à relação de Claude Lévi-Strauss com as cidades, particularmente brasileiras
e indianas. Ver também M. Agier (2011).
1
2
Ver particularmente Gérard Althabe (1990) e Althabe, Marcadet, de La Pradelle
e Sélim (1986). Na mesma perspectiva, ver igualmente de La Pradelle e Sélim (2000).
Mais recentemente, ver Lallement (2015).
3
Ver também Mongin (2005).
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
Ver Françoise Choay (2006), particularmente os textos reunidos na segunda
parte da obra, “O urbano”, pp. 129-251. Entre as várias obras sobre a violência da
segregação urbana, ver os trabalhos já clássicos de Teresa Caldeira (2000) sobre São
Paulo e de Mike Davis (1990) sobre Los Angeles.
4
5
Para uma apresentação do descentramento como postura epistemológica e
não culturalista, ver Agier (2015).
Ver Michel Agier e Sara Prestianni (2011). No caso do Brasil, ver o trabalho
pioneiro de Lygia Sigaud (2000).
6
7
[N.T.]: Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
8
Para apresentações comparativas em escala regional ou global, ver Saglio-Yatzimirsky e Landy (orgs.) (2013); Davis (2006); Simone (2004).
“Invasão” é o termo utilizado em Salvador, Bahia, para designar o que no Rio
e em outros lugares denomina-se “favela”. Conservo este vernáculo, observando (retornarei a este ponto mais adiante) que o termo voluntariamente utilizado há alguns
anos pelas associações da Bahia não é mais “invasão”, mas ”ocupação”.
9
10
Jacques Rancière situa neste acontecimento preciso o momento constituinte
da política (1995).
[N. T.] “Rom” designa, na França, famílias de migrantes oriundas da Romênia ou da Bulgária e consideradas “nômades” em função de sua origem e cultura
historicamente comuns (ditos “ciganos” no Brasil).
11
12
Ver a obra Considérant qu’il est plausible que de tels événements puissent à
nouveau survenir (organizada por Sébastien Thiery, 2014b), obra coletiva e manifesto
organizado pela associação Perou após a destruição do acampamento denominado
“rom” de Ris-Orangis em abril de 2013. Ver igualmente Olivera (2011).
13
Ver Michel Agier, “L’encampement du monde” (2014b).
Esta inserção e esta estabilização do sujeito urbano outro, vindo da margem,
no tecido da cidade levam a outras questões e problemáticas relativas ao controle dos
espaços urbanos, das economias, das trocas e dos modos de vida na cidade. É o que
ocorre atualmente nas políticas ditas de “pacificação” nas maiores cidades brasileiras.
14
495
496
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
Referências bibliográficas
AGIER, Michel. 2011. Antropologia da ci-
dade. Lugares, situações, movimentos.
São Paulo: Editora Terceiro Nome.
___. 2013. Campement urbain. Du refuge
naît le ghetto. Paris: Payot.
___. (org.). 2014a. Un monde de camps.
Paris: La Découverte.
___. 2014b. “L’encampement du monde”.
In: M. Agier (org.), Un monde de camps.
Paris: La Découverte. pp. 11-28.
___. 2015. Migrações, descentramento e
cosmopolitismo. Uma antropologia
das fronteiras. São Paulo/ Maceió:
Unesp/ Ufal.
___. & PRESTIANNI, Sara. 2011. Je me
suis réfugié là! Bords de route en exil.
Paris: Éditions Donner Lieu.
ALTHABE, Gérard. 1990. “Ethnologie du
contemporain et enquête de terrain”.
Terrain, Carnets du Patrimoine Ethnologique, 14:126-131.
___; MARCADET, Christian; LA PRADELLE,
Michèle de & SÉLIM, Monique. 1993.
Urbanisation et enjeux quotidiens.
Terrains ethnologiques dans la France
actuelle. Paris: L’Harmattan.
AUGE , Marc. 1992. Non-lieux. Paris:
Seuil.
BAILLY, Jean-Christophe. 2013. La phrase
urbaine. Paris: Seuil.
BAZIN, J. 1996. “Interpréter ou décrire. Notes
critiques sur la connaissance anthropologique”. In : J. Revel & N. Wachtel (eds.),
Une école pour les sciences sociales.
Paris: Cerf/EHESS. pp. 401–420.
CALDEIRA, Teresa. 2000. City of walls:
crime, segregation, and citizenship in
São Paulo. Los Angeles: University of
California Press.
CHOAY, Françoise. 2006. Pour une anthropologie de l’espace. Paris: Seuil.
DAVIS, Mike. 2006. Planet of slums. Londres: Verso.
___. 1997 [1990]. City of quartz. Los Angeles,
capitale du futur. Paris: La Découverte.
DIAS, Amanda. 2013. Aux marges de la
ville et de l’État. Camps palestiniens
et favelas cariocas. Paris: Karthala.
DONZELOT, J. 2009. “La nouvelle question
urbaine”. In: La ville à trois vitesses,
et autres essais. Paris: Éditions de La
Villette. pp. 29-52.
GRAFMEYER, I. Joseph (orgs.). 1980.
L’École de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine. Paris: Aubier.
HARVEY, David. 2011. Le capitalisme
contre le droit à la ville. Néolibéralisme,
urbanisation, résistances. Paris: Éditions Amsterdam.
HERSANT, Yves. 1999. “Lumières sur la
ville”. Le genre humain, 34.
LALLEMENT, Emmanuelle. 2015. “Ethnologists of the city: history of an object
and of disciplines”. In: Sophie Chevalier (org.), Anthropology at the crossroads: the view from France. Londres:
Sean Kingston Publishing.
LA PRADELLE Michèle de. 2000. “La ville
des anthropologues”. In: Th. Paquot;
M. Lussault & S. Body-Gendrot (orgs.),
La ville et l’urbain. Etat des savoirs.
Paris: La Découverte. pp. 47-56.
LEFEBVRE, Henri. 1970. La révolution
urbaine. Paris: Gallimard.
___. 2009. Le droit à la ville. Paris: Economica/Anthropos.
LÉVI-STRAUSS , Claude. 1955. Tristes
tropiques. Paris: Plon.
MAGNANI, José Guilherme Cantor. 1999.
“As cidades de Tristes Trópicos”. Revista de Antropologia, 42(1-2):97-111.
MAZZITELLI, Adriana Goni. 2012. “Rome:
l’immigration au secours de la ville
éternelle”. Trad. Agnès Sander). Métropolitiques, 25. Disponível em:
http://www.metropolitiques.eu/Rome-
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
limmigration-au-secours-de.html.
Acesso em: 16/08/2015.
MONGIN, Olivier. 2005. La condition
urbaine. La ville à l’heure de la mondialisation. Paris: Seuil.
OLIVERA, Martin. 2011. Roms en (bidon-)
ville. Paris: ENS Éditions.
PUIG, Nicolas. 2014b. “Nahr al-Bared
(Liban). Le camp et ses doubles”. In:
M. Agier (org.), Un Monde de camps.
Paris: La Découverte. pp. 211-229.
RANCIÈRE, Jacques. 1995. La mésentente. Paris: Galilée.
SAGLIO-YATZIMIRSKY, Marie-Caroline &
LANDY, Frédéric (orgs.). 2013. Megacity slums: social exclusion, space and
urban policies in Brazil and India.
Londres: Imperial College Press.
SIGAUD, Lygia. 2000. “A forma acampamento: notas a partir da versão pernambucana”. Novos Estudos Cebrap, 58:
73-92.
SIMONE, Abdumaliq. 2004. For the city
yet to come. Changing African life in
four cities. Durham: Duke University
Press, pp. 251-277.
THIERY, Sébastien. 2014. Considérant
qu’il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir.
Paris: Post-Éditions.
WIRTH, Louis. 1984 [1938]. “Le phénomène urbain comme mode de vie”. In:
Yves Grafmeyer & Isaac Joseph (orgs.),
L’école de Chicago. Paris: Aubier.
497
498
DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE
Resumo
Abstract
Neste artigo, proponho definir a antropologia da cidade como a exploração
etnográfica e a compreensão reflexiva das
situações, dos lugares e dos movimentos
que “fazem cidade”. Fazer-cidade é o
meio para a instauração do “direito à cidade”, aqui e agora. De acordo com esta
concepção, algumas práticas polêmicas
ou eventualmente minoritárias (invasões,
ocupações) ganham um sentido radical
de um ponto de vista teórico, pois fazem
nascer – a partir das margens, das fronteiras, do precário, do vazio e da desordem –
um desejo e um apelo em direção a um
horizonte de cidade sonhada, virtual ou
ideal. O movimento do fazer-cidade é
incitado por uma ausência (ao se afirmar
que “a cidade está morta”) e impulsionado
por uma imagem, um mito perdido, um
horizonte ainda que inatingíveis. Neste
contexto e segundo um princípio geral
de relatividade, a antropologia da cidade
não produz nem se refere a nenhuma
definição normativa da cidade em si, mas
a concebe como o movimento contínuo de
sua construção e desconstrução.
Palavras-chave Cidade, Margens, Acampamentos, Favelas.
In this article, I define the anthropology
of the city as an ethnographic exploration and reflexive understanding of the
situations, places and movements that
“make the city ”. City-making is the
means for the instauration of the “right to
the city” in the here and now. According
to this view, certain polemical or, perhaps, minority practices (invasions,
occupations) attain a radical sense from
a theoretical point of view, since they
give birth – from the edges, the frontiers,
the precarious, the empty and the disorder – to a desire and a demand for a
dream city, whether virtual or real. The
movement of city-making is incited by
an absence (in the claim that “the city
is dead”) and driven by an intangible
image, a lost myth, a horizon. In this
context, and according to a general
principle of relativity, the anthropology
of the city neither produces nor refers to
any normative definition of the city per
se, but conceives it as the continuous
movement of its own construction and
deconstruction.
Key words City, Edges, Camps, Favelas.
MANA 21(3): 499-525, 2015 – DOI http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p499
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS
PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI
NO LESTE DA AMAZÔNIA*
Fernando Ozorio de Almeida
Eduardo Góes Neves
Não se acabou aqui a missão mas, continuando pelo (Tocantins) rio acima,
chegaram os padres ao sítio dos Tupinambás, donde haverá três anos tínhamos
trazido mil e duzentos índios, que todos se batizaram logo e, por ser a mais guerreira nação de todas, são hoje gadelha dessas entradas (Pe. Vieira 1997 [1659]).
Introdução
A família linguística Tupi-Guarani é uma dentre as dez famílias pertencentes ao tronco Tupi (Rodrigues & Cabral 2012; Urban 1992). Ao contrário
das demais famílias desse tronco, os Tupi-Guarani tornaram-se conhecidos
historicamente por terem sido grupos dessa família (aqui denominados de
maneira ampla, como Tupinambás), os primeiros a fazer contato com os
europeus, no que seria o início do período colonial, e também pelo imenso
território ocupado por esses grupos então: no litoral Atlântico desde o cabo
de São Roque, ao norte, até o Trópico de Capricórnio, ao sul, assim como
extensas áreas do planalto meridional e entorno (Brochado 1984; Fig. 1).
Dados linguísticos (e.g. Migliazza 1982; Rodrigues 1964; Walker et al.
2012), resultantes de análises léxico-estatísticas, são unânimes em apontar
o sudoeste da Amazônia, na bacia do alto rio Madeira, como o centro de dispersão dos povos Tupi. Os poucos dados arqueológicos existentes para essa
região (e.g. Cruz 2008; Miller 2009; Zimpel Neto 2009) parecem corroborar
esta hipótese. Entretanto, não há documentação que ateste a presença de
grupos Tupi-Guarani na bacia do alto Madeira para mais de alguns séculos.
Os únicos Tupi-Guarani do sudoeste amazônico, os Kagwahiva de Rondônia e
os Guarani das terras baixas bolivianas, migraram durante o período colonial
para essa região, respectivamente da bacia do Tapajós (Menéndez 1981/82;
Nimuendajú 1948) e da região do Chaco (Métraux 1927; Ramirez 2006).
500
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
O sudeste amazônico — designação que aqui inclui os médios e baixos
cursos dos rios Xingu e Tocantins, áreas de interflúvio e o entorno desses
rios — possui a maior variabilidade linguística entre os falantes de línguas
tupi-guarani (Mello & Kneip 2006; Rodrigues 1984/85), assim como uma
imensa variabilidade arqueológica (Almeida 2008, 2011, 2013; Garcia 2012;
Pereira et al. 2008; Silveira et al. 2008), incluindo uma extensa cronologia
com datas próximas ao início da era cristã. Portanto, se a diversidade cultural e linguística no tronco Tupi leva os pesquisadores a considerarem o
sudoeste amazônico como centro de dispersão dos falantes de línguas tupi, a
diversidade cultural e linguística dentro da família Tupi-Guarani igualmente
permitiria considerar a possibilidade de que o sudeste amazônico tivesse sido
o centro de dispersão dos grupos dessa família. O presente artigo pretende
argumentar a favor desta hipótese.
Tal argumentação se dará mediante uma comparação de elementos politéticos relacionados, em especial, com características das cerâmicas arqueológicas, padrões de reocupação e formato dos assentamentos desses grupos.
O uso deste conceito visa superar alguns dos dilemas relativos à possibilidade
de identificação de categorias étnicas ou linguísticas no estudo do registro
arqueológico. Tal discussão remonta à arqueologia do início do século XX e não
será aqui reapresentada (Trigger 1989). Nossa perspectiva é a de que, malgrado
as inúmeras mudanças demográficas, culturais e políticas que resultaram da
conquista e da colonização europeias sobre os povos indígenas, é possível a
identificação de uma série de variáveis que têm consistência diacrônica, às
vezes em escalas milenares, que permitem o estabelecimento de conexões
entre padrões etnográficos e arqueológicos (Neves 2011). Tais variáveis podem, por exemplo, ser identificadas no estudo de cerâmicas arqueológicas.
Para compreender o que se quer dizer com “elementos politéticos”, será
tomada emprestada a descrição das Polythetic features feita por David Clark
(1978; cf. Adams & Adams 1991; Needham 1975). Para o autor, é possível
definir um grupo de entidades por uma série de propriedades de forma que:
(I) cada entidade possua um número alto, mas não específico, de um conjunto particular de atributos; (II) cada atributo seja compartilhado por um
alto número de entidades; (III) nenhum atributo necessariamente pertença
a todas as entidades do grupo (Clark 1978:36-37).
Processos de transmissão de conhecimento na produção de objetos, bem
como a noção de “comunidades de prática”, são centrais para a compreensão
de dinâmicas politéticas. Segundo Bowser e Patton (2008:108), a noção de
comunidades de prática provém da ideia de que o aprendizado de uma técnica ou conjunto de técnicas envolve processos de socialização que não têm
significado fora do campo da prática (Ingold 1996:26). Assim, as atividades
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
educativas não abarcam apenas a transmissão de informação, mas também
motivações para a integração dos indivíduos que, no processo de aprendizagem, atingem competências práticas definidas coletivamente, assumindo
novos papéis em face de tais competências (Bowser & Patton 2008:108).
Nesse contexto, as atividades educativas (de transmissão) teriam um
caráter contraditório, uma vez que apresentam as ferramentas para adaptar
e transformar a ordem, ao mesmo tempo em que reforçam e legitimam essa
ordem (Calhoun 2011:5). A aquisição do conhecimento não seria monotética, a simples repetição de ideias e ações, mas politética, uma coerente
reprodução de elementos combinados, sem a necessidade de que nenhum
desses elementos esteja presente o tempo todo. Além disso, o conhecimento
politético permite a existência de múltiplos significados para um mesmo
objeto (:21). Como resultado, a própria identidade de um grupo, no tempo
e no espaço, deve ser considerada politética (Degoy 2008:199).
A continuidade de práticas e ideias no mundo material não pode se resumir à transmissão de conhecimento de geração para geração, uma forma de
conservadorismo, uma propensão de imitar o estilo de uma geração anterior.
Em sociedades tradicionais, a tendência é que parte dos elementos politéticos permaneça, mas, ainda assim, o grau de permanência vai variar com
o contexto e com as diferentes histórias individuais e coletivas. A repetição
politética tende a fixar os significados e reduzir a autonomia para a inovação
(Chernela 2008:144). Para que o estilo (e a identidade) seja reconhecido,
precisa ser reconhecível, não podendo ser alterado de forma drástica (:148)
Os atributos politéticos da cerâmica da Tradição1 Tupi-Guarani são o uso
de antiplástico de caco moído e/ou mineral, a presença de vasos compostos
(um ângulo na parede) ou complexos (dois ou mais ângulos nas paredes), com
base convexa ou ovalada (com exceção dos grandes pratos planos para assar
mandioca), vasilhas com decorações plásticas corrugadas, unguladas, digitadas,
raspadas, escovadas, decorações estas quase sempre encontradas no exterior
do vaso, assim como decorações pintadas em vermelho, preto e branco, que
aparecem como banhos, faixas e/ou motivos geométricos, dentro ou fora dos
vasos. Urnas funerárias também são comuns e, em geral, consistem na reutilização de uma grande panela (muitas vezes corrugada) coberta por uma tampa,
vasos relacionados ao preparo e ao consumo de bebidas alcoólicas (Brochado
1984; Buarque 2010; La Salvia & Brochado 1989; Noelli & Brochado 1998).
A principal premissa dessa proposta é que por mais que as correlações
entre cultura material e línguas sejam extremamente complexas e conjunturais,
não se pode negar que existe uma relação entre a transmissão de conhecimento, a linguagem e os elementos estilísticos (i.e., uma coerência de elementos
politéticos). Não se trata, portanto, de indagar sobre possíveis correlações entre
501
502
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
línguas e grupos de objetos, mas sim em quais contextos é possível investigar
como operaram tais correlações. No presente caso, pode-se argumentar que,
se há um exemplo didático de correlação língua e cultura material na história
das sociedades indígenas sul-americanas, este é o caso dos Tupi-Guarani.
Assim, do mesmo modo que autores como Fausto (1992) e Viveiros de Castro
(1986) utilizaram a etnografia de grupos Tupi-Guarani para interpretar dados históricos desses grupos, muitos fenômenos documentados histórica ou
etnograficamente podem auxiliar na interpretação dos dados arqueológicos.
Figura 1 – Localização aproximada dos principais agrupamentos
de falantes de línguas tupi-guarani na época do contato
Tupi
Guarani
Tupinambá da Mata Atlântica
Tupinambá da Amazônia
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
Histórico de pesquisas sobre a arqueologia dos Tupi-Guarani
Desde meados do século XIX, estudiosos buscam compreender os processos e os mecanismos que permitiram aos grupos falantes de línguas
da família Tupi-Guarani ocupar vastas áreas das terras baixas da América
do Sul. Tais pesquisas foram iniciadas por von Martius, mas foi von den
Steinen quem observou semelhanças linguísticas e culturais que permitiam unificar os diversos grupos Tupinambá e Guarani (Noelli 1996,
1998, 2008). Foi também von den Steinen o primeiro estudioso a apontar o
sudeste amazônico — no caso, o alto Xingu — como o centro de dispersão
dos povos Tupi-Guarani:
Será, portanto, de importância decisiva para o problema da emigração tupi
saber se nas cabeceiras do Xingu, no Planalto Central, onde mais ou menos se
encontra o ponto geográfico central da irradiação tupi, ainda existam tribos tupi.
Admitindo que ali ainda elas existam, será necessário saber quais dialetos tupi
se aproximam principalmente dessas tribos incólumes de qualquer civilização
até hoje, através de sua linguagem, se colocam numa categoria próxima dos
primeiros tupinambás, encontrados antigamente pelos descobridores (von den
Steinen 1942:374, grifo nosso).
Uma das sínteses clássicas dos dados históricos desses grupos cultural
e linguisticamente relacionados foi a produzida por Alfred Métraux para o
Handbook of South American Indians vol. III (1948). A designação Tupinambá, utilizada por Métraux, cobria todos os índios falantes de línguas da família
Tupi-Guarani, desde a boca do Amazonas até Cananeia, nas proximidades
do Trópico de Capricórnio, assim como alguns grupos que habitavam áreas
próximas ao litoral.
Um dos primeiros comentários de Métraux foi que, por mais próxima que fosse a relação entre esses grupos, havia paradoxalmente uma
ligação de animosidade entre um grupo e outro. Animosidade que era
colocada em prática durante os intermináveis conflitos entre os grupos
que, por sua vez, terminavam em um clímax ritualístico: os derrotados
sendo servidos como prato principal (cf. Fernandes 1970). A descrição
de Métraux ainda indica que a economia desses grupos era baseada na
agricultura, e que a mandioca era a principal planta cultivada. Além da
agricultura, eles viviam da coleta, da caça e da pesca. As aldeias eram,
segundo o autor, localizadas em topos de morro, com quatro a oito casas
dispostas em torno de uma praça central, cada uma comportando até
503
504
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
200 pessoas. Algumas aldeias possuíam valas e paliçadas para defesa.
As casas comunais eram ocupadas por pessoas relacionadas por sangue
ou casamento. Cada casa comunal tinha um chefe. Acima de todos, estava
o chefe da aldeia (Métraux 1948).
Ainda de acordo com Métraux, dentro de cada casa eram encontradas
redes para dormir, bancos de madeira, cestaria e cerâmica. Outros objetos
eram os ornamentos de pena, o estojo peniano, contas, colares, arcos e flechas e os barcos. Em muitos casos, a relação dos Tupinambá com as canoas
que produziam foi central para a interpretação das dinâmicas desses grupos.
Na visão de Métraux, as canoas serviriam para pescar, para atacar inimigos
e, por que não, para se deslocar (e expandir) rapidamente.
Essa visão era coerente com o panorama tecido por Nordenskiöld
(1930), que via nas três grandes bacias hidrográficas na América do Sul
(Amazonas, Orinoco e Paraná) uma rede de conexões que teria permitido
grandes movimentos populacionais pelo continente. Panorama que seria
adaptado por Lowie e Steward para o Handbook of South American Indians,
sintetizando o conceito de Floresta Tropical (Neves 2008:360). Tal visão
também estava presente, de certa forma, no “modelo cardíaco” elaborado
por Lathrap (1970) e desenvolvido por Brochado (1984, 1989), que oferecia
uma proposta para a compreensão da história de longa duração dos grupos indígenas nas terras baixas da América do Sul, com destaque para os
Tupinambá e para os Guarani. Nesse modelo, tais grupos, representados
arqueologicamente pela Subtradição Tupinambá e pela Subtradição Guarani (respectivamente), seriam descendentes de antigas populações do
tronco Tupi que teriam se expandido a partir da Amazônia central. Nesta
região, assim como por quase toda a calha do rio Amazonas e por alguns
dos seus principais afluentes, esses antigos grupos Tupi produziriam
vestígios materiais ligados à Tradição Polícroma Amazônica (TPA). Nesta
perspectiva, e do ponto de vista arqueológico, as Subtradições Tupinambá
e Guarani seriam identificadas ao longo do litoral atlântico, nas áreas de
mata atlântica, nos vales do sul do Brasil e no entorno deste, e em algumas
outras regiões (Noelli 1996, 1998, 2008). Tais agrupamentos possuiriam
uma cultura material semelhante, o que permite falar em uma Tradição
Tupi-Guarani.2 Além disso, nesta visão, o eixo desse processo teria seguido
vias fluviais ou costeiras.
Embora os dois modelos (propostos por Métraux e por Brochado e
Lathrap) trabalhem com o potencial de redes fluviais para a dispersão dos
Tupi-Guarani, há uma diferença de temporalidade fundamental na compreensão desses fenômenos de movimentos dos Tupi-Guarani por parte dos
dois autores: Métraux (1927) via os caminhos fluviais como um mecanismo
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
Figura 2 – Modelo de dispersão dos Tupinambá e Guarani proposto por Brochado (1984)
que permitiria uma série de movimentos rápidos, de migração, que teriam
auxiliado os Tupi-Guarani a se dispersarem por amplas regiões em um espaço curto de tempo, alguns séculos antes da conquista europeia. Tal ideia
foi posteriormente adaptada por Meggers (1974, 1977, 1982), por um viés
em que mudanças climáticas teriam impulsionado os movimentos (vide a
seguir). Brochado e Lathrap (1982; Fig. 2), no entanto, viam os rios como
veículos de uma gradativa expansão dos Tupi-Guarani, ligada a um processo
de aumento populacional derivado de uma agricultura de várzea, em que
novos espaços seriam ocupados sem que os antigos fossem abandonados, em
um longo processo que começou antes do início da era cristã (Noelli 1996).
Não foi atribuída relevância alguma à terra firme. Brochado e Lathrap não
505
506
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
acreditavam que áreas de terra firme pudessem sustentar ocupações indígenas densas e sedentárias, como o que parece ter ocorrido com os grupos
Tupinambá da Amazônia. Em um famoso e não publicado artigo cult, estes
autores afirmaram:
[…] as populações da terra firme são populações fracassadas. Elas podem ser um
tormento para as populações da várzea. Elas podem servir como um mecanismo
utilizado pelas populações da várzea explorarem os recursos da terra firme. [...].
Entretanto, as populações da terra firme, com raras exceções, permaneceram
estáticas, tanto no sentido demográfico, quanto no sentido evolutivo (Brochado
& Lathrap 1982, trad. nossa).3
Naquela época, Brochado quase não tinha dados arqueológicos sobre
ocupações tupi-guarani na Amazônia em áreas de terra firme, na região
sudeste desta floresta. Nos últimos anos, no entanto, pesquisas nessas áreas
(Almeida 2008; Almeida & Garcia 2008; Garcia 2012) sugerem que as bacias
do baixo Tocantins e Xingu já estavam amplamente ocupadas no final do
primeiro milênio d.C. por grupos falantes de línguas tupi-guarani, ou seja,
muito antes do início da conquista europeia. Tais ocupações são classificadas por nós como partes de uma Subtradição Tupinambá da Amazônia que,
somada às Subtradições Guarani (sul do Brasil e entorno) e Tupinambá
da mata atlântica (os que habitavam a costa brasileira e áreas adjacentes)
formariam a grande Tradição Tupi-Guarani. A denominação Tupinambá da
Amazônia é em parte derivada da indicação feita por Vieira (1997 [1655 a
1659]), de que o médio Tocantins era a terra das nações Tupinambá, e por
von den Steinen (1942), que sugeriu o alto Xingu como centro de dispersão
dos Tupinambá, e em parte pelas relações cosmológicas homólogas verificadas entre os Araweté (Tupi-Guarani da Amazônia) e os Tupinambá do litoral
(Viveiros de Castro 1986).
Esse agrupamento (Subtradição Tupinambá da Amazônia) não tem a
homogeneidade cultural e linguística observada nos Guarani (e.g. Noelli
1993), tampouco a dos Tupinambá do litoral, como se viu no relato produzido
por Métraux. Essa Subtradição parece abranger pelo menos dois subconjuntos linguísticos, conforme designado por Rodrigues (1984/85:39-40), mas
ela pode ser ainda mais ampla. No entanto, não parece ser necessário que
os agrupamentos arqueológicos e linguísticos se encaixem com perfeição,
até porque o próprio Rodrigues (1984/85:48) admite que seus subconjuntos
são mais um ensaio do que uma classificação rigorosa. Classificações mais
aprimoradas, tanto da arqueologia quanto da linguística, dependem do
constante desenvolvimento interdisciplinar de ambas.
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
Os Tupi-Guarani no sudeste da Amazônia
Neste mesmo ano os padres mandaram uma embaixada (como cá dizem) à
nação dos Tupinambás, que dista trezentas léguas pelo mesmo rio (Tocantins)
acima, e é a gente mais nobre e mais calorosa de todas estas terras [...] (Pe.
Vieira 1997 [1655]).
Figura 3 – Tigela pintada com motivo antropomorfo
(Subtradição Tupinambá da Amazônia)
Interpretar a cronologia de ocupação dos Tupi-Guarani no sudeste da
Amazônia sempre foi um tema espinhoso para os arqueólogos (e.g. Araújo-Costa 1983; Brochado 1984; Prous 1992). Até recentemente, por exemplo, havia
uma única datação radiocarbônica para a região do baixo Tocantins (Simões
& Araújo-Costa 1987), apontando uma cronologia recente de ocupação, por
volta do século XVI d.C. Se interpretada sem o auxílio dos dados linguísticos,
esse resultado limitado poderia sugerir que os Tupi-Guarani ocuparam essa
região no período colonial, ou seja, seriam descendentes dos Tupinambá que
migraram de regiões costeiras em virtude do contato com os europeus. Tal hipótese, coerente à luz dos dados então disponíveis, chegou a ser cogitada em
estudos sobre grupos Tupi (Laraia 1984/85:26). Entretanto, os dados arqueológicos mais recentes do baixo Tocantins (Fase Tauarí retrabalhada por Almeida
[2008, 2013]) e Xingu (as fases Arara e Pacajá definidas por Perota [1992]), e
da região de interflúvio desses rios (a Fase Itacaiúnas, retrabalhada por Garcia
[2012]; Pereira et al. [2008]; Silveira et al. [2008]) deixam claro que esses grupos habitavam a região centenas de anos antes da chegada dos portugueses.
507
508
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
Figura 4 – Urna funerária encontrada na região de Santa Cruz, baixo Tocantins
(Subtradição Tupinambá da Amazônia). Foto: Marlon Prado, acervo FCCM
A cerâmica da Subtradição Tupinambá da Amazônia possui uma série
de elementos em comum com as Subtradições Tupinambá da Mata Atlântica
e Guarani (meridionais), como o uso de roletes para confeccionar os vasos, o
uso de antiplástico em grande quantidade na pasta, uma queima predominantemente incompleta (com núcleo escuro), um tratamento de superfície
nem sempre finalizado com um alisamento fino, a presença de vasos com
um ou mais ângulos na parede (Fig. 4), incluindo as grandes panelas (provavelmente) para preparo e as tigelas (com ombro pintado) para o consumo de
bebidas fermentadas (Fig. 6), decorações corrugadas, unguladas, digitadas,
escovadas e policrômicas (vermelho, branco, preto, amarelo, marrom etc.;
Fig. 7). Os dados do interflúvio Xingu-Tocantins (e.g. Silveira et al. 2008) e do
baixo Tocantins (encontradas no acervo da FCCM4) indicam que a presença
de urnas funerárias (como nas demais subtradições) também é elemento
presente na Subtradição Tupinambá da Amazônia (Fig. 4).
Os motivos pintados ou incisos na cerâmica são bastante semelhantes
aos encontrados nas subtradições Tupinambá do litoral (e.g. Buarque 2010;
Prous 2005, 2010) e Guarani (La Salvia & Brochado 1989; Neumann 2008),
incluindo motivos antropomorfos (Fig. 3) e em grega (Fig. 5). Os motivos em
grega são observados etnograficamente entre os Tupi-Guarani da Amazônia,
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
como nos Asurini; tais motivos são realizados de maneira análoga na cerâmica,
no corpo e em outros objetos rituais, como o chocalho xamânico e a flauta
(Müller 1985; 1990), ou seja, aparentemente há elementos estilísticos presentes na cerâmica arqueológica, que estavam difundidos de forma ampla em
vários aspectos culturais dos Tupi-Guarani da Amazônia — o pervasive style
definido por DeBoer (1991:148) — de maneira análoga ao que se documentou
historicamente junto dos Tupinambá do litoral (Abbeville 1975 [1614]; Évreux
2002 [1615]; Souza 2001 [1587]; Staden 1974 [1557]; cf. Fernandes 1970).
Figura 5 – Cerâmica pintada da Subtradição Tupinambá da Amazônia
(Fase Tauarí), com motivos em grega
Todavia, há algumas diferenças claras entre as subtradições, como
a utilização de antiplástico mineral pela Subtradição Amazônica em face
das demais, em que o antiplástico predominante é o caco cerâmico moído.
A espessura dos vasos também tende a ser mais fina na cerâmica tupinambá
da Amazônia do que nas demais. Vasos com bordas vazadas (prováveis vasos
chocalho utilizados em rituais) também são frequentes na Subtradição Amazônica e estão praticamente ausentes na cerâmica tupinambá do litoral e na
guarani. Por fim, as possibilidades de executar a decoração policrômica no
vaso parece ter sido mais ampla para os Tupinambá amazônicos do que para
os demais, incluindo linhas espessas vermelhas ou brancas que poderiam ser
executadas dentro ou fora dos vasos. Os grupos Tupi-Guarani da Amazônia
parecem ter optado, no momento de executar motivos finos nos seus vasos,
pela utilização de decorações incisas, técnica esta pouco utilizada nas demais
subtradições. Em resumo, há elementos que permitem unir essas indústrias
em uma mesma tradição, ao mesmo tempo em que há elementos que permitem dividir geograficamente as indústrias em diferentes subtradições.
A Subtradição Tupinambá da Amazônia, por sua vez, tem uma significativa variabilidade interna. Os trabalhos realizados pelo Pronapaba
(Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica), nas
509
510
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
décadas de 1970 e 1980, demonstraram com grande coerência as diferenças
entre as fases ligadas à “tradição Tupiguarani”: fases Tauarí e Tucuruí, no
baixo Tocantins (Araújo-Costa 1983; Meggers5 1992a, 1992b; Miller et al.
1992; Simões & Araújo-Costa 1987); Fase Itacaiúnas no interflúvio Xingu/
Tocantins (Figueiredo 1965; Simões 1986; Simões, Corrêa & Machado 1973),
e fases Arara e Pacajá no rio Xingu (Perota 1992). Essas subdivisões, que
têm um caráter muito mais espacial do que cronológico e que são calcadas
basicamente em variações de atributos cerâmicos, podem aumentar à luz
de novos dados. As diferenças internas dentro da Fase Itacaiúnas fornecem
um exemplo de que as classificações ainda são incipientes e que novos
agrupamentos internos podem surgir.
Figura 6 – Formas compostas ou complexas do sítio Bom Jesus 6, Fase Tauarí,
Subtradição Tupinambá da Amazônia do baixo Tocantins. Desenhos: Erêndira Oliveira
Um dos aspectos que mais chamam a atenção nas áreas habitadas pelos
antigos Tupi-Guarani é a grande presença de sítios em áreas de terra firme,
assim como o fato de que os sítios nas margens das grandes drenagens (e.g.
Simões e Araújo-Costa 1987), em geral, não têm dimensões maiores do que
os sítios de terra firme (e.g. Almeida 2008). Em alguns sítios de terra firme
a dispersão de cerâmicas chegava a vários hectares. Por exemplo, o sítio
Cavalo Branco, localizado a 15 km da margem direita do rio Tocantins, na
latitude da cidade de Marabá, tem cerâmicas espalhadas por uma área de
140.000 m², mas as maiores densidades de material foram relacionadas a
duas manchas de terra preta, uma com o dobro do tamanho da outra (Área I,
21.200 m², e Área II, 10.200 m²). Dados cronológicos indicam que essas áreas
foram ocupadas em momentos distintos: a primeira ocupação na Área I teria
ocorrido no séc. VIII (cal. 679-876 d.C.); a Área II teria sido ocupada no séc.
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
XIII (cal. 1162-1319 d.C.), seguida de uma ocupação na Área I por volta
do séc. XIV (cal. 1282-1402 d.C.). É possível que outras ocupações tenham
ocorrido depois, já que o topo da sequência estratigráfica não foi datado.
No caso do sítio Cavalo Branco, a semelhança entre as cerâmicas das
diferentes ocupações indica que o mesmo grupo reocupou a área do sítio,
provavelmente com distintas propostas. Já no caso do sítio Mutuca, localizado em uma área de interflúvio da bacia do rio Itacaiúnas, Garcia (2012)
identificou o material da Subtradição Tupinambá da Amazônia6 sobreposto
a uma antiga ocupação de cerâmica Inciso-Modelada (ligada a grupos
Arawak ou Caribe?). Isto significa que os dados arqueológicos sugerem não
apenas um reaproveitamento de áreas antigamente ocupadas por um mesmo
grupo (Tupinambá), mas também que os antigos falantes de tupi-guarani do
sudeste da Amazônia se aproveitaram de áreas outrora ocupadas por grupos
diferentes (estilística e, talvez, linguisticamente).
Figura 7 – Cerâmica pintada, ungulada, incisa e corrugada
(Subtradição Tupinambá da Amazônia)
511
512
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
Trata-se de um padrão de ocupação e reocupação descrito na literatura etnográfica dos Tupi-Guarani da região com recorrência. Por exemplo,
os Araweté (Viveiros de Castro 1986:267-273) apresentam um padrão de
assentamento marcado pela sazonalidade. No período de chuva, a aldeia
se fragmenta em diversos acampamentos, com pequenos grupos nucleares se dispersando pela mata para realizar atividades de trekking,7 ou
seja, ligadas à caça e à coleta de animais. Findadas as chuvas, ocorreria
um reagrupamento dentro do espaço da aldeia. Mesmo no período de
seca, seriam produzidas algumas estruturas que não pertencem à aldeia,
acampamentos de mata para abrigar caçadores ou famílias em curtas expedições. Do mesmo modo, todas as aldeias araweté localizavam-se em
áreas de antigas roças (Viveiros de Castro 1986:312), ou seja, o complexo
de estruturas em torno de uma aldeia influencia no momento em que esta
é transferida de lugar.
Os Parakanã são um caso à parte. A cisão interna, no fim do século
XIX, criou um grupo mais sedentário (os Parakanã orientais) e um grupo
praticamente nômade (os Parakanã ocidentais). Quando Fausto (2001:59)
indica que os Parakanã ocidentais foram aumentando o período de trekking
e abandonando a agricultura, lê-se nas entrelinhas que o grupo antes da
cisão praticava sazonalmente essa atividade. Dessa forma, há um curioso
exemplo de grupo, os Parakanã ocidentais, sem práticas agrícolas, mas que
se une na aldeia no período seco e se separa no período de chuva. Os Asurini
do Xingu também erguiam abrigos na mata: as Tapyia. Müller (1990:74) as
descreve como de pequena dimensão, sem paredes e construídas com folhas
de palmeiras. A antropóloga indica que as Tapyia, além de abrigo para o
período em que os índios deixam a aldeia para caçar e coletar, também são
utilizadas em áreas de roça.
Um último exemplo pode ser encontrado nos Urubu-Ka’apor, estudados por Balée (1994). Este grupo, dentro dos escolhidos para dialogar com
os dados arqueológicos, é o mais sedentário. Os Ka’apor teriam um sistema ecológico mais próximo do indicado para os Tupinambá (Assis 1996),
no qual o “núcleo” da aldeia era abandonado somente quando a aldeia
era transferida para outro lugar: a fragmentação nunca era total. Ribeiro
(2006:86), que esteve entre os Ka’apor quase meio século antes de Balée,
teve a oportunidade de descrever abrigos de roça desses índios “de 2,5m de
comprimento por 1,1 de largura e 2 de altura [...]. Enquanto a roça cresce
na mata, eles ficam a colher o que plantaram o ano passado no alto Coracy,
onde também há mais caça do que peixe. Assim somente daqui a uns quatro ou cinco meses voltarão àquele pouso”. Uma das maiores contribuições
oferecidas pela pesquisa de Balée (1994), do ponto de vista arqueológico,
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
é o fato de que o reaproveitamento de áreas ocupadas pelos Ka’apor não
necessariamente ocorria por eles mesmos, o mesmo acontecendo com seus
tradicionais inimigos, os Awá-Guajá, também falantes de uma língua tupi-guarani. Em síntese, tanto a arqueologia quanto a etnografia dos grupos
Tupi-Guarani indicam processos de reocupação das mesmas áreas, seja como
acampamento, seja como aldeia.
Outro ponto em que os dados arqueológicos e etnográficos parecem
convergir quanto aos Tupi-Guarani do sudeste amazônico diz respeito ao
formato das aldeias, compostas por um desenho de dispersão desordenada
das casas, assim como entre os Araweté (Viveiros de Castro 1986), os Parakanã (Fausto 2001; Vidal 1983), os Ka’apor (Balée 1994; Ribeiro 2006),
os Asurini do Tocantins (Andrade 1992), e os Waiãpi8 (Gallois 1986). Mapas
com a dispersão do material cerâmico nos sítios da Subtradição Tupinambá da Amazônia do baixo Tocantins também apontaram uma dispersão
aleatória dos fragmentos, ao contrário dos sítios encontrados no interior
do Maranhão ou do Brasil Central, em que nitidamente se pode perceber
um padrão circular de dispersão do material em volta de uma área central
vazia, provavelmente uma praça central (Almeida 2008; Almeida & Garcia
2008; Scientia 2008; Wüst 1983, 1990; Wüst & Barreto 1999). Trata-se de
uma clara diferença em relação ao padrão de aldeia historicamente documentado para os Tupinambá do litoral (cf. Assis 1996; Fernandes 1963;
Métraux 1948) — em que há, de maneira nítida, um padrão circular ou
quadrangular em forma de aldeia — mas que se assemelha ao padrão
aleatório arqueologicamente observado para os Guarani no vale do Paranapanema (e.g. Pallestrinni 1972/73, 1975).
Por fim, conta-se com a cronologia: um total de 57 datações, que é
em grande parte proveniente da região de interflúvio dos rios Xingu e Tocantins, e que confirmam a presença de grupos Tupi-Guarani no sudeste
amazônico há mais de um milênio antes da chegada dos europeus à região
(Tabela 1; Fig. 8).
Além dessas datas, os estudos realizados por Perota (1992:215) no
baixo Xingu apontam a existência de 11 datações que não foram apresentadas individualmente, mas que estariam restritas a um período de 1260 a
1550 d.C. Quanto às datas encontradas na Tabela 1, pode-se indicar que,
enquanto a datação mais antiga (sítio Bela Vista: 480 a.C.) encontra-se isolada e, portanto, deve permanecer separada à espera de que novos estudos
a confirmem ou não, há uma cronologia consistente a partir do século III
da era cristã, que se estende até o século XVIII d.C., alguns séculos depois
de relatos históricos indicarem que essa região era ocupada por grupos
de língua tupi-guarani (cf. Vieira 1997 [1655 a 1659]). Essa cronologia é
513
514
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
Tabela 1: Datações por termoluminescência para
os sítios da Subtradição Tupinambá da Amazônia
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
Figura 8: Datações calibradas para os sítios
da Subtradição Tupinambá da Amazônia (Calib.)
importante não só por atestar a presença pré-colonial de grupos Tupi-Guarani
na região, mas também por indicar que a cronologia dos Tupi-Guarani da
Amazônia é mais antiga do que a da Tradição Polícroma da Amazônia, cujas
datas mais remotas se situam próximas do século VIII d.C. (Almeida 2013;
Neves 2012). Isto, portanto, confirma que a Tradição Tupi-Guarani não é
uma extensão diacrônica da chamada Tradição Polícroma da Amazônia,
conforme postularam Brochado (1984, 1989) e Lathrap (1970); Brochado &
Lathrap 1982), mas anterior a ela.
Verifica-se, desta forma, um padrão arqueológico no sudeste da Amazônia marcado pela combinação entre variabilidade material e profundidade
cronológica, o que é compatível com os dados linguísticos. Segundo Mello e
Kneip (2006) nos estudos sobre origem e dispersão das línguas tupi, a maioria
dos linguistas trabalhou com hipóteses referentes à área com a maioria de
subgrupos do tronco Tupi, e não com o local com maior variabilidade linguística na família Tupi-Guarani. Assim, enquanto a bacia do alto Madeira
515
516
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
só tem um grupo falante de línguas tupi-guarani (os Kawahib), o baixo
Tocantins tem 14, agrupados em quatro grandes subgrupos Tupi-Guarani,
com uma história milenar de ocupação (Rodrigues 1984/1985).
A possibilidade da expansão tupi-guarani ter ocorrido a partir do sudeste
amazônico é atraente, mas não explica o papel dos Guarani nessa história.
As datações guarani, próximas ao início da era cristã na bacia do alto Paraná
(Bonomo et al. 2015; Noelli 1993, 1999-2000), exigiriam uma cronologia ainda mais recuada para o material amazônico, o que está longe de ser provado.
Resta também estabelecer quais foram as rotas de expansão dos Guarani
a partir deste suposto centro de origem. Este ponto será discutido à frente.
Os dados do sudeste da Amazônia parecem sugerir um quadro intermediário que escapa do determinismo ecológico implícito nas hipóteses
que associam os movimentos migratórios dos grupos Tupi-Guarani a respostas diretas para mudanças climáticas e consequentes movimentos de
expansão e retração da floresta tropical (Meggers 1974, 1977, 1979, 1982;
Miller 1983, 2009; Schmitz 1991) Escapa igualmente de um “determinismo
às avessas” (cf. Carneiro 1995) empregado por Brochado e Lathrap em um
modelo com uma possibilidade ilimitada de expansão ribeirinha, bombeada
pela igualmente ilimitada (em proteínas) várzea amazônica (o “coração”
do modelo cardíaco).
Os dados atualmente disponíveis mostram que os Tupinambá (assim
como muitos outros grupos) se aproveitaram do potencial das várzeas,
quando disponíveis. Todavia, eles se valeram de muito mais do que isso,
com o uso diversificado das áreas de terra firme, criativamente se beneficiando da variedade de compartimentos topográficos e vegetais que podem
ser encontrados no sudeste da Amazônia, assim como de um complexo e
contíguo processo de utilização de áreas previamente ocupadas. Tal história milenar de ocupação de espaços ribeirinhos e de interflúvios ocorreu
concomitantemente à ocupação de áreas contíguas por parte de grupos
falantes de línguas distintas, por exemplo, das famílias Arawak e Macro Jê.
A concomitância territorial entre os diferentes grupos, assim como entre os
próprios Tupinambá, certamente não se deu sempre de forma pacífica (cf.
Balée 1987). Os diferentes resultados desses contatos, as idiossincrasias dos
distintos grupos ou indivíduos responsáveis pelas decisões sociopolíticas
durante períodos de muitas centenas de anos sugerem a necessidade de
que contingências históricas, de complexa averiguação arqueológica, não
devam ser ignoradas pelos que buscam compreender a ampla dispersão
dos Tupi-Guarani.
As crônicas dos séculos XVI e XVII são didáticas em descrever uma
série de movimentos de longa distância empreendida por grupos Tupinambá
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
e Guarani. Descontada a intensidade apocalíptica dos contatos com os europeus, pode-se cogitar que eventos de deriva — movimentações geograficamente longas e temporalmente curtas — durante o período pré-colonial
ajudem a responder questões como a distância espacial dos Guarani em
relação ao suposto centro de origem amazônico. Da mesma forma, esses
fatores de curta duração podem contribuir para a compreensão do destaque
dos Tupi-Guarani na área em que se encontra a maioria das demais famílias do tronco Tupi (sudoeste amazônico). Em outras palavras, restringir-se
somente a possibilidades ligadas a processos de longa duração parece não
ser suficiente para explicar o resultado de um emaranhado complexo de
histórias durante um longo período. Limitar os caminhos desses movimentos
aos cursos fluviais ou costeiros também não.
A contribuição mais evidente trazida pela arqueologia dos Tupinambá
da Amazônia reside no fato de que estes parecem ter se espalhado no sudeste
amazônico, no entorno do baixo curso dos rios Tocantins e Xingu e na grande
região de interflúvio desses rios, principalmente por vias terrestres, ou seja,
os grandes rios e o litoral não podem ser os únicos caminhos explorados para
a compreensão da expansão dos Tupi-Guarani. Estes não se movimentaram
apenas de maneira cardíaca, por veias e artérias bem definidas, mas também de forma “hemorrágica”, sem sentido aparente, sem necessariamente
respeitar as grandes drenagens fluviais, mas com uma incrível coerência.
Conclusões
Sua vocação estaria no caminho, que convida ao movimento.
(Buarque de Holanda 1994:9)
A etnografia, a etno-história e a arqueologia atestam a existência de um
grande número de grupos falantes de línguas tupi-guarani no sudeste da
Amazônia. A cerâmica desses grupos está relacionada à Subtradição Tupinambá da Amazônia. Esta, somada com as Subtradições Tupinambá da Costa
e Guarani, formaria a Tradição Tupi-Guarani. Dessa forma, além do litoral,
da atual região Sul brasileira e de áreas da Argentina, Bolívia e Paraguai,
os Tupi-Guarani também ocupavam grandes áreas do sudeste amazônico
antes do início da colonização europeia.
As datações arqueológicas para os Tupinambá da Amazônia têm grande
consistência a partir do século III d.C., mas a revisão de uma série de outras
datações (e.g. Silveira et al. 2008) pode oferecer uma profundidade ainda
maior para a ocupação desses grupos. Um dos grandes empecilhos para
517
518
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
essa análise cronológica é a imensa variabilidade do material arqueológico
na região, o que não é de se estranhar, visto que na milenar ocupação do
sudeste amazônico os inúmeros grupos de língua tupi-guarani passaram
por diversos processos e eventos contingenciais, incluindo a interação com
os mais diferentes grupos de entorno (e.g. Arawaks e Caribes do Xingu,
Timbira do Maranhão e os Jê do Brasil Central).
Esse difícil quebra-cabeças só pode ser montado mediante rigorosos
e consistentes estudos arqueológicos que dialoguem insistentemente com
os dados etnográficos, linguísticos e históricos, de forma que se produza
um quadro coerente que explique a história desses grupos na bacia sul da
Amazônia. Além disso, outro passo para a compreensão da história desses
grupos de língua tupi-guarani é a comparação deles com os demais grupos
do tronco Tupi. Comparação reservada para outro momento.
Recebido em 09 de fevereiro de 2015
Aprovado em 25 de agosto de 2015
Fernando Ozorio de Almeida é professor do Departamento de Arqueologia,
Universidade Federal de Sergipe. E-mail: <[email protected]>
Eduardo Góes Neves é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo. E-mail: <[email protected]>
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
Notas
* Agradecimentos: A Solange Caldarelli, da Scientia Consultoria, coordenadora
do projeto da LT Tucuruí-Açailândia que gerou o estudo “Cavalo Branco”, assim como
muitas das datas aqui apresentadas. Também agradecemos a Lorena Garcia, nossa
interlocutora para a arqueologia do sudeste da Amazônia, que também cedeu datas
dos sítios por ela analisados, e aos colegas da Fundação Casa da Cultura de Marabá.
1
Tradição: referente a Estilos (incluindo técnicas) politéticos com persistência temporal e abrangência espacial. Um conjunto de fases distribuídas por áreas
vastas e com grande amplitude cronológica. Subtradição: frequentemente usada e
raramente definida, tende a indicar um conjunto de fases (ou sítios) em uma região
mais restrita (e.g. a bacia de um rio). Pressupõe a existência de uma Tradição que a
englobe. A discussão desse conceito será retomada adiante. Fase: é um conjunto de
atributos recorrentes em uma área restrita (e.g. um trecho de rio), em um período
que é determinado pela manutenção de uma coerência politética nos elementos
estudados. Assim, o presente uso de fase tem um caráter mais espacial (o tamanho
e a quantidade de sítios relacionados encontrados em uma área) do que temporal,
ainda que o último seja fundamental. Não se restringe necessariamente a um único
coletivo ou grupo étnico.
Termo curiosamente negligenciado por Lathrap e, até certo ponto, combatido
por Brochado; os autores não concordavam com o agrupamento dos Guarani com
os Tupinambá.
2
3
No original: “populations in the terra firme are failed populations. They can add
as an harassment to the populations in the várzea (the floodplains). They can act as
a mechanism through which the várzea populations exploit the resources of the terra
firme. […] However, the populations of the terra firme, with a few exceptions, remained
static in both demographic and evolutionary sense” (Brochado & Lathrap 1982).
4
Fundação Casa da Cultura de Marabá.
5
Nos trabalhos com as fases do baixo Tocantins, Meggers (1992a, 1992b)
defende a correlação entre fase e grupo étnico, um argumento ainda longe de ser
“comprovado”.
A autora não usa essa designação para a cerâmica, que ela chama apenas
de “Tupi”.
6
7
Balée (1994:210) define grupos trekkers como os que passam seis meses por
ano longe da aldeia, para a qual acabam voltando.
Os Waiãpi antigamente habitavam áreas da bacia do Xingu, tendo migrado
no período colonial para a região das Guianas, incluindo o Amapá (Gallois 1986).
8
519
520
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
Referências bibliográficas
ABBEVILLE , Claude d’. 1975 [1614].
BALÉE, William. 1987. “The ecology of an-
História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras
circunvizinhas. Belo Horizonte/São
Paulo: Itatiaia/Edusp.
ADAMS, William Y. & ADAMS, Ernest W.
1991. Archaeological typology and
practical reality: a dialectical approach
to the artifact classification sorting.
Cambridge: Cambridge University Press.
ALMEIDA, Fernando O. 2008. O complexo tupi da Amazônica Oriental.
Dissertação de Mestrado, Museu de
Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo.
___. 2011. “Escrevendo um capítulo da
história cultural tupinambá através
da variabilidade cerâmica”. Boletim
Técnico da Fundação Casa da Cultura
de Marabá, 5:41-57.
___. 2013. A tradição polícroma no alto rio
Madeira. Tese de Doutorado, Museu de
Arqueologia e Etnologia, Universidade
de São Paulo.
ALMEIDA, Fernando O. & GARCIA, Lorena G.
2008. “Aspectos do espaço tupinambá”.
Revista de Arqueologia, 21(2):97-119.
ANDRADE, Lúcia. 1992. “A marca dos tempos: identidade, estrutura e mudança
entre os Asuriní do Trocará”. In: L. B.
Vidal (org.), Grafismo indígena, estudos de antropologia estética. São
Paulo: Nobel. pp. 117-132.
ARAUJO-COSTA, Fernanda. 1983. Projeto
Baixo Tocantins: salvamento arqueológico na região de Tucuruí. Dissertação de Mestrado, Faculdade de
Filosofia Letras e Ciências Humanas,
Universidade de São Paulo.
ASSIS, Valéria. 1996. Da espacialidade
tupinambá. Dissertação de Mestrado,
Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul.
cient tupi warfare”. In: R. B. Ferguson
(ed.), Warfare, culture and environment. Orlando: Academic Press. pp.
241-265.
___. 1994. Footprints of the forest: Ka´apor
ethnobotany – the historical ecology of
plant domestication by an Amazonian
people. New York: Columbia University Press.
BONOMO, Mariano; ANGRIZANI, Rodrigo
C.; APOLINAIRE; Eduardo & NOELLI,
Francisco S. 2015. “A model for the
Guarani expansion in the La Plata Basin
and littoral zone of southern Brazil”.
Quaternary International, 356:54-73.
BOWSER, Brenda J. & PATTON, John Q.
2008. “Learning and the transmission of
pottery style”. In: M. Stark; B. J. Bowser
& L. Horne (eds.), Cultural transmission
and material culture. Tucson: University
of Arizona Press. pp. 105-129.
BROCHADO, José P. 1984. An ecological
model of the spread of pottery and
agriculture into eastern South America.
Ph.D. Dissertation, University of Illinois at Urbana Champain.
___. 1989. “A expansão dos Tupi e da cerâmica da tradição polícroma amazônica”. Dédalo, 27:65-82.
BROCHADO, José P. & LATHRAP, Donald
W. 1982. Chronologies in the new
world. Manuscrito não publicado.
BUARQUE, Ângela 2010. “As estruturas
funerárias das aldeias tupinambá da
região de Araruama, RJ”. In: A. Prous
& T. A. Lima (orgs.), Os ceramistas tupiguarani. vol. III – Eixos temáticos.
Belo Horizonte: Superintendência do
Iphan de Minas Gerais. pp. 179-172.
BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. 1994.
Caminhos e fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras.
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
CALHOUN, Craig. 2011. “For the social
FAUSTO, Carlos. 1992. “Fragmentos de
history of the present: Bourdieu as
historical sociologist”. In: P. Gorski
(ed.), Bourdieu, theory and historical
sociology. Durham: Duke University
Press. pp. 1-29.
CARNEIRO, Robert L. 1995. “The history of
ecological interpretations of Amazonia:
does Roosevelt have it right?”. In: L.
Sponsel (ed.), Indigenous peoples and
the future of Amazonia: an ecological
anthropology of an endangered world.
Tucson/ London: Tucson Arizona Press.
pp. 45-70.
CHERNELA, Janet. 2008. “Translating ideologies: tangible meaning and spatial
politics in the northwest Amazonia
of Brazil”. In: M. Stark; B. J. Bowser
& L. Horne (eds.), Cultural transmission and material culture. Tucson:
University of Arizona Press. pp.
130-149.
CLARK, David L. 1978. Analytical archaeology. New York: Columbia University
Press.
CLASTRES, Heléne. 1978. Terra sem mal.
São Paulo: Brasiliense.
CRUZ, Daniel. 2008. Lar doce lar? Arqueologia tupi na bacia do Ji-Paraná (RO).
Dissertação de Mestrado, Museu de
Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo.
DEBOER, Warren R. 1991. “The decorative
Burden: design, medium, and change”.
In: W. Longacre (ed.), Ceramic ethnoarchaeology. Tucson: University of Tucson
Press. pp. 144-161.
DEGOY, Laure. 2008. “Technical traditions
and cultural identity: an ethnoarchaeological study of Andhara Pradesh potters”. In: M. Stark; B. J. Bowser & L.
Horne (eds.), Cultural transmission
and material culture. Tucson: University of Arizona Press. pp. 199-222.
ÉVREUX, Yves d’. 2002 [1615]. Viagem ao
norte do Brasil. Rio de Janeiro: Leite
Ribeiro.
história e cultura tupinambá.” In: M.
C. Cunha (org.), História dos índios
no Brasil. São Paulo: Companhia das
Letras. pp. 381-396.
___. 2001. Inimigos fiéis: história, guerra e
xamanismo na Amazônia. São Paulo:
Edusp.
FERNANDES, Florestan. 1963. A organização social dos Tupinambá. São Paulo:
Difusão Europeia do Livro.
___. 1970. Função social da guerra na sociedade tupinambá. São Paulo: Pioneira.
FIGUEIREDO, Napoleão A. 1965. “Cerâmica arqueológica do Rio Itacaiúnas”. Boletim do Museu Paraense
Emílio Goeldi, Antropologia, 27:1-17.
GALLOIS, Dominique T. 1986. “Migração, guerra e comércio: os Waiãpi na
Guiana”. Série Antropologia, 15. São
Paulo, FFLCH/USP.
GARCIA, Lorena G. 2012. Arqueologia
na região dos interflúvios Tocantins-Xingu: os Tupi do Cateté. Dissertação
de Mestrado, Museu de Arqueologia e
Etnologia, Universidade de São Paulo.
INGOLD, Tim. 1996. “The optimal forager
and the economic man”. In: P. Descola
& G. Parsson (eds.), Nature and society:
an anthropological perspective. London/ New York: Routledge. pp. 25-44.
LARAIA, Roque B. 1984/85. “Uma etno-história Tupi”. Revista de Antropologia, 27/28:25-32.
LA SALVIA, Fernando & BROCHADO, José
P. 1989. Cerâmica guarani. Porto Alegre: Posenato Arte e Cultura.
LATHRAP, Donald W. 1970. The upper
Amazon. London: Thames & Hudson.
MEGGERS, Betty J. 1974. A reconstrução
da pré-história amazônica. São Paulo:
Edusp.
___. 1977. “Vegetation fluctuation and
prehistoric cultural adaptations in
Amazonia: some tentative correlations”. World Archaeology, 8(3):
287-303.
521
522
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
___. 1979. “Climatic oscillation as a factor in the prehistory of Amazonia”.
American Antiquity, 44(2):252-266.
___. 1982. “Archaeological and ethnographic evidence compatible with the
model of forest fragmentation” In:
G. Prance (ed.), Diversification in the
tropics. New York: Columbia University
Press. pp. 483-496.
___. 1992a. “Prehistoric population density in the Amazon basin”. In: J. Veruno
& D.H. Ubelaker (eds.), Disease and
demography in the Americas. Washington D.C.: Smithsonian Institution
Press. pp. 197-205.
___. 1992b. “Judging the future by the past:
the impact of environmental instability
on Prehistoric Amazonian Populations”. In: L. Sponcel (ed.), Indigenous
peoples and the future of Amazonia:
an ecological anthropology of an endangered world. Tucson: University of
Arizona Press. pp. 15-43.
MELLO, Antônio A. S. & KNEIP, Andreas.
2006. “Evidências linguísticas que
apontam para a origem dos povos Tupi-Guarani no leste amazônico”. International Congress of Americanists, 52°,
Sevilha. Mimeo.
MENÉNDEZ, Miguel. 1981/1982. “Uma
contribuição para a etno-história da
área Tapajós-Madeira”. Revista do
Museu Paulista, XXVIII:289-388.
MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de
la Société des Américanistes, 19:1-45.
___. 1948. “The Tupinambá”. In: J. Steward
(ed.), Handbook of South American
indians, 3. Washington: Government
Printing Office. pp. 95-133.
MIGLIAZZA, Ernesto. 1982. “Linguistic prehistory and the refuge model in Amazonia”. In: G.T. Prance (ed.), Biological
diversification in the tropics. New York:
Columbia University Press. pp. 497-519.
MILLER, Eurico T. 1983. História da cultura indígena do Alto-Médio Guaporé
(Rondônia e Mato Grosso). Dissertação
de Mestrado, Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre.
___. 2009. “A cultura cerâmica do tronco
tupi no alto Ji-Paraná, Rondônia,
Brasil: algumas reflexões teóricas,
hipotéticas e conclusivas”. Revista
Brasileira de Linguística Antropológica,
1(1):35-136.
MILLER, Eurico T. et al. 1992. Arqueologia
nos empreendimentos hidrelétricos da
Eletronorte. Brasília-DF; Eletronorte.
MÜLLER, Regina P. 1985. “Abstracionismo
na pintura corporal asuriní”. In: Arte
e corpo: pintura sobre a pele e adornos
de povos indígenas brasileiros. Rio de
Janeiro: Funarte/Instituto Nacional de
Artes Plásticas. pp. 21-25.
___. 1990. Os Asuriní do Xingu: história e
arte. Campinas: Editora da Unicamp.
NEEDHAM, Rodney. 1975. “Polythetic
classification: convention and consequences”. Man, 10(3):349-369.
NEVES, Eduardo G. 2008. “Ecology, ceramic chronology and distribution,
long-term history, and political change
in amazonian floodplain”. In: H. Silvernan & W. H. Isbell (eds.), Handbook
of South American archaeology. New
York: Springer. pp. 359-378.
___. 2011. “Archaeological cultures and past
identities in pre-colonial Central Amazon”. In: A. Hornborg & J. Hill (eds.),
Ethnicity in ancient Amazonia: reconstructing past identities from archaeology,
linguistics, and ethnohistory. Boulder:
University of Colorado Press. pp. 31-56.
___. 2012. Sob os tempos do Equinócio:
oito mil anos de história na Amazônia
Central (6.500 a.C.–1.500 d.C.). Tese de
Livre-Docência, Museu de Arqueologia
e Etnologia, Universidade de São Paulo.
NEUMANN, Mariana A. 2008. Ñande
Rekó: diferentes jeitos de ser Guarani.
Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
NIMUENDAJÚ, Curt. 1948. “The Cawahib,
PEROTA, Celso. 1992. “Adaptação agrícola
Parintintin and their neighbors”. In:
J. Steward (ed.), Handbook of South
American indians, 3. Washington: Government Printing Office. pp. 283-297.
NOELLI, Francisco S. 1993. Sem Tekohá
não há Tekó: em busca de um modelo
etnoarqueológico da aldeia e da subsistência guarani e sua aplicação a uma
área de domínio no delt a do rio Jacuí-RS.
Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
___. 1996. “As hipóteses sobre o centro de
origem e rotas de expansão dos Tupi”.
Revista de Antropologia, 39(2):7-53.
___. 1998. “The Tupi: explaining origin
and expansions in terms of archaeology and the historical linguistics”.
Antiquity, 72(2):648-663.
___. 1999-2000. “A ocupação humana da
região Sul do Brasil: arqueologia,
debates e perspectivas – 1872-2000”.
Revista USP, 44:218-269.
___. 2008. “The Tupi expansions”. In: H.
Silverman; W. H. Isbell (ed.), Handbook of South American archaeology.
New York: Springer. pp. 200-212.
NOELLI, Francisco S. & BROCHADO, José
P. 1998. “O cauim e as beberagens dos
Guarani e Tupinambá: equipamentos,
técnicas de preparação e consumo”.
Revista do MAE, 8:117-128.
NORDENSKIÖLD, Erland. 1930. L’archéologie du bassin de l’Amazone. Ars Americana 1. Paris: Les Éditions G. van Oest.
PALLESTRINI, Luciana. 1972/1973. “Supraestruturas e infraestruturas arqueológicas no contexto ecológico brasileiro”.
Revista do Museu Paulista, 20:7-32.
___. 1975. “Interpretação das estruturas
arqueológicas em sítios do Estado de
São Paulo”. Revista do Museu Paulista,
Série Arqueologia, 1:1-208.
PEREIRA, Edithe et al. 2008. “A tradição tupiguarani na Amazônia”. In: A. P. Prous &
T. A. Lima (orgs.), Os ceramistas tupiguarani. Belo Horizonte: Sigma. pp. 49-66.
no baixo Xingu”. In: B. Meggers (ed.),
Prehistoria sudamericana. Washington D.C.: Taraxacum. pp. 211-218.
PROUS, André P. 1992. Arqueologia brasileira. Brasília: UnB.
___. 2005. “A pintura em cerâmica tupiguarani”. Ciência Hoje, 36(213):22-28.
___. 2010. “A pintura em cerâmica tupiguarani”. In: A. P. Prous & T. A. Lima
(orgs.), Os ceramistas tupiguarani, II.
Belo Horizonte: Sigma. pp. 113-216.
RAMIREZ, Henri. 2007. “As línguas indígenas do Alto Madeira: estatuto atual
e bibliografia básica”. Língua Viva, 4.
RIBEIRO, Darci. 2006. Diários índios: os
Urubus-Ka’apor. São Paulo: Companhia das Letras.
RODRIGUES, Aryon D. 1964. “A classificação do tronco linguístico tupi”. Revista
de Antropologia, 12:99-104.
___. 1984/85. “Relações internas na família linguística tupi-guarani”. Revista
de Antropologia, 27-28:33-53.
RODRIGUES, Aryon D. & CABRAL, Ana Suelly
A. C. 2012. “Tupían”. In: L. Campbell
& V. Grondona (eds.), The indigenous
languages of South America: a comprehensive guide. Berlin: De Gruyter
Mouton. pp. 495-574.
SCHMITZ, Pedro I. 1991. “Migrantes da
Amazônia: a tradição tupiguarani”. Arqueologia do RGS, Brasil – Documentos
(São Leopoldo), 5:31-66.
SCIENTIA Consultoria Científica. 2008.
Relatório Final: Projeto de Salvamento
dos Sítios Arqueológicos Localizados
na Área Diretamente Afetada da Linha
de Transmissão Tucuruí/PA – Presidente
Dutra/MA (3° Circuito). Organização
de S. Caldarelli, São Paulo. Miemo.
SILVA, Fabíola A. 2007. “A arqueometria e
a análise de artefatos cerâmicos: um
estudo de fragmentos por flurescência de Raios X (EDXRF) e transmissão
Gama”. Revista de Arqueologia, 17:
41-61.
523
524
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
SILVEIRA, Maura I.; RODRIGUES, Maria
WALKER, Robert S.; WICHMANN, Soren;
Christina L. F.; OLIVEIRA, Elisângela R.
& LOSIER, Louis-Martin. 2008. “Sequência cronológica de ocupação na área do
Salobo (Pará)”. Revista de Arqueologia,
21(1):61-84.
SIMÕES, Mário F. 1986. “Salvamento arqueológico”. In: J. M. G. Almeida Jr.
(org.), Carajás: desafio político, ecologia
e desenvolvimento. Brasília: Brasiliense/
CNPq. pp. 534-559.
SIMÕES, Mário F. & ARAÚJO-COSTA, Fernanda. 1987. “Pesquisas arqueológicas
no baixo rio Tocantins (Pará)”. Revista
Arqueologia, 4(1):11-27.
SIMÕES, Mário F.; CORRÊA, Conceição G. &
MACHADO, Ana Lúcia. 1973. “Achados
arqueológicos no baixo rio Fresco (Pará)”.
Publicações Avulsas, 20:113-141.
SOUZA, Gabriel S. 2001 [1587]. Tratado
descritivo do Brasil em 1587. Belo Horizonte: Itatiaia.
STADEN, Hans. 1974 [1557]. Duas viagens
ao Brasil. São Paulo: Edusp.
STEINEN, Karl von den. 1942. Brasil Central.
São Paulo: Companhia Editora Nacional.
TRIGGER, Bruce G. 1989. A history of archaeological thought. Cambridge/ New
York: Cambridge University Press.
URBAN, Greg. 1992. “A história da cultura
brasileira segundo as línguas nativas”.
In: M. C. Cunha (org.), História dos
índios no Brasil. São Paulo: Companhia
das Letras. pp. 87-102.
VIDAL, Lux. 1983. “O espaço habitado entre os Kaiapó-Xikrim (Jê) e os Parakanã (Tupi) do médio Tocantins, Pará”.
In: S. C. Novaes (org.), Habitações
índígenas. São Paulo: Nobel/Edusp.
pp. 77-102.
VIEIRA, Antônio. 1997 [1655 a 1659]. Cartas. Vol. 1. Organização de J.L. Azevedo. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa
da Moeda.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. 1986.
Araweté: os deuses canibais. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar.
MAILUND, Thomas & ATKINSON, Cur-
tis J. 2012. “Cultural phylogenetics of
the tupi language in Lowland South
America”. Plos One, 7(4):1-9.
WÜST, Irmhild. 1983. Aspectos da ocupação pré-colonial em uma área do
Mato Grosso de Goiás: tentativa de
análise espacial. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia Letras e
Ciências Humanas, Universidade de
São Paulo.
___. 1990. Continuidade e mudança: para
uma interpretação dos grupos ceramistas pré-coloniais da bacia do rio
Vermelho, Mato Grosso. Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia Letras
e Ciências Humanas, Universidade
de São Paulo.
WÜST, Irmhild & BARRETO, Cristiana. 1999.
“The ring villages of Central Brazil: a
challenge for Amazonian archaeology”.
Latin American Antiquity, 10(1):3-23.
ZIMPEL NETO, Carlos A. 2009. Na direção
das periferias extremas da Amazônia:
Estudo da Arqueologia na Bacia do
Rio Jiparaná, Rondônia. Dissertação
de Mestrado, Museu de Arqueologia e
Etnologia, Universidade de São Paulo.
EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA
Resumo
Abstract
Grupos falantes de línguas da família
Tupi-Guarani estavam espalhados por
vastas regiões da América do Sul na
época da chegada dos europeus. Durante
décadas, especulou-se sobre o processo de
dispersão desses grupos por um território
tão grande. Neste artigo indica-se que o
estudo da história dos grupos falantes
de línguas tupi-guarani da Amazônia
Oriental, produtores de cerâmica da Subtradição Tupinambá da Amazônia, é uma
peça fundamental para a compreensão de
fenômenos de mobilidade e da complexidade interna dos Tupi-Guarani.
Palavras-chave Arqueologia amazônica,
Família linguística Tupi-Guarani, Tradição Tupi-Guarani, Subtradição Tupinambá da Amazônia, Cerâmica, Cronologia.
Tupi-Guarani speaking groups were
spread over vast regions of South
America when the Europeans arrived.
Speculation about the process of dispersion of these groups has been ongoing
for decades. In this paper we point out
that studying the history of the TupiGuarani groups from Eastern Amazonia, producers of pottery related to the
Amazonian Tupinambá Subtradition, is
fundamental to the comprehension of
the mobility and internal complexity of
the Tupi-Guarani.
Key words Amazonian Archaeology,
Tupi-Guarani linguistic family, Tupi-Guarani Tradition, Amazonian Tupinambá Subtradition, Pottery, Chronology.
525
MANA 21(3): 527-552, 2015 – DOI http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p527
OUTRAS ALEGRIAS:
CACHAÇA E CAUIM NA
EMBRIAGUEZ MBYÁ-GUARANI
Guilherme Orlandini Heurich
Neste artigo exploro os sentidos da embriaguez (-ka’u) proporcionada pelo
consumo de cachaça entre os Mbyá-guarani durante as festas que realizam
em suas comunidades no sul do Brasil. O foco da descrição está na alteração
proporcionada por esse consumo, nas reflexões dos Mbyá sobre os “bailes”
e na visibilidade que toma a relação entre vivos e mortos nesse contexto.
A partir disso, associo a embriaguez com as cauinagens descritas por etnógrafos de outros povos ameríndios e sugiro que a alteração proporcionada
pela cachaça aos Mbyá se assemelha àquelas suscitadas pelas cauinagens.
As comunidades guarani estão localizadas num continuum que vai da
Bolívia ao litoral brasileiro, passando também por Paraguai e Argentina, sendo que sua população é estimada em cerca de 180 mil pessoas (ISA 2012).1
Um terço dos Guarani vive no Brasil e destes, 7 mil são Mbyá-guarani, os
quais ocupam boa parte do território acima referido, notadamente na região
de Missiones (Argentina), leste paraguaio e no litoral brasileiro desde o Rio
Grande do Sul ao Espírito Santo (Ladeira & Costa 1995:211).2 Ao longo dos
séculos, os Guarani se depararam com variadas formas de esbulho e apropriação de seu território — missões, guerras e bandeiras — e se esquivaram
delas através de diferentes maneiras de enfrentamento, resistência, aliança
e fuga. Tratando especificamente dos Mbyá que moram no sul do Brasil,
Garlet e Assis (2004) mostram que a invisibilidade foi durante muito tempo
a estratégia utilizada para se aproximar e se afastar dos não indígenas,
mas que ela começou a se modificar em meados dos anos 1980, quando os
Mbyá passaram a buscar novas relações de aliança, principalmente para a
demarcação de suas terras.3
A literatura antropológica sobre os Guarani é vasta e, ao longo do século
XX, conformou a imagem de um povo fortemente voltado para sua religião,
pouco escapando das divindades e do desejo de estar/ser como os deuses.
Pissolato (2007:99), por exemplo, constata a construção gradativa de uma
percepção dos Guarani como um povo orientado por uma ética religiosa di-
528
outras alegrias
retamente relacionada às migrações e aos deslocamentos, enquanto Calávia-Saez (2004) salienta essa ênfase na literatura e aponta a ausência relativa
de estudos influenciados pela etnologia brasileira e francesa contemporânea,
nas quais a alteridade e os “vínculos sociais negativos” são aspectos centrais.4
No mesmo sentido, John Monteiro afirma que os estudos históricos sobre os
Guarani, quando comparados com trabalho sobre os Tupi da costa no século
XVI, apresentam uma abordagem centrada na religião e que difere, assim, da
centralidade que tem a guerra na etnologia tupinambá (Monteiro 1998:480-1).5
Uma das expressões mais claras dessa sobrecodificação religiosa dos
Guarani está no trabalho de Bartomeu Meliá, principalmente na sofisticação
que ele faz do conceito de tekó (“modo de ser”), explicitando justamente o
aspecto religioso dessa forma de ser e agir (ñande reko marangatu) e salientando que “os Guarani atuais não podem ser entendidos, nem eles mesmos
se entendem, se prescindirmos de sua experiência religiosa” (Meliá 1991:9).6
A pouca atenção que os bailes de cachaça receberam até recentemente nos
estudos sobre os Guarani me parece estar diretamente relacionada à ênfase
na religião, principalmente porque a raiva produzida pela embriaguez se
contrapõe a esse modo adequado de viver entre os parentes.
Quando estive entre os Guarani,7 de forma intermitente, entre os anos de
2005 e 2009 e durante três meses de trabalho de campo em 2010, uma série de
acontecimentos deixou claro que era preciso esmiuçar esses comportamentos
não adequados — como a embriaguez e a raiva, mas também as narrativas
sobre transformações8 — e não simplesmente abandoná-los ao estatuto de modos de agir que não se conformam com o ideal da pessoa mbyá-guarani. Pude
perceber, assim, que além da inimizade proporcionada pela cachaça, os bailes
eram momentos desejados porque propiciavam risadas e encontros amorosos
embalados pela música e a dança. A difícil aproximação entre a raiva e o riso
é o que chamo de “outras alegrias” e, para dar conta desses momentos —
e evitar a ênfase na religião — parece importante comparar o que dizem os
Mbyá com a etnologia de povos amazônicos que trata de questões como guerra,
inimizade e cauinagem.9
Outras alegrias
Para muitos Mbyá, beber cachaça é uma experiência do passado, vinculada
muitas vezes a experiências de trabalho fora das comunidades e a sessões de
milonga, chamamé e vanerão em pequenos armazéns de beira de estrada.
Essas experiências costumam ser contrapostas a uma vida atual afastada dos
bailes e próxima das cerimônias realizadas na opy.10 Nesses casos, a relação
outras alegrias
entre baile (de cachaça) e cerimônias (na opy) se apresenta de forma diacrônica
na trajetória da mesma pessoa, isto é, alguém que bebeu por algum tempo,
mas que deixou de fazê-lo à medida que começou a frequentar a opy. Outras
narrativas, entretanto, exploram essa dinâmica de forma sincrônica. Altino,11
por exemplo, me dizia: “Eu não fumo cachimbo... esse é da parte do karaí
[xamã], mas a minha é outra parte”. Junto a seu genro, me contavam que “é
uma alegria fazer o baile. Só que não é como a alegria da opy, porque lá é
outra alegria. Lá na opy fica sentado, fumando cachimbo, cantando e rezando.
Mas no baile não. Aí já bebe cachaça, dança forró, mas é alegria também”.
Essa diferença entre as duas alegrias — dos bailes e da opy — aparece na
oposição entre cachimbo e cachaça, por um lado, e entre canto/reza e dança,
por outro. A primeira é uma oposição sensível, digamos, pois contrapõe o
frio da fumaça do cachimbo ao calor da cachaça,12 visto que as cerimônias
realizadas na opy procuram tornar visível a relação entre os Mbya e suas
divindades, sendo que o tabaco funciona aí como veículo de comunicação.
O que me parece fundamental, porém, é não somente a diferença entre frio
e quente, mas também as relações que são mobilizadas nesses espaços, pois
se as divindades estão presentes de forma intensa na opy, as conexões que
a embriaguez proporciona são de outra ordem, como veremos.13
Durante boa parte do meu campo, os bailes aconteceram sempre no
mesmo pátio, onde a varanda de uma casa e um galpão em anexo formam
um “L”. No espaço aberto, um pátio de terra cercado por algumas árvores
é iluminado apenas parcialmente pela lâmpada da varanda e pelo fogo de
chão aceso dentro do galpão. Além delas, resta a escuridão. Colocado na
varanda, virado para o pátio, um aparelho de som é o responsável pelo canto
e substitui o xamã — para mantermos a comparação com a opy. A música
que se escuta nos bailes é obrigatoriamente estrangeira. Brega, forró, melody
e muita cumbia argentina saem das caixas de som durante a noite inteira e
o início da madrugada.
Dança-se nos bailes e na opy, mas dançar na opy é bem diferente de
bailar cumbia, pois, na primeira, o ritmo que toma a dança é influenciado
pelo estilo de música que se escuta, é claro, e essas danças envolvem uma
proximidade de corpos que a segunda não requer. Ainda assim, alguns jovens
que frequentavam os bailes pela primeira vez, mas que estavam acostumados
a ir à opy desde criança, transpunham os passos usados na reza — com o
corpo quase imóvel, o pé direito avança e volta ao mesmo lugar, sendo rapidamente seguido pelo pé esquerdo — e tentavam equalizar o movimento
dos pés com a proximidade do companheiro de dança.
Além dos passos e do ritmo, a entrada e a saída no pátio para dançar
são também interessantes. Assim que as músicas começam a tocar, os pares
529
530
outras alegrias
“voam” em direção ao centro do pátio quase todos ao mesmo tempo e saem
do pátio na mesma velocidade com que entraram quando a música termina.
Enquanto alguns dançam no pátio, outros se mantêm no galpão e jogam
monte, um jogo de cartas de ritmo frenético que envolve apostas em dinheiro. Muitos nunca saem dali, de perto do fogo e do jogo, nem para dançar.14
Apesar da presença maior de homens nos bailes, as mulheres também os
frequentam e, como eles, também se embriagam.
Existem menções aos bailes na literatura sobre os Mbyá e Guarani em
geral, sendo que a distinção entre cerimônias religiosas e festas de cachaça —
entre a opy e os bailes, como disse Altino — é algo mencionado. Nimuendaju
(1987 [1914]:14), por exemplo, enfatiza que eram nas festas realizadas para
santos cristãos que os Apapokuva bebiam e “toda sorte de excessos” podia
ocorrer. Porém, se as brigas não são demasiado intensas, nos diz Schaden (1974
[1954]:179) sobre os Mbyá do Rio Branco, ninguém se arrepende da festa da
noite anterior, e salienta que, entre os Kaiowá, as festas de polca paraguaia
se estendiam noite a dentro. “A todos nos gusta traguear”, dizem os Mbyá de
Missiones (Argentina) para Larricq, quando aparecem a embriaguez feminina
e a movimentação entre o centro e os extremos do pátio.
Ninguém se privará de dançar, se pode fazê-lo. Para tanto, no setor das mulheres, elas se revezarão para cuidar das crianças pequenas. Ali dormem as
crianças visitantes e até mesmo as mulheres, quando vencidas pelo cansaço
ou pelo álcool. É ali que serão procuradas pelos homens que as tiram para
dançar e para lá voltarão quando a música terminar para esperar a próxima ou
comentar, entre risadas — as mais jovens — as características da dança ou de
seus companheiros eventuais (Larricq 1993:82-3).
A partir dos anos 2000, o foco das referências sai dos bailes e vai para a
embriaguez que começa a aparecer com mais frequência, principalmente em
relação aos efeitos negativos que esta causa na desagregação das famílias e
na violência intrafamiliar. Macedo (2009:279) e Pissolato (2006:127) notam
que a embriaguez está associada a um modo de ser e de agir diretamente
ligado ao mundo dos brancos, pois é no retorno da cidade, embriagados,
que muitos Mbyá se dirigem — física e oralmente — de forma agressiva
a seus parentes.15 A relação entre essas duas formas de oralidade — beber
e falar — aparece claramente no depoimento da xamã Tatati, que diz que
“quando a gente bebe yy tatá [“água de fogo”], a gente vira outra pessoa, fala
o que não deve falar, xinga o parente” (Ciccarone 2001:117). Uma reflexão
mais detida a respeito da cachaça, entre os Mbyá no Rio Grande do Sul,
aparece nos diversos trabalhos publicados por Ferreira (2001a, 2001b, 2003a,
outras alegrias
2003b, 2004, s/d; Ferreira & Coloma 2005), os quais procuram compreender
o processo histórico em que o contato interétnico introduziu o consumo de
cachaça e, além disso, como esse processo é visto desde o “conjunto das
explicações tradicionais das causas das doenças” (Ferreira 2001a:130).
De fato, o trabalho de Ferreira se diferencia dos demais porque coloca a cachaça como um problema central de sua análise.16 Mesmo com essa diferença
de foco no seu trabalho, Ferreira também revela um elemento interessante
sobre a relação entre beber cachaça e ter “experiência”.
Outro elemento que os Mbyá apresentaram em suas colocações e que pode
levar a pessoa a beber é a sensação de que a cachaça dá “experiência” para
aquele que bebe, ou seja, uma pessoa que normalmente não se destaca por
pensamentos e colocações sábias pode, ao beber, demonstrar, através do seu
discurso, alguns conhecimentos (Ferreira 2003a:15).
A embriaguez como conhecimento aparece também, a meu ver, nas
narrativas dos Mbyá a respeito de bebedores famosos do passado. Ao invés
de enfatizar as brigas e as consequências das bebedeiras, eles ressaltavam
o conhecimento desses velhos embriagados como um contraponto positivo
à embriaguez contumaz. Uma dessas histórias exaltava um senhor que,
além de beber muito, era um grande cantor: podia ficar horas dentro da
opy cantando para as divindades, mas costumava sair no meio das rezas e,
do lado de fora da opy, começar a cantar música sertaneja. Outros falavam
de um antigo matador, o qual, mesmo dançando, não perdia sua pose, pois
bailava como se estivesse desembainhando uma adaga.
Se antes exploramos a diferença entre bailes e opy como uma oposição
disjuntiva, a narrativa sobre esse velho bebedor sugere um trânsito mais fluido entre esses dois espaços. A contraposição entre os bailes e a opy aparece
aqui quase sobreposta, tal como os pezinhos dos jovens que bailavam pela
primeira vez usando os passos da opy. Para compreender essa transitividade
entre dois contextos tão diferentes, é fundamental entender o “alegrar-se”
(-vy’a) que a fala de Altino apontou. Esta noção foi descrita recentemente
por Pissolato (2007) no contexto dos deslocamentos frequentes que famílias e indivíduos mbyá fazem entre as aldeias. A relação entre a alegria e
o deslocamento está nos sentidos que -vy’a abrange, pois envolve tanto a
diversão quanto a satisfação de estar em algum lugar.
A discussão da autora se insere no tema das migrações e do profetismo
guarani, inaugurados por Nimuendaju e desenvolvidos por diversos autores,
que não retomarei aqui.17 Para a autora, o vy’a é o fundamento que orienta
os deslocamentos à medida que a pessoa entende sua condição em certo
531
532
outras alegrias
lugar: não se sentir alegre pode, então, implicar um deslocamento para
outra aldeia. Permeando a questão da mobilidade e dos deslocamentos está
o casamento, ou melhor, as insatisfações que fazem abandonar cônjuges,
por um lado, e as conjugações derivadas do que era para ser somente um
“passeio”. “Migração” e visita seriam, dessa forma, coisas bem parecidas
do ponto de vista de quem caminha e, assim, os contextos locais — as aldeias — são nada mais do que configurações provisórias das decisões e das
posições das pessoas que ali estão (Pissolato 2007:123-176).
A alegria de um lugar está também nas cerimônias realizadas na opy e, a
meu ver, também nos bailes, sendo que a chave que liga ambos os contextos
está no humor peculiar dos Mbyá, muitas vezes exacerbado pela embriaguez. As piadas que se contam são tanto sobre histórias pessoais, recentes
ou não, quanto sobre as ocorridas com outros: rir de si mesmo, das bobagens que já se fez, mas também das gafes que outros cometem. Aquele que
conta a história é obrigado a rir, quase forçando os outros a acompanhá-lo:
contentamento que se extrai — se espreme — dos ouvintes: contar a mesma
piada inúmeras vezes, durante horas, e rir ainda mais alto a cada vez que é
contada. Muitas das histórias/ piadas que se conta, além de tudo, são mentiras completas. Inventa-se muita coisa, só pra fazer o outro rir, ou também
para passar um conhecimento — tal como um senhor que ficou cinco horas
falando, em um encontro de jovens, sobre a multiplicidade de mentiras que
aconteceram em sua vida, tentando ensinar algo para os menores. Há uma
arte, inclusive, de desenvolver uma risada particular, própria de cada um,
bastante pronunciada, a ser ouvida de longe: escutando aquele gargalhar
idiossincrático, outros saberão quem está por alegrar-se.
Sentidos da embriaguez
A alteração que a embriaguez proporciona fica evidente em situações que
frequentemente ocorrem nos bailes de cachaça. Cansado de dias seguidos
de festa, fui conversar com Moreno, que não gostava muito de bailar e preferia ficar sentado na beira do fogo. No caminho de minha casa até a dele,
encontrei algumas pessoas. Adriano tentava ficar em pé enquanto dois meninos acenavam com a mão pedindo ajuda e, ao mesmo tempo, procuravam
agarrá-lo pelos braços. Foi um caminho difícil até a casa de Moreno (irmão
de Adriano) não somente pelo capim alto que precisamos atravessar, mas
também por suas quedas constantes. Trocávamos palavras e piadas, o clima
era bom; ríamos juntos e seguíamos. Com esforço, chegamos até sua casa e
o colocamos sentado debaixo de uma árvore. Ele estava visivelmente sem
outras alegrias
forças. Sua mãe chegou e, de repente, ele se levantou e vociferou na direção
dela: “Eu vou te matar”! Quando tentou agarrar o cabelo dela, segurei-o
pelos braços e ela pôde escapar, mas não foi muito longe. De dentro da
casa, Moreno vinha caminhando em nossa direção, mas não parecia muito
preocupado com a situação. Chegou tranquilo e nos convidou para sentar.
Seu irmão parecia estar novamente sem forças, mas retomou-as logo que
chegou perto do fogo e, agarrando uma tora em chamas, partiu novamente
para cima de sua mãe, chamando-a de feiticeira. Moreno agarrou firme o seu
braço, fazendo-o derrubar a tora e logo segurou ambos os pulsos de Adriano
em direção ao chão: com calma, voltaram os dois em direção ao fogo e sentaram. Enquanto enrolávamos um primeiro cigarro, Adriano levantou-se e
correu para dentro de casa, seguido por seu irmão. Fiquei sentado, perto o
suficiente para saber que bastante coisa estava sendo destruída. Logo saíram, aproximaram-se do fogo e Adriano sentou-se novamente. Chorou um
pouco mais, falando mal de sua mãe, mas Moreno não parecia dar muita
bola. Adriano tentou se apoiar atrás, mas o banco virou e ele caiu estatelado
de costas na terra, mas somente o tempo suficiente para se recompor, entrar
novamente na casa e quebrar algumas outras coisas. Moreno entrou com
ele, mas Adriano despistou-o lá dentro e, na saída, tendo seu irmão ficado
um pouco para trás, conseguiu agarrar outra tora em chamas e, na hora
em que tentou jogá-la na direção de sua mãe, Moreno agarrou-o por trás
fazendo o corpo de Adriano girar e desviando o trajeto da tora, que terminou
por espatifar-se no chão.
O pai de Adriano, sua nova esposa e sua filha pequena passaram pelo
pátio em que estávamos sentados, pois estavam saindo da opy. Olharam
de soslaio para a cena, mas seguiram em frente, sem dizer uma palavra.
“É difícil. Às vezes me dá vontade de bater nele, mas acho que é pior. Ele
quebrou a TV ao meio” — disse Moreno.
A narrativa fala por si, mas quero explorar alguns momentos dessa cena.
Primeiro, há o próprio comportamento de Adriano, ou seja, a embriaguez em
seu auge, com os rompantes de raiva intercalados com expressões curtas de
alegria, misturados com fases de choro intenso. Houve as piadas feitas ao
longo do caminho, mesmo com o cambalear do corpo, assim como o desejo
de destruir e matar outros corpos, com toda a vontade que lhe era possível.
Enfim, a capacidade de alternar, em pouquíssimo espaço de tempo, o conversar-tranquilo ao redor do fogo e o virar-intenso com as chamas. Além dos sentidos
que toma a embriaguez, aqueles que não estavam embriagados se colocavam
numa relação de distanciamento e jocosidade, que aparecia também sob a
forma de silêncio. Moreno, diante de seu irmão, não queria escutar suas palavras e não se esforçava nem um pouco na comunicação. Parecia não escutar
533
534
outras alegrias
ou, pelo menos, não lhe dirigiu a palavra em nenhum momento, deixando-o
falar sozinho. A mãe deles, mesmo atacada, não tentava dar ao filho qualquer
explicação diante de suas acusações e intenções agressivas. Por outro lado,
tampouco se afastava da cena — ainda que fugisse das toras em chamas que
quase a atingiam — e mantinha-se ali, por perto, observando e fumando seu
cachimbo. Em outros momentos, a atitude era tratá-lo jocosamente: muitos
faziam piadas, outros faziam perguntas que qualquer embriagado jamais
saberia responder, e outros ainda pediam para que dançasse, rindo alto da
performance. Há aqueles que gostam de provocar os tombos dos bêbados,
incentivando ações difíceis que os fazem cair. De maneira geral, a indiferença
ou a jocosidade é a forma de lidar com a embriaguez alheia.
Contudo, há momentos em que os braços do bêbado precisam ser contidos e seguros em direção ao chão. Nessas situações, diz-se que a pessoa
está “dona-da-raiva” (ivai já) e essas cenas afastam muita gente dos bailes.
A raiva que manifestam quando estão -ka’u (embriagar-se) não é uma simples exacerbação de sentimentos pessoais ou uma gestualização de desejos
reprimidos — formulações que poderíamos usar para compreender Adriano
quando ele diz “vou te matar” ou “você é uma feiticeira”.18 A raiva opera
através das conexões que a embriaguez proporciona, principalmente porque,
ao estreitar a relação com os mortos — e com outros seres que também são
“donos da raiva” — ela faz com que a pessoa veja seus parentes como não
parentes.
Cachaça não tem parente
A cachaça não tem amigo e quer trazer a pessoa para junto dela: “a cachaça
não tem irmão, não tem família. Cachaça não tem parente”. Escutava esta
frase sempre que conversava com alguém sobre o beber. Diziam também
que a pessoa, quando bebe, esquece seus amigos e não lembra quem são
seus parentes. Essa formulação da embriaguez em termos de esquecimento
tinha, a meu ver, o objetivo de traduzir para o meu mundo aquilo que os
Mbyá experienciam quando se embriagam. Aparentemente, a formulação
parece sugerir a nossa (ocidental, neobrasileira) compreensão espontânea
da bebedeira como aquilo que nos faz esquecer das coisas, do sofrimento e
dos amores perdidos. Contudo, não são esses sentidos que os Mbyá estão
sugerindo quando a formulam dessa maneira, pois é preciso relacionar esse
esquecimento com a ideia de que a cachaça é um vetor de antiparentesco,
isto é, ela não tem parente. Primeiro, isto mostra a solidão em que vive a
cachaça e seu desejo de se aproximar de alguém e de seduzi-lo. Tal forma
outras alegrias
de agir, no entanto, não é característica apenas da cachaça, pois é dessa
maneira que também se comportam os espectros dos mortos, os ãgue.
A pessoa mbyá-guarani, ao morrer, deixa por aqui seu aspecto terreno
(ã), o qual se torna ãgue (lit. ex-ã) e passa a vagar por esta terra. Os rituais
funerários incluem, além de cantos para que a alma do defunto encontre o
caminho das divindades (Schaden 1974 [1954]:133), o sepultamento de forma
a evitar o contato do cadáver com a terra e a construção de uma pequena
choça de palha sobre a sepultura (H. Clastres 1968:65). A cada oito dias,
me contava Daniel, é preciso verificar a sepultura e perceber se há alguma
alteração, pois qualquer fenda ou abertura significativa na terra é sinal de
que o morto está se transformando — em onça, veado ou outros seres — e,
neste caso, é necessário abrir a sepultura, retirar o cadáver e queimá-lo.
Estando frio, convém fazer um fogo de chão e, durante um bom tempo, é
preciso colocar água num pote próximo à sepultura, caso tenha sede o morto.
Estando sozinha, a cachaça procura alguém, busca um parceiro e o
seduz pela embriaguez. Age, dessa forma, da mesma maneira que agem os
ãgue19 que estão sempre em busca de uma proximidade com os vivos, pois
não conseguem esquecê-los. Ocorre que a cachaça não age somente como os
mortos, pois atrai estes últimos para perto dos vivos-bêbados e os faz virar-mortos. Os Mbyá dizem que o grande problema é que os mortos querem
aumentar o grupo deles e, através da cachaça, procuram seduzir os vivos a
agirem com eles e como eles. Por isso, o bêbado passa a proceder como eles
e, assim, quer também trazer outros vivos para o seu coletivo.
Garlet (1997) relata que o mbogua seria a ex-alma telúrica, que pode
aproveitar-se das viagens que o ñe’ë faz durante o sonho para entrar no corpo
de uma outra pessoa, deixando-a triste e doente.20 Quando a pessoa morre, o
mbogua fica vagando: assobiando e chorando para atrair as pessoas e “quem
escuta é sinal de que está sendo escolhido” (Garlet 1997:171) — e talvez
por isso, na narrativa que trouxe acima, Moreno não tenha dado ouvidos
a seu irmão Adriano. Se entre os Wari’ (Aparecida Vilaça em comunicação
pessoal) é necessário falar com alguém excessivamente embriagado para
trazê-lo de volta ao convívio tranquilo com seus parentes, o que os Mbyá
enfatizam é exatamente o contrário, isto é, o imperativo de evitar qualquer
forma de comunicação.
No mesmo sentido, mas em relação aos mortos, os Mbyá dizem que não
se deve lembrar muito do morto, muito menos falar o nome dele, ainda que
tais precauções se refiram somente aos parentes mais próximos, os quais,
afetados pela tristeza que a morte dos parentes lhes causa, muitas vezes
decidem se mudar. O esquecimento envolve também o abandono de todos
os objetos referentes aos mortos, “porque o mboguá (espírito do morto),
535
536
outras alegrias
que continua sendo o dono dos objetos, poderia causar a morte” (Schaden
1963:86).21 Garlet (1997:173) aponta que o mbogua pode “disfarçar-se de
animal e atrair as pessoas”, o que nos remete ao comentário de Daniel sobre a
necessidade de ficar de olho na sepultura.22 Assim como os ãgue, os bebedores
são caminhantes noturnos, ao contrário dos que ficam em casa e dormem
cedo. Os ãgue vagam noite adentro e, na época intensa de bailes que passei na aldeia, essa forma de agir parecia contagiar até uma das xamãs: “Até
minha avó, que não bebe nunca, já tá começando a ficar como os ka’u. Ela
agora fica caminhando por aí durante a noite”, dizia-me um de seus netos.
O devir-morto do embriagado mbyá aparece também na etnografia
de Assis (2006) e novamente a relação é perpassada pela questão da
“experiência” que a cachaça proporciona a quem a bebe. Assim, uma
liderança que bebia muito, mas ao mesmo tempo era reconhecida como
grande xamã, levava seus parentes a acreditar que seus poderes, na verdade, derivavam de sua relação com os angue. Embriaguez e experiência,
nesse sentido, se misturam com a saudade, atração e perigo que os angue
fazem a pessoa sentir.
Dentre os perigos do angue está o de tentar atrair seus parentes para a morte.
O perigo da tristeza e da saudade advém de uma premissa de que tais sentimentos não são gerados pela própria pessoa que o sente. A lembrança do morto
é o seu angue agindo em seus parentes para que eles tenham tais sentimentos
e desejem morrer (Assis 2006:142).
A relação entre vivos e mortos, do ponto de vista dos vivos, procura
construir uma separação discursiva e espacial dos angue, enquanto estes
últimos, por outro lado, procuram se aproximar e incutir nos vivos a vontade de deles se lembrarem. E aqui, como vimos, a cachaça se coloca como
uma espécie de veículo que aproxima vivos e mortos. Ferreira (2001, 2003)
menciona essa conexão e diz que a cachaça abre caminho para os angue,
pois os mortos, ao vagarem pela terra, vêm beber com os vivos.
Noção similar à de ãgue é o angwêry, do qual os Nhandeva têm um
verdadeiro pavor, principalmente porque há uma estreita ligação com o esqueleto do defunto (Schaden 1974 [1954]:90). Entre os Kaiowá, os angwéra
são abundantes, onipresentes e, em sua maioria, provêm de fantasmas de
Kaiowá mortos. O uso do fogo era comum para mantê-los afastados e, além
disso, ninguém se aventurava a andar à noite, pois esta era especialmente
temida (Watson 1952:40). Saindo um pouco mais da esfera mbya, Cadogan
afirma que a “alma telúrica” dos Guayaki é designada iãvé, tendo o angué
guarani como seu equivalente: “cabe acrescentar que iãvé, a ‘alma telúrica’
outras alegrias
do Guayaki se converte, tal como a alma telúrica do Guarani, em um fantasma perigoso que obriga a abandonar a acampamento após a morte de
um membro adulto do grupo” (Cadogan 1967/1968:141).23 Fundamental
aqui é esquecer os que se foram, pois a lembrança e a saudade fariam com
que desejássemos partir juntamente com os falecidos. É preciso apagar
seus traços, como se fosse possível riscar da memória, destruir o passado
particular dos que se vão.
Donos da raiva
É difícil encontrar nas etnografias sobre os Mbyá qualquer aspecto “positivo” na relação com os angue. Pissolato (2007:266) ressalta, por exemplo,
que os sonhos com os mortos não geram cantos ou enviam almas aos vivos
tal como ocorre entre os Nhandeva e que a aparição de mortos nos sonhos
é sempre algo preocupante.24
Ausência de qualquer aspecto positivo talvez não seja a melhor maneira
de colocar a questão. Como afirmou Calávia-Saez (2004), uma das características da etnologia americanista recente é explorar justamente esses
“vínculos sociais negativos”, tais como a guerra, a inimizade e, poderíamos
incluir aqui, a relação com os mortos e a embriaguez pela cachaça. Há ainda um aspecto da etnografia mbyá que é preciso acrescentar nessa relação
entre embriaguez e morte, a saber, o comentário que alguns mbyá fazem
sobre os bêbados como pessoas “donas da raiva” (ivai ja). Estar com raiva
é, certamente, estar próximo aos angue, contudo, não são somente eles que
proporcionam esse modo de agir e quero explorar brevemente as conexões
entre os angue e outros seres “donos da raiva”.
Sigo aqui Helene Clastres, que nos diz que angue precisa ser afastado
dos vivos porque traz uma ameaça: o tupichua. A partir de informações recolhidas entre os Mbya, afirma que o tupichua é o “princípio vital da carne
crua”, o qual também está no sangue. Tupichua pode aproximar-se da pessoa
e transformá-la em jaguar: o caçador mesquinho e solitário, comendo sozinho
na floresta, atrai inevitavelmente tupichua.
Nesse caso, com efeito, tupichua pode frequentemente tomar a aparência de
uma bela mulher, enfeitada com pinturas atraentes; ela faz perder a razão; diz
ela: “vamos fazer esta coisa”. Se é feita “esta coisa” (isto é, a copulação), logo
ela começa a cobrir-se de manchas e já aparece diferente de uma mulher, põe-se a unhar a terra e a rosnar; e também sua vítima se põe a unhar a terra e a
rosnar... (H. Clastres 1978:93).
537
538
outras alegrias
A autora sugere que o tupichua, além de apresentar-se como jaguar
sedutor, também está presente na mitologia, principalmente no conjunto de
mitos de Sol e Lua, em que o comportamento dos jaguares motiva a tentativa dos irmãos de eliminá-los.25 A raiva dos jaguares e seu comportamento
remetem, na mitologia, a um personagem muito evocado pelos Mbyá: anhã.
A conjunção entre esses personagens aparece, por exemplo, no trabalho de
Franz Muller, no qual a devoração da Lua por um jaguar ou cachorro —
cf. Montoya (1985 [1639]:53) — é mencionada:
A mitologia dos Mbyá marca Tupã como vencedor do aguara (isto é, do jaguar
negro), que os Mbyá consideram uma encarnação de Aña. O jaguar, ou Aña,
devora a Lua e o Sol […] um ser malvado que está em contraposição à Tupã,
mas que não pode contra ele. Aña como os corpos dos mortos (Muller 1989
[1930]:19, 23).26
Há uma característica, nesse conjunto de personagens, que oscila entre
a sedução e a devoração, ou talvez justamente a sedução para a devoração,
como o jaguar que se transforma em mulher para seduzir um caçador, mas
também o anhã que devora a Lua e consome o corpo dos mortos. Ao incluir
os ãgue nesse conjunto, sugiro que essa devoração pela sedução remete ao
desejo da cachaça de se aproximar dos vivos, fazê-los esquecer dos seus
parentes e passarem a agir como os mortos. Um pouco como o jaguar sedutor — que vira mulher para fazer com que o caçador vire onça — a cachaça
vira ãgue para fazer com que os vivos virem mortos.
Cachaça e cauim
Essa linha de conexão entre mortos e outros seres “donos da raiva” através da
embriaguez pela cachaça entre os Mbyá remete a certos contextos etnográficos.
Refiro-me aos trabalhos sobre cauinagens ameríndias, principalmente amazônicas, nas quais a morte e os mortos são centrais: a identificação progressiva
entre matador e vítima, entre os Araweté (Viveiros de Castro 1986, 1992);
a morte causada pelo cauim e os mortos que, saudosos dos vivos, são tomados
por inimigos pelos Yudjá (Lima 1986, 2005); e a associação entre a chicha consumida nas festas e a carne consumida durante o ritual funerário wari’ (Vilaça
1992). Assim, quero agora traçar algumas aproximações e distanciamentos entre
esses contextos etnográficos e a experiência da embriaguez entre os Mbyá.27
Entre os Araweté, por exemplo, as cauinagens têm um forte idioma de
guerra, principalmente nas músicas cantadas durante a festa: quem canta é
outras alegrias
o inimigo, não o cantador. As palavras alheias do cauim alcoólico remetem
aos mortos e a esse processo de devir-Outro experimentado intensivamente
pelo matador, mas também por toda a coletividade. A reverberação dos pontos
de vista, cantados após o homicídio, é o resultado desse processo de identificação entre matador e vítima: o morto fala pela boca do matador. Homens
e matador unificam-se para cantar os cantos recebidos por este do inimigo
que foi morto. Contudo, isto tem um preço, pois o matador nunca mais será
o mesmo: identificado com o inimigo morto, passa a ser uma pessoa de
quem se desconfia, de cujo corpo a raiva pode emergir a qualquer momento.
O matador torna-se um inimigo para os outros araweté e, assim, o espírito
da vítima nunca o deixa: ambos vão conjuntamente para o céu, onde não
são devorados pelos Maï, passando somente pelo banho da imortalidade.
Sem ser devorado, transforma-se em Iraparadɨ, um “tipo” de Maɨ, que são,
na verdade, os Outros — inimigos — dos Maɨ:
[…] ele é imediatamente um inimigo, ou uma fusão ambígua entre bɨde e awĩ: em
outras palavras, ele já é um Maɨ. Se o xamã é um morto futuro, o matador é um
futuro deus: ele incarna a figura do Inimigo e o ideal de ser araweté (1992:246).
A figura do matador, enquanto ideal da pessoa araweté, permite divisar
um cogito canibal, o qual coloca em jogo uma situação cuja verdade está
no Outro e em tempo diverso. Destino da pessoa araweté, a alteridade está,
desde sempre, prefigurada na própria pessoa e o canibalismo, aqui, não
visa a uma incorporação das propriedades do outro: não é um movimento
narcisístico, mas sim uma alteração.
Em certo sentido, então, é como se a cachaça fosse “igual” ao cauim
araweté na medida em que a alteração proporcionada pela embriaguez mbyá
torna visível essa relação com os angue. Poderíamos pensar que, entre os
Araweté, os mortos são inimigos mortos, enquanto entre os Mbyá os angue
são os mortos do próprio grupo. Contudo, o termo angue nunca identifica
uma pessoa em especial e se refere aos mortos enquanto grupo, isto é, como
coletivo de mortos (Heurich 2011). A diferença, neste caso, estaria menos
na relação entre parentes e inimigos e mais entre um indivíduo e um coletivo, mas mesmo assim a distinção é elidida, visto que os Araweté chamam
o inimigo de awï na’owe, uma categoria genérica semelhante aos angue.
A forma particular da alteração proporcionada pela embriaguez aparece
claramente na etnografia yudjá, na qual também os mortos são personagens
centrais.28 A embriaguez produz um sentimento — münho — que vai do leve
mau-humor até o ódio, e inclui também a indiferença. Münho é o oposto de
kariá — alegria — e, se os Yudjá bebem pela alegria, pois com ela cantam,
539
540
outras alegrias
namoram e falam muito, münho pode também irromper nas bebedeiras.
Traduzido por “brabo” ou “briga”, tal sentimento ocorre quando se está
bêbado, mas também durante a guerra e faz do bom guerreiro aquele “que
sabe usar a embriaguez guerreira como razão do ato de violência, sem cambalear, completamente certeiro” (Lima 1986:06). Ao mesmo tempo em que
a alegria aumenta coletivamente, pode começar a ser minada por dentro,
pois em algumas pessoas a alegria se torna raiva.
A raiva não é uma experiência coletiva e não é bonita. A cauinagem não é um
ritual de negação da sociedade por ela mesma […]. Mas esta aventura, que é
coletiva, tem ainda outros riscos: é demasiado estreita a fronteira entre os Outros em que os Juruna se tornam e o inimigo em que um deles pode se tornar.
O grupo assim, paradoxalmente, mantém prontidão para defender-se do que
ele próprio busca: a elevação da sociabilidade a limites extremos, o cume da
sociabilidade em que consiste a embriaguez (Lima 1995:422).
As considerações de Lima (1995) sobre a possibilidade de a raiva emergir num contexto de alegria me remetem ao comentário de Altino, no início
deste artigo, sobre o baile como uma “outra alegria”. Se a comparação dele,
naquele momento, era entre o baile e a opy, a inversão dos termos nos permite passar de uma “outra alegria” para uma “alegria Outra”, em que a busca
pela satisfação no beber envolve, em certo grau, um virar-angue que corre
o risco de deslindar em raiva. Entre os Yudjá, esse devir-Outro se expressa
na alteridade que é o próprio cauim, pois ele é pessoa, tem corpo e possui
um sabor forte e amargo que mata (embriaga) os homens: pessoa produzida
por um homem e uma mulher e oferecida ao grupo; consumida (“matada”);
com uma alma que vai aos mortos; cujo resto apodrecido é exposto, cozido
e consumido. Como diz Lima, “a pessoa é homóloga ao cauim” (1995:413).
Como vimos, o que distingue a cachaça dos vivos é sua solidão, pois enquanto
o movimento entre parentes é fundamental entre os Mbyá, a cachaça é uma
ameaça porque não possui parentes. Nesse sentido, a cachaça se distingue
do cauim yudjá na medida em que não é uma pessoa: a cachaça é justamente
uma força de antiparentesco que visa, através da embriaguez, fazer com que
as pessoas esqueçam dos seus parentes trazendo-os para o grupo dos mortos.
Lembrando um pouco a história de Adriano (supra), os convidados do
hüroroin wari’ entram na aldeia gritando sugestões de relações sexuais com
as mulheres anfitriãs, pouco antes de invadirem as casas da aldeia que os
recebe, por vezes quebrando algumas coisas. A chicha está presente em três
festas wari’, mas é no hüroroin que ela se torna mais evidente. Essa festa
começa quando um mensageiro é enviado para outra aldeia para chamar seus
outras alegrias
moradores para a celebração e, nesse meio tempo, os anfitriões preparam
o tronco para armazenar a chicha (Vilaça 1992).29 Inversamente à embriaguez mbyá, porém, essa invasão precede a embriaguez, pois os convidados
wari’ são repelidos pelos anfitriões e sofrem a imposição de beber grandes
quantidades de chicha. Panelas são emborcadas diretamente e, para continuar bebendo, é preciso vomitar: desses que bebem, vomitam e desfalecem
se diz que estão mortos. Por isso, quando entram nesse estado de rigidez e
inconsciência — dito itam — precisam ser levados a uma casa, onde ficarão
até serem despertados no dia seguinte (Vilaça 1992:185-192).
A chicha oferecida evoca, além da lógica das trocas matrimoniais, o
canibalismo funerário wari’, pois tanto a primeira quanto o segundo estão
inseridos numa lógica de duplo-cozimento, ainda que invertidos: mastigação
cultural e fermentação natural, na chicha; putrefação natural, assar cultural,
no repasto funerário. A chicha evoca os ritos funerários, pois “o jam do morto
bebe chicha azeda no mundo subterrâneo, exatamente como os convidados
do hüroroin” (Vilaça 1992:201).30 Beber chicha entre os Wari’ é ser predado —
como mostra a reação dos anfitriões, no hüroroin, aos convidados após terem
suas casas invadidas — e também é predar, pois a chicha consumida está
diretamente associada à carne consumida no ritual funerário.31 Nesse sentido, o que me parece saltar aos olhos nas três etnografias é a centralidade
da inimizade e dos mortos. As palavras alheias do cauim alcoólico araweté
remetem aos inimigos mortos e a esse processo de devir-Outro experimentado
intensivamente pelo matador. A morte e os mortos aparecem, nas cauinagens
yudjá, como sentidos dessa embriaguez que chega ao cume da socialidade,
apresentando a difícil imbricação entre a alegria enquanto motivadora das
festas e a raiva enquanto limite sempre possível.
Por fim, Lima (1995) menciona brevemente que a embriaguez produz um
estado de espírito que leva à dança, momento de celebração de afinidades e
produção de relações fictícias de afinidade potencial e alteridade: os homens,
por exemplo, usam o português para falar entre si. Diversas vezes presenciei os
Mbyá falarem português quando embriagados, o que poderia nos levar a uma
reflexão sobre a relação dos Mbyá com os não indígenas. Deixo esta possibilidade para uma outra oportunidade, mas quero usar esse pequeno comentário
de Lima (1995) para pensar aquela que talvez seja a grande diferença entre a
cachaça e o cauim: sua origem.32 Se o ponto principal das páginas precedentes foi tentar estabelecer conexões com a etnologia amazônica e dizer, com
elas, que a cachaça é como se fosse cauim, há algo que distancia a cachaça
do mundo da cauinagem. A preparação de fermentados alcoólicos a partir do
milho, da mandioca e outros envolve uma série de restrições, prestações e
formas específicas em seu consumo. Os preparados de mandioca, talvez pela
541
542
outras alegrias
elaboração mais breve (um a dois dias), podem ser ingeridos quase cotidianamente, mas a preparação do cauim alcoólico a partir do milho é um processo
mais demorado (cerca de 20 dias). A cachaça, especificamente nesse sentido,
se diferencia completamente do cauim, pois não é sazonal e está, digamos,
sempre disponível para o consumo. Essa disponibilidade está relacionada, a
meu ver, com outro aspecto que diferencia as cauinagens dos bailes de cachaça,
a saber, a presença feminina nas bebedeiras enquanto bebedoras e não como
produtoras do que está sendo consumido.
Considerações finais
Seguramente os Mbyá com quem convivi diriam que ka’u reko — “estar
embriagado” — é um comportamento tido como “antissocial”, isto é, “anti-teko”. Contudo, os bailes e as bebedeiras ocorrem, seguem ocorrendo e as
razões dessa “antissociabilidade” foi o que tentei compreender aqui. Para
tal, lancei mão da expressão “outras alegrias”, apoiado na fala de um mbyá,
a qual expressa a alegria que ocorre nos bailes, alimentada pela embriaguez,
buscada por muitos e que, particularmente, se opõe à alegria proporcionada
pela casa cerimonial, como disse seu Altino. Por outro lado, como vimos, é
sempre possível que momentos de raiva venham a emergir e, nesse sentido,
a alegria contém a raiva como seu duplo semântico e sensível: a raiva é o
outro da alegria. Nesse sentido, as outras alegrias são sempre alegrias-outras,
nas quais os mortos aparecem como o sujeito primordial dessa alteração que
boas festas sabem proporcionar.
A literatura sobre os bailes começa com pequenas referências que
salientam a embriaguez feminina, a relação com festas estrangeiras e os
excessos que a bebida proporciona. Excessos que se tornam violência física e
verbal nas referências mais recentes sobre a embriaguez, que também pode
ser associada ao conhecimento através da experiência. A esses temas, quis
acrescentar uma certa dimensão de alegria nas piadas que se contam e na
sedução que envolve os bailes. Fundamentalmente, os bailes são celebrações
diferentes daquelas realizadas pelos xamãs, pois o que está em jogo não são
as divindades: as conexões são outras. Há uma diferença grande, enfatizada
pelos Mbyá, entre as celebrações que acontecem na casa cerimonial para
se aproximar das divindades — nas quais o veículo primordial é a fumaça
do cachimbo — e as festas programadas para dançar forró, cantar como os
brancos e aproximar-se dos mortos — nas quais a cachaça proporciona a comunicação. Os bailes, além disso, ocupavam o espaço que os xamãs guarani
costumam ocupar – a noite – e, por diversas vezes, escutei comparações entre
outras alegrias
as atividades do xamã e aquelas dos que estão embriagados. Por exemplo, os
relatos de iniciação xamânica salientam que o afastamento dos bailes e da
cachaça é fundamental para o processo de aprendizado. Não se consegue
escutar os cantos enviados pelas divindades quando se frequenta intensamente os bailes e se está embriagado. Nesse sentido, enquanto contraponto
do xamã, o estado ka’u remete justamente aos mortos, inimigos e suas armas.
Se os bailes proporcionam momentos intensos de alegria e festa, a
comunicação que se estabelece com os ãgue pode acabar em raiva e agressividade contra os próprios parentes. Esquecendo os parentes, a pessoa acha
que é sozinha e, assim, seus parentes deixam de escutá-la, ignorando suas
ações até onde é possível, mas evitando que algo pior aconteça. A raiva e
a agressividade enquanto comportamentos antissociais são, nesse sentido,
comportamentos anti-humanos. Por um lado, distanciam-se da atitude
apropriada para com os parentes e são uma forma de ausência de respeito.
Por outro lado, aproximam-se dessa forma de agir que é particular dos mortos,
tal como os vivos os concebem: os ãgue querem aumentar o grupo deles e
esforçam-se para tal. Avizinham-se dos vivos para levar outras pessoas daqui
e, enquanto isso, estes se esforçam para esquecê-los. Ao mesmo tempo, ao
embriagar-se, a pessoa pode acabar ignorando que os vivos são seus parentes. Diante de sua mãe, o filho não a percebe como parente; tomando-a por
um inimigo, tenta agredi-la.
A embriaguez, em seu auge, é uma forma de alteração na qual a pessoa
aproxima-se dos espíritos dos mortos e toma os seus parentes por contrários.
Desde o ponto de vista dos inimigos, vê os seus próprios parentes como inimigos e, assim, busca predá-los. Se essa predação raramente se consuma
durante as cauinagens — ou seja, são poucos os que morrem — entendo
que o ponto é delinear o espaço simbólico em que ela se apresenta. Assim,
diferentes figuras que encarnam o jaguar foram aparecendo ao longo da
análise, tendo nos ãgue uma imagem fundamental: os espíritos dos mortos
que se insinuam durante os bailes. Os inimigos, assim, não são apenas uma
alteridade, espelho a partir do qual se constitui o interior da sociedade, mas
sim coletivos com os quais há também uma troca: uma troca de posições que
a embriaguez proporciona.
Que os mortos e a raiva sejam constitutivos dessa experiência da embriaguez pouco implica uma necessidade de combatê-la ou encerrá-la, mas
apenas de mantê-la reservada a alguns momentos especiais, evitar que ela
se torne cotidiana. Desejar o fim da alteração pessoal e da celebração das
diferenças entre vivos e mortos é algo que, a meu ver, escapa da forma pela
qual os Guarani pensam os bailes e a cachaça: manter sua distância dos
vivos e impor respeito aos mortos, claro, mas nunca erradicar a relação.
543
544
outras alegrias
Recebido em 02 de setembro de 2014
Aprovado em 10 de outubro de 2015
Guilherme Orlandini Heurich é doutorando em antropologia social pelo PPGAS/
MN/UFRJ. E-mail: <[email protected]>.
Notas
1
Os grandes grupos guarani contemporâneos que habitam esse amplo território
são os Chiriguano, Mbyá, Kaiowá (conhecidos no Paraguai como Pãi-Tavyterã) e os
Ñandeva (ou Avá-Guarani).
Há certa controvérsia no levantamento de dados sobre o número exato da
população guarani, visto que a mobilidade de indivíduos e coletivos ao longo desse
território é constante, isto é, há sempre a possibilidade de que pessoas sejam contadas
mais de uma vez ou não contadas por não estarem no local durante o recenseamento.
Essa mobilidade, por vezes entendida como “excessiva” ou “prejudicial” por parte das
autoridades, faz parte da “dinâmica social” dos Guarani, como ressaltaram Ladeira
(1992:6; 2001:38) e Garlet (1997) – mobilidade, aliás, que não é recente (Monteiro
1998:477). Além dos estados brasileiros citados acima, cabe mencionar que há aldeias ou coletivos guarani junto a comunidades de outros povos no Maranhão, em
Tocantins (Ladeira 1992:24) e Pará.
2
3
Dentre as principais formas que tomava essa invisibilidade, os autores mencionam a “ocupação de áreas caracterizadas como terras públicas, ocultando suas casas
cerimoniais, protegendo suas crianças e mulheres do olhar do branco, vestindo-se
como pessoas da sociedade englobante e se relacionando com elas como se fossem
um grupo marginal qualquer ou índios sem identidade – ou aculturados, como ainda
são identificados pelo senso comum” (Garlet & Assis 2004:40).
Fausto (2005), por sua vez, revisando a literatura histórica e antropológica sobre
os Guarani, aponta como os conceitos de cultura e tradição – de cultura tradicional,
digamos – utilizados pela etnologia sobre os Guarani “tenderam a depurar e a denegar qualquer transformação em nome de um núcleo duro e puro da religiosidade
guarani” (:392). Para uma discussão das considerações de Fausto sobre o xamanismo
guarani, ver Macedo (2009:285).
4
Monteiro (1998:481) afirma também que a antropofagia tem pouco destaque na
bibliografia guarani, cujas fontes históricas foram compiladas por Chase-Sardi (1964).
5
outras alegrias
6
A noção de tekó, salvo engano, tem sua origem na etnografia de Meliá, Grünberg e Grünberg (1976) sobre os Pãï-Tavyterã no Paraguai. Este tema foi largamente
desenvolvido na etnologia sobre os Guarani.
Não especifico aqui onde realizei meu trabalho de campo porque o tema da
embriaguez pela cachaça é delicado e pode ser usado maldosamente para reforçar
preconceitos antigos em relação aos povos indígenas, sendo que um dos objetivos
deste artigo é justamente colaborar para uma compreensão menos preconceituosa
e enviesada da questão.
7
Transformações denominadas -jepota, as quais foram trabalhadas recentemente
por Macedo (2013).
8
No que tange à ampla bibliografia sobre os Guarani, me permito não revisá-la
inteiramente aqui, primeiro porque excederia os limites e os objetivos deste artigo e,
mais importante, porque detalhadas revisões da mesma já existem, como, por exemplo, no trabalho de Elizabeth Pissolato (2007:97-122), e também na articulação que
faz Viveiros de Castro (1986:81-127) dessa bibliografia com as questões centrais de
outros grupos tupi-guarani.
9
A opy é a casa onde se realizam os rituais xamanísticos mbyá-guarani.
A palavra já foi traduzida por “casa de rezas”, “casa de orações” e “casa cerimonial”,
sendo que adoto aqui o último destes termos.
10
11
Os nomes usados neste artigo foram recriados em português, mas todos se
referem a pessoas mbyá.
A fumaça (tataxiná) do cachimbo (petynguá) é fria, entre outras coisas, por
sua associação com Jakaira, divindade mbyá-guarani que espalhou sua “bruma vivificante” sobre a terra ainda em seus primórdios (cf. Cadogan 1992 [1959]).
12
13
A fumaça do cachimbo e a alegria que a opy proporciona é central, por exemplo,
na descrição que faz Montardo (2009:126-136) dos rituais mbyá, pois os instrumentos musicais são esfumaçados com o cachimbo logo após a entrada de todos na opy.
A alegria, por sua vez, surge com os cantos do xamã, pois “ao contrário de um ethos
pessimista apontado na literatura como característico dos Guarani, o que observamos
na letra desses cantos é um convite à alegria” (Montardo 2009:131).
Franz Müller, em seu trabalho sobre os Guarani de Missiones, comenta os
extremos a que o jogo de cartas pode chegar: “Os homens jogam apaixonadamente,
com vigor e dedicação dignos de qualquer um, o jogo de cartas tomado da civilização, com apostas relativamente altas. Ocorre com certa frequência que um indígena
perca, em uma noite, todos os seus bens: espingarda, facão, suas roupas e as de sua
mulher” (Müller 1989 [1930]:84).
14
15
Cf. Assis (2006:129-130) para uma narrativa semelhante.
545
546
outras alegrias
16
Ao mesmo tempo, o trabalho procura dialogar com outras áreas, principalmente com a saúde pública, e também nesse sentido se diferencia dos trabalhos
citados anteriormente, pois concebe a pesquisa como um processo de intervenção
que visa “eliminar os problemas do alcoolismo entre a população indígena” (Ferreira & Coloma 2005:181). A noção de alcoolismo é usada nos trabalhos de saúde
pública, epidemiologia e psicologia (ver, por exemplo, Guimarães & Grubits 2007;
Maciel et alli 2012), sendo que a aplicabilidade do conceito vem sendo repensada
e discutida – conforme diversos artigos em Ministério de Saúde (2001). O que
minha etnografia entre os Mbyá sugere é que a noção de alcoolismo talvez não
seja o melhor caminho para compreender a embriaguez indígena, visto que ka’u
(-embriagar-se), como veremos, é pensado como uma forma de ser e agir, isto é,
como um estado que pode ocorrer a qualquer um e não tanto como uma “doença”,
isto é, como uma condição do indivíduo, tal como o uso da noção de alcoolismo
parece sugerir. No mesmo sentido, creio eu, o trabalho de Ferreira (2001a, 2001b),
assim como as reflexões de Langdon (2001), sustentam que é preciso contextualizar o que de fato significa alcoolismo entre os povos indígenas. Para um estudo
minucioso sobre as abordagens antropológicas e de saúde pública sobre o uso de
cachaça entre os povos indígenas, cf. Caux (2011).
Para uma recensão recente desses autores, bem como uma inflexão interessante sobre a noção de profetismo, ver Sztutman (2012).
17
A relação entre a cachaça e a raiva aparece brevemente no trabalho de Vieira
(2009) sobre os Maxacali.
18
19
Como veremos adiante, os ãgue também são chamados de mbogua pelos Mbyá.
“[A] segunda alma (de origem telúrica, mas não de alma animal), os Mbyá
designam com o nome de teko achy kue, cuja tradução é ‘o produto de vida imperfeita’ […] Entre os Mbyá, o teko achy kue se converte em mbo-gua, fantasma também
muito temido, e também chamado angue, nome que em guarani clássico significa
alma de defunto” (Cadogan 1952:33).
20
21
“Entre os Mbüa disseram-me que os bens materiais do defunto continuam
sendo propriedade do seu mboguá, razão pela qual ninguém os pode herdar. O mboguá viria buscar quem deles se apropriasse. Confessou Pablo Vera, de Yroysã, que
às vezes algum velho fica com os objetos do morto, porque de qualquer jeito terá de
morrer dentro de curto prazo” (Schaden 1974 [1954]:134).
22
“Por sua vez, há um número de seres invisíveis que poderíamos chamar,
segundo nosso conceito, fantasmas e que são considerados como almas vagabundas
dos mortos [anguéry] ou que se apresentam como seres metamorfoseados em animais
ou plantas” (Muller 1989 [1930]:106). E também: “ao morrer, esta alma [ou angue]
fica na terra e pode incorporar-se em algum animal e/ou torna-se espírito ‘maligno’
que deseja levar a alma de seus parentes e amigos para ‘não ficar sozinho’” (Meliá,
Grunberg & Grunberg 1976:256).
outras alegrias
23
Cadogan (1967/1968) indica que o sufixo vé é o equivalente do guarani -kué,
que, além de indicarem pretérito, também significam “o produto de, a consequência
de, sendo utilizado para expressar ideias abstratas” (:141).
“Os Mbya não concebem, como os Kaiowa ou os Nhandeva, um lugar
celeste habitado por aqueles que já teriam antes vivido na Terra, como o ma’etirõ
kaiowa controlado pelo deus Tupã Arasa (Meliá, Grünberg & Grünberg 1976:234)
ou o ñe’ëng-güery, o ‘país dos mortos’ ava-katu-etê, onde estão as almas-palavras
que aguardariam nova oportunidade de ‘reencarnação’ (Bartolomé 1991 [1977]:89).
Em sonhos, mortos mbya não enviam almas nem cantos como fariam os Nhandeva
(Nimuendaju 1987 [1914]:77; Schaden 1974 [1954]:112-113)” (Pissolato 2007:266).
24
A tentativa dos irmãos Sol e Lua de acabar com os jaguares – mba’e ypy, os
“seres primitivos” – fracassa: a fêmea grávida que conseguiu escapar “teve um filho
macho, que copulou com a mãe, e sua progenitura espalhou-se por toda a terra. Deve-se a isto, conclui o mito, que hoje existam jaguares” (Clastres 1978:95).
25
26
Numa etnografia recente, Mello (2006:256-7) descreve os planos cósmicos e
menciona a “terra dos anhã”, ressaltando a capacidade predatória e atrativa desses
seres, bem como o perigo de ser iludido e capturado por eles. A autora aponta ainda
que anhã é responsável pela devoração periódica de Jaxy, a qual pode ser vista
pelos humanos a cada lua minguante e durante os ecplises. Chariã seria ainda uma
outra designação a incluir entre os “donos da raiva”, visto que está frequentemente
associado a anã, mas deixo de fazê-lo aqui com receio de citar em excesso. Ainda
sobre os anhã, mas saindo dos Mbyá, o próprio Muller menciona que a mitologia Pãï-tevyterã diz que a morada dos Añáy – “um grande lagoa de água fervente” (Muller
1989 [1930]:30) – está acima de nós, onde ela agarra as almas dos mortos que estão
a caminho da morada dos deuses. Meliá et alii (1976), por sua vez, dizem que a Lua
“tinha vontade de ir a uma festa e como, naquele momento, somente os añáy fizeram
uma, foi embora com eles” (:231). Chamorro (2004), por exemplo, tratando da mitologia guarani, afirma que “em relatos recentes, esses Añang são identificados com
outros seres humanos, inimigos dos Guarani, tal como os Kaingang, Guaicurus e os
‘brancos’” (:127). Por fim, Cadogan (1962), também falando dos Pãï, fala da existência
de um kagui járy – “dono da cerveja” – que pode ser chamado de Taviangusú, mas
também de Añay, pois “são sinônimos” (:80).
Sair do contexto guarani é sobretudo um movimento que partiu de minha
experiência entre os Mbyá, tal como afirmei no início deste artigo. Meu objetivo
é traçar conexões de forma a “expor” a etnografia a outros contextos ameríndios
e, quem sabe, poder olhar a embriaguez mbyá desde o ponto de vista amazônico.
Os trabalhos de Sztutman (2003, 2006) foram importantes na elaboração dessa visada
comparativa, mas privilegio aqui apenas os trabalhos de cunho etnográfico.
27
Há um lugar em que os Yudjá, certa vez, escutaram algumas galinhas e, depois
de gritarem sem obter resposta, pensaram se tratar das galinhas dos mortos. A alma da
yacuha – nome do fermentado alcoólico elaborado pelos Yudjá – viaja para esse lugar
28
547
548
outras alegrias
ao final de uma bebedeira entre vivos, quando começa então uma bebedeira entre
os mortos. Entretanto, se os vivos bebem a alma e o líquido, os mortos se satisfazem
apenas com a primeira (Lima 1986).
29
Para a festa, mulheres de diferentes casas pilam o milho até obter uma pasta
fina e uniforme, para então misturá-lo com água. Aos poucos, partes desse mingau
são maceradas, usando-se as mãos ou a boca, e depositadas novamente na panela.
Essa produção descentralizada vai sendo reunida no grande tronco, que deve estar
cheio para a chegada dos convidados (Vilaça 1992:200).
“O jam é um traço, marca, representação ou imagem de um corpo” (Vilaça
1992:55). Cf. Vilaça (2005) para um desenvolvimento da noção de jam, tendo como
fundo a reflexão sobre pessoa partida na Melanésia, bem como sobre teorias amazônicas de corporalidade, xamanismo e parentesco.
30
“O oferecimento da chicha azeda é um equivalente simbólico da devoração
canibal, ou seja, os convidados são castigados pelos anfitriões, ‘transformados em
presa’” (Vilaça 1992:202).
31
A relação entre os Mbyá e os não indígenas aparece em diversos autores e
também a explorei em meu trabalho de campo. Não as retomo aqui porque a conceitualização mbyá da embriaguez e da cachaça nos remete principalmente aos mortos,
como espero ter mostrado neste artigo. Para o assunto, ver Assis (2006), Garlet (1997),
Gobbi (2008), Ladeira (1992, 2001), Larricq (1993), Macedo (2009), Pissolato (2007)
e Pradella (2009), entre outros.
32
Referências bibliográficas
ASSIS, Valéria. 2006. Dádiva, mercadoria
e pessoa: as trocas na constituição do
mundo social Guarani. Porto Alegre:
PPGAS/UFRGS.
BARTOLOMÉ , Miguel Alberto. 1991.
Chamanismo y religion entre los ava-katu-ete. Assunción: Biblioteca Paraguay de Antropologia, Universidad
Católica.
CADOGAN, Leon. 1952. “El concepto guarani de alma: su interpretación semántica”. Folia Linguistica Americana,
1(1):31-34.
___. 1962. “Aporte a la etnografia de los
guarani del Amambái, Alto Ypane”. Revista de Antropologia da USP, 10(1-2):
43-92.
___. 1965a. “Especulaciones en torno al Bai
Ete Ri Va Guayaki”. America Indigena,
XXV(3):304-318.
___. 1965b. “En torno al BAI-ETE-RI-VA y el
concepto guarani de NOMBRE”. Suplemento Antropologico, 1(1):3-13.
___. 1967/68. “Chonó Kybwyrá: aves e
plantas en la mitologia guarani”. Revista de Antropologia, 15-16:133-147.
outras alegrias
___. 1992 [1959]. Ayvu rapyta. Assuncion:
Biblioteca Paraguaya de Antropologia.
CALAVIA-SAEZ, Oscar. 2004. “La persistencia guarani: introducción”. Dossiê Guarani. Revista de Indias, LXIV(230):9-14.
___. 2006. O nome e o tempo dos Yaminawa. São Paulo: Edunesp/Nuti.
CAUX, Camila Becattini Pereira de. 2011.
Histórias de cachaça e povos indígenas. Dissertação de Mestrado, PPGAS/
MN/UFRJ.
CHAMORRO, Graciela. 2004 . “La buena
palabra: experiencias y reflexiones
religiosas de los grupos guaraníes”.
Revista de Indias, LXIV(230):117-140.
CHASE-SARDI, Miguel. 1964. “Avaporu.
Algunas fuentes documentales para el
estudio de la antropofagia Guaraní”.
Revista del Ateneo Paraguayo, 3.
CICCARONE, Celeste. 2001. Drama e
sensibilidade: migração, xamanismo
e mulheres Mbya-guarani. Tese de
Doutorado, PUC-SP.
CLASTRES, Helene. 1968. “Rites funéraires guayaki”. Journal de la Societé
des Americanistes, LVII:62-72.
___. 1978. Terra sem mal: o profetismo
tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense.
DELEUZE, Gilles. 1981. Aula sobre Spinoza.
Disponível em: http://www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=38&grou
pe=Spinoza&langue=2 Acesso em
04/12/2015.
DIETLER, Michal. 2006. “Alcohol: antropological/archeological persperctives”. Annual Review of Anthropology, 35: 229-49.
FAUSTO, Carlos. 2005. “Se Deus fosse
jaguar: canibalismo e cristianismo
entre os Guarani (séculos XVI a XX)”.
Mana, 11(2):385-418.
FERNANDES, João Azevedo. 2011. Selvagens bebedeiras: álcool, embriaguez
e contatos culturais no Brasil Colonial
(Séculos XVI-XVII). São Paulo: Alameda.
FERREIRA, Luciane Ouriques & COLOMA,
Carlos. 2005. “Approche intraculturelle destinée à réduire les dommages
liés à la dépendance à l’alcool chez les
Mbya-Guarani du Rio Grande do Sul,
au Brésil”. Drogues, Santé et Société,
4(1):175-216.
FERREIRA, Luciane Ouriques. 2001a. Mba’e
achÿ: a concepção cosmológica da doença entre os Mbyá-Guarani num contexto
de relações interétnicas. Dissertação
de Mestrado, POA, PPGAS/UFRGS.
___. 2001b. “Relatório etnográfico da I
Reunião Geral dos Karaí, caciques
e lideranças Mbyá-guarani sobre o
uso abusivo de bebidas alcoólicas e
alcoolismo” – RS. POA, CIPSI. Mimeo.
___. 2003a. “As ‘boas palavras’ dos Xondaro
Marãgatu como alternativa para a redução do consumo de bebidas alcoólicas
entre os Mbyá-Guarani – RS”. V Reunião
de Antropologia do Mercosul, Florianópolis. Mimeo.
___. 2003b. “A pessoa Mbyá-Guarani e a
emergência da ‘cultura do beber’: as
múltiplas causas do beber e as conse­
quências desencadeadas pelo uso
abusivo de bebidas alcoólicas – RS”.
V Reunião de Antropologia do Mercosul, Florianópolis. Mimeo.
___. 2004. “O ‘fazer antropológico’ em ações
voltadas para a redução do uso abusivo
de bebidas alcoólicas entre os Mbyá-Guarani no Rio Grande do Sul”. In: J.
Langdon & L. Garnelo (orgs.), Saúde
dos povos indígenas: reflexões sobre antropologia participativa. Rio de Janeiro:
Associação Brasileira de Antropologia/
Contra Capa. pp. 89-110.
___. s/d. “O impacto do uso abusivo de bebidas alcoólicas sobre a pessoa Mbyá-guarani – RS”. Mimeo.
GARLET, Ivori. 1997. Mobilidade mbyá:
história e significação. Dissertação de
Mestrado, PPG História/PUCRS.
___. & ASSIS, Valéria. 2004. “Análise sobre
as populações guarani contemporâneas: demografia, espacialidade e
questões fundiárias”. Revista de Indias,
LXIV(230):35-54.
549
550
outras alegrias
GUIMARAES, Liliana & GUBRITS, Sonia.
___. 1995. A parte do cauim: etnografia juru-
2007. “Alcoolismo e violência em etnias
indígenas: uma visão crítica da situação brasileira”. Psicologia & Sociedade,
19(1):45-51.
GOBBI, Flávio Schardong. 2008. Entre
parentes, lugares e outros: traços na
sociocosmologia guarani no Sul. Porto
Alegre: UFRGS. Dissertação de Mestrado. 116pp.
HEURICH, Guilherme Orlandini. 2011. Outras alegrias: respeito e bailes mbya. Dissertação de Mestrado, PPGAS/MN/UFRJ.
ISA. 2012. “Guarani”. Povos Indígenas
no Brasil. Disponível em: http://pib.
socioambiental.org/guarani. Acesso em
01/10/2014.
LADEIRA, Maria Inês & COSTA, Carlos Zibel.
1995. “A geografia mítca guarani-mbyá.
A concretitude físico social do mundo
(território) guarani-mabyá e os espaço
mítico que o contém”. In: Milton Santos
(org.), O novo mapa do mundo: problemas geográficos e um mundo novo.
São Paulo: Associação Nacional de
Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. pp. 209-214.
LADEIRA, Maria Inês. 1992. “O caminhar sob
a luz”: território mbya à beira do oceano.
Dissertação de Mestrado, PUC/SP.
___. 2001. Espaço geográfico guarani-mbya:
significado, constituição e uso. Tese de
Doutorado, Programa de Pós-Graduação
em Geografia Humana, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP.
LANGDON, Esther Jean. 2001. “O que beber,
como beber e quando beber. O contexto
sociocultural do alcoolismo entre as
populações indígenas”. Anais do Seminário sobre Alcoolismo e DST/AIDS entre
os Povos Indígenas Brasília, DF. Mimeo.
LARRICQ, Marcelo. 1993. Ypytuma: construcción de la persona entre los Mbya-Guarani. Posadas: Editorial Unversitaria.
LIMA, Tânia Stolze. 1986. A vida social
entre os Yudjá (índios Juruna). Dissertação de Mestrado, PPGAS/MN/UFRJ.
na. Tese de Doutorado, PPGAS/MN/UFRJ.
___. 2005. Um peixe olhou pra mim: o
povo Yudjá e a perspectiva. 1a. ed.
São Paulo/Rio de Janeiro: ISA/Editora
Unesp/NuTI.
MACEDO, Valéria de Mendonça. 2009.
Nexos da diferença: cultura e afecção
em uma aldeia guarani na Serra do
Mar. Tese de Doutorado, FFLCH/USP.
___. 2013. “De encontros nos corpos guarani”. Ilha, 15(1/2):180-207.
MACIEL, Silvana Carneiro; OLIVEIRA, Rita
de Cássia Cordeiro de & MELO, Juliana Rízia Félix de. 2012. “Alcoolismo
em indígenas potiguara: representações sociais dos profissionais de saúde”. Psicol. Cienc. Prof., 32(1): 98-111.
MELIÁ, Bartomeu. 1991. El guarani: experiencia religiosa. Asunción: Biblioteca
Paraguaya de Antropologia, Vol. XIII
CEADUC – CEPAG.
MELIÀ, Bartolomeu; GRUNBERG, Friedl
& GRUNBERG, Georg. 1976. Los Pai-Tavyterã – etnografia guarani del
Paraguay contemporaneo. Asunción:
Centro de Estudios Antropológicos.
Universidade Católica Nuestra Señora de la Asunción.
MELLO, Flávia. 2006. Aetchá Nhanderukuéry Karaí Retarã: entre deuses
e animais: xamanismo, parentesco e
transformação entre Chiripá e Mbyá
Guarani. Tese de Doutorado, IFCH/UFSC.
MINISTERIO DA SAÚDE. 2001. Anais do
Seminário sobre Alcoolismo e DST/
AIDS entre os Povos Indígenas. Brasília, DF. Mimeo.
MONTARDO, Deise Lucy. 2009. Através
do mbaraká: música e xamanismo
guarani. São Paulo: Edusp.
MONTEIRO, John Manuel. 1998 [1992].
“Os Guarani e a história do Brasil
meridional: séculos XVI-XVII”. In: M.
Carneiro da Cunha (org.), História dos
índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras/ Fapesp. pp. 475-498.
outras alegrias
MONTOYA, Antonio Ruiz de. 1985 [1639].
VIEIRA, Marina. 2009. “Virando Inmõxã:
A conquista espiritual feita pelos
religiosos da Companhia de Jesus
nas províncias do Paraguai, Paraná,
Uruguai e Tape. Porto Alegre: Martins Livreiro Editor.
MÜLLER, Franz. 1989 [1930]. Etnografia
de los Guarani del Alto Paraná. Buenos Aires: Societatis Verbi Divini.
MURA, Fabio. 2006. A procura do “bom viver”: território, tradição de conhecimento e ecologia doméstica entre os Kaiowa.
Tese de Doutorado, PPGAS/UFRJ.
NIMUENDAJU, Curt. 1987 [1914]. As lendas
da criação e destruição do mundo como
fundamento da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.
PISSOLATO, Elizabeth de Paula. 2006. A
duração da pessoa: mobilidade, parentesco e xamanismo mbyá (guarani).
Tese de Doutorado, PPGAS/MN/UFRJ.
___. 2007. A duração da pessoa: mobilidade, parentesco e xamanismo mbyá
(guarani). São Paulo/Rio de Janeiro:
ISA/Editora Unesp/NuTI.
PRADELLA, Luis Gustavo de Souza. 2009.
Entre os seus e os outros: horizonte,
mobilidade e cosmopolítica guarani. Porto Alegre: UFRGS/PPGAS.
Dissertação de Mestrado.
SCHADEN, Egon. 1974 [1954]. Aspectos
fundamentais da cultura guarani. São
Paulo: Edusp.
___. 1963. “Caracteres específicos da
cultura mbüa-guarani”. Revista de
Antropologia, 11(2).
SZTUTMAN, Renato. 2003. “Comunicações alteradas: festa e xamanismo na
Guiana”. Campos, 4: 29-51.
___. 2006. De outros caxiris: festa, embriaguez e comunicação na Amazônia indígena. Versão para publicação
de Dissertação de Mestrado defendida em 2001 no PPGAS da USP.
___. 2012. O profeta e o principal: a ação
política ameríndia e seus personagens. São Paulo: Edusp.
uma análise integrada da cosmologia
e do parentesco Maxakali a partir dos
processos de transformação corporal”. Amazônica, 1(2): 308-329.
VILAÇA, Aparecida. 1992. Comendo como
gente: formas do canibalismo Wari’. Rio
de Janeiro: Editora da UFRJ/Anpocs.
___. 2005. “Chronically unstable bodies”.
Journal of the Royal Anthropological
Institute, 8(2): 445-464.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1986.
Araweté: os deuses canibais. São
Paulo: Zahar/Anpocs.
___. 1992. From the enemy’s point of view.
Chicago: University of Chicago Press.
VOGT, P. Federico. 1903. La civilización
de los Guaraníes en los siglos XVII
y XVIII. Buenos Aires: Imprenta de
Guadalupe.
WATSON, James. 1952. “Cayuá culture
change: a study in acculturation and
methodology”. American Anthropological Association, memoire number 73.
551
552
outras alegrias
Resumo
Abstract
A partir de trabalho de campo realizado
entre os Mbyá-guarani, este artigo procura compreender os sentidos que toma a
embriaguez proporcionada pelo consumo
de cachaça, focando na descrição dos
Mbyá sobre a alteração e os “bailes”,
bem como na relação entre a cachaça
e os espectros ãgue. Lanço mão da expressão “outras alegrias” que descreve a
alegria proporcionada pelos bailes e pela
embriaguez, principalmente em oposição
à alegria experienciada na “casa cerimonial” (opy). Mostro, por outro lado, que as
“outras alegrias” precisam ser pensadas
também como “alegrias-Outras”, pois
quando a embriaguez se torna raiva
contra os próprios parentes, os mortos
aparecem como o sujeito primordial dessa alteração que a cachaça proporciona.
Por fim, associo a embriaguez de cachaça
a etnografias sobre cauinagens de outros
povos ameríndios, sugerindo aproximações e diferenças com esses contextos.
Para os Mbyá, a embriaguez é uma forma
de alegria e também de alteração, na qual
a pessoa se aproxima dos espíritos dos
mortos e pode, no limite, tomar os seus
parentes por contrários.
Palavras-chave Mbyá-guarani, Festa,
Embriaguez, Cachaça.
This article describes how the Mbyáguarani understand the drunkenness
caused by sugar-cane spirit (cachaça). I
focus on the Mbyá description of drinking
behaviour in their bailes (feasts) as well
as in the relationship of cachaça to the
spirits of the dead (ãgue). I use the expression “other joys” in order to describe
the happiness of the Mbyá during their
feasts in opposition to the happiness that
is experienced in the ceremonial house
(opy). However, the idea of “other joys”
has an immediate counterpart in that of
“joyous-otherness”, for when drinking
leads to excessive and violent behaviour
towards kinspeople, the dead emerge as
primordial figures in the alteration that
cachaça enables. The relationship of the
Mbyá-guarani experience with cachaça
is then compared to other Amerindian
ethnographies where maize beer (cauim)
is drunk, revealing both similarities
and differences. For the Mbyá-guarani,
drinking cachaça is a joyous experience
that can result in alteration, bringing the
spirits of the dead closer to the living,
who thereby risk seeing their kinspeople
as foes.
Key words Mbyá-guarani, Feast, Drunkenness, Sugar cane liquor.
MANA 21(3): 553-585, 2015 – DOI http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p553
CARTEIRA DE ALTERIDADE:
TRANSFORMAÇÕES MAMAINDÊ
(NAMBIQUARA) *
Joana Miller
Alguns meses depois de iniciar o meu trabalho de campo com os Mamaindê, um grupo Nambiquara situado no noroeste do estado de Mato Grosso,
um jovem de cerca de 30 anos falou-me sobre a importância dos seus enfeites corporais, dizendo-me que eles eram como a carteira de identidade
dos brancos.1 Em seguida, ele justificou esta comparação explicando-me
que, quando os brancos perdem a sua carteira de identidade, a polícia os
leva presos, argumentando que sem este objeto eles não são ninguém.
O mesmo se passa, ele acrescentou, quando os espíritos da floresta roubam
os enfeites dos Mamandê: eles os escondem dentro de buracos na floresta
e, deste modo, o espírito (yauptidu) da pessoa fica preso. Ela adoece, não
reconhece mais os seus parentes. “Sem os seus enfeites ela não é ninguém”, ele concluiu.
Pretendo explorar aqui a comparação feita pelo jovem mamaindê
entre os seus enfeites corporais e a carteira de identidade. A importância
atribuída a tais objetos, neste caso, remete aos perigos relacionados à
possibilidade de perdê-los em situações específicas. Quando se trata dos
enfeites corporais, enfatizam-se os riscos e as consequências de tê-los roubados pelos espíritos da floresta. Quando se trata da carteira de identidade,
enfatiza-se o perigo envolvido nas relações estabelecidas com a polícia.
A comparação feita pelo jovem mamaindê não foi, portanto, apenas entre
os seus enfeites corporais e a carteira de identidade, mas também entre
os espíritos da floresta e a polícia.
Meu objetivo é refletir sobre estas duas comparações contidas na
explicação do meu informante e investigar como este tipo de formulação
pode nos dizer algo sobre a relação que os Mamaindê estabelecem entre
os objetos e aqueles que os portam, de modo que seja possível afirmar que,
em certos contextos relacionais, uma pessoa desprovida de determinados
objetos “não é ninguém”.
554
CARTEIRA DE ALTERIDADE
Enfeites, roupas e documentos
Comparações como a que foi feita pelo jovem mamaindê são frequentemente reportadas pelos antropólogos. Conklin (1997:715) relata o caso de um
líder kayapó que, ao ser impedido de entrar em um tribunal brasileiro por
usar pinturas corporais e adereços de penas coloridas, respondeu ao juiz,
que exigia que ele se apresentasse de terno e gravata, que os seus adornos
tradicionais eram o terno e a gravata dos índios. Se o meu informante mamaindê comparou os seus enfeites corporais à carteira de identidade dos
brancos, no caso relatado por Conklin, os enfeites usados pelos Kayapó
foram comparados às roupas dos brancos.
Conklin cita este evento como uma ilustração da habilidade com que
alguns povos indígenas passaram a utilizar os símbolos e as imagens corporais como ferramentas políticas, especialmente no novo contexto das relações
interétnicas que se configurou a partir dos anos 1980. A centralidade das
imagens corporais para a expressão da identidade étnica seria, segundo esta
autora, o resultado da imposição aos índios de noções exógenas de identidade e de autenticidade cultural segundo as quais os adornos corporais
são tomados como símbolos que representam a identidade daqueles que os
portam. Ela argumenta, neste sentido, que:
Os símbolos visuais estão no centro desta história porque a política da aliança
indígena-ambientalistas é, antes de mais nada, uma política simbólica […] Símbolos são importantes em todas as políticas, mas eles são centrais no ativismo
político amazônico. Na falta de cacife eleitoral ou de influência econômica, o
“capital simbólico” (Bourdieu 1977) da identidade cultural é um dos únicos
recursos políticos dos índios brasileiros (Conklin 1997:713).
De acordo com esta perspectiva, as comparações feitas pelo jovem
mamaindê e pelo líder kayapó referidas acima sugerem que, ao menos no
contexto da interação com os brancos, os enfeites corporais seriam concebidos pelos índios como símbolos identitários do mesmo modo que o são as
roupas e a carteira de identidade para a audiência ocidental.2 Neste caso, a
relação estabelecida entre os enfeites e aqueles que os portam é predicada
nos termos da ontologia ocidental. Mas o que acontece se examinarmos este
tipo de comparação tomando como referência as concepções indígenas dos
enfeites corporais? Levando em conta que o corpo e os processos ligados à
sua fabricação (o que inclui ornamentação, perfuração, tatuagem, pintura)
são centrais para o entendimento dos sistemas sociocosmológicos ameríndios
(Seeger, Da Matta & Viveiros de Castro 1979), é interessante notar que, nos
CARTEIRA DE ALTERIDADE
dois casos mencionados acima, as roupas e a carteira de identidade tenham
sido comparadas pelos índios justamente aos seus enfeites corporais.
Em um artigo sobre a relação entre xamanismo e contato interétnico
na Amazônia indígena, Vilaça (1999:246) analisa o significado das roupas
ocidentais nos processos de mudança de identidade e argumenta que, se tomarmos como referência as concepções indígenas do corpo, não há nenhuma
diferença substantiva entre as roupas ocidentais e os ornamentos ou vestes
animais usados pelos xamãs. Ambos constituem formas de diferenciação
e de transformação do corpo idênticas àquelas que decorrem de práticas
alimentares e da troca de substância pela proximidade física frequentemente descritas nesta região. Neste sentido, não é preciso supor que, ao
se apropriarem das roupas ocidentais, os povos indígenas necessariamente
deveriam se apropriar de novas noções de identidade e cultura. Penso que,
embora a carteira de identidade tenha sido comparada pelos Mamaindê
aos seus enfeites corporais, estes objetos estão longe de serem concebidos
como símbolos identitários.
A partir da descrição etnográfica dos Mamaindê, pretendo demonstrar
que a comparação feita pelo meu informante indica que a carteira de identidade é vista como um enfeite corporal, tal como os Mamaindê o concebem,
e não o contrário. Deste modo, argumento que para este grupo Nambiquara
a carteira de identidade remete, sobretudo, às noções de alteridade e de
transformação, mais do que às ideias de identidade ou de representação.
Sugiro que, assim como os ornamentos corporais, a carteira de identidade é
um índice das relações que constituem a pessoa neste contexto etnográfico,
mais do que um símbolo que a representa. A questão que se coloca aqui
é, portanto, como entender a comparação feita pelo jovem mamaindê para
explicar a importância de seus ornamentos corporais quando os objetos não
representam a pessoa mas a constituem.
Vejamos então como, para os Mamaindê, os enfeites corporais podem
ser considerados partes constitutivas da pessoa e em que medida eles estão
associados à capacidade de transformação.
Os enfeites corporais como componentes da pessoa
Os Mamaindê dizem que, além dos enfeites visíveis, possuem também
enfeites internos que só o xamã é capaz de enxergar e de tornar visíveis
durante as sessões de cura. O que torna um enfeite visível ou invisível não é
uma característica intrínseca a ele, mas a capacidade visual do observador.
Do ponto de vista do xamã, um ser capaz de adotar múltiplos pontos de vis-
555
556
CARTEIRA DE ALTERIDADE
ta, o corpo dos Mamaindê revela-se sempre como um corpo enfeitado com
muitas voltas de colar de contas pretas feitas do coco de tucum, mesmo que,
aos olhos dos não xamãs, a pessoa não esteja usando nenhum enfeite.3 Tudo
se passa como se, para o xamã, não existisse a possibilidade de se ter um
corpo completamente nu; o corpo humano, em sua integralidade, apresenta-se sempre como um corpo devidamente ornamentado.
Outros tipos de seres também possuem seus próprios enfeites corporais. No sonho, locus privilegiado de atuação xamânica, vários animais
costumam se revelar em sua forma humana e são descritos como pessoas
(nagayandu) enfeitadas. Embora não haja um consenso na descrição
desses enfeites, os Mamaindê enfatizam que eles são feitos de outro material, diferindo, assim, dos enfeites usados por eles próprios. Os colares
do “dono” dos porcos vistos no sonho, por exemplo, são feitos de sementes
de urucum e não de contas de tucum como as usadas pelos Mamaindê.
O espírito “dono” do macaco-aranha possui apenas um colar que não é
feito com fio de algodão, como o dos Mamaindê, mas com um fio de teia
de aranha. Neste sentido, o tipo de enfeite que se tem indica o tipo de
gente que se é a partir do amplo espectro de humanidade característico
das cosmologias ameríndias.
Os estudos sobre a ornamentação corporal na Amazônia indígena costumam enfatizar que os enfeites são aparatos de humanização que podem
ser usados ora para marcar diferenças internas a um grupo social (Turner
1992; Vidal 1992; Erikson 1996), ora como sinais diacríticos que marcam
diferenças entre grupos sociais distintos (Agostinho 1974; Hugh-Jones 1979,
2002). Em trabalhos anteriores (Miller 2005, 2009), argumentei que, para os
Mamaindê, os enfeites corporais marcam sobretudo diferenças existentes
entre as várias espécies de sujeitos, o que inclui também os animais e os
espíritos. Neste caso, toma-se como referência uma noção de humanidade
ampliada que abrange outros tipos de seres com os quais se estabelecem
relações sociais. Assim, se para alguns grupos ameríndios os enfeites corporais foram relacionados a mecanismos classificatórios que marcam distinções
sociológicas, para os Mamaindê, os enfeites parecem remeter a um processo
de especiação ou de distinção ontológica.4
O ato de enfeitar é concebido como um ato de cuidado e de afeto e está
diretamente relacionado ao parentesco. Os Mamaindê descrevem o ato de
enfeitar as crianças pequenas, destinatários privilegiados dos colares de
contas pretas feitos por seus parentes (principalmente mães e avós), como
um ato de carinho e proteção.5 Quando enfeitam seus filhos pequenos, as
mulheres dizem que estão cuidando deles e protegendo-os do ataque de
espíritos malévolos. A ideia de carinho e cuidado também está presente
CARTEIRA DE ALTERIDADE
quando as mulheres enfeitam seus maridos. Conforme me explicaram, é o
fato de enfeitar e alimentar os seus maridos que faz com que as mulheres
possam se referir a eles como “minha criação” (da mãindu), mesmo termo
usado para se referir aos seus animais de estimação e também aos seus filhos. Por outro lado, diz-se que as crianças que não usam nenhuma volta de
colar em seu corpo são crianças “sem parentes, abandonadas”. Portanto, o
ato de enfeitar conecta a pessoa a um grupo de parentes que compartilham
os mesmos tipos de enfeites corporais. Os enfeites são, neste caso, índices
das relações que conectam a pessoa aos seus parentes e, de certa forma, o
material mesmo do qual essas relações são feitas.6
A ideia de que o corpo enfeitado seria a imagem da humanidade, da
sociabilidade, do parentesco, por oposição ao corpo nu, antítese da vida em
sociedade, também é expressa pelos Matis, grupo de língua pano da Amazônia ocidental. Segundo Erikson (1996:233), os enfeites corporais usados
pelos Matis ao mesmo tempo pontuam e produzem o desenvolvimento
fisiológico do indivíduo e são signos de humanidade e de sociabilidade.
À medida que a pessoa vai crescendo e ampliando as relações de parentesco que a conectam ao grupo, ela vai recebendo mais enfeites corporais.
Os espíritos Maru, antissociais, solitários e grotescos, são descritos como
seres sem enfeites corporais, enquanto os espíritos dos ancestrais (Marawin)
são belos e hiperenfeitados. Neste caso, os enfeites não são apenas a imagem
da sociabilidade, mas também componentes do corpo, na medida em que
produzem o seu desenvolvimento fisiológico.
Seeger (1980) observa algo semelhante para os Suya. Para este grupo, a
ornamentação de determinadas partes do corpo serve para aumentar e produzir capacidades socialmente valorizadas — neste caso, a fala e a audição —
que, assim, são concebidas como atributos corporais. As partes do corpo
que não são enfeitadas, como os olhos, por exemplo, estariam associadas
à feitiçaria e a outras forças a-sociais relacionadas à visão. Noto que, em
ambos os casos, os enfeites são a imagem da sociabilidade que é pensada
como um atributo corporal.
Mas, no caso dos Mamaindê, se os enfeites corporais são imagens
da vida em sociedade, ligando a pessoa a um grupo de parentes que usam
os mesmos tipos de enfeites e com os quais ela constitui um tipo de corpo
coletivo que compartilha comida e enfeites, eles são também aquilo que a
conecta a um universo mais amplo de subjetividades. A ênfase na necessidade de se enfeitarem as crianças pequenas se deve justamente à maior
possibilidade de elas serem capturadas por espíritos malévolos e adoecerem.
Grande parte das doenças que afetam os Mamaindê é descrita como
uma perda ou troca de enfeites corporais com outros tipos de seres. Neste
557
558
CARTEIRA DE ALTERIDADE
contexto, os enfeites são associados à noção de espírito. Diz-se de uma
pessoa doente que ela perdeu os seus enfeites (wasain’du), ou o seu espírito (yauptidu). Neste caso, o termo wasain’du (coisa), usado para designar
todos os pertences de uma pessoa e especialmente seus enfeites corporais,
costuma ser traduzido como “espírito” em português, indicando que a perda
dos enfeites corporais equivale à perda do próprio espírito.
O que eu quero mostrar aqui é que se, por um lado, os enfeites são
concebidos como componentes do corpo, ou dito de outro modo, são índices das relações de parentesco, carinho e afeto que ligam a pessoa a
um grupo de parentes com corpos semelhantes, por outro lado, eles são
também aquilo que confere ao corpo sua capacidade de transformação,
ou sua instabilidade, para usar o termo escolhido por Vilaça (2005) para
caracterizar as concepções ameríndias do corpo, pois são eles também
que conectam a pessoa a outros tipos de seres. Neste contexto, os enfeites
estão relacionados à noção de espírito e à capacidade de transformação.
A troca de enfeites com outros tipos de seres costuma ser descrita pelos
Mamaindê como um processo de desaparentamento que equivale a uma
troca de perspectivas. O espírito “dono” do macaco-aranha, por exemplo,
costuma roubar os colares dos Mamaindê, colocando o dele em seu lugar.
A pessoa afetada fica muito doente, seu espírito passa a viver no mato,
acompanhando aquele que se apoderou dos seus enfeites. Quando isso
acontece, diz-se que o espírito do doente casou-se com o espírito “dono”
do macaco-aranha. O doente passa então a ver os seus próprios parentes
como se fossem “bichos”. Sem os seus enfeites, a pessoa “não é ninguém”,
como afirmou o jovem mamaindê citado no início, justamente porque passa
a ser alguém para outros tipos de seres, deixando de reconhecer os seus
próprios parentes.
Durante as sessões de cura, o xamã procura recuperar os enfeites
roubados do doente e retira os colares deixados em seu corpo pelo espírito
agressor, substituindo-os por novos colares. Só então o doente volta a reconhecer os seus próprios parentes e começa a melhorar. A cura xamânica pode
ser descrita, neste sentido, como um processo de (re)produção de pessoas
humanas específicas. Ao colocar novamente os enfeites perdidos no corpo
do doente, o xamã o reconecta aos seus parentes desfazendo as relações
que o ligavam a outros tipos de seres e interrompendo, assim, o processo
de transformação.7
Os enfeites corporais dos Mamaindê estão, portanto, intimamente relacionados à constituição da pessoa e à sua capacidade de transformação,
indicando, sobretudo, a instabilidade da condição humana neste contexto
etnográfico.
CARTEIRA DE ALTERIDADE
Os enfeites corporais como objetos xamânicos
É preciso dizer ainda que os colares que o xamã coloca no corpo dos doentes
durante as sessões de cura são dados a ele pelos espíritos dos mortos. O poder
xamânico é descrito como a posse de muitos enfeites corporais que o xamã
recebe dos espíritos dos mortos e também do xamã que o iniciou nas técnicas
do xamanismo. Por isso, além das crianças pequenas, que como eu disse são os
principais destinatários dos colares feitos pelos seus parentes, o xamã também
está sempre usando muitas voltas de colar, diferenciando-se, assim, das outras
pessoas. De posse dos enfeites dos mortos, o xamã passa a ver o mundo como
eles e se torna capaz de enxergar os enfeites que para as pessoas comuns são
invisíveis. Tudo se passa como se, do ponto de vista do xamã, o corpo fosse translúcido, não encobrindo os enfeites que, para as pessoas comuns, são invisíveis.8
O conhecimento xamânico consiste, portanto, em saber como os espíritos veem os Mamaindê e se veem a si mesmos. Os enfeites, que para
os não xamãs são internos ao corpo e invisíveis, são justamente a parte do
corpo que os torna visíveis aos espíritos. É precisamente por compartilhar a
perspectiva dos espíritos que o xamã só enxerga corpos enfeitados.
Ao tornar visíveis os enfeites internos dos doentes durante as sessões
de cura, o xamã mostra aos Mamaindê as relações que os constituem como
pessoas humanas singulares, revelando quem eles realmente são, quem são
os seus verdadeiros parentes. É preciso, para isso, recorrer à perspectiva
dos mortos, pois só assim os Mamaindê podem se definir novamente como
pessoas humanas.9
Taylor e Viveiros de Castro (2006) observaram que nas cosmologias
ditas animistas ou perspectivistas, nas quais a humanidade engloba outras
espécies capazes de ocupar a posição de sujeito, as pinturas corporais não
são um apanágio exclusivo da espécie humana, constituindo o condensado
visual de uma cultura própria a cada espécie. Assim, o que pode parecer aos
humanos como o pelo pintado do jaguar, por exemplo, é visto pelos congêneres do jaguar como desenhos ou motivos pintados sobre o corpo humano.
Se o pelo pintado do jaguar é a pele do jaguar vista do ponto de vista de
sua presa, para os seus congêneres, no entanto, essas manchas são vistas
como pinturas corporais ou, como dizem Taylor e Viveiros de Castro: “são
sua roupa de sujeito-jaguar vista do interior, tal como ela é percebida pelos
membros de seu próprio coletivo”. Deste modo, “conhecer as pinturas corporais próprias de outros coletivos é conhecer a aparência específica que os
Outros oferecem aos seus parentes, é conhecer em suma a sua ‘face oculta’”
(Taylor & Viveiros de Castro 2006:169). Este tipo de saber, eles acrescentam,
forma um componente essencial da “ciência indígena”.
559
560
CARTEIRA DE ALTERIDADE
O conhecimento xamânico, tal como ele é concebido pelos Mamaindê,
parece ser um caso exemplar do que nos dizem Taylor e Viveiros de Castro,
já que implica, justamente, tornar visíveis os enfeites que normalmente são
invisíveis e internos ao corpo ou, nas palavras destes autores, tornar visível
“o corpo visto do interior ”. Devo acrescentar que isto indica necessariamente um processo de transformação: de posse dos enfeites dos mortos, o
xamã passa a chamá-los de “meus parentes” (da waintadu — literalmente
“meus muitos”) e é reconhecido por eles como um semelhante, tornando-se
capaz de ver os Mamaindê como os mortos os veem. Transformado em um
morto entre os vivos, o xamã é o único capaz de interromper o processo de
transformação desencadeado pela doença, que consiste precisamente na
captura dos enfeites corporais dos doentes pelos espíritos do mato. Para
isso, ele deve tornar visíveis os enfeites internos dos doentes, colocando
em seus corpos novos enfeites, revelando assim quem são os seus verdadeiros parentes.
Os enfeites do xamã não são, portanto, representações ou símbolos do
seu poder, mas índices das relações que ele estabelece com outros tipos de
seres, tornando-o um ser múltiplo e diferente de si mesmo. Penso que é por
isso que os Mamaindê descrevem o poder xamânico como a posse de muitos
enfeites corporais. Mais do que o condensado visual de uma cultura própria
a cada espécie, como observaram Taylor e Viveiros de Castro, os enfeites do
xamã mamaindê são também a expressão material de sua capacidade de
adotar outros pontos de vista. Talvez tenha sido por isso que um xamã me
explicou certa vez que os espíritos do mato roubavam os enfeites corporais
dos Mamaindê para ter xamãs para eles.
Os Mamaindê dizem ainda que os enfeites do xamã são feitos pelos
mortos; são eles os verdadeiros agentes. Assim, costuma-se dizer que
um xamã nunca está só, ele está sempre acompanhado por uma legião
de espíritos, invisíveis aos olhos dos não xamãs, que têm sua expressão
material nos enfeites usados por ele. O xamã é, neste sentido, uma pessoa
composta por um excesso de enfeites que indicam um excesso de relações:
ele é parente dos vivos, mas também dos mortos. Costuma-se dizer que
o xamã se casa com uma mulher-espírito, também descrita como uma
onça, que passa a acompanhá-lo onde quer que ele vá. Deste modo, o
xamã geralmente é definido como alguém que tem duas mulheres, o que,
a meu ver, é uma forma de defini-lo como um ser composto por relações
que ultrapassam o universo social dos vivos. Como vimos, a construção do
parentesco entre os vivos depende da relação de parentesco que o xamã
estabelece com os mortos10. Já o estado de solidão, desamparo e ausência
de relações de parentesco é descrito pelos Mamaindê como uma ausên-
CARTEIRA DE ALTERIDADE
cia de enfeites corporais: “uma criança sem enfeites é uma criança sem
parentes, abandonada”, dizem.11
Em um artigo seminal sobre o perspectivismo ameríndio, Viveiros de
Castro (2002 [1996]:361) comenta o estatuto ontológico dos objetos nas
cosmologias ameríndias e observa que “os artefatos possuem esta ontologia
interessantemente ambígua; são objetos, mas apontam necessariamente
para um sujeito, pois são como ações congeladas, encarnações materiais de
uma intencionalidade não material”. Neste sentido, é possível dizer que os
enfeites corporais do xamã mamaindê são índices de agências estrangeiras
que compõem o seu corpo.
O corpo superenfeitado do xamã mamaindê é, assim, uma boa imagem
da capacidade de transformação constitutiva dos xamãs na Amazônia que,
posteriormente, Viveiros de Castro (2006) sugeriu pensar como um estado
de autodiferença que aproximaria as noções de xamã e de espírito nesta
região. Segundo este autor, essas noções não se referem a uma categoria
taxonômica, mas indicam um momento de indiscernibilidade entre o humano
e o não humano semelhante àquele descrito pelos mitos, apontando para
um estado de autodiferença que torna espíritos e xamãs seres diferentes de
si mesmos, com uma capacidade infinita de transformação.
Viveiros de Castro (2006:321) observa, neste sentido, que é comum
na Amazônia uma reverberação entre as posições de xamãs e de espíritos,
de modo que os xamãs podem ser chamados de “espíritos” e os espíritos
podem ser ditos “xamãs”. É interessante notar que para os Mamaindê o
xamã pode ser referido como “aquele que tem espírito” (waninsogidu),12
mas no contexto da atuação xamânica costuma-se traduzir o termo wasaindu (coisa) por “espírito”, em português. Quando um xamã deixa de
observar as restrições alimentares e sexuais que envolvem seu ofício, por
exemplo, diz-se que ele perdeu as suas “coisas”, referindo-se aos seus
enfeites corporais, ou que o seu espírito foi embora. O mesmo pode ser
dito de uma pessoa doente.
Mas se o conhecimento xamânico é descrito como a posse de muitos
enfeites corporais, o xamã não é o único a possuí-los. Ao contrário, como eu
disse acima, do seu ponto de vista, o corpo dos Mamaindê se revela sempre
como um corpo enfeitado. O xamã se diferencia das outras pessoas por ter
mais enfeites e por tomar uma série de precauções para mantê-los consigo.
De certa forma, todos aqueles que estiveram doentes e tiveram seus enfeites
recuperados pelo xamã podem ser considerados um pouco xamãs.
Devo ressaltar que os enfeites corporais, sejam eles internos ou externos, não são de modo algum um atributo ontológico fixo de cada espécie
de sujeito. Não parece fazer muito sentido para os Mamaindê definir um
561
562
CARTEIRA DE ALTERIDADE
tipo de enfeite específico usado por cada espécie de sujeito. O que os Mamaindê enfatizam é justamente a impossibilidade de saber algo sobre os
enfeites de alguém sem que esta pessoa esteja inserida em uma relação.
Quando eu lhes perguntava, por exemplo, se eles já nasciam com enfeites
internos ao corpo, as respostas variavam muito. No entanto, o que todos
enfatizavam era o fato de que, nos casos de doença — quando se tem os
enfeites roubados/trocados por outros tipos de sujeitos — o xamã deve
tornar os enfeites internos dos doentes visíveis e trazer novos enfeites para
colocar em seus corpos.
O que parece paradoxal neste caso é que os enfeites são aquilo que
define os Mamaindê como pessoas humanas singulares e, ao mesmo tempo,
o que os torna “diferentes de si mesmos”; são feitos pelos mortos e, de certo
modo, materializam seu ponto de vista. Nos momentos de doença, é preciso
recorrer a eles, com a ajuda dos xamãs, para que seja possível definir-se
novamente como uma pessoa humana específica. Deste modo, a concepção
dos enfeites corporais para os Mamaindê remete a uma teoria da pessoa e da
instabilidade constitutiva do corpo humano, que é irredutível à teoria identitária do Estado simbolizada pela carteira de identidade. Tomar os enfeites
corporais como uma espécie de carteira de identidade, como poderia sugerir
à primeira vista a comparação feita pelo jovem mamaindê citada no início, é
reduzir o seu significado e desconsiderar a concepção dos enfeites corporais
própria dos Mamaindê. Para este grupo Nambiquara, conhecer os enfeites
corporais de outros tipos de seres implica um regime de conhecimento que
está baseado nas noções de alteridade e de transformação, mais do que nas
ideias de identidade ou de representação.
A carteira de identidade como ornamento corporal
Minha hipótese é, como eu anunciei no início, a de que a comparação
feita pelo jovem mamaindê entre os seus enfeites corporais e a carteira
de identidade dos brancos indica que, para os Mamaindê, a carteira de
identidade é um tipo de enfeite corporal e não o contrário. Neste sentido, o modo como os Mamaindê vêm se apropriando deste documento é
semelhante ao modo como os xamãs se apropriam dos objetos dos mortos
e dos espíritos em geral. Eu me arrisco a sugerir aqui que a carteira de
identidade é pensada pelos Mamaindê como um objeto xamânico. De
posse deste documento, os Mamaindê podem ser reconhecidos como
semelhantes pela polícia que, como vimos, foi comparada pelo meu informante aos espíritos da floresta. O mesmo se passa com o xamã que,
CARTEIRA DE ALTERIDADE
de posse dos enfeites dos mortos, passa a ser reconhecido como um
semelhante por eles.
A carteira de identidade, assim como os ornamentos corporais usados
pelos Mamaindê, é um índice das relações estabelecidas com a polícia.
Longe de simbolizar uma identidade previamente definida, este documento
torna possível um processo de transformação nos mesmos moldes daquele
experimentado pelo xamã que, de posse dos enfeites dos mortos, passa a
ser reconhecido por eles como um semelhante e pode, assim, ver o mundo
como eles, ou melhor, passa ver o mundo deles. A carteira de identidade se
torna, neste caso, um objeto indispensável para que os Mamaindê possam
atravessar fronteiras e transitar nas cidades.
Algumas informações sobre a localização geográfica da aldeia Mamaindê são necessárias para que se entenda o meu argumento (ver Figura 1).
Durante o período em que realizei meu trabalho de campo, os Mamaindê
viviam em uma única aldeia (Posto Indígena Capitão Pedro), no extremo
norte da Terra Indígena Vale do Guaporé (MT). A aldeia ficava a cerca de 30
quilômetros de distância da rodovia federal (BR 364) que liga os estados de
Mato Grosso e Rondônia. Seguindo cerca de 80 quilômetros ao norte deste
ponto da rodovia chega-se à cidade de Vilhena, em Rondônia. Partindo do
mesmo ponto e seguindo 60 quilômetros em direção ao sul chega-se à cidade de Comodoro, em Mato Grosso. Os Mamaindê viviam, portanto, bem
próximos da fronteira entre estes dois estados brasileiros e transitavam quase
diariamente por este trecho da rodovia federal para irem tanto a Vilhena como
a Comodoro. Nestas cidades, eles faziam compras, buscavam atendimento
médico, visitavam parentes internados na Casa do Índio e recebiam auxílios
de programas assistenciais do governo. O transporte geralmente era feito
com uma caminhonete doada pela Funai.
Na rodovia federal, dois postos de fiscalização marcam a divisa entre os
estados acima mencionados: o posto da polícia rodoviária e o posto da vigilância
sanitária. Nestes pontos, há uma série de barreiras que obrigam os carros a
diminuir a velocidade e, quando solicitados, os motoristas devem parar para
que seus veículos sejam inspecionados pelos policiais, o que inclui um pedido
para que mostrem seus documentos. Essa situação já foi vivida pelos Mamaindê
inúmeras vezes. Ouvi muitas histórias sobre esse tipo de experiência, principalmente quando, na pequena caminhonete usada pelos Mamaindê, viajavam
mais de 10 pessoas na caçamba, o que é proibido pelas normas nacionais de
trânsito. Penso que, ao afirmar que “quando um branco perde a sua carteira de
identidade a polícia o leva preso”, meu informante provavelmente se referia à
experiência, bastante comum para quem vive nesta região, de ser parado no
posto da polícia rodoviária e ter que mostrar seus documentos.
563
564
CARTEIRA DE ALTERIDADE
Figura 1 – Localização da Terra Indígena Vale do Guaporé, próxima à rodovia federal
(BR 364), que liga as cidades de Comodoro e Vilhena e atravessa a divisa dos estados
de Mato Grosso e Rondônia
Os Mamaindê sabem, portanto, que a estrada que os leva à cidade é um
território fiscalizado pela polícia, que exige os documentos de quem transita por
ela e tem o poder de levar presos aqueles que não os têm para mostrar. Neste
contexto, a carteira de identidade tem para os Mamaindê a mesma função que
atribuímos ao passaporte: é um documento usado para se cruzarem fronteiras.
Não é incomum na Amazônia que certos objetos utilizados pelo xamã sejam descritos como documentos pelos povos indígenas que, muitas vezes, lhes
atribuem uma função semelhante à do passaporte. Segundo Bilhaut (2007), a
pedra usada pelos xamãs zaparo é frequentemente comparada aos documentos dos brancos. Assim a autora transcreve o relato de um sonho feito por uma
mulher xamã que lhe descreve sua experiência onírica no mundo subterrâneo:
CARTEIRA DE ALTERIDADE
Aí, dessa vez, você entra na montanha. Você entra no interior da montanha,
você pode andar, falar, tudo. Se você não está bem preparado, eles não deixam
passar para o interior da casa. Há uma casa no interior. Se você não está preparado, você quer entrar, eles te pedem seus documentos, você os tira, você os
apresenta, mas você não apresentará documentos, você apresentará pedras.
Depois, se você tem tudo, você vai passar. “Passagem proibida”, se você não
tem essas pedras, você não pode passar. É como no seu país, a fronteira é uma
pedra muito grande. A fronteira é como uma porta (Bilhaut 2007:176).
Penso que a relação estabelecida entre os documentos e a pedra, tal como
foi formulada pela xamã zaparo, não deve ser entendida como uma metáfora.
Ela afirma que, no mundo subterrâneo, os documentos são pedras que, quando
apresentadas pelo xamã, permitem-lhe cruzar fronteiras. Noto que este tipo de
afirmação é semelhante à máxima perspectivista: “para o jaguar, o sangue é
cauim” (Viveiros de Castro 2009:40-42). O problema aqui não é que a pedra do
xamã seja como um documento, mas que, no mundo subterrâneo, os documentos
são pedras. Não se trata, assim, de duas denominações para o mesmo objeto.
De acordo com Bilhaut (2007:176), a pedra dos xamãs zaparo, assim como
os documentos, é um objeto usado para provar sua identidade nos contextos em
que se cruzam fronteiras geopolíticas. Mas o que significa provar a identidade,
neste caso? Se os objetos xamânicos, do mesmo modo que os documentos, permitem cruzar fronteiras, é interessante notar que o que se passa com o xamã é
algo bem diferente daquilo que se passa quando usamos nosso passaporte para
entrar em outro país. O documento do xamã não o identifica como um estrangeiro em territórios habitados por outras gentes, mas o torna um conterrâneo; ele
não prova sua identidade, transforma-a. Dito de outro modo, ao invés de atestar
uma identidade previamente definida, como faz o passaporte no contexto da
relação entre os Estados modernos, a posse desse objeto-documento permite que
o xamã seja reconhecido como um semelhante em terras estrangeiras. Cruzar
fronteiras é, necessariamente, um processo de transformação.
A pintura corporal dos xamãs para os Marubo parece ter a mesma função que outros grupos indígenas atribuem aos objetos xamânicos e também
é concebida como um passaporte. Descrevendo a noção de duplo para os
Marubo, Cesarino conta o seguinte caso:
Por serem filhos dos vaká [duplos] das sucuris, os romeya [xamãs] Mechãpa
e Venãpa (ou, antes, seus duplos) são também Pajés-Sucuri: podem entrar na
Morada Subaquática e conversar com a gente de lá, justamente por possuírem
os desenhos de sucuri, concebidos como uma espécie de passaporte para esse
mundo (Cesarino 2012:62).
565
566
CARTEIRA DE ALTERIDADE
Há ainda o caso de outro xamã que, segundo este autor, “tendo se
formado a partir do broto de rapé-espírito (yove rome shãkõshki), acessa
somente a Morada da Copa das Árvores: tem outra espécie de desenhos
(invisíveis aos nossos olhos) em seu corpo, passaporte para o mundo arbóreo
e não aquático” (Cesarino 2012:62).
É interessante notar que, assim como os colares dos Mamaindê, a pintura corporal dos xamãs marubo também pode ser invisível aos olhos dos
não xamãs.13 São precisamente essas pinturas que os identificam com outros
tipos de gente e é neste sentido que elas são concebidas como passaportes
para outros mundos, como observa Cesarino.
Para os Mamaindê, como vimos, o próprio conhecimento xamânico pode
ser descrito como a posse de muitos enfeites corporais que o xamã recebe
dos espíritos dos mortos e do xamã que o iniciou. É a posse desses enfeites
que permite que ele seja reconhecido como um semelhante pelos espíritos
e possa entrar no mundo deles. Neste sentido, os enfeites são índices de
relações estabelecidas com outros seres, mais do que símbolos identitários.
Se eles, de certo modo, definem a identidade do xamã, é justamente porque
indicam sua capacidade de transformação.14
Mas se os enfeites, as pinturas corporais ou os objetos xamânicos podem
ser concebidos como documentos ou passaportes pelos povos ameríndios,
há também casos em que os documentos são concebidos como objetos xamânicos. Em um interessante artigo sobre o poder dos objetos textuais na
visão de mundo runa, Guzmán-Gallegos (2009) se detém no relato de um
ataque xamânico no qual os documentos de identificação emitidos pelo
Estado equatoriano desempenham um papel central. Trata-se do caso do
diagnóstico dado por um xamã, membro da Tena Association of Shamans,
para a doença que afligia uma senhora há anos. De acordo com o xamã,
alguém havia capturado a pegada desta senhora e levado para o santuário
de São Gonçalo,15 na província andina de Tungurahua. Para recuperar a
pegada roubada, o xamã viajou junto com o filho da senhora adoentada até
o local do santuário. A descrição do local feita pelo rapaz que acompanhou o
xamã era semelhante àquela que os xamãs costumam fazer das suas viagens
ao mundo dos espíritos após o consumo da ayahuasca. Quando finalmente
chegaram ao santuário de São Gonçalo, uma mulher, “dona” de São Gonçalo,
abriu a porta e perguntou aos dois homens qual deles era o xamã. Transcrevo
a resposta do xamã, tal como relatada pela autora:
“Sou eu. Eu sou aquele que viu. Aqui está o meu cartão. Eu sou o dono do
cartão. Eu faço parte do acordo ministerial”. Quando ele mostrou seu cartão
de identificação, no qual seu nome e número do cartão estavam escritos, ela os
CARTEIRA DE ALTERIDADE
deixou entrar e os conduziu até uma sala de espera, onde ela os convidou a se
sentarem (Guzmán-Gallegos 2009:221).
Guzmán-Galegos observa que, para se identificar como xamã e entrar
no santuário, o xamã runa “imediatamente associou sua capacidade de ver
como um xamã runa à sua posição de dono de uma carteira de identificação.
A origem da carteira de identificação também é claramente afirmada como
tal: ela é o produto de um acordo ministerial”. A autora acrescenta que, de
acordo com a explicação de seu informante, “sem esse documento, eles não
teriam podido entrar na casa de São Gonçalo. Foi por causa do documento
que a dona do santo os convidou a entrar” (2009:227-8).
A carteira de identificação apresentada pelo xamã runa é um documento
emitido pelo Ministério do Bem-Estar Social aos membros de associações
reconhecidas pelo governo do Equador. No caso descrito por Guzmán-Gallegos, a carteira de identificação do xamã é que lhe permite ter acesso
ao mundo de São Gonçalo que, por sua vez, é associado ao mundo dos espíritos, tal como ele é descrito pelos xamãs. Noto que este documento emitido
pelo Estado para os membros de uma associação xamânica torna-se, ele
mesmo, um objeto xamânico. Assim como os colares do xamã mamaindê, a
pedra do xamã zaparo e a pintura corporal do xamã marubo, comparados
pelos próprios índios aos documentos, a carteira de identificação do xamã
runa também é concebida como um objeto que o permite cruzar fronteiras.
No entanto, o caso analisado por Guzmán-Galegos tem singularidades
interessantes. De acordo com esta autora, diferentemente de outros objetos
xamânicos, a carteira de identificação do xamã runa tem um poder limitado.
Ela permite que o xamã entre na casa de São Gonçalo e veja o que se passou
com a vítima do ataque xamânico, mas não lhe permite atuar lá dentro. Neste
caso, apenas a “dona” de São Gonçalo pode devolver a pegada roubada da
vítima, o que impede o xamã de efetuar a cura. Para esta autora, isto se deve
ao poder agentivo atribuído pelos Runa a este documento, que é diferente
daquele atribuído a outros objetos xamânicos. Ela observa que:
Em contraste com as pedras xamânicas, não há nenhuma relação de colaboração
entre a carteira de identificação e o xamã. Tampouco a carteira de identificação
facilita a identificação entre o xamã e a dona de São Gonçalo. No mundo espiritual de São Gonçalo, ver não implica adotar o ponto de vista dos espíritos ou
se tornar como eles (Guzmán-Gallegos 2009:230).
A autora argumenta, assim, que o significado atribuído pelos Runa aos
documentos escritos aponta para os limites da atuação dos Runa no contexto
567
568
CARTEIRA DE ALTERIDADE
das relações assimétricas historicamente estabelecidas com o Estado e a
Igreja. Tais relações incluem a inserção dos Runa na burocracia estatal e a
sua experiência com a Igreja Católica, ambas caracterizadas por mecanismos
de controle baseados na produção de documentos escritos.
Alguns trabalhos recentes sobre o valor atribuído aos documentos escritos pelos povos ameríndios enfatizam o caráter assimétrico das relações
estabelecidas com o Estado como um elemento fundamental para explicar
o poder conferido a esses objetos (Allard 2012; Gordillo 2006). A análise de
Gordillo (2006) para o caso dos Toba e Wichi do Chaco argentino é interessante. Este autor sugere que o valor atribuído por esses grupos indígenas à
carteira de identidade se deve a um passado de exclusão, no qual eles não
tinham acesso a este documento, uma vez que não eram reconhecidos pelo
Estado como cidadãos argentinos. Neste caso, é a relação com o Estado, mais
especificamente o não reconhecimento dos povos indígenas pelo Estado
argentino, que explica o valor atribuído aos documentos por esses povos.
Segundo Gordillo, no início do século XX, a colonização do interior do
Chaco argentino por fazendeiros e o avanço das instituições estatais impuseram sérios limites à mobilidade das populações indígenas nesta região.
Os índios em trânsito eram vistos como uma ameaça pelos militares e pelas
autoridades locais, que exigiam que eles produzissem documentos escritos
atestando seu “bom comportamento”. A maior parte desses documentos
era escrita à mão por oficiais do Estado, ou por pessoas influentes, como
missionários, comerciantes e fazendeiros, e era chamada de “passaportes”.
A posse desses documentos permitia aos grupos indígenas transitarem pelo
violento território do Chaco sem serem mortos pelos soldados do exército.
Gordillo observa, no entanto, que “algumas pessoas lembram de sua
falta de documentos como uma condição ontológica que, aos olhos dos
agentes do Estado e dos fazendeiros, autorizava uma punição violenta”.
Um homem wichi descreveu este período da seguinte forma:
Nós não tínhamos “documentos”, é por isso que eles nos matavam. Eles têm
uma lei que diz que aqueles que não têm “documentos” não valem nada; que
eles são como animais, como coelhos. É por isso que os mestiços nos matavam.
Eles nos matavam (Gordillo 2006:168).
Para Gordillo o valor atribuído pelos índios aos documentos escritos é
o resultado de uma experiência contraditória: eles eram privados dos documentos de identidade oficiais porque não eram reconhecidos como cidadãos
argentinos pelo Estado, mas precisavam produzir outros tipos de documentos para saírem da condição de “selvagens” que a ausência de documentos
CARTEIRA DE ALTERIDADE
lhes imputava. Mas é interessante notar neste caso que se, para os brancos
(agentes governamentais, soldados, fazendeiros), os “passaportes” ou “certificados de boa conduta” eram uma forma de conviver com os índios sem,
no entanto, ter que reconhecê-los como congêneres (argentinos), para os
índios, como fica claro no relato do homem wichi, os “documentos” garantiam
a convivência com os brancos na medida em que lhes permitiam mudar de
estatuto ontológico: eles deixavam de ser vistos e, portanto, mortos como
animais e podiam ser reconhecidos como semelhantes pelos soldados do
exército. Neste sentido, os documentos lhes permitiam transitar pelo Chaco
porque lhes permitiam mudar de identidade quando tinham de interagir
com os brancos que passaram a ocupar a região.
Gordillo ressalta a diferença entre o significado atribuído aos documentos pelo Estado e aquele atribuído pelos índios. Segundo ele, os Toba
e Wichí viam os documentos como objetos cuja potência emanava de sua
materialidade, mais do que das relações sociais e das convenções implicadas na sua produção, e agiam como se a simples posse do documento fosse
suficiente para produzir o efeito desejado.16
Este autor sugere comparar o que ele chama de fetichização dos documentos pelos povos indígenas do Chaco com o fetichismo da mercadoria
analisado por Marx. Para Gordillo, se o fetichismo da mercadoria consiste
em um modo de produção de valor que oculta as relações sociais implicadas
na sua produção, no caso do fetichismo dos documentos ao qual ele se refere
o que está em jogo parece ser justamente a conexão entre os documentos e
o Estado. Em suas palavras:
Enquanto no fetichismo da mercadoria a ligação entre a mercadoria e seu
produtor tende a ser apagada, a fetichização dos documentos de identidade depende, ao menos em um certo grau, de manter uma conexão entre esses objetos
e o Estado. Em resumo, enquanto o fetichismo da mercadoria cria a aparência
de objetos potentes, desancorados, destacados do trabalho, o fetichismo dos
documentos de identidade cria a aparência de objetos potentes ancorados na
produção do Estado (Gordillo 2006:163).
A noção de fetiche, tal como usada por Gordillo, procura enfatizar a
importância que os povos indígenas do Chaco davam à materialidade do
objeto que, segundo ele, absorvia o valor criado pelas relações sociais engendradas na sua produção (Gordillo 2006:164). No caso dos Mamaindê, no
entanto, a noção de fetiche não parece adequada para caracterizar o valor
atribuído aos documentos justamente por supor uma teoria da materialidade
que é incompatível com as concepções dos Mamaindê sobre a relação entre
569
570
CARTEIRA DE ALTERIDADE
material/imaterial, ou visível/invisível. Como argumentei, neste contexto
etnográfico, o que torna um objeto visível ou invisível não é uma característica intrínseca a ele, mas a capacidade visual do observador. Deste modo, a
oposição material/ imaterial parece ser mais a consequência de uma posição
perspectiva do que um atributo substantivo do objeto.
Se a ênfase na materialidade do documento de certa forma oculta
as relações sociais implicadas na sua produção, como observou Gordillo,
devo notar que para os Mamaindê, como vimos, os documentos são objetos
poderosos precisamente porque indicam relações, ao invés de ocultá-las.
Além disso, são as relações, e não o documento em si, que definem o que
é material/imaterial. Portanto, como procurei demonstrar até aqui, para os
Mamaindê, os documentos, assim como os enfeites corporais, são índices das
relações de alteridade que constituem a pessoa neste contexto etnográfico, e
não símbolos identitários ou objetos que têm poder em si mesmos. O poder
atribuído à carteira de identidade, neste caso, deriva do fato de ela indicar a
capacidade daquele que a possui de adotar outro ponto de vista, na medida
em que lhe permite ser reconhecido como um semelhante pela polícia, daí
sua associação com os objetos xamânicos. Penso que seria mais produtivo
descrever o valor atribuído aos documentos pelos povos indígenas em termos
de “abdução de agência”, como sugere Gell (1998) para pensar os objetos de
arte. Dito de outro modo, ao menos no caso dos Mamaindê, os documentos
estariam mais próximos dos objetos de arte do que da mercadoria.
Em um artigo sobre a introdução da escrita entre os Piro da Amazônia
peruana, Gow (1990) conta a história de Sangama, tido como o primeiro
homem piro a ler, e mostra como, neste caso, os papéis escritos estavam
longe de serem concebidos como meros objetos. De acordo com este autor,
Sangama recolhia os jornais descartados pelos patrões brancos para quem
os Piro trabalhavam no início do século XX e os lia. Ele dizia saber ler o
papel argumentando que “[...] O papel tem um corpo; Eu sempre a vejo...
Ela tem lábios vermelhos com os quais ela fala” (Gow 1990:92-3). Sangama
lia com olhos de xamã.
A capacidade de enxergar os objetos como sujeitos, atribuindo-lhes
uma agência própria ou relacionando-os a outros tipos de seres, constitui
uma das principais características dos xamãs na Amazônia e define o próprio
ideal de conhecimento nesta região. Conforme observou Viveiros de Castro:
Tal ideal é, sob vários aspectos, o oposto polar da epistemologia objetivista
favorecida pela modernidade ocidental. Nesta última, a categoria do objeto
fornece o telos: conhecer é objetivar; é poder distinguir no objeto o que lhe é
intrínseco do que pertence ao sujeito cognoscente [...]. A forma do Outro é a
CARTEIRA DE ALTERIDADE
coisa. O conhecimento xamânico é, ao contrário, uma operação de subjetivação:
“conhecer é personificar, tomar o ponto de vista daquilo que deve ser conhecido
[...] visa um “algo” que é um “alguém”, um outro sujeito ou agente. A forma do
Outro é a pessoa (Viveiros de Castro 2002 [1996]:358).
Neste sentido, os xamãs foram qualificados como mediadores, tradutores ou diplomatas da cosmopolítica ameríndia (Carneiro da Cunha 1998;
Viveiros de Castro 2002; Sztutman 2012). Gostaria de notar aqui que os
seus objetos, muitas vezes descritos por eles próprios como documentos ou
passaportes, não são símbolos identitários, nem representações do seu poder,
mas a matéria-prima a partir da qual este poder é produzido, na medida em
que apontam para as relações que eles estabelecem com outros tipos de seres
e que passam a constituí-lo como um ser múltiplo e diferente de si mesmo.
Ao relacionar o valor atribuído aos documentos escritos pelos povos
ameríndios com o regime de conhecimento xamânico na Amazônia, não
estou sugerindo desvinculá-lo do contexto histórico particular que marcou a
inserção dos diferentes grupos indígenas no aparato burocrático dos Estados
nacionais caracterizado por relações claramente assimétricas. É evidente
que nos casos mencionados acima há diferenças históricas importantes.
No entanto, o que pretendi demonstrar até aqui foi que, ao menos para os
Mamaindê, os documentos, em determinados contextos de interação com
os brancos, têm o mesmo valor que os ornamentos possuem nos contextos
de interação com outras figuras de alteridade e que, de certo modo, é esta
experiência que torna os documentos, particularmente a carteira de identidade, inteligíveis para os Mamaindê. Parece-me, assim, que a importância
atribuída à carteira de identidade neste contexto etnográfico, antes de
expressar o caráter assimétrico das relações estabelecidas com o Estado,
apontaria, como sugeriu Viveiros de Castro (2011), para uma concepção
nativa do Estado como um tipo de espírito.
Espíritos e polícia
Gostaria de me ater agora à segunda comparação estabelecida pelo meu informante, aquela entre os espíritos da floresta e a polícia. Foi um comentário
de Viveiros de Castro (2011) que me chamou a atenção para o fato de que a
relação estabelecida pelos Mamaindê entre os seus enfeites e a carteira de
identidade era, sobretudo, uma relação entre polícia e espírito, ao sugerir
uma analogia entre os perigos da sujeição envolvidos nos encontros sobrenaturais frequentemente descritos pelos povos ameríndios e a experiência
571
572
CARTEIRA DE ALTERIDADE
do indivíduo moderno perante o Estado. O medo produzido pelo encontro
com os espíritos na floresta seria equivalente ao medo que sentimos em um
encontro com a polícia — em ambos os casos a ameaça é perder a posição
de sujeito e se tornar objeto da perspectiva do outro. “Como os espíritos, a
polícia está sempre à espreita da chance de transformar alguém em ninguém,
para depois fazê-lo desaparecer” (Viveiros de Castro 2011:902).
Os encontros sobrenaturais com espíritos na floresta seriam, como argumenta Viveiros de Castro, “[...] um tipo de protoexperiência indígena do
Estado, ou seja, uma premonição da experiência propriamente fatal de se
descobrir cidadão de um Estado...” (2011:904). A experiência de incerteza
e desamparo que sentimos quando nos vemos diante de encarnações do
Estado ou, no caso dos índios, de espíritos equivale, de certo modo, a um
“desaparentamento”. Conforme observa este autor (2011:905), se estabelecermos que o Estado moderno é a ausência de parentesco, o encontro com
espíritos na floresta, comparados pelo jovem Mamaindê à polícia, também
desfaz o parentesco. A pessoa passa a acompanhar esses espíritos, adotando
a perspectiva deles, deixando assim de reconhecer os seus próprios parentes.
Devo notar que os Mamaindê não são os únicos a comparar diretamente os espíritos à polícia. Voltemos às etnografias já citadas. De acordo com
Guzmán-Gallegos (2009:224), as pedras usadas pelo xamã runa contêm
espíritos ou almas que são liberados e comandados pelo xamã. Estas pedras
também costumam ser descritas como “soldados” que o protegem. Tais objetos possuem agência própria e devem ser constantemente domesticados
pelo xamã sob o risco de atuarem contra a sua vontade. A autora contrasta o
poder agentivo atribuído pelos Runa às pedras xamânicas àquele atribuído
aos documentos escritos, concluindo que estes últimos seriam objetos com
menos agência ou sem agência própria, o que explicaria o fato de não serem
tão eficazes nos processos de cura, como vimos acima.
Segundo Cesarino (2008:141-143), os Marubo chamam de “polícia” alguns
espíritos agressivos, assassinos, situados nas cidades. Esses espíritos são originários de matadores ou do espírito da cachaça e encostam nas pessoas, tornando-as
insensatas. Eles interrompem o parentesco, jogam as pessoas umas contra as
outras. Em um mito de origem dos brancos, eles são associados a policiais bravos
e a espíritos da cidade descritos como estrangeiros prendedores, um tipo de
polícia. Os Marubo dizem que nas aldeias os xamãs controlam constantemente o
assédio dos espectros dos mortos que fazem mal aos vivos, mas que nas cidades
não são capazes de controlar o assédio desses espíritos-policiais-brancos. Ao se
lembrar do início de suas visitas às cidades, Lauro Marubo lamenta: “naquela
época, a cidade era boa, era bom viver na cidade. Naquela época, podíamos
ficar nas cidades sem documentos” (Cesarino 2008:141).
CARTEIRA DE ALTERIDADE
Há ainda outros exemplos etnográficos deste tipo de associação estabelecida pelos povos ameríndios entre os espíritos e a polícia ou os soldados
do exército. Os Maxacali, povo falante de uma língua do tronco Macro-Jê
estudado por Tugny, se referem a uma categoria de espíritos chamada de
tatakox como “polícia federal” (Tugny 2008:54-55). Este tipo de espírito tem
a função de cuidar do bom apodrecimento do cadáver e evitar que ele se
transforme em um tipo de espírito/espectro monstruoso (inmõxã) que ameaça
os vivos. Segundo esta autora, caso o cadáver se transforme em inmõxã, é
este espírito (tatakox) dito “polícia federal” quem irá domá-lo. Os Maxacali
dizem também que os brancos nasceram dos inmõxãs (espírito/espectro) dos
cadáveres abandonados nas aldeias antigas. Tugny nos conta ainda que,
quando os Maxacali viajam para Belo Horizonte,
Estão sempre a escrutar o jardim do Hospital Militar, onde alguns deles assistiram
aos assaltos furiosos do “inmõxã” contra as grades até que fosse controlado pelo
seu dono, um soldado da Polícia Militar que lá trabalha, e levado para a sua casa,
uma capela florida onde jaz uma imagem de Nossa Senhora (Tugny 2008:56).
Ao contrário dos espíritos-policiais referidos pelos Marubo, que parecem
ser associados ao espectro dos mortos, os espíritos descritos como “polícia
federal” pelos Maxacali são espíritos que tentam afastar ou controlar o estado
de descontrole e cólera associado ao espectro dos mortos que não seguem
seu destino póstumo e permanecem ameaçando os vivos.17
Não posso deixar de mencionar também a intrigante categoria de xondáro (soldado) dos Mbya-Guarani, cuja complexidade escapa aos limites deste
trabalho. Em um comentário sobre a cosmografia mbya-guarani, Pissolato
observa que alguns seres do panteão das divindades guarani teriam suas
moradas em regiões celestes. Há, segundo ela:
[U]ma noção geral de que as divindades teriam seus “trabalhos” ou habilidades
específicas, desenvolvidos a certa hora do dia ou da noite, no que são sempre
ajudados por auxiliares que controlam. Estes últimos podem ser ditos Nhanderu
rembiguái (“servos” de Nhanderu), yvyra’ija (termo respeitoso vinculado na
maior parte das vezes à colaboração na reza) ou xondáro (“soldados” que, fora
do contexto da reza, são representados como uma espécie de “polícia” que faria
cumprir as determinações de um deus) (Pissolato 2007:305).
Gostaria de chamar a atenção aqui para a ambiguidade constitutiva
dessa categoria de espíritos-policiais ou “soldados” que ora protege/auxilia,
ora captura aqueles que se arriscam a se relacionar com eles. Em um comen-
573
574
CARTEIRA DE ALTERIDADE
tário sobre a relação entre os xamãs e seus espíritos auxiliares na Amazônia,
muitas vezes descrita como uma adoção, Fausto (1999) ressalta justamente
a ambiguidade que a caracteriza: “já que nunca se sabe exatamente quem
adota quem, nem quem controla quem” (Fausto 1999:938).
Em agosto de 2005 presenciei um acontecimento que passou a ser
frequentemente mencionado pelos Mamaindê quando eles tentavam me
explicar como atuavam os espíritos e os perigos que envolviam as relações
estabelecidas com eles. O modo de atuação da polícia foi, neste caso, mais
do que uma metáfora para qualificar este tipo de relação. Naquela ocasião,
um homem mamaindê foi preso em Vilhena depois de ter comprado munição para caçar sem apresentar os documentos necessários: sua carteira de
identidade e o registro da arma. O caso ocorreu na época em que o governo
brasileiro realizava um plebiscito para decidir, por meio do voto popular,
se a venda de armas de fogo deveria ou não ser proibida no país, o que
certamente intensificou a fiscalização sobre a venda de armas e munição.
Quando a notícia da prisão deste homem chegou à aldeia, seus parentes, bastante preocupados, decidiram ir até a cidade para libertá-lo. Antes,
porém, pintaram-se de preto com uma tinta feita com carvão (pintura de
guerra) e enfeitaram-se com vários tipos de enfeites (colares, perneiras e
braçadeiras de algodão, pingentes e cocares de penas de tucano). Segurando flechas e bordunas, cantaram músicas de guerra e decidiram aguardar
o carro da Funasa que chegaria à aldeia naquele dia para trazer de volta
algumas pessoas que estavam internadas na Casa do Índio de Vilhena.
Quando o carro chegou, o motorista se viu obrigado a levar para Vilhena
quase todos os jovens da aldeia que, em um piscar de olhos, amontoaram-se
sobre a carroceria da pequena caminhonete. Aqueles que não conseguiram subir no carro seguiram de bicicleta até a estrada (BR364) e depois
de ônibus para a cidade.
Chegando lá, os Mamaindê dirigiram-se à delegacia, onde cantaram por
algumas horas músicas de guerra (‘ahn’sadu, música de ficar com raiva) e
músicas de xamã (waninso’gã hainsidu) e exigiram a presença do delegado.
Assim que o delegado se aproximou, dois rapazes o seguraram rapidamente,
retiraram o colete da polícia civil que ele estava usando e pintaram o seu
rosto de preto. Os policiais que estavam por perto, surpreendidos, não reagiram. Os dois jovens mamaindê disseram então que só soltariam o delegado
quando ele libertasse o parente deles que estava preso. Todos entraram
na delegacia e, algum tempo depois, o delegado mandou que soltassem o
homem que havia sido preso. A essa altura, muita gente se aglomerava na
frente da delegacia, incluindo um repórter da TV local enviado para registrar
o acontecimento (ver figura 2).
CARTEIRA DE ALTERIDADE
Quando saiu da prisão, o homem deu uma entrevista e, contrariando
todas as expectativas (pelo menos as minhas), disse que estava muito satisfeito com o tratamento que havia recebido. Afirmou ter sido tratado como
um parente, enfatizando que lhe deram comida. Logo em seguida, os seus
parentes aproximaram-se dele e, segurando-o firmemente pelos braços, lhe
disseram: “nós é que somos os seus parentes! Você foi preso, mas nós viemos
aqui para te soltar. Seus irmãos estavam muito preocupados, olhe bem para
nós, nós somos seus parentes, não eles!”.
Figura 2 – Notícia publicada no Jornal Extra de Rondônia, 5 de agosto de 2005
575
576
CARTEIRA DE ALTERIDADE
Depois disso, quando os Mamaindê tentavam me explicar a atuação dos
espíritos, tal como era cantada pelos xamãs nas músicas de cura, sempre se
reportavam a este caso. Segundo eles, durante as sessões de cura, os espíritos dos mortos vão buscar, dentro de cavernas ou de buracos na floresta,
o espírito do doente que foi roubado pelos espíritos do mato, do mesmo
modo que eles fizeram ao buscar o parente que havia sido preso na cidade.
Quando o xamã, auxiliado pelos espíritos dos mortos, finalmente encontra
o espírito do doente, ele já está sem os seus enfeites corporais, que foram
todos roubados. Por este motivo, o doente em geral não quer mais voltar,
pois não os reconhece mais. Cabe aos espíritos dos mortos, juntamente com
o xamã, dizer ao doente quem são os seus verdadeiros parentes, contando
que estão todos muito tristes, com saudades, convencendo-o, assim, a voltar
com eles para a aldeia, do mesmo modo que os Mamaindê fizeram com o
homem no momento em que foi libertado. Só então os espíritos dos mortos
retornam carregando o espírito do doente, que é referido nas músicas de
cura como “um enfeite” (wasain’du).
Os espíritos dos mortos anunciam ainda que têm mais enfeites para
dar ao xamã e dizem que estão com fome, porque foram muito longe para
resgatar as “coisas/espírito” (wasain’du) do doente. Pedem, então, a comida
que foi preparada para eles e fazem comentários sobre ela, indicando que
ficaram satisfeitos. Neste ponto, os Mamaindê acrescentaram que, quando
voltaram para a aldeia trazendo o homem que havia sido preso pela polícia
na cidade, comportaram-se como os espíritos dos mortos, enfeitando-se e
pedindo às mulheres que fizessem bastante chicha e comida para que todos
pudessem cantar e comer juntos, mostrando ao homem recém-libertado,
agora novamente enfeitado, que ele estava com os seus verdadeiros parentes.
Se a polícia é um tipo de espírito, o perigo do encontro com a polícia
nas estradas ou na cidade é o de ser capturado por ela, separado dos seus
parentes. Assim, a pessoa se torna objeto da perspectiva de Outro, como
notou Viveiros de Castro (2011). Neste tipo de encontro há sempre a possibilidade de uma transformação indesejada, que também pode ser descrita
como um desaparentamento; a pessoa afetada deixa de reconhecer seus
próprios parentes, tornando-se parente de Outros.
Para os Mamaindê, ter a carteira de identidade para mostrar para a
polícia é sobretudo ter a possibilidade de ser reconhecido como um semelhante por ela, do mesmo modo que, de posse dos enfeites dos espíritos, o
xamã passa a ser reconhecido como um semelhante e pode, desta maneira,
se relacionar com eles, ou entrar em seu mundo sem ser capturado. A carteira de identidade é, neste sentido, um operador de relações. Ela amplia as
relações daquele que a possui para além do universo local da sociabilidade
CARTEIRA DE ALTERIDADE
e do parentesco, tornando os Mamaindê semelhantes aos brancos-policiais
nos contextos em que devem interagir com eles. Deste modo, diante da experiência do medo e do “desaparentamento” que, como notou Viveiros de
Castro, caracteriza tanto os encontros com espíritos descritos pelos índios
como a experiência do indivíduo moderno perante as encarnações do Estado,
o modo como os Mamaindê se apropriam da carteira de identidade consiste
justamente em uma tentativa de não perder a posição de sujeito em uma
relação, na medida em que lhes permite mudarem de identidade e serem
reconhecidos como sujeitos pelos policiais-brancos.
Os Mamaindê costumam aconselhar quem se depara sozinho com
uma sucuri na floresta a lembrar-lhe de sua condição humana dizendo-lhe o seguinte: “meu avô, eu também sou gente” ou, como formulou um
xamã, “meu avô, olhe bem, eu sou seu parente”. Deste modo, evita-se uma
transformação indesejada.18 Penso que, ao se encontrarem com a polícia
nas estradas ou nas cidades por onde os Mamaindê transitam quase com a
mesma frequência com que transitam pela floresta, eles devem apresentar
a carteira de identidade com o mesmo intuito: o de evitar perder a posição
de sujeito na relação com os brancos.
Conclusão
A comparação feita pelo jovem mamaindê entre os seus enfeites corporais e
a carteira de identidade é semelhante àquela feita pela xamã zaparo entre
as pedras xamânicas e os documentos. Se, como explicou a xamã zaparo, no
mundo subterrâneo os documentos são pedras, é possível imaginar que para
os Mamaindê, nas cidades, seus enfeites sejam documentos. A comparação
sugerida pelo meu informante não deve, portanto, ser entendida como uma
metáfora. Não se trata de representações diferentes para o mesmo objeto,
mas de mundos diferentes.
Sugiro pensar a comparação feita pelo jovem mamaindê como um
equívoco, no sentido conferido ao termo por Viveiros de Castro (2004) para
se referir a situações que colocam em evidência diferentes ontologias, ou
mundos, mais do que diferentes representações sobre o mundo. De acordo
com Viveiros de Castro,
O problema para o perspectivismo indígena não é portanto o de descobrir o referente comum (o planeta Vênus, digamos) para duas representações diferentes
(“estrela da manhã” e “estrela da tarde”, digamos). Pelo contrário, o problema
é o de tornar explícita a equivocação implicada em imaginar que, quando o
577
578
CARTEIRA DE ALTERIDADE
jaguar diz “cerveja de mandioca”, ele está se referindo à mesma coisa que nós
(i.e, uma bebida gostosa, nutritiva e inebriante). Em outras palavras, o perspectivismo supõe uma epistemologia constante e ontologias variáveis, as mesmas
representações, e outros objetos, um único significado e múltiplos referentes
(Viveiros de Castro 2004:6-7).
Apostando na ideia de que a carteira de identidade é um tipo de enfeite
corporal, e não o contrário, penso que, embora os Mamaindê não tenham
formulado desta forma, é possível imaginar que a carteira de identidade seja
o enfeite/alma dos brancos, aquilo que os brancos dão a ver de si mesmos
quando se relacionam com os Mamaindê e aquilo que os Mamaindê devem
mostrar para serem reconhecidos por eles como semelhantes. Sugiro, assim,
que a carteira de identidade, tal como é concebida pelos Mamaindê, poderia
ser descrita como uma carteira de alteridade, se imaginássemos um mundo
onde os documentos de identidade são índices da capacidade de transformação daqueles que os possuem ao invés de símbolos identitários. Um mundo
onde o documento de identidade, ao invés de transformar a pessoa em um
cidadão dessubjetivado diante das representações do Estado, desfazendo
as relações de parentesco, ao contrário, amplia a rede de parentesco para
além do universo da sociabilidade local, incluindo os brancos que vivem
nas cidades.
Gostaria de terminar me reportando ao sonho que uma mulher mamaindê me contou. O sonho não se refere exatamente à carteira de identidade,
mas aos documentos escritos de um modo geral. Ela me disse que durante
o sonho esteve na aldeia dos mortos. Lá, as casas eram todas parecidas e
as árvores enfileiradas, como na rua principal de Vilhena. Em uma dessas
casas morava um xamã muito poderoso chamado Jesus, que distribuía senhas para os doentes que esperavam para serem atendidos do lado de fora,
exatamente como acontece no posto de saúde de Vilhena, onde os Mamaindê
costumam ir para consultas médicas. Ela não pegou a tal senha, mas viu
Jesus pela janela, de relance, e concluiu que, se tivesse entrado na casa dele
sem aquele papel, certamente teria morrido.
Recebido em 06 de julho de 2015
Aprovado em 10 de outubro de 2015
Joana Miller é professora do Departamento de Antropologia da Universidade
Federal Fluminense. E-mail: <[email protected]>
CARTEIRA DE ALTERIDADE
Notas
* Agradecimentos: versões preliminares deste artigo foram apresentadas no
seminário do Nuti/Nansi, no 54º Congresso Internacional dos Americanistas (Viena),
no seminário Encontros no Gragoatá da UFF e em um seminário no Museu Nacional/
UFRJ. Agradeço a todos que fizeram comentários nessas ocasiões, particularmente a
Marcio Goldman, Tânia Stolze, Ovídio Abreu, Luisa Elvira Belaunde, Rupert Stasch,
Carlos Fausto, Aparecida Vilaça, Luiz Costa, Harry Walker e Casey High. Agradeço
especialmente a Eduardo Viveiros de Castro pelos comentários feitos à minha tese de
doutorado e que me levaram a escrever este artigo. Agradeço ainda ao jornal Extra
de Rondônia por autorizar o uso da fotografia que reproduzo aqui.
1
Realizei 13 meses de trabalho de campo com os Mamaindê, entre os anos de
2002 e 2005, na Terra Indígena do Vale do Guaporé (MT).
2
Ver Turner (1992) para uma interpretação semelhante para os Kayapó.
Em trabalhos anteriores (Miller 2005, 2009) apresentei uma descrição detalhada dos enfeites corporais usados pelos Mamaindê, especialmente do colar de
contas de tucum.
3
4
Devo lembrar que nas últimas décadas alguns etnólogos têm enfatizado precisamente a relação entre os processos de fabricação de adornos corporais e de outros
artefatos pelos povos ameríndios e as concepções cosmológicas desses povos (van
Velthem 2003; Guss 1990; Gallois 1992; Barcelos Neto 2002; Lagrou 2007).
5
Vidal (1992:146) e Lagrou (2007:308), escrevendo sobre os Xikrin e os Kaxinawa, respectivamente, notaram que o ato de enfeitar e pintar as crianças também
está associado à proteção, ao afeto e ao cuidado.
De acordo com os Mamaindê, o rompimento dos enfeites corporais pode fazer
adoecer não só aquele que teve os seus enfeites rompidos, mas também os seus parentes, particularmente seus irmãos e filhos. Neste caso, fica evidente que os enfeites
constituem a pessoa, conectando-a a um grupo de parentes de tal modo que o que
afeta os seus próprios enfeites afeta também os seus parentes. Algo semelhante já foi
descrito para as práticas relacionadas à comensalidade na Amazônia indígena. Comer
junto ou abster-se de comer determinados alimentos é um importante indicador das
relações de parentesco e da identidade de perspectivas (Gow 1991; Vilaça, 2002;
Fausto 2007). Sahlins (2013:44-53) notou que esse caráter transpessoal do parentesco
é amplamente difundido.
6
Segundo Colpron (2004), para os Shipibo, o corpo do doente, aos olhos do xamã,
se revela grotesco, enfeitado com os enfeites da espécie agressora que o xamã deve
então retirar para efetuar a cura. Neste caso, noto que a doença também é concebida
como um processo de transformação corporal caracterizado pelo uso de enfeites de
7
579
580
CARTEIRA DE ALTERIDADE
outras espécies de sujeitos. Em um trabalho mais antigo, Gebhart-Sayer (1986) falava
em uma “terapia estética” entre os Shipibo. Neste caso, a cura xamânica implicava
refazer os desenhos invisíveis que cobriam o corpo do paciente.
Viveiros de Castro (2004:4, 7) notou que o mito remete a um estado caracterizado pela perfeita transparência, no qual as dimensões espiritual e corporal de cada
ser ainda não se eclipsavam umas às outras. O mito descreve justamente como este
estado de transparência foi suplantado por uma relativa opacidade em que corpo
e alma passaram a funcionar alternadamente como figura e fundo em relação um
ao outro. O xamã seria, neste sentido, alguém capaz de enxergar os corpos em seu
estado originário de transparência.
8
A impossibilidade de se definir a si mesmo sem recorrer à perspectiva de
Outro também possui desdobramentos sociológicos neste contexto etnográfico. Os
nomes dos grupos Nambiquara nunca são autodesignações, mas nomes dados por
outros grupos e são, muitas vezes, termos pejorativos. Em sua dissertação sobre os
Wanarisu, um grupo Nambiquara situado ao sul do Vale do Guaporé (MT), Fiorini
(1997:59) conta que, depois de insistir muito para que o seu informante lhe dissesse
o nome do seu próprio grupo, ele recebeu a seguinte resposta: o único nome que
ele poderia atribuir ao seu próprio grupo seria o nome atribuído à aldeia dos mortos.
9
10
Escrevendo sobre o parentesco na Amazônia, Vilaça (2002) explorou a noção
de alteridade interna à consanguinidade, enfatizando que as relações estabelecidas
no exterior do grupo local são parte constitutiva das relações de parentesco neste
contexto etnográfico. Ela argumenta assim que para os povos ameríndios a criação
do parentesco entre humanos não pode ser dissociada da relação com subjetividades
não humanas. No caso dos Mamaindê, a relação que se estabelece com os espíritos
dos mortos é fundamental para definir a identidade dos vivos e tem sua expressão
material nos enfeites corporais usados pelos Mamaindê.
11
Este mesmo estado de solidão e desamparo também caracteriza as meninas
em reclusão pubertária. Elas devem ficar nuas, sem enfeites, quase imóveis, separadas dos demais em uma pequena casa construída especialmente para esta ocasião
e são ditas “coitadas”, mesmo termo usado para se referir às crianças sem enfeites.
/Wanin/ costuma ser traduzido como “alma”, “espírito”, ou “mágica”. Neste
último caso, enfatiza-se a capacidade do xamã de tornar as coisas visíveis ou de
fazê-las desaparecer.
12
13
A referência a pinturas e enfeites corporais invisíveis aos olhos dos não xamãs
aparece nas etnografias de outros povos ameríndios. Gebhard-Sayer (1986) e Colpron
(2004) mencionam as pinturas corporais invisíveis dos Shipibo, e Overing (1991:21)
descreve as forças de produtividade encapsuladas em “contas de vida” que, segundo
os Piaroa, são trazidas pelos xamãs de suas viagens à morada dos deuses e inseridas,
sob a forma de colares de contas invisíveis, nos indivíduos de sua comunidade. Essas
etnografias colocam em evidência uma relação entre visibilidade/invisibilidade, interior/exterior que escapa ao modo como essas dicotomias são concebidas pelo pen-
CARTEIRA DE ALTERIDADE
samento ocidental. O que parece estar em jogo nestes casos, mais do que diferentes
concepções de enfeites ou de pinturas corporais, é a própria concepção do corpo, que
é mais do que um suporte para os enfeites e as pinturas. Noto que, mesmo nos casos
etnográficos em que não há referência a pinturas ou enfeites invisíveis, a pintura e
a ornamentação corporal são muitas vezes concebidas como uma forma de tornar o
corpo visível ou invisível (Erikson 1996; Lagrou 2007), indicando que, se os enfeites
encobrem o corpo, o corpo também pode encobrir os enfeites.
14
Esta capacidade de transformação dos xamãs está literalmente inscrita em
seus corpos, seja na forma de enfeites internos, no caso dos Mamaindê, seja na forma
de pinturas corporais invisíveis, no caso dos Marubo, ou ainda como as pequenas
pedras que o xamã zaparo mantém dentro de uma bolsa que ele carrega consigo.
15
De acordo com Guzmán-Gallegos, trata-se de “uma casa de uma família
branca-mestiça que não está associada à Igreja. Essa família possui uma réplica menor da estátua do santo da igreja, assim como livros de registro nos quais os nomes
daqueles afetados pelas ações maléficas de São Gonçalo estão escritos” (Guzmán-Gallegos 2009:226).
Algo semelhante foi notado por Allard (2012:235) em relação aos Warao da
Venezuela.
16
17
É comum na Amazônia a ideia de que os espectros dos mortos desfazem o
parentesco entre os vivos na medida em que desejam permanecer seus parentes,
levando-os consigo. Os espectros dos mortos são, neste sentido, o oposto dos espíritos ancestrais, coletivo genérico e anônimo de espíritos dos mortos aos quais os
Mamaindê se referem como “nossos avós/velhos” (nusa sunidu), mesmo termo usado
para se referir aos ancestrais míticos, e a quem o xamã deve recorrer para refazer o
parentesco entre os vivos nos casos de doença.
18
Taylor (1993:430) menciona algo semelhante entre os Achuar ao comentar
sobre uma classe de espíritos dos mortos/espectros errantes encontrados na floresta e
que desejam tornar os vivos seus parentes. Eles podem aparecer sob uma forma normal
e as mulheres e as crianças podem segui-los sem se darem conta de sua verdadeira
identidade. Os homens adultos sabem reconhecê-los e basta lhes dizer “eu também
sou uma pessoa” e fazer um barulho para que eles desapareçam.
581
582
CARTEIRA DE ALTERIDADE
Referências bibliográficas
AGOSTINHO, Pedro. 1974. Mitos e outras
FAUSTO, Carlos. 1999. “Of enemies and pets:
narrativas kamayurá. Salvador: Universidade Federal da Bahia.
ALLARD, Olivier. 2012. “Bureaucratic anxiety: asymmetrical interactions and the
role of documents in the Orinoco Delta,
Venezuela”. Hau: Journal of Ethnographic Theory, 2(2):234-56.
BARCELOS NETO, Aristóteles. 2002. A arte
dos sonhos. Uma iconografia ameríndia. Lisboa: Museu Nacional de
Etnologia/ Assírio & Alvim.
BILHAUT, Anne-Gaëlle. 2007. Le reveil de
l’immateriel. La production onirique du
patrimoine des indiens Zápara (Haute
Amazonie). Tese de Doutorado, Université Paris X, Nanterre.
CARNEIRO DA CUNHA, Maria Manuela. 1998.
“Pontos de vista sobre a floresta amazônica: xamanismo e tradução”. Mana.
Estudos de Antropologia Social, 4(1):7-22.
CESARINO, Pedro. 2008. “Babel da floresta,
cidade dos brancos? Os Marubo no trânsito entre dois mundos”. Novos Estudos,
CEBRAP, 82:133-151.
___. 2012. “A escrita e os corpos desenhados: transformações do conhecimento
xamanistico entre os Marubo”. Revista
de Antropologia, 55:75.
COLPRON, Anne-Marie. 2004. Dychotomies
sexuelles dans l’étude du chamanisme:
le contre-exemple des femmes “chamanes” shipibo-conibo (Amazonie
Péruvienne). Tese de Doutorado, Universidade de Montreal, Canadá.
CONKLIN, Beth. 1997. “Body paint, feathers, and vcrs: aesthetics and authenticity in Amazonian activism”. American
Ethnologist, 24(4):711-737.
ERIKSON, Philippe. 1996. La griffe des
aïeux: marquage du corps et démarquage ethniques chez les Matis d’Amazonie. Paris: Peters.
warfare and shamanism in Amazonia”.
American Ethnologist, 26:933-956.
___. 2007. “Feasting on people: eating animals and eating humans in Amazonia”.
Current Anthropology, 48:497-530.
FIORINI , Marcelo. 1997. Embodied
names: construing Nambiquara personhood through naming practices.
Dissertação de Mestrado, New York
University.
GALLOIS, Dominique. 1992. “Arte iconográfica waiãpi”. In: Lux Vidal (org.), Grafismo indígena: estudos de antropologia
estética. São Paulo: Fapesp/ Edusp.
GEBHART-SAYER . 1986. “Una terapia
estética: los diseños visionarios del
ayahuasca entre los Shipibo-Conibo”.
America Indígena, XLVI:189-218.
GELL , Alfred. 1998. Art and agency.
An anthropological theory. Oxford:
Oxford University Press.
GORDILLO, Gastón. 2006. “The crucible
of citizenship: ID-paper fetishism in
the Argentinean Chaco”. American
Ethnologist, 33(2):162-176.
GOW, Peter. 1990. “Could Sangama read?
The origin of writing among the Piro
of eastern Peru”. History and Anthropology, 5:87-103.
___. 1991. Of mixed blood: kinship and
history in Peruvian Amazonia. Oxford: University of Oxford Press.
GUSS, David. 1990. To wave and sing:
art, symbol and narrative in the South
American Rain Forest. Berkeley: University of California Press.
GUZMÁN-GALLEGOS, Maria A. 2009.
“Identity cards, abducted footprints,
and the book of San Gonzalo: the
power of textual objects in Runa worldview”. In: Santos-Granero (ed.), The
occult life of things. Native Amazonian
CARTEIRA DE ALTERIDADE
theories of materiality and personhood.
Tucson: The University of Arizona
Press. pp. 214-234.
HUGH-JONES, Stephen. 1979. The palm
and the pleiades: initiation and cosmology in Northwest Amazonia. Cambridge: Cambridge University Press.
___. 2002. “Nomes secretos e riqueza visível: nominação no Noroeste Amazônico”. Mana. Estudos de Antropologia
Social, 8(2):45-68.
LAGROU, Els. 2007. A fluidez da forma:
arte, alteridade e agência em uma sociedade amazônica (Kaxinawa, Acre).
Rio de Janeiro: Topbooks.
MILLER, Joana. 2005. As coisas. Os enfeites corporais e a noção de pessoa entre
os Mamaindê (Nambiquara). Tese de
Doutorado, PPGAS/MN/UFRJ.
___. 2009. “Things as persons: body ornaments and alterity among the Mamaindê (Nambikwara)”. In: F. Santos-Granero (ed.), The occult life of things. Native
Amazonian theories of materiality and
personhood. Tucson: The University of
Arizona Press. pp. 60-80.
OVERING, Joanna. 1991. “A estética da
produção: o censo de comunidade
entre os Cubeo e os Piaroa”. Revista de
Antropologia, 34:7-33.
PISSOLATO, Elisabeth. 2007. A duração da
pessoa. Mobilidade, parentesco e xamanismo mbya (guarani). São Paulo: Editora Unesp/ISA; Rio de Janeiro: NuTI.
SAHLINS, Marshall. 2013. What kinship
is – and is not. Chicago: University of
Chicago Press.
SEEGER, Anthony. 1980. “O significado
dos ornamentos corporais: o exemplo
suyá”. In: Os índios e nós. Estudos sobre sociedades tribais brasileiras. Rio
de Janeiro: Editora Campus. pp. 43-57.
SEEGER, Anthony; DAMATTA, Roberto
& VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo.
1979. “A construção da pessoa nas
sociedades indígenas brasileiras”.
Boletim do Museu Nacional, 32:1-20.
SZTUTMAN, Renato. 2012. O profeta e o
principal: a ação política ameríndia e
seus personagens. São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo/ Fapesp.
TAYLOR, Anne-Christine. 1993. “Des fantômes stupefiants. Language et croyance
dans la pensée achuar ”. L’Homme,
33(126-128): 429-447.
TAYLOR, Anne-Christine & VIVEIROS DE
CASTRO, Eduardo. 2006. “Un corps fait
de regards: Amazonie”. In: Stephane
Breton (org.), Qu’est-ce qu’un corps?
Paris: Musée du Quai Branly/Flammarion. pp. 148-199.
TUGNY, R. 2008. “Um fio para o Înmõxã:
em torno de uma estética maxakali”.
Nada, 11:52-71.
TURNER, Terence. 1992. “Os Mebengokre
Kayapó: história e mudança social, de
comunidades autônomas para a coexistência interétnica”. In: Manuela
Carneiro da Cunha (org.), História dos
índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. pp. 311-338.
VAN VELTHEM, Lúcia. 2003. O belo é
a fera. A estética da produção e da
predação entre os Wayana. Lisboa:
Assirio & Alvim.
VIDAL, Lux. 1992. “A pintura corporal e a
arte gráfica entre os Kayapó-Xikrin do
Cateté”. In: ___. (org.), Grafismo indígena: estudos de antropologia estética.
São Paulo: Studio Nobel/ Editora da
Universidade de São Paulo/ Fapesp.
pp. 143-189.
VILAÇA, Aparecida. 1999. “Devenir autre:
chamanisme et contact interethnique
en Amazonie brésilienne”. Journal
de la Societé des Américanistes, 885:
239-260.
___. 2002. “Making kin out of others”.
Journal of the Royal Anthropological
Institute, 8(2):347-365.
___. 2005. “Chronically unstable bodies.
Reflections on Amazonian corporalities”. Journal of the Royal Anthropological Institute, 11:445-464.
583
584
CARTEIRA DE ALTERIDADE
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 2002.
“Perspectivismo e multinaturalismo
na América indígena”. In: A inconstância da alma selvagem. São Paulo:
Cosac & Naify. pp. 345-399.
___. 2004. “Exchanging perspectives: the
transformation of objects into subjects
in Amerindian ontologies”. Common
Knowledge, 10(3):463-484.
___. 2004. “Perspectival anthropology and
the method of controlled equivocation”. Tipití: Journal of the Society for
the Anthropology of Lowland South
America, 2(1):3-22.
___. 2006. “A floresta de cristal. Notas sobre
a ontologia dos espíritos amazônicos”.
Cadernos de Campo, 14/15:319-338.
___. 2009. Métaphisiques canibales. Paris:
Puf.
___. 2011. “O medo dos outros”. Revista de
Antropologia, 54(2):885-917.
CARTEIRA DE ALTERIDADE
Resumo
Abstract
O artigo explora a comparação feita por um
jovem mamaindê (um grupo Nambiquara
situado no noroeste do estado do Mato
Grosso) entre os seus enfeites corporais
e a carteira de identidade. A importância
atribuída a tais objetos, neste caso, remete
aos perigos relacionados à possibilidade
de perdê-los em situações específicas.
Quando se trata dos enfeites corporais,
enfatizam-se os riscos e as consequências de tê-los roubados pelos espíritos da
floresta. Quando se trata da carteira de
identidade, enfatiza-se o perigo envolvido
nas relações estabelecidas com a polícia.
A comparação feita pelo jovem mamaindê
não foi, portanto, apenas entre os seus enfeites corporais e a carteira de identidade,
mas também entre os espíritos da floresta e
a polícia. Meu objetivo é refletir sobre essas
duas comparações contidas na explicação
do meu informante, a partir da descrição
etnográfica dos Mamaindê. Pretendo demonstrar que esta comparação indica que
a carteira de identidade é vista como um
enfeite corporal, tal como os Mamaindê o
concebem, e não o contrário. Deste modo,
argumento que para este grupo Nambiquara a carteira de identidade remete,
sobretudo, às noções de alteridade e de
transformação, mais do que à ideia de
identidade ou de representação.
Palavras-chave Carteira de identidade,
Documentos, Enfeites corporais, Nambiquara/ Mamaindê, Pessoa.
This article investigates the comparison
made by a young mamaindê man (a
Nambikwara group from northwestern
Mato Grosso) between his body ornaments and the identity card. The importance that the Mamaindê attribute
to these objects is linked to the dangers
that stem from the possibility of losing
them in certain situations. Where body
ornaments are concerned, it is the consequences of having them stolen by the
spirits of the forest that is emphasised.
Where the identity card is concerned,
it is the danger of relating to the police
that is emphasized. The comparison
is thus drawn not only between body
ornaments and identity cards, but also
between the spirits of the forest and the
police. My aim is to consider these two
comparisons established by my informant
in light of Mamaindê ethnography. I will
demonstrate that these comparisons indicate that the identity card is like a body
ornament, as the latter are conceived by
the Mamaindê, rather than the other way
around. I argue that, for this Nambikwara
group, the identity card is related to notions of alterity and transformation and
not identity and representation.
Key words Body ornaments, Documents,
Identity card, Nanbikwara/Mamainde,
Person.
585
MANA 21(3): 587-607, 2015 – DOI http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p587
NOMES QUE (DES)CONECTAM:
GRAVIDEZ E PARENTESCO
NO RIO DE JANEIRO *
Claudia Barcellos Rezende
Tatiane havia se formado há pouco tempo quando engravidou. Casada há
dois anos, a gravidez não foi “nem planejada nem não planejada”. Foi recebida com um misto de alegria e receio por parte de seu marido, que era
técnico de informática e, “como todo pai”, se preocupava com as condições
financeiras de sustento da família. Como era o primeiro neto da família,
estavam todos — pais, avós, irmão, sogros — muito entusiasmados. Tatiane gostaria de chamá-lo de Cassiano, um nome considerado antiquado e
“feio” por muitos ao seu redor. Essas reações a aborreciam, mais do que os
conselhos constantes sobre como se cuidar. Já em relação ao sobrenome,
Tatiane disse escolher a tradição — passar ao filho tanto seu sobrenome
quanto o do pai: Ferreira dos Santos. O sobrenome de sua mãe era Giuliani
e era este que ela usava em seu perfil do Facebook. Apesar de considerá-lo
“bonito e diferente”, não achava correto passá-lo. Além de ser sobrenome de
sua mãe — e a norma, ela frisou, era transmitir o de seu pai — era também
o sobrenome de seus bisavós, descendentes de escravos, que haviam sido
adotados pela família Giuliani, imigrantes italianos. Apesar de sua gratidão,
não era uma relação de “sangue”. As pessoas questionavam sua decisão,
mas Tatiane reiterava que não era a “ordem da lei”.1
Como Tatiane, as gestantes com quem conversei tinham muitas histórias
para contar em torno dos nomes para o bebê que esperavam. Nomear o bebê
antes de seu nascimento era uma prática comum e as mulheres buscavam
explicar por que tinham escolhido certo nome ou sobrenome, ou por que
ainda não o tinham feito. Estas histórias fazem parte de narrativas da gravidez que venho estudando nos últimos anos (Rezende 2011, 2012), buscando
entender como a gestação do primeiro filho dá inicio à transformação da
rede de parentesco (Duarte & Gomes 2008), realçando, portanto, o caráter
processual da relacionalidade (Carsten 2000). As mulheres e seus maridos
estão assumindo novos papéis como mães e pais e têm várias decisões a
tomar, entre elas a escolha do nome e dos sobrenomes da criança. Porque
588
NOMES QUE (DES)CONECTAM
foi objeto de muito debate, neste artigo exploro o processo de decisão das
gestantes e de seus maridos enquanto nomeadores. Revelava-se então o
“peso ontológico” relativo (Pina-Cabral 2010a) de seus laços de parentesco,
indicando que os vínculos ganhavam densidades existenciais distintas, de
tal forma que certos sobrenomes eram passados e outros não. A combinação
resultante criava relações em torno de redes específicas, ocultava outros laços
e ao mesmo tempo diferenciava as gerações. Enquanto isso a condição de
pessoa do bebê começava a ser elaborada e articulada com a socialidade,
o que implicava desenvolver conexões e desconexões através dos nomes e
dos sobrenomes.
Enquanto os nomes próprios são usualmente considerados instâncias
de individuação, os sobrenomes são tomados como formas de inserir a
pessoa em uma rede de relações sociais já existentes (Finch 2008). Mais
ainda, do mesmo modo que outros nomes coletivos, os sobrenomes não
apenas identificam uma pessoa como parte de uma rede, mas criam também essas relações. Neste sentido, como Bodenhorn e Vom Bruck (2006)
e Iteanu (2006) destacam, há uma dimensão estratégica quanto ao processo de nomeação em termos das relações potencialmente estabelecidas.
Wagley (1971), em sua leitura da sociedade brasileira da década de 1960,
comentou brevemente como a transmissão de sobrenomes, especialmente
os de elite, podia ser manipulada de forma a enfatizar laços com ancestrais
importantes, particularmente aqueles com mais prestígio social. De fato,
discuto nas narrativas analisadas aqui como a escolha de sobrenomes torna-se um modo de dar visibilidade a algumas relações enquanto obscurece
outras. Mais ainda, argumento que em qualquer processo de nomeação
há sempre vínculos sociais preteridos, enquanto outros são realçados ou
criados. Deste modo, a escolha dos sobrenomes dos bebês esperados é
uma forma de estabelecer a continuidade de certos laços de parentesco,
ao mesmo tempo em que produz diferenciação entre as gerações ao retirar
certas conexões dos nomes.
A possibilidade de escolher sobrenomes para o filho tem particularidades nas sociedades portuguesa e brasileira. Como Monteiro (2008) aponta,
a prática atual de dar ao filho um sobrenome materno e outro paterno, nesta
ordem, foi legalmente estabelecida em Portugal no início do século 20. No
Brasil, regras em torno do sobrenome dos filhos foram criadas em 1939,
sugerindo que a criança deveria ter um prenome e um nome de família.
O Código Civil de 2002 mantém-se vago sobre a escolha dos sobrenomes,
declarando apenas que cada pessoa tem direito a um nome composto pelo
primeiro nome, ou nome próprio, e o sobrenome. Como Carvalho (2008)
explica, nomes próprios e sobrenomes podem ser simples ou compostos e
NOMES QUE (DES)CONECTAM
estes últimos podem vir das famílias materna, paterna ou de ambas. Pina
Cabral e Viegas (2007) destacam que esta margem de escolha mais ampla
é um traço do parentesco baseado na descendência bilateral presente em
Portugal e no Brasil. A prática comum é dar à criança os sobrenomes tanto do
pai quanto da mãe, mas as variações são igualmente comuns, como discuto
neste artigo. Geralmente, o sobrenome de uma criança será igual ao de seus
irmãos, filhos dos mesmos pais, mas será diferente das gerações precedentes.
De um modo geral, os nomes uma vez registrados não podem ser modificados,
embora seja possível que as mulheres, ao casarem, adicionem o sobrenome
de seus maridos e/ou a Justiça estabeleça ou renegue paternidade através
do sobrenome paterno, como apresentarei adiante.
Neste sentido, enfatizo o significado das práticas de nomeação
para o parentesco, como fizeram Bodenhorn e Vom Bruck (2006) e Pina-Cabral (2013). A definição recente de Sahlins de parentesco enquanto
“‘mutualidade do ser ’: pessoas que são intrínsecas à existência umas
das outras” (2011:02, minha tradução2) realça a dimensão intersubjetiva
que é explicitada nos processos decisórios que examino. No entanto, sua
abordagem tende a focalizar mais os aspectos positivos do parentesco,
diminuindo o peso das dinâmicas de diferenciação que estão presentes
no material discutido aqui. As práticas de nomeação podem ser um dos
muitos elementos através dos quais a relacionalidade é constituída e negociada, revelando assim seus processos de “adensamento” ou “afinamento”
através do tempo (Carsten 2000, 2013). A gestação e o nascimento de uma
criança são momentos importantes do ciclo da vida que representam não
apenas continuidade, mas também transformação de uma rede de relações
(Carsten 2000:16).
Embora para as mulheres estudadas o parentesco fosse visto em larga
medida como baseado em uma biologia “natural” e compartilhada, como
em muitas sociedades ocidentais (Edwards & Strathern 2000; Fonseca 2004;
Ragoné 1997; Salem 1995; Schneider 1980), elas se preocupavam constantemente com a manutenção dessas relações, como evidenciado nos debates
em torno dos sobrenomes dos filhos. Apesar de reconhecerem as práticas
tradicionais de transmissão dos nomes, elas não as questionavam, e não as
acionavam necessariamente. O fato de os sobrenomes serem marcadores
sociais, étnicos e, em alguns casos, religiosos, era igualmente significativo
e afetava as escolhas a serem feitas.
Analiso as narrativas da gravidez a partir de uma perspectiva que toma
a subjetividade como forma de pensar e sentir modelada culturalmente
(Ortner 2006), revelando de maneira singular a articulação de elementos e
laços sociais. Nesta abordagem, as emoções expressas são particularmente
589
590
NOMES QUE (DES)CONECTAM
significativas, pois manifestam o estado afetivo de um sujeito em sua relação
com o mundo e com os outros (LeBreton 2009) e afetam pragmaticamente
o desenho e a dinâmica dessas relações (Abu-Lughod & Lutz 1990). Foram
realizadas 22 entrevistas com mulheres, complementadas com trabalho de
campo em um grupo de gestantes.3 No grupo, observei várias discussões
em torno de gravidez, parto e pós-parto que explicitam o modo de pensar
o bebê e sua condição de pessoa. As entrevistas cobriram uma variedade
mais ampla de temas, incluindo as relações com as famílias. Assim, a discussão específica sobre os nomes e os sobrenomes deriva deste material e
vejo as narrativas das gestantes como reveladora de suas formas de pensar
e produzir relacionalidade.
Em ambas as situações de pesquisa, as mulheres esperavam seus
primeiros filhos, estavam casadas e tinham idades que variavam entre 28
e 35 anos. Destas, cinco eram negras, com visões que valorizavam uma
identidade negra, e as demais se consideravam brancas. Todas tinham
formação universitária, em áreas como engenharia, psicologia, geografia,
economia, pedagogia e enfermagem, sendo que apenas seis tinham pais
igualmente formados em curso universitário. Trabalhavam também em
ocupações dos estratos médios. A maioria morava em imóvel próprio, todos
passando por reforma ou mudanças para a chegada do bebê. Metade delas
morava em bairros do subúrbio do Rio de Janeiro, como Bangu, Ricardo
de Albuquerque e Campo Grande, com características socioeconômicas
diversas, e o restante em bairros de classe média, como Tijuca, Leblon,
Laranjeiras e Botafogo. Por fim, havia uma diversidade religiosa entre elas,
sendo uma praticante de religião afro-brasileira, uma messiânica, cinco
evangélicas, duas de ascendência judia e católica, e o resto católico, com
graus variados de prática.
É importante destacar que todas mencionaram ter relações próximas
com suas famílias de origem — pais, irmãos e tios — e por afinidade. Embora
quatro delas tivessem pais morando em outra cidade, a maioria vivia em
bairros próximos aos dos pais e tinha um convívio cotidiano frequente —
de se encontrar e falar várias vezes durante a semana, bem como tê-los
acompanhando suas consultas e exames médicos. Seis mulheres tinham pais
separados, alguns já casados pela segunda vez, e três tinham um dos pais
falecidos. Ao contrário de gerações anteriores que buscavam uma ruptura
de padrões em relação a seus pais (Almeida 1987; Salem 2007; Velho 1986),
para estas mulheres, a família era uma referência importante, de valores e
comportamentos a serem transmitidos. Ainda assim, veremos como as deliberações em torno do sobrenome do bebê apontavam para as várias nuances
dessas relações, sugerindo uma forma contínua de atualizá-las.
NOMES QUE (DES)CONECTAM
Práticas de nomeação, relacionalidade e pessoa
Em sua coletânea sobre a antropologia dos nomes, Bodenhorn e Vom Bruck
(2006) argumentam que os nomes não apenas revelam noções de pessoa,
como também participam de sua criação. Comentando dados etnográficos
variados, as autoras propõem que os nomes sejam considerados coisas e que
“o que os nomes são em um contexto particular está claramente conectado
ao modo de pensar o que a nomeação como ato inicia” (2006:25). Humphrey
(2006), por exemplo, discute a autoridade do sistema de nomes na Mongólia,
onde os nomes são palavras que denotam qualidades que a criança deve ter.
Em virtude de seu poder definidor, as pessoas evitam muitas vezes chamar
os outros pelo nome pessoal, deixando assim espaço para que eles possam se
apresentar com qualidades distintas daquelas evocadas pelo nome recebido.
Ao mesmo tempo, os nomes estão sempre articulados a relações sociais
situadas no tempo, “historicizando” a pessoa de forma complexa e variada.
Iteanu (2006) mostra como, para os Orokaiva, transmitir um nome prolonga-o
no tempo para além da memória individual, designando assim genealogias
que constroem uma história social fixa. Esses nomes coletivos pouco funcionam como forma de identificar características pessoais do sujeito, ao contrário
das narrativas que discuto aqui e que buscam equilibrar pertencimento e
diferenciação. O estudo de Layne (2006) com casais americanos de classe
média com experiências de aborto involuntário é outro exemplo de como
os nomes marcam a localização em uma geração de parentesco específica.
A autora sugere que o ato de nomear o bebê nascido morto ajuda não apenas a
lidar com sua morte, como também a construir a paternidade do casal. Nesse
processo, os pais produzem então o nascimento social do bebê, dissociado
de seu nascimento biológico.
Contudo, a articulação entre as práticas de nomeação, a condição de
pessoa e as redes de relacionalidades é menos explorada. Os trabalhos de
Pina Cabral (2010a, 2010b, 2013) formam uma exceção e são particularmente
relevantes aqui por analisarem dados etnográficos brasileiros. Retomando a
noção de Sahlins do parentesco como a mutualidade do ser, Pina Cabral relembra sua implicação para a pessoa, que sempre vem com uma pré-história.
Neste sentido, nunca há um começo claro desse processo, uma vez que “as
pessoas se veem ligadas de forma causal com pessoas que vieram antes”
(2013:76). No entanto, a singularidade que existe na pessoa reside no fato
de sua história de ontogenia pessoal ser sempre única; “nossos nomeadores
são outros particulares e não um outro genérico” (2013:76).
Pina Cabral acrescenta que as pessoas lidam com seus passados de
formas distintas, como parte de um processo de “copresença na constituição
591
592
NOMES QUE (DES)CONECTAM
individual” (2013:76). Estas negociações seriam “identidades continuadas”,
que são fundamentalmente afetivas e em constante processo de atualização
e revalidação. Os nomes seriam uma dessas instâncias de conexão com o
passado da pessoa, pois eles evocam os nomeadores e suas intenções ao
escolherem um nome, e assim se referem a uma “identidade continuada”
com eles. Entretanto, argumento aqui que, quando as pessoas se tornam
nomeadores, elas se veem na posição de decidir se projetam para o futuro,
ou não, esta “identidade continuada” com o passado.
Nesse processo de evocação, Pina Cabral (2010a) fala de nomes que são
mais verdadeiros do que outros. Referindo-se ao uso efetivo dos nomes, ele
mostra como no mundo lusófono as pessoas podem ser chamadas de formas
variadas — pelo primeiro nome, por um apelido, por um ou por todos os sobrenomes — mas elas tendem a considerar apenas um deles como o nome
verdadeiro. Este revela o que tem peso ontológico para a pessoa — aquelas
relações que têm mais significado ou existência do que outras. Acrescento que
as negociações que as pessoas fazem com seus passados são afetadas pelos
distintos pesos ontológicos de suas relações, bem como por seus projetos
para o futuro.
Ao pensar a escolha dos nomes para a criança, o aspecto classificatório
dos sobrenomes adquire relevância. Os sobrenomes classificam as pessoas
em termos de pertencimento a redes de parentesco específicas, que são
por sua vez socialmente localizadas. Assim, eles frequentemente indicam
posições de classe, identidades religiosa, étnica ou identidade nacional.
A dimensão da visibilidade da inserção social permitida pelos sobrenomes
torna-se crucial, como Finch (2008) ressalta. Wagley, ao analisar famílias
de elite brasileiras, comentou que os sobrenomes são “símbolos públicos de
pertencimento a uma parentela ou a uma família com uma figura ancestral
importante” (1971:170). Os sobrenomes podem revelar vínculo com minorias
étnicas e, no caso de discriminação e perseguição, podem ser alterados, como
aconteceu com os judeus em Portugal após a Inquisição.4
A importância da visibilidade de um sobrenome é particularmente
acentuada quando as pessoas desejam estabelecer ou reivindicar laços de
parentesco e os direitos que eles instituem. O estudo de Fonseca (2004)
sobre processos de investigação de paternidade, com recurso a exames de
DNA, em Porto Alegre, exemplifica esta questão. Fonseca argumenta como
os exames de DNA contribuíram para dar mais significado a uma visão biológica da paternidade, que durante muitas gerações foi principalmente um
laço social. Ainda é comum, especialmente nas camadas trabalhadoras, a
prática da “adoção à brasileira”, em que um homem assume o filho de sua
atual companheira, registrando-o como filho, com seu sobrenome. Assim,
NOMES QUE (DES)CONECTAM
para estes homens, a paternidade se estabelece através da relação conjugal,
passando primeiramente pela relação do homem com a mãe da criança. Se
a relação termina com suspeita de infidelidade da mulher e se exames de
DNA comprovam a ausência de paternidade biológica, o laço do homem
com a criança pode ser afetado a ponto de a paternidade ser revogada por
lei e o sobrenome paterno ser retirado da certidão de nascimento.
A posição daqueles que dão o nome vem a ser, portanto, imbuída de
responsabilidade moral, como Bodenhorn e Vom Bruck (2006) propõem.
São eles que lidam com o passado para projetar o futuro, como fazem as
mulheres que estudei e aquelas pesquisadas por Pina Cabral (2007), que
davam aos filhos o mesmo nome dos pais ausentes na tentativa de fortalecer
o laço entre pai e filho. São eles que decidem se adotarão critérios comuns,
como a visão no Brasil de que os nomes devem ser marcados pelo gênero
(Motta 2007), ou se afastarão destes, como o descendente de uma família
de elite portuguesa que rompeu a tradição de gerações de dar o mesmo
nome próprio ao filho (Lima 2007). É claro que a audiência é sempre parte
do processo de nomeação, seja de forma explícita ou implícita, validando,
criticando ou rejeitando os nomes dados (Rosaldo 1984), como na história
de Tatiane, com a qual comecei este artigo.
Escolhendo o nome do bebê
A gravidez era, para as mulheres estudadas, vivida como um estágio inicial
da maternidade, particularmente associada à percepção do bebê esperado
como pessoa.5 Várias entrevistadas atribuíam ao bebê características subjetivas com base no modo como ele ou ela se movia dentro da barriga. Estes
movimentos eram vistos como padrões de comportamento que revelavam
o “temperamento” do bebê, bem como seus gostos, que deveriam ser respeitados. Assim, muitas mulheres falavam das mudanças em suas rotinas,
em especial dos seus hábitos alimentares, não apenas para cuidar da saúde
do bebê, mas também porque certos alimentos pareciam perturbá-lo. Estes
traços não estavam diretamente associados ao gênero, embora houvesse a
preocupação entre aquelas que esperavam meninos de que eles fossem ser
muito agitados.
A nomeação do bebê antes de seu nascimento contribuía para sua percepção como pessoa. Com o surgimento das ultrassonografias, vários casais
escolhiam o nome para a criança em torno do quarto mês de gestação, quando
o sexo do bebê era apontado (Chazan 2007).6 Daquele momento em diante,
o casal, a família e os amigos frequentemente passavam a se referir ao bebê
593
594
NOMES QUE (DES)CONECTAM
pelo seu nome. Muitas vezes as roupinhas e outras partes do enxoval eram
bordadas com seu nome pelas futuras avós ou outros parentes. Os convites
para os chás de bebês eram em geral escritos como se fossem feitos pelo
próprio bebê (“Venham para o meu chá de bebê”), e não pelos pais, e este
evento se tornava uma prévia do que seria o primeiro aniversário da criança,
com seu nome nas decorações e no bolo. Também era este nome que figurava nos cartões de agradecimento às visitas e pelos presentes recebidos por
ocasião do seu nascimento no hospital. Nomear o bebê na gravidez tornou-se
de tal forma uma norma a ponto de uma entrevistada com dificuldade de
decidir o nome do filho, cujo parto estava próximo, ter sido chamada pela
irmã de “mãe desnaturada”.7
Os nomes próprios eram em geral escolhidos pelo casal. O mais comum era a mulher ou o marido ter um nome que ele(a) já gostava e o outro
concordar com a escolha. Alguns casais decidiam que se o bebê fosse menina, a mulher escolheria o nome e, se fosse menino, o homem decidiria.
Em todos os casos, a mulher e o marido tinham que concordar sobre o nome
da criança.8 Muitas vezes eles se esforçavam para assegurar que esta seria
uma decisão só deles, sem interferência da família ou dos amigos. Em função
disso, um casal contou a toda a família que só iria decidir o nome do bebê
na hora do parto, com a justificativa de que ambos queriam ver a “cara” do
bebê antes de escolher. Seria uma tentativa de evitar o que aconteceu com
Tatiane, que escutou comentários críticos da família e dos amigos sobre o
nome “antiquado” e “feio” que tinha escolhido.
Nos casos estudados, não havia regras sobre qual nome dar à criança,
a não ser acompanhar o gênero. Deveria ser um nome do qual o casal gostasse. Em duas situações em que o bebê esperado era um menino, o casal
considerou dar-lhe o mesmo nome do pai, embora as mulheres reclamassem que seus filhos iriam ser chamados de “Júnior”, um nome que não os
singularizava. Entre as entrevistadas evangélicas, os nomes bíblicos com
significados religiosos eram os preferidos. Duas delas escolheram nomes
religiosos que tinham relação com episódios marcantes de suas vidas. Apenas
uma mulher resolveu dar ao bebê um nome da família, o de seu avô, como
forma de homenagear uma pessoa especial para ela.
Havia aqui também a preocupação de encontrar o nome “certo” para
a criança, um traço comentado por Bodenhorn e Vom Bruck (2006). Alguns
casais preferiam esperar até o bebê nascer para ver que nome teria mais
“a ver com a sua cara”. Embora muitos já tivessem decidido o nome meses
antes do parto, sua visão sobre o nome — bonito, doce, forte — buscava
espelhar o comportamento do bebê dentro da barriga. Aparecia também a
preocupação de que o nome estivesse de acordo com o gênero e as mulheres
NOMES QUE (DES)CONECTAM
que esperavam meninos se preocupavam com um nome que fosse “bem
masculino”. Por fim, o primeiro nome deveria combinar com os sobrenomes.
Aqui também havia uma questão de gênero — qual combinação de nome
e sobrenome seria melhor para um menino, de forma a não afetar sua masculinidade. As mulheres também buscavam evitar sobrenomes longos, que
pareciam antiquados ou associados a uma monarquia que não existia mais.
Eles também seriam pouco práticos (não caberiam na linha de assinatura do
cheque, como disse uma entrevistada) e, no cotidiano, as pessoas acabariam
usando apenas um sobrenome.
Mas a escolha de sobrenomes apresentava outras considerações e era
com frequência mais difícil que a seleção do primeiro nome. Enquanto a
maioria destes já havia sido selecionada na época das entrevistas, muitos
ainda não estavam decididos. Os sobrenomes não apenas remetiam a laços
de parentesco, mas também tinham implicações sociais mais amplas, como
discuto abaixo através das histórias de Laura, Marina e Lucimar.
A morte de um sobrenome
Então, o sobrenome é um... [risos] Tudo é um problema. O sobrenome é outro
problema. Porque eu acho, não sei, ainda tô pensando, mas nós achamos, na
verdade, eu e ele, que talvez o nome mais três sobrenomes fique muito grande,
entendeu? E por causa da mãe ter separado do pai, ainda ter um problema... Tem
pouco tempo que eles se separaram... Tem uns seis anos só... Eu tenho certeza
que a mãe dele gostaria muito que levasse o sobrenome dela. Só que pra levar
o sobrenome dela, o do pai dele... o da minha mãe eu não vou colocar, porque a
família da minha mãe é muito grande, tem muita gente, então assim... porque a
gente tá pensando muito nisso, né? O que é que vai perpetuar mais, entendeu?
Tipo, para o sobrenome não morrer... O da família do meu pai, se eu não colocar na minha filha, com certeza eu vou ter problema, porque a família é muito
pequena. A da minha mãe não. A da minha mãe é muito grande, tem vários
netos e pessoas que tão nascendo com o sobrenome, então não tem problema.
Então, o que a gente tinha pensado? Em colocar o nome Maria; Moretti, que
é o meu, do meu pai; de Azevedo, que é o do pai dele. Que é o normal. Porque
o normal é colocar o dos pais, né? Só que se a gente não colocar o Farias, que
é o sobrenome da mãe dele, tipo, Maria Farias Moretti de Azevedo, eu tenho
certeza que a mãe dele vai ficar extremamente sentida, porque a família da
mãe dele é igual à família do meu pai: extremamente pequena. Entendeu? E o
sobrenome tá meio que acabando... Então, eles vão ficar chateados. Mas, tipo
assim, não definimos nada ainda.
595
596
NOMES QUE (DES)CONECTAM
Em sua entrevista, Laura falou muito da gravidez comemorada com
sua família e a de seu marido. Ambos engenheiros, estavam casados há três
anos e planejaram a gravidez após uma longa viagem de férias. Mesmo com
sua mãe morando no Espírito Santo, o sogro em Valença e a sogra no Rio, as
conversas por telefone, os presentes, as visitas mostravam uma participação
intensa. Em alguns momentos, Laura demonstrava sua preocupação em
equilibrar a atenção dada a todos — sua mãe e os sogros, para não excluir ou
diminuir a importância de ninguém. Como seu pai falecera quando ela era
criança, Laura cresceu com sua avó paterna disputando atenção e cuidado
com sua mãe. Mesmo adulta, sempre que voltava a Valença, ela tinha que
dividir seu tempo para não deixar sua avó magoada. Do mesmo modo, quando
ia visitar os avós de seu marido, tinha que cuidar para não chatear sua sogra,
que se aborrecia facilmente se eles passassem mais tempo com os avós. Estas
questões apareciam também no processo de escolha do sobrenome da filha.
As dúvidas de Laura expressavam alguns dilemas comuns a outras
gestantes entrevistadas. Primeiro, destaca-se em seu depoimento a ideia de
uma prática de nomeação “normal”, que seria dar ao filho o sobrenome do
pai de cada um dos cônjuges. Entretanto, com a frequência dos divórcios,
filhos de pais separados começavam a questioná-la em função das relações
mantidas com cada um dos pais após a separação. Para Laura, não dar a
seu filho o sobrenome da sogra poderia chateá-la, como se houvesse uma
tomada de lado na separação dos sogros. Demonstrar que não havia preferências era uma preocupação tanto de seu marido como filho quanto dela
como nora. Embora os sogros participassem intensamente da gestação de
formas variadas, a retirada de um sobrenome poderia ser vista como um
agravo que ademais afetaria a visibilidade dos laços familiares entre o bebê
e a família da avó paterna.
O segundo dilema para Laura era justamente manter vivos certos sobrenomes, de famílias pequenas, que podem “acabar”, “morrer”. Tanto a
família de seu pai quanto a de sua sogra eram consideradas pequenas, com
poucas pessoas nascendo, e a interrupção na transmissão dos sobrenomes
era vista como “acabando” com eles. Além do mais, seu pai havia falecido e
Laura tinha uma forte relação com sua avó paterna. Assim, passar o sobrenome do pai parecia não apenas manter “vivo” seu sobrenome, mas também
o vínculo com sua família paterna após a sua morte.
Esta preocupação estava igualmente presente no relato de Júlia, cuja
mãe era judia e vinha de uma família pequena. No seu caso, acrescentar este
sobrenome ao nome da filha seria uma forma de dar continuidade não apenas
àquele sobrenome, mas também revelar o fato de Julia se ver como judia,
embora seu pai fosse católico. O sobrenome materno expressava assim sua
NOMES QUE (DES)CONECTAM
identidade judia, que ela achava importante passar para a filha, mantendo
também a tradição de fazer presente a identidade religiosa judia através das
mulheres. Do contrário, sua filha só teria sobrenomes católicos — Assunção
Batista. Assim, a escolha por transmitir um sobrenome materno, que “normalmente” não seria passado adiante, era uma tentativa de conservar tanto
uma linhagem de parentesco quanto uma forma de pertencimento étnico.
Retornando a Laura, embora ela buscasse equilibrar a atenção dada às
várias relações, em outro momento da entrevista ela se queixou da tensão
no relacionamento com sua avó paterna e sua sogra. Falou dos problemas
constantes ao visitá-las e dos comentários que sempre ouvia sobre o que eles
deveriam ou não ter feito. Laura não sabia ao certo como descrevê-las —
pessoas ciumentas ou centralizadoras — mas este jeito de ser a incomodava
muito. Talvez por causa desta tensão, na entrevista, quando Laura considerou
dar à sua filha o sobrenome Farias de sua sogra, ela o separou do sobrenome
do seu sogro, de Azevedo, e o colocou antes de Moretti, seu sobrenome paterno, criando assim uma ordem de nomes pouco usual, porém significativa.
Sobrenomes longos não eram apreciados, mas não eram tampouco
desconsiderados. No final, Laura e seu marido decidiram manter todos
satisfeitos e deram à filha três sobrenomes — Moretti Farias de Azevedo,
agora na ordem mais comum em que os sobrenomes maternos precedem
os paternos. Dada a crítica de Laura aos comportamentos individualistas,
magoar a família por conta das preferências do casal não parecia ser uma
opção, diferente do que Marina pensava, como mostro a seguir.
A política dos nomes
Marina esperava uma menina, que iria se chamar Sofia. Ela ponderava a
respeito do sobrenome de Sofia:
[Ela vai ter] o meu sobrenome e o dele, um só. Aliás, isso foi uma coisa engraçada
porque a mãe dele comentou isso, as famílias em São Paulo têm dois sobrenomes, a família deles é Dias Carneiro, e aí eu falei: olha, se tiver dois sobrenomes
teus, vai ter que ter dois meus, não quero saber, aí ele fica com esse papo de....
É engraçado que são só nos homens que colocam dois, então é super machista...
Todas as crianças têm três sobrenomes, dois do pai e um da mãe. Aí, eu falei:
“mas aqui no Rio não é assim o sistema (risos), e eu não quero saber se o nome
do pai é sobrenome duplo, se ela tiver dois seus, ela vai ter dois meus e acabou
(risos). E aí vai ficar com o nome muito grande”. Como ele usa Dias, a gente
cortou o Carneiro, que é o último, mas foi o que ele preferiu. Aí, eu falei: “Bota o
597
598
NOMES QUE (DES)CONECTAM
que você quiser, aí vai ficar Gonçalves, que é o meu, e Dias”. Os pais dele ficaram indignados (risos): “Mas como assim vai cortar o nome, e a mãe dele: “não,
mas tem que ter Carneiro”, ficou revoltada. [...] Aí, eu falei: “Você tá brigando
por um sobrenome que nem é o seu, se tivesse falando pelo seu... Mas você está
brigando pelo do seu marido... E mais, você está querendo discutir com um casal
que concorda”. Se eu e Roberto tivéssemos alguma discordância, ela falava o
que ela achava, tudo bem, mas a gente concordava. E aí ela ficou chocadíssima!
Marina era psicóloga social e muito envolvida com causas feministas.
Ela e Roberto haviam se conhecido durante o doutorado e estavam muito
contentes com o bebê, que seria o primeiro neto de suas famílias. Eles dividiam todas as tarefas domésticas e ela tinha muito apoio de sua família, que
já se prontificava para ajudar nos cuidados com a neta. Esta era uma questão
para ela, que se perguntava como seria a conciliação da maternidade, algo
muito desejado, com sua carreira acadêmica, igualmente importante para ela.
Marina falava de sua mãe e sua sogra em termos de dois modelos de
gênero distintos, o que explicava também o estado de suas relações. Sua
mãe, professora universitária, politicamente de esquerda, era modelo para
ela, que foi criada em uma relação de muita proximidade e muito diálogo,
de sair para tomar cerveja com ela e seus amigos. A sogra, por sua vez,
vinha de uma família conservadora de uma cidade pequena do interior de
São Paulo. Embora tenha trabalhado quando jovem, aposentou-se cedo e
tornou-se dona de casa. A relação com a sogra era tensa, com alguns embates em torno de como ela deveria gerir a casa, a vida do filho e, agora, a
chegada da neta Sofia. Nas palavras de Marina, a sogra devia achá-la “mega
individualista” por dividir as tarefas domésticas com o marido e trabalhar o
dia inteiro, cuidando “menos” da casa e da família.
Não à toa, as decisões em torno do sobrenome da filha espelhavam essas
tensões. A escolha do casal de dar a ela um sobrenome de cada um chocava
a sogra, pois implicava “cortar” um sobrenome duplo, visto como tradicional
na sociedade paulistana. Marina não valorizava esta tradição e buscava
ativamente se contrapor a ela. Para ela, os sobrenomes duplos paulistanos,
que identificavam famílias de elite há muitas gerações, vinham associados
a uma visão tradicional de família, com uma divisão de trabalho de gênero
assimétrica que a revoltava. O próprio fato de que os pais davam aos filhos
dois sobrenomes, enquanto as mães transmitiam apenas um indignava-a.
Assim, o sobrenome de sua filha deveria demonstrar sua inserção em duas
famílias de uma perspectiva feminista igualitária. Seria um sobrenome de
cada um, como eles escolheram, ou o sobrenome composto de Roberto e seus
dois sobrenomes, o que resultaria em um sobrenome longo.
NOMES QUE (DES)CONECTAM
Marina também mencionou o fato de que mesmo Roberto não usava seu
sobrenome composto habitualmente, isto é, apesar dos sobrenomes recebidos
de seus pais, no seu cotidiano ele escolhia como queria se apresentar. Talvez
por ele também ter convicções políticas de esquerda, parecia preferir não
ser identificado com uma família conservadora “tradicional”. Como Rosaldo
(1984) enfatizou, os atributos dos nomes se referem inicialmente àqueles
que dão os nomes, no caso, os pais de Roberto.
Na narrativa de Marina, as discussões sobre os sobrenomes revelavam
tensões nas relações de afinidade, baseadas em perspectivas distintas sobre
os papéis de gênero e na importância da classe social. Do ponto de vista de
sua sogra, a postura feminista de Marina significava cuidar menos de seu
marido e de sua casa (e talvez de sua neta no futuro), não desempenhando,
portanto, os papéis femininos tradicionais, e também desconsiderava a posição social da família de Roberto, espelhada no sobrenome composto. Dias
Carneiro era um sobrenome que identificava uma longa linhagem de elite.
Passar apenas um dos sobrenomes criava uma forma de identificação diferente, que era exatamente o que Marina desejava e o que o casal resolveu fazer.
A feiúra de um sobrenome
Lucimar esperava um menino que ainda não tinha nome. Ela explicou:
“[Ele] não tem nome ainda porque o pai ainda tá orando pra vir um nome do
céu, ele vai vir do céu mesmo, porque eu já tô quase ganhando e ele ainda
não decidiu. [...] Já, então, o sobrenome tá uma política, porque na verdade,
o sobrenome seria Da Silva Nogueira, só que o meu marido tá tão empolgado
com a criança que ele quer colocar só o sobrenome dele, ou seja, ele quer me
excluir... (risos) [...] O meu é Da Silva e o dele Nogueira. Então, ele fala assim:
“Deixa só o meu nome, porque o seu nome Da Silva é muito feio, é muito nome
de pobre!”. Eu falei: “Não, vai ficar o meu nome e o seu!”, e ele: “Não, meu filho
vai ter que ter só o meu nome!” [...] Então, ele está tão empolgado que ele acha
que por eu já estar carregando o neném, de eu ter esse privilégio, pelo menos o
nome tem que ser o dele, porque o privilégio todo tem que ser dele só no nome.
[...] Aí eu falei: não! Tá num impasse! A gente às vezes ri da história, às vezes
eu me aborreço, às vezes eu rio também porque eu chego a achar engraçado,
cômico, né? Ele não querer deixar o meu nome, meu sobrenome, querer deixar
só o sobrenome dele! Mas enfim... mas isso eu tenho certeza que depois a gente
se entende, até o final, até nascer, pois é óbvio que eu não vou permitir isso:
ficar só o sobrenome dele seria até egoísmo da parte dele.
599
600
NOMES QUE (DES)CONECTAM
Lucimar era enfermeira e já estava casada há oito anos quando engravidou. Daniel, seu marido, trabalhava como gerente de restaurante e ainda
achava que eles podiam esperar mais para ter um filho, para que tivessem
melhores condições financeiras e terminassem de construir sua casa. Mas
como mulher — “e a mulher sempre acaba decidindo isso” — ela se programou
para engravidar e fazer uma surpresa para ele. Apesar do susto inicial, Daniel
estava muito entusiasmado com a gravidez. Embora houvesse outros netos,
sua família estava muito alegre com o bebê, que já era um “pouquinho filho”
da irmã e da cunhada, do mesmo modo que ela era muito “tiazona”. A família
de Roberto gostou também “da ideia”, apesar de eles serem mais distantes.
As discussões em torno de que sobrenome dar ao filho mostram também
os embates entre os cônjuges e as diferenças familiares. Se Lucimar havia
decidido sozinha engravidar quando Daniel ainda não estava pronto, agora
era ele quem queria escolher sozinho o nome e o sobrenome do filho. O nome
seria de inspiração divina, que ainda não havia vindo até ele. O sobrenome
seria só o dele. Apesar de menos comum entre as entrevistadas, havia duas
mulheres cujos filhos homens não teriam seu sobrenome, uma vez que herdariam todo o nome do pai já transmitido há duas gerações, acrescido de “Filho”
ou “Neto” ao final, prática que também reforçava a identificação entre pais e
filhos, como aponta Pina Cabral (2007). Mas no caso de Lucimar, o bebê não
se chamaria Daniel, pelo menos não na época da entrevista.
Esta disputa expressava não apenas negociações de poder entre o casal,
mas também ideias diferentes sobre os laços entre pais e filhos. Assim, o
vínculo de Lucimar com o bebê seria criado pela gestação, e era considerado
um “privilégio” que os homens não tinham. Como era um laço biológico,
não precisaria se fazer presente no sobrenome, na visão de Daniel. Nesta
perspectiva, o modo de os pais estabelecerem suas relações com os filhos
passaria principalmente por registrá-los com seu sobrenome. Relembrando
o estudo de Fonseca (2004), a paternidade para as pessoas de camadas
trabalhadoras que ela pesquisou era reconhecida e demonstrada através
do registro na certidão de nascimento de uma criança com o sobrenome do
pai. O significado do sobrenome paterno aparecia em especial naqueles
casos em que estava ausente. Embora nas últimas décadas muitas mulheres venham sustentando suas casas, o papel de provedor ainda é um traço
masculino importante, e ter um pai na certidão de nascimento representa
simbolicamente poder prover os filhos.
Há uma terceira dimensão nas negociações de Lucimar e Daniel
em torno do sobrenome do filho, que é ao mesmo tempo estética e social.
“Da Silva”, nas palavras do marido, é nome de pobre e é “muito feio”. O
próprio nome de Lucimar resultava de uma prática de combinar partes dos
NOMES QUE (DES)CONECTAM
nomes dos pais, comum nas camadas trabalhadoras. Um sobrenome que
marcava uma origem social pobre parecia ser problemático para Daniel,
que tinha ascendência turca e vinha de uma família com projetos de ascensão social. Embora Lucimar não tivesse falado de origens sociais distintas,
a família de Daniel tinha outra “cultura”, todos muito voltados para eles
mesmos, cada um por si. Sua sogra era evangélica, mas estava “desviada”;
seu sogro era católico, mas não era praticante. Sua família, ao contrário,
era muito unida. Se ela passasse mal, todos apareceriam juntos na porta
do hospital para saber o que tinha acontecido. Nas palavras dela, “a minha família é muito família mesmo [...] é assim uma bênção de Deus, todo
mundo é muito unido, todo mundo vive os problemas de todo mundo e as
alegrias de todo mundo”. Assim, o desejo de Daniel de dar ao filho apenas
seu sobrenome tornava-se, para Lucimar, um desejo “egoísta”, uma acusação
moral explicada pela diferença dos valores familiares. A disputa em torno
dos sobrenomes expressava as tensões do casal em torno da mobilidade
social, que nas camadas trabalhadoras aparecia, com frequência, como um
afastamento da identidade holista dada pela rede familiar através da adoção
de valores individualistas (Duarte & Gomes 2008).
Lucimar aguentou o suspense até o momento do parto, temendo que
Daniel aparecesse com um nome “feio”. Somente no hospital ele contou
para ela que Deus havia escolhido Samuel, nome de que ela gostou. Já como
sobrenome, ele conseguiu deixar de fora o “Da Silva”, dando ao filho outro
sobrenome materno mais inconspícuo, Campos, e seus dois sobrenomes,
Nogueira Akalin.
Sobrenomes e sentimentos
Estas histórias revelam como o processo de escolha de nomes e sobrenomes
é específico das vivências subjetivas dessas mulheres, de suas relações
conjugais e redes familiares e, ao mesmo tempo, marcado por práticas de
nomeação recorrentes, concepções culturais de pessoa e gênero, valores familiares e posição social. A preocupação de Laura com sua sogra contrastava
com a postura de Marina de confrontar a sua. Tatiane valorizava a “ordem
da lei”, apesar da tentação de dar ao seu bebê o sobrenome italiano de seus
antepassados adotivos, enquanto Lucimar tinha que negociar com seu marido a transmissão de seu sobrenome “feio”. Em cada situação, o contorno
da rede familiar e o estado das relações eram distintos.
Apesar das singularidades destas histórias, há claras regularidades
entre elas, aspectos presentes também nas narrativas das outras mulheres
601
602
NOMES QUE (DES)CONECTAM
estudadas. Em todas elas os nomes estabeleciam a condição de pessoa e as
conexões sociais do bebê esperado. Os bebês eram vistos como seres dotados
de agência e seus nomes próprios tornavam-se elementos importantes de
suas subjetividades imaginadas, uma vez que eles deveriam refletir certo
tipo de temperamento a ser revelado na “sua cara”. Os nomes também
construíam uma pessoa marcada pelo gênero, pois eles não apenas indicavam um gênero, como também eram escolhidos com base em modelos de
feminilidade e masculinidade. Como no estudo de Layne (2006), os nomes
contribuíam para o nascimento social da criança bem antes de seu nascimento biológico. Não era uma identidade fixa, pois um menino esperado
poderia vir a ser uma menina, como aconteceu com Tatiane, que deu à luz
a Andressa e não a Cassiano. Mas a nomeação dos bebês ajudava os futuros
pais a se relacionarem com eles como pessoas, que se tornavam filhos antes
de nascer, inserindo-os assim em uma rede de laços afetivos.
Se os nomes próprios eram normalmente escolhidos pelo casal somente
em termos de seus gostos e preferências, a decisão em torno dos sobrenomes
sempre implicava a rede de parentesco mais ampla e as conexões a serem
tornadas visíveis ou obscurecidas. Aqui está outra instância daquilo que Pina
Cabral (2013) denominou de negociação com o passado, ao mesmo tempo
em que se engajava com o futuro: ao fazer a escolha do que passar para a
criança, os casais avaliavam o significado de cada sobrenome para eles e
as consequências desta seleção. Todas as mulheres se referiram ao costume
comum de dar o sobrenome paterno de mãe e pai, o que implicava deixar
para trás os sobrenomes maternos. Se para alguns era mais fácil seguir a
prática usual, a ideia de que as futuras avós aceitariam pacificamente a
não transmissão de seus sobrenomes deixou de ser fato. Com isso, várias
mulheres ponderavam não seguir a “tradição”, sempre em função do estado
afetivo de suas relações de parentesco e de seus pesos ontológicos distintos.
Além disso, a decisão de dar um sobrenome específico à criança não
era apenas um modo de localizá-la em uma rede de relações. Os sobrenomes
também expressavam pertencimento étnico e posições de classe. Para alguns,
seus projetos de ascensão social poderiam ser maculados pela transmissão
de um sobrenome “de pobre” de um dos ramos da família. Para outros,
convicções políticas de esquerda poderiam fazê-los recusar sobrenomes
compostos associados à elite. Portanto, a qualificação de sobrenomes como
“feios” e “bonitos” expressava a transposição de posições de classe para
valores estéticos, de forma que a decisão de “cortar” um sobrenome nestas
bases modificava o estado das relações familiares. A escolha dos sobrenomes
aparecia assim associada aos projetos para as gerações futuras, afetando e
efetivando relações e posições sociais (Bodenhorn & Vom Bruck 2006; Pina
NOMES QUE (DES)CONECTAM
Cabral & Viegas 2007; Wagley 1971). O conjunto de sobrenomes selecionado
era sempre um meio de “adensar” ou “afinar” as relacionalidades, produzindo continuidade e diferenciação ao mesmo tempo.
O fato de os sobrenomes construírem conexões ou possíveis desconexões era particularmente evidente nas reações emocionais ao processo.
As histórias apresentadas aqui indicam que o assunto é delicado, como
atestam as várias menções das mulheres aos sentimentos de angústia,
raiva, perplexidade e às dúvidas em torno da escolha a ser feita. De forma
semelhante, esperava-se que os pais cujos sobrenomes não seriam passados
aos netos ficassem “extremamente magoados”, “chateados”, “indignados”
e “chocados”. Todos estes sentimentos apontam para uma experiência de
raiva, de emoção que geralmente se refere à quebra de regras morais (Lutz
1988). Dar um sobrenome a uma criança é um modo de conectá-la a uma
rede familiar, de forma que não dá-lo torna-se um modo de desconsiderar
as relações familiares, com a ameaça potencial de uma desconexão. Era,
portanto, uma afronta moral e aqueles que a cometiam podiam ser acusados
de “egoístas” e “vaidosos”.
Por fim, o ato de nomear os bebês antes de eles nascerem produzia
um trabalho temporal significativo de articular passado, presente e futuro.
Os sobrenomes traziam consigo histórias familiares — como a adoção dos
bisavós de Tatiane e a ancestralidade judaica de Julia — que corriam o risco
de se perder, de modo que questões de continuidade e mudança afloravam.
Neste sentido, a escolha de passar um sobrenome que estava “morrendo”
poderia resgatá-lo de seu desaparecimento e reconstruir laços com ele.
Ademais, ao nomearem um bebê esperado de acordo com o gênero e seus
movimentos dentro da “barriga”, os casais não estavam apenas imaginando
seus filhos; estavam ativamente criando-os como pessoas. Ao anteciparem
seu nascimento social, o casal — a mulher, em particular — antecipava
também a paternidade e a maternidade. A nomeação tornava-se, portanto,
um modo de trazer o passado e o futuro para o presente. Era uma forma de
inserir o bebê esperado em histórias socialmente significativas, ao mesmo
tempo enfatizando continuidades e produzindo diferenças entre as gerações.
Recebido em 11 de junho de 2015
Aprovado em 21 de setembro de 2015
Claudia Barcellos Rezende é professora associada do Departamento de
Antropologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Email:
<[email protected]>
603
604
NOMES QUE (DES)CONECTAM
Notas
* Os dados analisados aqui resultam da pesquisa “Pertencimento e parentesco
na gravidez”, apoiada pelo Programa Prociência da UERJ, pelo CNPq (Bolsa de
Produtividade) e pela Capes (Bolsa Estágio Sênior). Priscilla Silva, Thales Moraes
e Bruno Hammes participaram como assistentes de pesquisa. Uma primeira versão
deste artigo foi apresentada na série de seminários do Departamento de Antropologia da Universidade de Edimburgo, em janeiro de 2014, durante meu período de
pós-doutorado nesta instituição. Agradeço os comentários de Janet Carsten, Mark
Harris, Jacob Copeman e Michele Wisdahl.
Todos os nomes e sobrenomes utilizados foram trocados para manter o anonimato das pessoas estudadas. Procurei, contudo, escolher nomes de um repertório
mantendo as características sociais discutidas aqui. Mantive apenas o sobrenome
Da Silva, por ser icônico de um certo segmento social e ao mesmo tempo comum o
suficiente para de fato identificar alguém.
1
2
Todas as citações de textos em inglês são traduções minhas.
Enquanto o trabalho de campo no grupo de gestante foi feito por mim durante
quatro meses em 2008, as entrevistas foram realizadas juntamente com os assistentes
de pesquisa. As diferenças de gênero da equipe não interferiram na maior ou menor
elaboração dos relatos.
3
4
Brink-Danaan (2010) mostra como os nomes próprios judaicos foram alterados ao longo da história para evitar perseguição. Em outra linha, Copeman (2015)
discute como ateus indianos mudam seus nomes e mesmo sobrenomes relacionados
a castas para nomes neutros ou de castas distintas, como forma de subverter as
fronteiras entre elas.
5
Esta percepção da gestação como etapa inicial da maternidade já aparecia em
gerações mais velhas, como apontou Lo Bianco (1985) na década de 80. De forma
semelhante, a visão do feto como pessoa está presente em formas mais disseminadas
de pensar analisadas por Salem (1997).
Chazan (2007) descreve várias sessões de ultrassonografia nas quais vários
membros da família acompanhavam a gestante, já se relacionando com o bebê como
membro da família.
6
7
Robles (2015), em seu estudo com jovens gestantes em uma maternidade pública em Recife, explica que a falta de nome para os bebês esperados era entendida
pela equipe médica como rejeição à criança.
No estudo de Pina Cabral (2007), as mulheres eram as principais responsáveis
pela escolha do nome da criança.
8
NOMES QUE (DES)CONECTAM
Referências bibliográficas
ABU-LUGHOD, Lila & LUTZ, Catherine.
1990. “Introduction”. In: ___. (orgs.),
Language and the politics of emotion.
Cambridge: Cambridge University
Press. pp. 1-23.
ALMEIDA , Maria Isabel Mendes de.
1987. Maternidade, um destino inevitável? Rio de Janeiro: Campus.
BODENHORN, Barbara & BRUCK, Gabrielle
vom. 2006. “‘Entangled in histories’:
an introduction to the anthropology of
names and naming”. In: ___. (orgs.),
The anthropology of names and naming. Cambridge: Cambridge University
Press. pp. 1-30.
BRINK-DANAN, M. 2010. “Names that
show time: Turkish Jews as ‘strangers’
and the semiotics of reclassification”.
American Anthropologist, 112:384-396.
CARSTEN, Janet. 2000. “Introduction:
cultures of relatedness”. In: J. Carsten
(org.), Cultures of relatedness. Cambridge: Cambridge University Press.
pp. 1-37.
___. 2013. “What kinship does – and how”.
HAU: Journal of Ethnographic Theory,
3(2):245-51.
CARVALHO , André Ricardo Fonseca.
2008. “Aspectos relevantes do nome
civil”. Revista Jus Navingandi. Disponível em: http://jus.com.br/revista/
texto/11782/aspectos-relevantes-do-nome-civil. Acesso em: 14/05/2013.
CHAZAN, Lilian Krakowski. 2007. Meio
quilo de gente: um estudo antropológico sobre ultrassom obstétrico. Rio
de Janeiro: Editora Fiocruz.
COPEMAN, Jacob. 2015. “Secularism’s
names: commitment to confusion and
the pedagogy of the name”. South Asia
Multidisciplinary Academic Journal,
12. Dsponível em: http://samaj.revues.
org/4012. Acesso em 12/11/2015.
DUARTE, Luiz Fernando Dias & GOMES,
Edlaine de Campos. 2008. Três famílias: identidades e trajetórias transgeracionais nas classes populares. Rio
de Janeiro: FGV/Finep/CNPq.
EDWARDS, Jeanette & STRATHERN, Marilyn. 2000. “Including our own”. In: J.
Carsten (org.), Cultures of relatedness.
Cambridge: Cambridge University
Press. pp. 149-166.
FINCH, Janet. 2008. “Naming names:
kinship, individuality and personal
names”. Sociology, 42(4):709-725.
FONSECA, Claudia. 2004. “A certeza que
pariu a dúvida: paternidade e DNA”.
Revista Estudos Feministas, 12(2):
13-34.
HUMPHREY, Caroline. 2006. “On being
named and not named: authority, persons, and their names in Mongolia”.
In: G. Bruck & B. Bodenhorn (orgs.),
The anthropology of names and naming. Cambridge: Cambridge University
Press. pp. 157-176.
ITEANU, André. 2006. “Why the dead do
not bear names: the Orokaiva name
system”. In: G. Bruck & B. Bodenhorn
(orgs.), The anthropology of names
and naming. Cambridge: Cambridge
University Press. pp. 51-72.
LAYNE, Linda. 2006. “‘Your child deserves
a name’: possessive individualism and
the politics of memory in pregnancy
loss”. In: G. Bruck & B. Bodenhorn
(orgs.), The anthropology of names
and naming. Cambridge: Cambridge
University Press. pp. 31-50.
LEBRETON, David. 2009. As paixões ordinárias. Trad. L. Peretti. Petrópolis: Vozes.
LIMA, Antonia Pedroso de. 2007. “Intencionalidade, afecto e distinção: as
escolhas de nomes em famílias de
elite de Lisboa”. In: J. Pina Cabral &
605
606
NOMES QUE (DES)CONECTAM
S. M. Viegas (orgs.), Nomes: gênero,
etnicidade e família. Coimbra: Almedina. pp. 39-61.
LOBIANCO, Anna Carolina. 1985. “A psicologização do feto”. In: S. Figueira
(org.), Cultura da psicanálise. São
Paulo: Brasiliense. pp. 94-115.
LUTZ, Catherine. 1988. Unnatural emotions.
Chicago: University of Chicago Press.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo. 2008. “Os
nomes de família em Portugal: uma
breve perspectiva histórica”. Etnográfica, 12(1):45-58.
MOTTA, Flavia Mattos. 2007. “‘Em nome
do pai e em nome da mãe’: gênero e
significado no estudo dos nomes”. In:
J. Pina Cabral & S. M. Viegas (orgs.),
Nomes: gênero, etnicidade e família.
Coimbra: Almedina. pp. 121-143.
PINA CABRAL, João de. 2007. “Mães, pais e
nomes no baixo sul (Bahia, Brasil)”. In:
J. Pina Cabral & S. M. Viegas (orgs.),
Nomes: gênero, etnicidade e família.
Coimbra: Almedina. pp. 63-88.
___. 2010a. “The truth of personal names”.
Journal of the Royal Anthropological
Institute, 16:297-312.
___. 2010b. “Xará: namesakes in Southern Mozambique and Bahia (Brazil)”.
Ethnos, 75:323-345.
___. 2013. “The core of affects: namer and
named in Bahia (Brazil)”. Journal of
the Royal Anthropological Institute,
19:75-101.
PINA CABRAL, João de & VIEGAS, Susana
de Matos. 2007. “Nomes e ética: uma
introdução ao debate”. In: ___. (orgs.),
Nomes: gênero, etnicidade e família.
Coimbra: Almedina. pp. 13-37.
ORTNER, Sherry. 2006. Anthropology and
social theory: culture, power and the
acting subject. Durham: Duke University Press.
RAGONÉ, Helena. 1997. “Chasing the
blood tie: surrogate mothers, adoptive mothers and fathers”. In: L. Lamphere; H. Ragoné & P. Zavella (orgs.),
Situated lives: gender and culture in
everyday life. London: Routledge.
pp. 110-127.
REZENDE, Claudia Barcellos. 2011. “The
experience of pregnancy: subjectivity
and social relations”. Vibrant, 8:529-549.
___. 2012. “Em torno da ansiedade: subjetividade, mudança e gravidez”.
Interseções, 14(2):438-454.
ROBLES, Alfonsina Faya. 2015. “Regulações do corpo e da parentalidade
durante o pré-natal em mulheres jovens de camadas populares”. Civitas,
15(2):190-213.
ROSALDO, Renato. 1984. “Ilongot naming:
the play of associations”. In: E. Tooker
(org.), In Naming systems: 1980 Proceedings of the American Ethnological
Society. Washington: The American
Ethnological Society. pp. 11-24.
SAHLINS, M. 2011. “What kinship is”
(part one). Journal of the Royal Anthropological Institute, 17:2-19.
SALEM, Tânia. 1995. “O princípio do anonimato na inseminação artificial com
doador (IAD): das tensões entre natureza e cultura”. Physis, 5(1):33-68.
___. 1997. “As novas tecnologias reprodutivas: o estatuto do embrião e a
noção de pessoa”. Mana. Estudos de
Antropologia Social, 3(1):75-94.
___. 2007. O casal grávido: disposições e
dilemas da parceria igualitária. Rio
de Janeiro: Ed. FGV.
SCHNEIDER, David. 1980. American kinship: a cultural account. 2. ed. Chicago: The University of Chicago Press.
VELHO, Gilberto. 1981. Individualismo e
cultura: notas para uma antropologia
da sociedade contemporânea. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar.
___. 1986. Subjetividade e sociedade:
uma experiência de geração. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar.
WAGLEY, Charles. 1971. An introduction to
Brazil. Revised edition. New York and
London: Columbia University Press.
NOMES QUE (DES)CONECTAM
Resumo
Abstract
Este artigo analisa como os sobrenomes
estabelecem e afetam a relacionalidade do
ponto de vista daqueles que nomeiam, no
caso, gestantes de camadas médias do Rio
de Janeiro. Explora, de forma específica,
os processos decisórios das mulheres em
torno da escolha dos sobrenomes para a
criança esperada, na medida em que na
sociedade brasileira uma pessoa tem geralmente sobrenomes das famílias materna
e paterna. A escolha do sobrenome revela
não apenas o estado afetivo dos laços de
parentesco, mas também sua relação com
identidades étnicas e posições sociais particulares. Cria, além disso, continuidade e
descontinuidade entre gerações, uma vez
que estes vínculos são avaliados em termos
do desejo de expô-los ou torná-los obscuros. Assim, a inserção social da criança já
começa a ser feita antes do seu nascimento, revelando também uma condição de
pessoa já em processo de construção e de
articulação com a socialidade.
Palavras-chave Relacionalidade, Nomea­
ção, Pessoa, Gestação, Rio de Janeiro.
This paper analyses the role of surnames
in creating and affecting relatedness,
seen from the perspective of namers, in
this case middle-class pregnant women
in Rio de Janeiro, Brazil. In particular,
it explores women’s decision-making
process regarding which surnames to
pass on to the expected child, given that
in Brazilian society a person usually
has surnames from both maternal and
paternal families. Choosing surnames
reveals not only the affective state of
kinship ties, but also their relation to
particular ethnic identities and social
positions, and creates both continuity
and differentiation between generations. In the selection process, connections are evaluated to be maintained
and displayed or made obscure in the
consciously constructed social insertion
of the unborn child, whose personhood
is already in creation and articulated
to sociality.
Key words Relatedness, Naming, Personhood, Pregnancy, Rio de Janeiro.
607
MANA 21(3): 609-639, 2015 – DOI http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p609
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA
OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER:
CLÁSSICOS E HISTÓRIA NO ENSINO
DE ANTROPOLOGIA NO BRASIL *
Guillermo Vega Sanabria
[...] la Révolution française tel qu’on en parle n’a pas existé.
(Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage).
Se me disserem que é absurdo falar assim de quem nunca existiu, respondo
que também não tenho provas de que Lisboa tenha alguma vez existido, ou eu
que escrevo, ou qualquer cousa onde quer que seja
(José Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis).
Com seu desenvolvimento “totalmente vinculado a instituições públicas,
basicamente às universidades” (Ribeiro & Lima 2004:10), os programas
de pós-graduação têm se tornado referência obrigatória para se conhecer
a antropologia ensinada no Brasil e locus por excelência da reprodução
disciplinar (Corrêa 1995). Nas permanentes reflexões sobre o ensino de
antropologia no país (cf. Godoi & Eckert 2006; Grossi et al. 2006; Tavares
et al. 2010; Trajano Filho & Ribeiro 2004), destaca-se o apelo explícito para
usar o saber antropológico para “entender melhor o que nós [antropólogos]
fazemos” (Correa 2006:106); para efetuar “uma etnografia detalhada e
detalhista na universidade”, uma análise do sistema cultural do qual faz
parte o ensino (Fry 2006:66-67). Conforme Correa, “precisamos saber mais
sobre como se dá o processo de transmissão de nossa disciplina, nos cursos
de graduação e pós-graduação” (2006:109). Esta autora também sugere a
possibilidade de um “roteiro para pensarmos sobre como, no quadro dos programas de pós-graduação — a nova tribo de referência dos antropólogos —
se deram as relações entre as gerações, como se definiram as posições
sociais e como a cultura antropológica foi transmitida” (Correa 1995:73).
No mesmo sentido, Cardoso de Oliveira perguntava:
610
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
[Se] nós mesmos, enquanto antropólogos, membros de uma comunidade intelectual, constituímos uma sorte de “cultura”, cujas origens não estão aqui, em
nosso continente, mas em nossa formação profissional estão presentes, por que
então não tomamos essa “cultura” como objeto privilegiado de nossas indagações? (1997:15; grifos do autor).
Porém, apesar destes apelos explícitos, a lista de pesquisas empíricas sobre
o tema resulta ainda curta. Na literatura sobre a configuração da antropologia no
país — incluindo a questão do ensino — predominam as memórias e os textos
ensaísticos, sustentados em opiniões e vivências pessoais. Precisamente o fato
de esses textos privilegiarem reminiscências e quase sempre resultarem do
compromisso militante dos autores impede tomá-los como única base do estudo
do campo antropológico. Tal como alertaram Latour e Woolgar ao fazerem um
balanço da literatura sobre a ciência e as práticas científicas, é necessário reconhecer que “por mais estimulantes que sejam essas obras, elas não podem remediar a ausência de pesquisa, de observação direta, de contradição” (1997:19).
A partir de uma pesquisa em seis Programas de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA), este artigo explora o vínculo entre a formalização do ensino
através das grades curriculares, a seleção de conteúdos nas disciplinas obrigatórias e a compreensão dos clássicos e o seu lugar no ensino da perspectiva dos
professores.1 O trabalho enfoca o papel atribuído às obras e aos autores tidos
como “clássicos” e as distinções que, no contexto do ensino, os professores entrevistados estabelecem entre “história” e “teoria” antropológica. Parte-se da ideia
de que as características das grades curriculares e o fato de certos autores, textos
e temas serem privilegiados nas disciplinas obrigatórias — enquanto outros são
excluídos ou postergados — exprimem uma hierarquização do conhecimento
antropológico destinado ao ensino neste nível. Essa hierarquização, por sua
vez, remete a um cânone para a formação dos novos antropólogos no Brasil,
mas também a traços idiossincráticos das relações sociais nos cursos de antropologia. Com base na análise qualitativa de grades curriculares e programas
de disciplinas obrigatórias de seis PPGAs, assim como na revisão de arquivos
e entrevistas com 25 professores em quatro dos seis PPGAs iniciais, temas
como as relações interinstitucionais e intergeracionais, a divisão do trabalho e
a reprodução social surgem como questões centrais neste contexto.2
Por falar em “clássicos”
Durante minha incursão nos PPGAs deparei-me com a insistência de alguns
interlocutores sobre a necessidade de que meu trabalho contemplasse as
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
diferenças existentes entre esses programas, especialmente em termos
regionais. Se no início a relevância desta questão não era completamente
evidente para mim, ao longo do trabalho de campo constatei que, com
efeito, em cada local existia um claro interesse em afirmar suas diferenças
em relação aos outros PPGAs. Adverti então que a criação de histórias das
antropologias locais adquiria um papel central no ensino da disciplina, haja
vista, como asseverava um entrevistado, suas “inúmeras particularidades”.
Este fato reforçou minha escolha dos PPGAs do Museu Nacional, UFPE,
UFRGS e USP para o levantamento de informações in situ, na medida em
que afirmar tais diferenças constituía um autêntico leitmotiv a partir do qual
enunciavam-se as que eram consideradas marcas institucionais dos cursos.
Ao refletir sobre o ensino e, em particular, sobre a introdução dos novos
alunos ao conhecimento antropológico, os professores nesses locais também
enfatizavam o papel dos “clássicos”. Assim, nas primeiras tentativas de caracterizar as disciplinas obrigatórias nos PPGAs, defrontei-me com o problema
de definir operacionalmente o que era uma obra ou um autor “clássico”.
Em contraste, o significado deste termo parecia surgir inequivocamente
para os professores entrevistados e, ora referido a autores, ora a obras, ora
a temas, era sintetizado numa expressão por eles usada recorrentemente:
“não dá para falar de antropologia sem falar de...”.
Na prática, qualquer definição de “clássico” pode comportar várias
acepções. Numa linguagem científica e técnica, o termo clássico designa
noções, objetos e experiências tidas como primordiais, no sentido cronológico. Também remete a soluções reconhecidas socialmente como fundamentais e exemplares por uma comunidade de especialistas ou pelo grande
público e, amiúde, conhecidas e usadas extensamente. O termo pode ser
empregado em função de contextos variáveis, de maneira que um autor ou
uma obra podem ser considerados clássicos nos limites de um território, de
uma época, de um campo de conhecimento ou de uma tradição intelectual.
São critérios de tipo cronológico e de consagração, por exemplo, os expressados por Evans-Pritchard ao se referir a The Argonauts of the Western Pacific
(de Malinowski) como uma obra clássica por ser “o primeiro trabalho em seu
gênero” e por seu “considerável mérito” (1964: 93; grifos meus).
A tentativa de definir o que seja clássico pode assumir tanto a perspectiva das propriedades de uma obra ou de um autor como a perspectiva dos
sistemas normativos do grupo social que lhes confere esse estatuto. No primeiro caso, enfocam-se os aspectos formais do objeto e sua função referencial
ou técnica. Estes critérios fizeram carreira na visão moderna da estética e
da literatura denotando temáticas e um conjunto de processos estilísticos.
No segundo caso, aponta-se de maneira privilegiada para a dimensão ética
611
612
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
que subjaz à noção de clássico. Esta dimensão pode ser constatada, sobretudo, nas controvérsias seculares entre representantes da cultura antiga e da
cultura moderna (tipicamente entre “clássicos” e “românticos”) e na contraposição das vanguardas históricas, contexto no qual o ideal de clássico opera
como metáfora de opções éticas e políticas (Fortini 1989). É neste sentido,
aliás, que opera a noção de clássico na oposição que vários entrevistados
nos PPGAs estabeleciam em relação aos autores “pós-modernos”.
A adoção de qualquer critério a partir do qual possa ser definido o termo
“clássico” dificilmente esgota todas as suas possíveis acepções ou garante
a total consistência de sua definição. No entanto, o que me interessa destacar no raciocínio dos professores entrevistados é que a noção de clássico
já emerge como um primeiro divisor dos conhecimentos antropológicos no
ensino. Ela estabelece uma hierarquia entre obras e entre autores pela sua
antiguidade (critério cronológico, a partir do qual o termo pode ser oposto
a “contemporâneo”); seu reconhecimento ou sua consagração num determinado âmbito (critério contextual); e seu uso (critério estatístico). É bem
verdade que existe uma virtual diferença entre, por um lado, o que é proposto
formalmente no ensino — tal como materializado nas grades curriculares
e nos programas das disciplinas — e, por outro lado, o que é efetivamente
ensinado numa sala de aula ou na formação do antropólogo alhures — notadamente através do trabalho de campo e da orientação (cf. Peirano 2006a).
Contudo, essa diferença, que seria análoga à que existe em outros contextos
entre o que é escrito ou dito e o que é feito, não desmerece esta análise.
Proponho que a forma de classificar obras e autores e, em geral, o conhecimento antropológico no ensino institui também uma maneira de identificar
seus portadores, a partir dos valores que tal hierarquia estabelece. É de seu
uso social que, doravante, deriva o interesse na noção de clássico porque,
muito além das definições que porventura possam ser adotadas, é precisamente por meio de seu uso social que se evidencia sua maior consistência.
O sorriso dos mortos
Nas discussões e nos textos nos quais o assunto é proposto explicitamente, é
frequente achar expressões que denotam o papel simbólico que os clássicos
cumprem na configuração da comunidade profissional dos antropólogos e em
sua orientação intelectual. Assim, autores considerados clássicos são chamados
também de “fundadores” (Laraia 2008), “pais fundadores” (Bomeny & Birman 1991:12; Brandão 1997:10-11; Duarte 2006:20, 27; Fonseca 2006a:154;
2006b:219; Motta, A. & Brandão 2004:167; Peirano 2006b:90; Trajano Filho
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
2006:289), “heróis” (Woortmann 2006:185), “heróis fundadores” (Hutzler
1997:50; Laraia 1991:59; Peirano 1995:16; Ribeiro R. & Hutzler 1991:70; Santos
1997:62), “heróis civilizadores” (Cardoso de Oliveira 1997:112), “fundadores
de linhagens” (Brandão 1997:12; Peirano 1995:21), “xamãs” (Fonseca 2006a),
“mestres” (Sanchis 2006:120), “ancestrais” (Fonseca 2006a:154; Peirano
1995:21, 37; 2006:82; Viveiros de Castro 1995:6) e “mentores intelectuais”
(Peirano 1995:148). Consequentemente, a importância atribuída à sua necessária inclusão no ensino pode expressar-se do seguinte modo:
É através da viagem em companhia de nossos pais fundadores, da convivência —
com eles e com nossos contemporâneos — nas ilhas Trobiand e em outros lugares
exóticos, que nossos alunos adquirem uma linguagem comum e, por conseguinte,
uma determinada identidade. Sugere-se que essa herança se assemelha a um
grupo de descendência, uma linhagem que une seus membros em um tipo de
grupo corporado (Fonseca 2006a:154; grifos meus).
Segundo Peirano, “os antropólogos tendem a reconhecer que partilham ancestrais e linhagens comuns, por intermédio dos quais iniciam os
estudantes em qualquer parte do mundo”. O que esta autora nomeia de
“história-teórica” da antropologia estaria referido então a “um elenco de
autores e monografias [que] se transforma, em determinado contexto, numa
linhagem socialmente consagrada da disciplina” (2006b:82, 89; grifos meus
em ambas as citações). É precisamente nesse contexto que se destacam os
apelos para enfatizar a história (“teórica”) no ensino da antropologia e privilegiar os temas, os textos e os autores considerados clássicos (cf. Correa
2006; Duarte 2006; Fonseca 2006a; Peirano 1991, 1995, 1997, 1999, 2004,
2006b; Sanchis 2006; Viveiros de Castro 1995; Woortmann 2006). Lançar
mão dos clássicos no ensino constituiria, como indica uma entrevistada,
uma “tática pedagógica”, mas também é “simplesmente uma profissão de
fé, [do] que reconhecemos como parte de uma tradição que nós prezamos”.
É a partir dessa dupla função didática e sociológica aqui aventada que se
poderia entender o estreito vínculo sugerido pelas colocações acima entre
a ideia de clássico e a de ensino. Ou, em outras palavras, o duplo uso da
noção de clássico em sua acepção referencial (técnica) e em sua acepção
normativa (ética), proposto acima. Daí que termos como “base”, “fundamento”, “tradição” e ainda “verdadeiro” sejam utilizados como sinônimos pelos
professores entrevistados e possam ser intercambiados com flexibilidade no
discurso sobre o ensino dos clássicos.
Uma vez que obras e autores considerados clássicos permitem introduzir os novos alunos no conhecimento geral da antropologia, eles estão no
613
614
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
início e têm um caráter obrigatório, ocupando uma posição privilegiada no
processo de formação dos futuros antropólogos. E sendo que, de acordo com
as caracterizações feitas por uma entrevistada, “os alunos chegam quase semiágrafos, praticamente ágrafos”, disciplinas de cunho histórico e teórico —
enfocando autores e obras clássicas e distintas das disciplinas “de ponta” —
estão presentes para “alfabetizar” ou para “suprir as deficiências de conhecimento teórico” e “situar o aluno para se apropriar de um legado”. Haja vista
que “não adianta pegar um manual sem ver o que foi feito antes”, a leitura
dos autores e dos textos clássicos é assinalada como a melhor maneira para
aprender, porquanto eles portam “a grande teoria antropológica” e porque
“clássico é uma etnografia, com trabalho de campo”. Os textos clássicos serviriam de “corrimão para o aluno, para o pesquisador, o iniciante”, não como
“um conjunto de receitas, [mas como] uma monografia de referência”, como
coloca outro entrevistado. Eles ofereceriam um modelo de escrita inclusive
em termos estilísticos e retóricos, mas, sobretudo, em termos de raciocínio.
Esta é, decerto, uma compreensão generalizada nas reflexões sobre o
ensino de antropologia no Brasil e uma peça central do discurso em torno
da produção da identidade profissional de muitos antropólogos neste contexto. Essa maneira de entender os clássicos e de invocá-los, por um lado,
estabelece de início uma hierarquia entre os objetos do ensino, à medida
que revela a preocupação de distingui-los do conjunto geral de obras e de
autores precisamente porque considerados dignos de serem conservados
pela transmissão escolar (Bourdieu 2003:215). Por outro lado, diz respeito
às relações que os encarregados do ensino estabelecem com esses objetos e
o papel que eles viriam a cumprir na reprodução disciplinar. Aqui como em
outros contextos, mutatis mutandi, o fato de que o completo conhecimento
da história social esteja reservado a certos membros do grupo — geralmente
os mais velhos — e que em qualquer caso eles devam ser autorizados para
desempenhar essa função especializada, sem dúvida estabelece uma assimetria estruturante das relações e uma regra geral na transmissão social do
conhecimento. O estabelecimento destas élites déjà intellectuelles (Mauss
1969:337) encarregadas de preservar e transmitir a tradição revela, pois, um
princípio de organização social em torno do conhecimento passível de ser
passado de geração em geração.
A piedade filial
É precisamente esse princípio de organização social que parece emergir nas
classificações a partir das quais os professores entrevistados se distinguem
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
de outros grupos, atribuem valores diferenciados à sua própria formação e
buscam se associar ou se afastar de certas tradições intelectuais, consideradas
mais ou menos “clássicas”. Por isso, embora se reconheça a importância de
propiciar no ensino um sentido crítico em relação aos clássicos (Cf. Correa
1997; Fonseca 2006a; Peirano 1997; Viveiros de Castro 1995; Woortmann
2006), as colocações a respeito surgem para corroborar a necessidade de sua
plena incorporação. Nesta direção, um entrevistado afirma: “eu não estou
com isso dizendo que esses autores detêm a verdade. Só estou dizendo que
é o nosso mito [e] precisamos nos inserir no mito”.
Os depoimentos dos entrevistados acerca de sua própria experiência
como aprendizes de antropologia permitem apontar dois fatos: 1. As referências às mudanças nas condições de formação pós-graduada no Brasil. Um
entrevistado descreve tais mudanças como uma “toyotização da formação”
para falar do incremento do número de alunos, a redução de prazos e a titulação em série; 2. O fato de que constatar as diferenças entre a formação
das gerações anteriores e a das novas permite aos entrevistados efetuar duas
classificações. Ambas remetem à assimetria estruturante das relações mencionada acima ou, mais precisamente, introduziriam os primeiros elementos
de uma “distância estrutural” a partir da qual se organizam as interações
no contexto do ensino, isto é, “a distância entre grupos de pessoas dentro de
um sistema social, expressa em termos de valores” (Evans-Pritchard 1978:23).
A primeira dessas classificações consiste em distinguir como clássica a
própria formação, independentemente do local e da época em que ela aconteceu, em contraste com outras formações que, deste ponto de vista, seriam
menos clássicas. Um aspecto enfatizado aqui são as condições nas quais a
própria formação teria se desenvolvido, especialmente a respeito da pesquisa
etnográfica. A noção de “clássico” surge então para enfatizar diferenças entre
o modelo de pesquisa das velhas gerações (os atuais professores) e o modelo
das novas (os atuais alunos). A expressão “trabalho de campo clássico” — um
dos traços distintivos de uma formação “clássica”, segundo os entrevistados —
designaria a pesquisa in locus, realizada durante um período mais longo do
possível hoje em dia. Mas, também, trabalho de campo clássico seria aquele
que se ajusta a um modelo de pesquisa emblemático: a la Malinowski. Ao
redor desta ideia criam-se distinções para os indivíduos que tiveram esse
tipo de experiência e, principalmente, para instituições em que isto teria sido
possível. Por exemplo, ao descrever o modelo de pesquisa no qual ele afirma
ter se formado, um entrevistado vê nesse modelo a “revelação” do “gen malinowskiano” que seria característico do local onde ele se formou. Ao mesmo
tempo, ele justifica a histórica exclusão de disciplinas obrigatórias de cunho
metodológico da grade curricular de seu curso indicando:
615
616
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
A ideia é que [uma disciplina de] metodologia é para quem não vai para o campo
e que toda a metodologia é observação participante, ir para o mato, aprender
a língua. Para o mato ou, enfim, o que faça às vezes de mato. O que fazia as
vezes de metodologia era a leitura das etnografias anteriores. Você ia para o
campo porque [o que] tinha como referência era a literatura produzida sobre
o teu campo e, eventualmente, digamos assim, as monografias que você tinha
colocado como modelo do teu trabalho.
A comparação entre as antigas e as atuais condições de formação surge
do pressuposto de que existe uma forma canônica de pesquisa antropológica
ou, nas palavras de uma entrevistada, de uma “etnografia ideal”, que seria “o
convívio mais aprofundado, a presença no local”. Ao referir-se às condições
atuais do trabalho de campo e criticar as restrições impostas pelas agências
financiadoras, os entrevistados reforçam a distinção entre as velhas e as novas gerações de antropólogos, uma vez que, como expressa sinteticamente
a mesma entrevistada, “agora não se tem mais isso. Então os alunos têm
que fazer disciplinas e já têm, de certa forma, que coletar dados. Como não
têm muitas condições de fazer observação [prolongada], acabam fazendo
[apenas] algumas observações e [ficam] muito centrados em entrevistas”.
A segunda classificação feita pelos professores entrevistados é em
relação às instituições onde eles se formaram. Embora a maioria apontasse
diferenças locais quanto a modelos curriculares e culturas institucionais, eles
destacam as semelhanças que os cursos brasileiros tiveram desde o início com
seus homólogos em outros países. Se comparados com os cursos no estrangeiro — nos quais mais da metade dos entrevistados se formou e referidos
como centros “tradicionais” da antropologia — os primeiros cursos nacionais
não teriam deixado nada a desejar. Alguns entrevistados assinalaram que
a formação em antropologia no Brasil “não era tão diferente” da formação
no exterior e, ao contrário, existia uma “familiaridade”, uma “linguagem”
comum. Para esses entrevistados, a semelhança podia ser atribuída ao fato
de alguns acadêmicos estrangeiros, procedentes dos “centros metropolitanos da antropologia”, terem participado na criação dos primeiros cursos de
pós-graduação no país, mas também ao “caráter internacional” com que
esses cursos foram concebidos desde o início. O interessante aqui é que,
independentemente dos traços comuns ou das diferenças que por ventura
existissem, as semelhanças com os centros de formação “metropolitana”,
“tradicional”, são enfatizadas, enquanto as diferenças são pouco explanadas.3
Porém, ao mesmo tempo em que serve para aproximar cursos nacionais
e estrangeiros, invocar a tradição serve também para enunciar distinções
entre os PPGAs nacionais. E, inclusive, para salientar diferenças entre as
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
primeiras e as mais recentes gerações de professores dentro de um mesmo
PPGA. Os entrevistados que se referiam à história da institucionalização
da antropologia no Brasil identificavam o predomínio inicial da chamada
“antropologia cultural”, “boasiana” ou “americana”, associada em todos os
locais onde foram entrevistados professores às gerações mais velhas nos
“primórdios” dos cursos (cf. também Corrêa 1995; Hutzler 1997; Motta R.
1997; Rubim 1996). O deslocamento dessa antropologia para uma “antropologia social” de cunho “franco-britânico” justificaria, de acordo com um
entrevistado, a mudança da expressão “antropologia cultural”, adotada
anteriormente no nome de um curso. Segundo esse entrevistado, “talvez os
[professores] velhos sejam mais culturais”. Todavia, a mudança do antigo
nome não conduziu à adoção da expressão mais frequente “antropologia
social” na nova denominação. Isto porque, segundo o entrevistado, um dos
traços distintivos do seu programa é a “diversidade de formações” de seus
professores. Referia-se assim ao fato concreto de os professores desse programa terem se doutorado em locais associados a diversas tradições intelectuais,
no estrangeiro e no Brasil. Para ele, diante dessa diversidade, não poderia
se afirmar a existência de uma “linha única”, isto é, de uma “corrente” de
pensamento característica do curso em que atua.
Em suma, o que interessa destacar nestas classificações alicerçadas na
noção de clássico é, por um lado, seu papel de grande divisor entre velhas e
novas gerações e, por outro, como forma de distinção institucional dos PPGAs.
Quando invocada pelos entrevistados para caracterizar sua formação, a noção de clássico diz respeito às qualidades de uma experiência que pareceria
cada vez mais longínqua e os diferenciaria das gerações atuais. Referindo-se
à origem e à consolidação dos cursos, cada um reivindica a pertença a uma
“tradição”, aproximando os cursos nacionais dos centros acadêmicos de antropologia na Europa e nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, cada um
afirma a especificidade de seu curso no contexto nacional, considerando-o
possuidor de um estilo de formação que se ajustaria aos padrões ditos clássicos.
Considerando as relações sociais nas quais se invoca “o clássico”,
tal noção remete ao passado e orienta os esforços de quem a invoca para
conservar os valores dos quais esta noção seria portadora. Daí que mesmo
sendo possível introduzir eventuais mudanças nas disciplinas que objetivam
o ensino dos “clássicos”, como reconhece um entrevistado, “a possibilidade
de inovar não é absoluta”. Em todo caso, é preciso “seguir, digamos assim,
a voz corrente, quase o senso comum da disciplina”. Reforçadas as escolhas
individuais (dos professores) pelo “senso comum da disciplina”, enfatizam-se
então no ensino as cronologias e as filiações com os antigos, seleciona-se e
remete-se constantemente ao cânone dos autores, das obras, do método e
617
618
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
das tradições intelectuais que ao longo do tempo seriam dignos de favor e
de serem conservados porque considerados como excelentes. Isto, decerto,
é funcional do ponto de vista do ensino e da socialização mais ampla.
Em primeiro lugar, porque orienta a seleção e a organização dos conteúdos
passíveis de serem transmitidos. Em segundo lugar, porque estabelece a
preeminência dos mais velhos sobre os mais novos, mas também garante a
reprodução do sistema, uma vez que os mais novos, identificando-se com os
mais velhos, buscam se inserir nessa tradição e participar de seus valores.
Olhando através das grades
A formação pós-graduada em antropologia no Brasil concretiza-se nas grades curriculares dos cursos em duas grandes classes de disciplinas: 1. as
obrigatórias e 2. as “eletivas”, “optativas” ou “opcionais”. Por seu caráter
compulsório, as disciplinas obrigatórias são comuns a todos os estudantes
(mestrandos e doutorandos). Em geral, elas visam prover os alunos com uma
linguagem conceitual básica e introduzi-los no conhecimento antropológico
geral. O grupo das “eletivas”, “optativas” ou “opcionais” objetiva a formação
em áreas especializadas e possibilita a inserção dos alunos em subcampos
e temas específicos. Considerando seus propósitos globais, explícitos nos
regimentos dos PPGAs e nas ementas das disciplinas, é possível identificar,
por sua vez, dois grandes grupos de disciplinas obrigatórias: um apontando
para uma formação conceitual e outro, para uma formação metodológica.
No grupo das disciplinas conceituais podem distinguir-se ainda disciplinas
de cunho explicitamente “histórico” e outras de cunho explicitamente “teórico”. Como nem todos os PPGAs incluem disciplinas de cunho metodológico
na grade curricular obrigatória, as disciplinas de cunho histórico e teórico
constituem o mínimo comum do ensino nos seis PPGAs pesquisados.
A relação entre história, teoria e método tem sido objeto de reflexões,
notadamente a partir do que Peirano (1995, 1997, 2004, 2006b) denomina
de “história teórica” da antropologia. A este respeito a autora aponta:
Escolho a expressão história-teórica para designar um elenco de autores e monografias [que] se transforma, em determinado contexto, em uma linhagem socialmente consagrada da disciplina. Isto é, a história teórica pode assumir formas
variadas, mas sua presença constante é elemento essencial da cosmovisão dos
antropólogos. Empiricamente, ela se traduz como uma reinvenção disciplinar,
resultado do encontro entre teoria acumulada e dados etnográficos novos que são
vistos, pelos antropólogos-praticantes, como a história teoricamente significativa.
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
A centralidade da história teórica pode ser observada em várias circunstâncias da
vida acadêmica: na bibliografia citada pelo autor de um artigo, nas referências
implícitas a uma determinada conferência, nos mentores intelectuais de um
antropólogo em particular. Como criação cultural, a história teórica da disciplina
seleciona, ou “pinça”, um certo tema, abordagem ou autor como significativos
em determinado momento. Trata-se de um fenômeno que, tal como na visão
clássica de Marcel Mauss a respeito da magia, legitima uma dada vertente
dentro do panteão de antecessores disciplinares (1995:36; grifos da autora).
Os professores entrevistados nos PPGAs pareciam compartilhar uma visão
similar, reconhecendo a existência de uma relação basilar e indissociável entre
história, teoria e método. Conforme seus depoimentos, esta relação basilar e
indissociável estaria na origem das escolhas tanto da construção das grades
curriculares dos cursos quanto dos programas das disciplinas por eles ministradas. Contudo, ao menos do ponto de vista de sua organização formal nas
grades e nos programas, tais noções surgem menos integradas e, ao contrário,
claramente diferenciadas para efeitos do ensino. Isto vale inclusive nos cursos
que não contam em suas grades com disciplinas de cunho explicitamente histórico (Museu Nacional, UFRGS) e metodológico (Museu Nacional, UnB) no
grupo das obrigatórias. Distinções deste tipo são reforçadas pelas hierarquias
que, paulatinamente, os entrevistados estabeleciam entre disciplinas e a partir
das quais outorgavam preeminência à “teoria” sobre a “história” e à formação
no “método” antes de qualquer “pretensão teorizante”.4
Para além das circunstâncias institucionais e das motivações didáticas
que originaram a grade curricular de cada PPGA, as explanações que os
entrevistados ofereciam sobre essas hierarquias entre disciplinas remetem,
afinal, a outras classificações, desta vez no âmbito das relações sociais mais
amplas dentro e entre os PPGAs. Ao se referir à inclusão de uma disciplina
obrigatória metodológica na grade de seu curso, um entrevistado afirma
categoricamente que a antropologia não se caracteriza por uma teoria específica, mas por um modo de fazer, isto é, por seu método. Segundo o entrevistado, esta tem sido a marca distintiva da antropologia desde o surgimento
da “antropologia britânica”, a partir da qual se originou uma “tradição de
pesquisa de campo” que se opôs em seu momento, por exemplo, “à abstração marxista”. Nesse sentido, a preeminência do método em antropologia
decorreria da “necessidade de fazer pesquisa”, antes de “teorizar”. Embora
uma afirmação como esta encontre seu avesso nas críticas de uma entrevistada ao afirmar que uma disciplina não pode ser definida “simplesmente
pelo método”, é possível que seja a importância atribuída à etnografia que
sustente um critério assinalado amiúde pela literatura sobre o ensino de
619
620
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
antropologia e pelos entrevistados ao tratar da montagem das disciplinas
obrigatórias. Tal critério consistiria em privilegiar na bibliografia a inclusão
de “etnografias em si”, e não só (ou nem tanto) textos de historiadores da
antropologia e comentadores.
Em contraste com a ênfase no “método”, outra entrevistada distingue
disciplinas “pesadamente teóricas” das “práticas”, enquanto realça a “tradição teórica muito forte” de sua universidade. Nessa mesma direção, quando
interrogado sobre a ausência na grade curricular de uma disciplina obrigatória que aborde explicitamente a “história” da antropologia, um entrevistado
vê nisso o “viés teorizante” de seu PPGA. Este “viés teorizante” significa, em
suas palavras, não serem “repetidores”, mas “produtores de teoria”. Mesmo
relativizando a seguir essa afirmação, o entrevistado pode asseverar assim
que “nós estamos aqui em pé de igualdade com o centro internacional”.
É em relação às disciplinas “históricas” que esta valorização das disciplinas
“teóricas” parece mais reforçada. Nas palavras de uma entrevistada:
Se você fosse [ministrar] história da antropologia, é outro curso [porque]
você vai privilegiar uma outra bibliografia. Este não é o objetivo de [nome da
disciplina “teórica”]. Quer dizer, se você observar os programas, há uma preocupação de contextualização histórica, mas não em ter a história como objeto.
É completamente diferente. Eu não sei como são os outros cursos, mas eu acho
que é pertinente que a gente chame de teoria porque de fato é teoria e não é
história. Eu dou disciplinas na área de história da antropologia. São disciplinas
completamente diferentes. O objetivo não é transformar o aluno num repetidor,
mas fornecer a ele instrumentos para compreender a problemática dos diferentes autores que marcaram a disciplina. E também tentar fazê-los compreender
porque é que determinados autores se tornaram referência e outros não. Mas
aí isso já entra no domínio da história da antropologia...
Outra entrevistada reconhece que, embora duas disciplinas obrigatórias
de seu PPGA sejam chamadas de “Teoria Antropológica”, nelas interessa
também introduzir uma abordagem histórica. Todavia, enfatiza que não se
trata “simplesmente de história da antropologia”, mas “história das teorias
antropológicas” porque “essa parte está junto”. Nessa mesma direção, outra
entrevistada declara seu interesse na história afirmando que, ao ministrar
uma disciplina obrigatória de cunho teórico, buscou “trabalhar a antropologia historicamente, fazer uma história das ideias”. Porém, imediatamente
esclarece que não se trata “simplesmente [de] resumir as ideias ou organizar
elas em temas lógicos ou filosoficamente. [O programa da disciplina] está
tentando trabalhar a história da ciência...”. Enfim, justificando a inclusão
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
da “história” da antropologia nas disciplinas obrigatórias e a denominação
de uma disciplina usando a expressão “história”, um entrevistado em outro
curso indica que “é para insistir que as teorias estão contextualizadas dentre as histórias”, uma vez que, a seu ver, não é possível “trabalhar elas [as
teorias] a partir de uma visão epistemológica árida, na qual elas têm uma
realidade fora dos contextos históricos em que aparecem”. Note-se contudo
que, caso sejam colocadas “juntas”, isto não significa necessariamente que
seja atribuído o mesmo estatuto à “história” e à “teoria”. Muito pelo contrário.
Ora incluída para amenizar no ensino a apresentação de visões epistemológicas “áridas” e para introduzir os alunos na “problemática dos diferentes
autores que marcaram a disciplina”, ora excluída em nome do “viés teorizante” e da tradição “pesadamente teórica” atribuída a certos cursos e
instituições, o lugar da “história” é sempre subsidiário, complementar; ela
é vista apenas como pano de fundo das teorias. Uma entrevistada, de fato,
concede valor à “história” para o ensino na graduação mais do que na pós-graduação, sendo esta última o lugar por excelência da “teoria”.
História e teoria antropológicas na “linha do tempo”
Apesar de certa contundência com que os professores entrevistados distinguem
a “teoria” da “história”, tal divisão não se sustenta na análise dos programas
das disciplinas obrigatórias. Isto parece especialmente evidente a propósito
das diferenças aventadas tão insistentemente entre as disciplinas de cunho
histórico e as de cunho teórico. Independente do nome oficial das disciplinas,
de seus objetivos explícitos e do local de ensino, ao menos dois fatos permitem
constatar que tais diferenças inexistem: 1. A seleção dos conteúdos que, como
se verá adiante, são substantivamente os mesmos, assim como sua organização,
que segue a mesma sequência; 2. As tendências para a inclusão e o predomínio
de certos autores nos programas, que são sistematicamente as mesmas. Dito
de outro modo, é possível considerar as disciplinas “históricas” e “teóricas”
numa única classe porque seus conteúdos e sua organização são formalmente
equivalentes, independendo da maneira como tais disciplinas são nomeadas,
de seus objetivos explícitos e do local de ensino. Ao comparar os programas
das disciplinas de cunho histórico e teórico, assim como os regimentos dos seis
PPGAs, vê-se que elas se ajustam a um esquema geral, a partir de um objetivo
comum que pode ser enunciado sinteticamente assim: introduzir os alunos no
conhecimento da antropologia através do estudo de autores e tradições intelectuais nacionais, de obras e de problemas e teorias (os clássicos), considerando
a história do campo e o contexto em que ele se desenvolveu.
621
622
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
A análise neste nível, além de identificar os autores que, pela sua
recorrência, configurariam um certo cânone (cf. Vega Sanabria 2005), sugere um fato tão ou mais revelador quanto este: a possibilidade de reunir
em três categorias relacionadas disciplinas consideradas pelos professores
entrevistados como de natureza e propósitos diferentes.5 Cada uma dessas
categorias corresponderia a um “núcleo consensual” no que se refere ao
cânone de autores e obras, em virtude dos propósitos das disciplinas nelas
reunidas. Estas classes correspondem, no contexto da pesquisa, ao que denominei núcleos consensuais de primeiro, de segundo e de terceiro níveis,
precisamente tendo em vista a natureza das disciplinas envolvidas em cada
caso. Um núcleo consensual de quarto nível poderia ser ainda incluído, se
consideradas as disciplinas optativas.
A organização piramidal destes quatro núcleos no Gráfico 1 denota
sobretudo a antecedência temporal e uma relação instrumental no contexto do ensino. O fato de um núcleo consensual ocupar no gráfico uma
posição inferior em relação a outro não informa necessariamente sobre o
valor atribuído nos PPGAs ao conjunto das disciplinas que compõem tal
núcleo, mas que, do ponto de vista “nativo”, sem ele não seria possível
existir o seguinte núcleo. Ademais, a pirâmide representa graficamente a
classificação que distingue, nos PPGAs, disciplinas “básicas” (os dois ou
três primeiros núcleos, dependendo do PPGA) e disciplinas “de ponta”,
isto é, as optativas. Estas últimas, como descritas pelos entrevistados, não
estão propriamente tão preocupadas em enfatizar a tradição e em propiciar
uma formação básica dos alunos, mas apontam para o estudo de “coisas
novas, literatura recente”.
A continuidade programática que se estabelece nos cursos entre as
disciplinas do núcleo consensual de primeiro nível e as de segundo configura, de acordo com a descrição de um entrevistado, “uma linha clássica”,
“fundadora do campo disciplinar”. Essa sequência e suas duas grandes
divisões são descritas, assim, sinteticamente por outra entrevistada:
[...] TAI [Teoria Antropológica I] e TAII [Teoria Antropológica II] foram produtos
de uma discussão, de uma negociação. A ideia era que a gente tinha que dar
um panorama das antropologias, da antropologia desde seu início. Então, a
gente concebeu, um pouco cronologicamente, alguma coisa que fosse até os
anos 50 para TAI, e dos anos 50 para cá, no caso de TAII. Claro, isso depende
de professor para professor, porque às vezes o professor de TAI vai até os anos
60, depende um pouco. Mas a ideia era dar um panorama da antropologia, sem
necessariamente um viés histórico, embora haja um viés cronológico, porque
TAI pega o início e TAII pega um período mais recente.
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
Gráfico 1 – Um modelo da configuração do cânone de autores e
obras em seis Programas de Pós-graduação em Antropologia no Brasil
Nível Consensual de Quarto Nível
Disciplinas optativas
Nível Consensual de Terceiro Nível (Metodológico)
Seminário de Projeto
Seminário de Doutorado
Seminário de História e Teoria
Métodos e Técnicas de Pesquisa Antropológica
Métodos e Técnicas de Pesquisa Antropológica I e II
USP
UFRGS
UFPE
UFPE, UFRGS
UFSC
Nível Consensual de Segundo Nível (Histórico-Teórico)
História e Teoria Antropológica II
Seminário Avançado em Teoria I e II
Teoria Antropológica I e II
Teoria Antropológica II
Teorias Antropológicas Modernas
UFPE
UnB
UFSC
MN, UFRGS, UFSC
USP
Nível Consensual de Primeiro Nível (Histórico-Teórico)
História da Antropologia
História da Antropologia: Autores Clássicos I e II
História e Teoria Antropológica I
Teoria Antropológica I
Teorias Antropológicas Clássicas
UFSC
UnB
UFPE
MN, UFRGS
USP
623
624
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
Quando interrogados sobre a origem dessa classificação, alguns entrevistados respondiam de modo categórico: “essa divisão sempre existiu”.
Curiosamente, sua compreensão parecia não reconhecer “nenhuma grande
lógica”, “nenhuma razão teórica” nessas divisões, mas “simplesmente soluções em grande parte de bom senso, empíricas”, ou uma “razão prática”.
Alguns entrevistados, aliás, mostraram-se inconformados em face do “viés
cronológico” citado acima, afirmando que na organização das disciplinas
“outras abordagens são possíveis”. Porém, como revelariam as análises posteriores, a possibilidade de identificar o que poderia ser proposto como um
cânone de autores no ensino dependeria justamente das divisões temporais
que se estabelecem na sequência dos conteúdos nas disciplinas obrigatórias.
Essas divisões temporais também estariam atreladas a outras formas de
classificação, notadamente as que derivam do forte contraste que é feito no
ensino entre noções como “clássico” e “contemporâneo”, ou entre “história”
e “teoria”, tal como é representado na sequência no Gráfico 2.
Gráfico 2 – Um esquema da organização dos conteúdos nas disciplinas obrigatórias de
cunho histórico e teórico em seis Programas de Pós-graduação em Antropologia no Brasil*
Nível consensual de Primeiro nível
Clássico
Nível consensual de Segundo nível
Contemporâneo
Evolucionismo
Culturalismo
(Vitoriano)
Norte-americano
Rivers
Boas
Malinowski, Radcliffe-Brown
Durkheim
Morgan
M. Mead
Evan-Pritchard, Fortes
Mauss
Tylor Frazer
Benedict
Firth
Lévi-Bruhl
Douglas
Dumont
Antropologia Social Britânica
Escola Sociológica
Estruturalismo
Hermenêutica
Antropologia
Pós-moderna
Francesa
Lévi-Strauss
Geertz
Marcus
Rabinow
Gluckman
Final do século XIX – Início do século XX
1950–1960
Hoje
* Embora aqui não se incluam as percentagens, os autores em cada quadro correspondem,
nessa ordem, aos autores de cada “escola” mais citados nos programas de disciplinas,
conforme o levantamento estatístico realizado.
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
As disciplinas do núcleo consensual de segundo nível, via de regra, “começam com Lévi-Strauss e se abrem para os autores mais contemporâneos”,
abarcando aproximadamente o período entre o final da década de 1960 ou
início da de 1970 até a atualidade. Em outros termos, compreendem a “fase
pós-clássica” da antropologia, como é denominado esse período num programa de disciplina. A comparação entre as disciplinas destas duas classes
permite a alguns entrevistados advertir sobre a possibilidade de introduzir
maiores ou menores modificações, dependendo do tipo de disciplina a ser
ministrada. O depoimento de um entrevistado é particularmente interessante neste sentido, uma vez que, após mais de 30 anos num PPGA, nunca
ministrou a disciplina do primeiro núcleo, enquanto o fez muitas vezes a
do segundo, precisamente porque esta disciplina estaria mais próxima de
seus interesses temáticos. O entrevistado chama a atenção para um certo
“conservadorismo” das disciplinas do núcleo de primeiro nível, em virtude
das poucas possibilidades de modificação dos conteúdos e, conforme sua
própria expressão, a relação “reificante” que tende a se estabelecer com os
autores considerados “clássicos” nesse nível.
Eu acho que essa ideia de TAI também corre um certo risco de reificar determinado panteão de autores e os chamados clássicos. Eu acho que às vezes fica
um pouco conservador. Eu não sou totalmente contra, mas acho que precisava
botar um pouquinho de pimenta às vezes. Eu acho que a gente tem uma certa
resistência a incorporar as novidades, o que até certo ponto é salutar, porque
há muitas modas que passam e realmente não deixam muita coisa de bom. Mas
eu acho que, de qualquer maneira, é muito importante na formação de nossos
alunos que eles tenham também essa abertura para o que está acontecendo de
mais recente, para as novas tendências do campo. TAI tem uma certa tendência
conservadora. O que é bom e mau ao mesmo tempo.
O ensino das disciplinas do primeiro núcleo às vezes pode ser considerado “mais fácil” precisamente porque haveria uma “receita”, uma vez que
“a própria comunidade antropológica [já] sabe os autores pelos quais você
vai passar”. As disciplinas do segundo núcleo ofereceriam possibilidades de
explorar uma pauta mais ampla, em razão das preferências dos professores
responsáveis. Assim, amiúde, elas são orientadas tematicamente, podendo
até incluir títulos (o que não acontece com as disciplinas do primeiro núcleo).
No PPGA da UnB, por exemplo, os conteúdos do “Seminário Avançado em Teoria” (I e II) articularam-se no início dos anos 2000 em torno de temáticas gerais
como “cultura e poder”, “antropologias mundiais”, “racionalismo, relativismo
e conflito de interpretações” e “noções de corpo e pessoa”, em contraste com
625
626
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
os conteúdos mais genéricos da disciplina “História da Antropologia: Autores
Clássicos” (I e II). Na UFSC, disciplinas como “Teoria Antropológica” (I e II)
foram organizadas tomando como eixos temáticos o “binômio cultura/natureza”
ou “cultura/sistema cultural” e “sociedade/sistema social” e as conexões entre
conceitos como “cultura”, “contato” e “poder-política”, em contraste com a
abordagem também mais “genérica” da disciplina “História da Antropologia”.
Todavia, segundo alguns entrevistados, se a possibilidade de inovar
é mínima nas disciplinas do primeiro núcleo consensual, nas do segundo
ela “não é absoluta”. E se antes da adoção das atuais grades curriculares
a organização das disciplinas “ficava dependendo muito do professor ”,
atualmente existe “um acordo geral” sobre a necessidade de um “mínimo
modelo”. Afinal, há uma “grade mínima”, embora “às vezes haja alguns professores que escapam um pouquinho” da sequência estabelecida para uma
disciplina do segundo núcleo — precisamente porque ela seria “um pouco
mais flexível”. Por isso, mesmo reconhecendo que “existe um elemento de
subjetividade e de preferência pessoal” na montagem de uma disciplina do
segundo núcleo, um entrevistado adverte: “certamente, no meu curso, não
estou dando só aquilo de que gosto, mas aquilo que eu sinto obrigação realmente de comunicar aos alunos”. Ele é enfático afirmando que é necessário
“seguir, digamos assim, a voz corrente, quase o senso comum da disciplina”.
Uma entrevistada acrescenta ainda que existe, de fato, um “acordo implícito”
acerca do que “deve ser” a sequência das disciplinas dos dois primeiros
níveis e, a seu ver, “os colegas se conformam a esse acordo implícito”.
Além das balizas estabelecidas pelas grades curriculares assim formalizadas e, segundo sugere essa entrevistada, pelos controles sociais que se exercem
sobre elas, uma outra situação também parece contribuir no estabelecimento
e na continuidade do modelo curricular como um todo. Tal situação concerne
a um traço da configuração acadêmico-institucional dos PPGAs no Brasil e,
decerto, também às condições financeiras que pautam seu desenvolvimento.
Ela é descrita sinteticamente por um entrevistado nos seguintes termos:
Uma coisa que me chama a atenção nesses cursos introdutórios nossos é que
eles pretendem dar um panorama geral da antropologia, mas, na verdade,
nós só conseguimos realizar isso parcialmente, porque a antropologia que
nós praticamos na nossa instituição não inclui todas as linhas da antropologia
contemporânea. Esse é um lado da antropologia que nós não praticamos, ou
seja, primeiro há uma tendência institucional, [pois] acho que nosso gosto pela
diversidade também não é tão grande assim, é um pouco mais limitado. E, segundo, também há dificuldades financeiras. Não temos nem condições de ter
tudo isso aqui. Antes já tivemos mais do que hoje...
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
Duas ideias podem ser aventadas, enfim, a propósito desta descrição.
Primeiro, a existência no ensino de um cânone operacional, sim, mas de
alguma forma incompleto. Segundo, a antropologia que se ensina reproduziria, ao menos nos aspectos supracitados, a antropologia que se faz, mas
também refletiria aquela que não se faz em cada instituição.
A antropologia historicizada ou os índios de Fenimore Cooper
As distinções entre clássico e contemporâneo e entre história, teoria e método até aqui expostas de nenhum modo postulam diferenças ontológicas
entre as categorias nativas que estes termos expressam, isto é, os juízos de
relação entre estes termos não se enunciam aqui como atributos dos objetos
que eles representam (Lévi-Strauss 1998:108). Mas tendo em vista o forte
contraste que em geral os entrevistados estabelecem entre eles, tais termos
servem como balizas para descrever as atitudes subjetivas que parecem
permear algumas de suas posturas em relação ao ensino. Parafraseando
Lévi-Strauss, “clássico”, “contemporâneo”, “história”, “teoria” e “método”
não são, pois, nunca o clássico, o contemporâneo, a história, a teoria ou o
método, mas o clássico para, o contemporâneo para, a história para, a teoria
para, o método para... (1962:307).
Se, como foi sugerido antes, a diferença entre “história” e “teoria” antropológicas não parece se sustentar objetivamente no ensino, como entender
as insistentes distinções que os professores entrevistados fazem entre elas?
E se na formalização do ensino elas não se distinguem, será que nesse
contexto a história da antropologia se torna (equivocadamente) teoria antropológica, como adverte Peirano (2004:103-104) a propósito do tratamento
dado no Brasil ao trabalho de um historiador da antropologia como Stocking?
Ou, ao contrário e apesar dos esforços para ir além de uma “simples” abordagem “histórica”, será que as tentativas para ensinar “teoria” antropológica
ficariam apenas no patamar da “história” da antropologia? Eis aqui o que
seria um paradoxo no tratamento nativo desta questão: ao mesmo tempo em
que se supervalorizam as diferenças entre “história” e “teoria”, na organização do ensino a “teoria” parece virar “história” ou a “história” virar “teoria”.
Na base desse paradoxo estariam, por um lado, a maneira de hierarquizar
o conhecimento antropológico que valoriza a “teoria” em detrimento da
“história”. Por outro lado, o fato simultâneo de que o ensino seja orientado,
segundo o modelo predominante, para a reconstrução de uma história disciplinar centrada na sucessão cronológica e geográfica de indivíduos (os
autores “clássicos”) e das chamadas “tradições antropológicas nacionais”.
627
628
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
Alguns programas, de fato, problematizam em suas ementas e introduções esse modelo, quando adotado na respectiva disciplina. Eles advertem explicitamente sobre sua “precariedade” e exortam para não “conferir
excessiva importância a esse tipo de recorte” porque ele seria “meramente
indicativo”. O recorte deveria ser entendido “mais em função de necessidades didáticas do que de considerações de natureza mais substantivas”;
o que em realidade se buscaria seria “uma reflexão sobre modelos analíticos” e não “um roteiro para uma história da antropologia”. Esses programas
também lamentam que a bibliografia selecionada “deixe de lado” autores,
textos e “outras importantes tradições”, e chamam a atenção para o fato de
que “alguns recortes consagrados (como a divisão em ‘três grandes tradições
metropolitanas’) [França, Grã Bretanha e Estados Unidos] parecem sofrer
contestação quanto a seu poder de dar conta do(s) sentido(s) do conjunto
da produção da disciplina”.
O esquema geral por meio do qual são dispostos os conteúdos das
disciplinas obrigatórias desdobra-se, em todo caso, numa seleção paradigmática que expressaria uma forma particular de historicizar o próprio campo
antropológico. A maneira como opera essa forma de historicizar a antropologia no ensino pode ser entendida como um processo de sobrecodificação,
isto é, uma operação cognitiva por meio da qual se esmagam oposições
internas de cada “tradição” — pois o que se sobrecodifica são precisamente
suas diferenças — e se gera uma espécie de plasticidade que permite ao
grupo social situar-se em um plano de abstração onde distingue “nós” de
“os outros” (Goldman & Lima 1999:89-90). Pense-se aqui, por exemplo, na
maneira como se apela no ensino para os autores “clássicos” e se entendem
as relações entre antropólogos a partir da criação de “linhagens” intelectuais,
invocando vínculos com certas “tradições nacionais” e com “pais fundadores”, “ancestrais” comuns de uma linha de “descendência”.
Peirano (1995:10-11) e Corrêa (1997:84), por exemplo, assinalam o duplo
caráter de vínculo acadêmico e mítico deste tipo de filiações − Peirano usa
a expressão “panteão teórico-cosmológico” de autores. Sendo que história
disciplinar e vínculos entre gerações parecem desdobrar-se enquanto extensão social das ações desses pais fundadores, o caráter mítico atribuído às
filiações também pode ser visto como se exprimisse uma concepção nativa
da história ou, nos termos de Wilhelm Mühlmann, uma “teoria histórica”
indígena (apud Schaden 1989). Mas ao mesmo tempo em que a compreensão
mítica das relações expressa essa teoria nativa da história, a “história” como
é apresentada no ensino contribui — num movimento inverso — para a produção da mitologia nativa precisamente porque permite a socialização dos
jovens com a tradição dos “ancestrais” e a reprodução das ditas “linhagens”
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
(antropológicas). Deste modo, a história mítica permite tanto explanar as
origens do grupo quanto justificar os vínculos sociais, porque, como coloca
Corrêa ao recuperar a história das “linhagens femininas” em antropologia:
“a reivindicação dessas predecessoras independe, de certo modo, do que quer
que elas tenham feito: sua reinscrição (agora qualificada) no corpo canônico
da disciplina expressa muito mais a nossa necessidade contemporânea do
que retrata as suas trajetórias profissionais [...]” (1997:92).
Essa teoria histórica talvez encontre no contexto local sua formulação
discursiva mais elaborada na ideia de “história teórica” proposta por Peirano (1995, 1997, 2004, 2006b). Para ela, o estudo dos autores (brasileiros e
estrangeiros, clássicos e contemporâneos) surge como “condição indispensável para localizar o ponto de partida disciplinar como um todo e o contexto
particular de fala”, uma vez que “o novo se constrói sobre os ombros dos
antecessores” (1995:11-12). Os clássicos tornar-se-iam, assim, “criações sociologicamente necessárias e teoricamente indispensáveis”. Segue-se daí a
necessidade de um “diálogo” permanente entre os problemas e os métodos
atuais e aqueles propostos pelos “fundadores da disciplina”. Expressas as
reservas perante o estabelecimento de uma mera história ou de uma mera
historiografia da antropologia, Peirano sugere que na abordagem do desenvolvimento da disciplina a “teoria antropológica é teoria-e-história da
antropologia, da mesma forma que é teoria-e-etnografia” (1997:20).
Contudo, apesar dos alertas em relação à historiografia e de que, como
dito acima, outras abordagens são possíveis no ensino, a explicitação de tais
reservas contrasta fortemente com o predomínio de uma forma de história
heroica nos programas das disciplinas obrigatórias. De fato, exprimir tais
reservas não necessariamente conduz a que, inclusive nos programas de
disciplinas nos quais isto é feito, sejam seguidas outras formas de historicizar
a antropologia. Mesmo quando, como exposto num desses programas, se
pretende analisar as “condições de produção do conhecimento”, o “contexto
objetivo e subjetivo do debate e dos indivíduos que estão se inserindo nesse
debate; todo o capital social, cultural, que esses indivíduos trazem [...] e que
acionam no momento de produção do conhecimento”, o contexto parece
surgir apenas como “pano de fundo”, isto é, apenas para explicar as obras
de indivíduos excepcionais (Braudel 1974).
Nessa forma de historização que origina a sequência dos conteúdos
nas disciplinas obrigatórias observam-se também os traços de uma concepção linear do tempo e, logo, sua segmentação em unidades discretas sob
a forma de “tradições antropológicas nacionais”. A singularidade desse
tempo objeto da vivência de seres humanos, distinto do tempo como objeto
científico (Jaguaribe 2003; Oliveira 2003), precisamente por sua natureza
629
630
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
subjetiva, torna-se evidente se comparada com noções de tempo e de história
em outros campos disciplinares. Por exemplo, um entrevistado formado primeiro numa área distinta à das ciências sociais, recorda seu estranhamento
inicial, quando era doutorando em antropologia, diante da antiguidade dos
textos usados no ensino. O entrevistado relembra que o livro mais antigo,
considerado “clássico” na área da qual ele provinha, tinha apenas 12 anos
de publicado. Diante disso, ele acrescenta:
Imagina sair de uma disciplina como essa e cair numa outra, sendo os textos de
início do século sobre troca de braceletes e colares. [Eu me perguntava:] esse
texto tem quantos anos? Tem 60! Como é que vou ler um texto de 60 anos, isso
não tem cabimento! Um texto sobre totemismo com 80!... A primeira descoberta
que eu fiz é que a antropologia tinha uma outra velocidade. Você não julgava
um texto pela antiguidade. O Ensaio sobre o dom, o Ensaio sobre a dádiva [de
Marcel Mauss], era um desses textos. Também tinha A ética protestante [de Max
Weber]. E bom, comecei então a apreender não só o conteúdo de uma outra
disciplina, mas apreender a cultura de uma nova disciplina.
O ritmo acelerado da mudança na área de formação inicial desse entrevistado contrasta com a forma de historicizar a antropologia no ensino, mas
também com uma prática habitual na montagem das disciplinas obrigatórias
nos cursos. Essa prática consiste em retomar os programas dos professores
que ministraram antes certa disciplina e introduzir algumas modificações —
quando não retomar com maior ou menor fidelidade os programas padronizados ou listas de bibliografia selecionada previamente em alguns cursos.
Esta prática aparece plenamente justificada por uma entrevistada ao afirmar: “a gente sempre presta atenção às cadeiras dadas no passado. Porque
consideramos que já tem uma tradição de professores ultracompetentes que
deram essas disciplinas e a gente lucra com a experiência de outras pessoas”
(grifos meus). Ela acrescenta ainda: “nunca ouvi falar de um professor que
inventa o programa do nada. É como qualquer pesquisador: você tem a obrigação de pegar o que teus predecessores fizeram com êxito e tentar pensar
a partir disto. E aí você vai aumentando ou diminuindo um pouco”. Nesta
esteira, outra entrevistada afirma que, em geral, um professor desenvolve
um programa, “grande parte do qual ele fez como aluno”.
Assim, reafirmam-se a privilegiada posição de que gozam os “clássicos”
e a maneira como a historização do próprio campo parece operar no ensino.
E se, como foi sugerido, a forma de historicizar a antropologia e algumas
das práticas na montagem das disciplinas reforçam a ideia de um tempo
linear e discreto na apresentação de uma tradição estabelecida, poder-se-ia
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
dizer, retomando uma caracterização proposta por Elman Service e citada
por Sahlins (1990:64), que na produção da história heroica apresentada no
ensino de antropologia, antropólogos procedem como os índios de Fenimore
Cooper: “enquanto anda em fila indiana ao longo da trilha, cada homem
tem o cuidado de pisar nas pegadas de quem está à sua frente, de modo a
deixar a impressão de que ali havia apenas um único índio gigantesco”.
Cânone e diferença no ensino de antropologia6
Neste contexto pode se entender que, expostos a similares circunstâncias
históricas, similares condições institucionais e similares processos de objetivação dos conteúdos do ensino, os cursos de antropologia no Brasil se
caracterizam por uma considerável homogeneidade, ao menos no que diz
respeito à sua formalização nas grades curriculares e nos recortes temáticos
e bibliográficos das disciplinas obrigatórias. Esta afirmação somar-se-ia,
aliás, às já feitas neste mesmo sentido por Schwarcz (2006) e Debert (2004).
Sugerir que os cursos de antropologia no Brasil sejam bastante homogêneos
entre si resulta tanto mais plausível quanto o fato de que em outros países
a heterogeneidade da estrutura curricular e a dispersão de conteúdos e de
orientações teóricas são apontadas como sérias dificuldades da formação (cf.
Degregori et al. 2001; Srivastava 2000; Deshpande et al. 2000).
Esta constatação é interessante por duas razões. Primeiro, porque
verificar a homogeneidade contrastaria com a ênfase dada pelos professores entrevistados às diferenças entre os PPGAs. Segundo, porque talvez,
reconhecendo-a, tal homogeneidade serviria como pano de fundo no qual
eventuais diferenças ficariam mais evidentes. Em outras palavras, o fato de
que do ponto de vista formal as diferenças resultem pequenas ou possam ser
“apagadas” — para usar a expressão de alguns entrevistados — não nega a
possibilidade de considerar ainda valores diferenciais entre os cursos e da
formação em antropologia. Tratando-se de possíveis diferenças, duas vias
mereceriam ser exploradas empiricamente: o ensino a partir das disciplinas
optativas e a formação através dos processos de orientação. Isto porque,
em contraste com as disciplinas obrigatórias que vinculariam os alunos ao
cânone da tradição antropológica, as disciplinas optativas e a orientação
os aproximariam do capital material e social dos grupos de pesquisa e do
capital vinculado às trajetórias dos orientadores. Perante a marca geral e
homogeneizante da formação obrigatória, o caráter particularizante das
disciplinas optativas e da orientação garantiria, em termos de experiência
subjetiva, um fator de diferenciação social mais determinante. As marcas
631
632
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
de distinção social no interior de e entre os PPGAs derivariam então da inserção do aluno nos grupos de pesquisa e do contato privilegiado com seu
orientador, e não simplesmente da passagem pela instituição ou apenas pela
exposição aos conteúdos do ensino.
Em outras palavras, a especialização no âmbito das disciplinas optativas e da orientação encontraria seu correlato na singularidade das relações
sociais através da inserção nos grupos de pesquisa e da troca com um orientador. Seriam precisamente a especialização da formação e a singularidade
das relações que, em última análise, gerariam o valor diferencial da experiência formativa. A marca institucional em abstrato cederia terreno, assim,
ao fato concreto de ter sido orientando, ou de ter sido aluno de tal ou qual
professor, ou de ter participado da experiência de pesquisa no interior de
um grupo específico. É neste contexto que a ideia exposta pelos professores
entrevistados acerca de que ninguém “se tornaria” antropólogo no curso em
si, nem através da passagem pelas disciplinas, mas pela orientação, parece
adquirir pleno sentido.
A vinculação às linhas de pesquisa e a identificação com os interesses
intelectuais e os estilos dos professores emergiriam, aliás, como os elementos idiossincráticos por excelência. Isto porque, como também sugerem os
entrevistados, é aqui que “os motivos pessoais se impõem, mais do que nas
aulas”, e porque “nesse processo de se tornar antropólogo, a gente investe
mesmo é na orientação”. Considerar esta dimensão especializada e personalizada da formação pode ser interessante à medida que situa a questão de
eventuais signos de distinção para além da simples invocação de uma tradição institucional ou intelectual. Ela sugere então a pertinência de explorar
outros aspectos do funcionamento dos programas de pós-graduação em novas
pesquisas empíricas sobre o ensino, tais como os modos de organização dos
núcleos e das linhas de pesquisa, a gestão de recursos e o desenvolvimento
de trajetórias individuais e grupais em antropologia.
Recebido em 17 de setembro de 2014
Aprovado em 20 de abril de 2015
Guillermo Vega Sanabria é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: <[email protected]>.
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
Notas
* Agradeço os comentários generosos e estimulantes de dois pareceristas anônimos e dos professores Mariza Peirano e Luiz Fernando Dias Duarte sobre uma
versão preliminar deste texto. Também agradeço a Maria Cecília Diaz a revisão das
referências bibliográficas.
Retomo aqui dados revisados de minha dissertação de mestrado (Vega Sanabria
2005), realizada sob a orientação da professora Miriam Hartung. Os dados sobre grades e disciplinas correspondem aos PPGAs (mestrado e doutorado) da Universidade
de Brasília (UnB), da Universidade de São Paulo (USP) e das Universidades Federais
de Pernambuco (UFPE), Rio de Janeiro (UFRJ/Museu Nacional), Rio Grande do Sul
(UFRGS) e Santa Catarina (UFSC). As citações de entrevistas provêm, especificamente, do levantamento de informações in situ realizado em 2004 nos programas
do Museu Nacional, UFPE, UFRGS e USP. Além de dois coordenadores e três secretárias desses PPGAs, foram entrevistados 25 professores que tinham lecionado
disciplinas obrigatórias nos anos de 2001, 2002 e 2003, sendo este o principal critério
para entrevistá-los. O diálogo com os professores permitiu explorar suas trajetórias
pessoais – focando em sua experiência prévia como aprendizes de antropologia – a
história da configuração das grades curriculares em cada PPGA e o processo de
montagem das disciplinas obrigatórias por eles ministradas. A abrangência do trabalho de campo dependeu fundamentalmente da disponibilidade dos participantes e
dos recursos e tempo disponível para uma pesquisa de mestrado. A amostra buscou
garantir, contudo, um certo equilíbrio e representatividade, de acordo com critérios
de antiguidade, distribuição regional e reconhecimento institucional dos PPGAs.
Assim, ela incluiu três dos primeiros PPGAs (MN, UnB e USP) e três dos mais novos à época (UFPE, UFRGS e UFSC). A participação em termos regionais também
buscou ser representativa da distribuição existente à época no país, sendo que havia
um curso do Nordeste (UFPE, até 2005 o único da região com formação exclusiva
em antropologia); dois cursos do Sudeste (MN e USP), um do Centro-Oeste (UnB,
até então também o único da região com formação exclusiva em antropologia) e dois
da região Sul (UFSC e UFRGS). Transcorrida uma década da pesquisa, o número
de PPGAs no Brasil mais do que duplicou, chegando a mais de vinte. Porém, uma
comparação rápida da estrutura das grades curriculares desses PPGAs e de outros
recém-criados, assim como de alguns programas de disciplinas obrigatórias, sugere,
muito interessantemente, que o modelo geral do ensino de antropologia se mantém
o mesmo, pelo menos à luz da análise aqui proposta (por exemplo, em termos de
“tradições antropológicas” nacionais).
1
Uma análise mais densa – não desenvolvida aqui – poderia considerar os arranjos das grades curriculares e das disciplinas em face das condições institucionais
em que conhecimentos antropológicos são selecionados e transmitidos no país à luz,
por exemplo, do momento de criação dos PPGAs e as circunstâncias específicas que
a fizeram possível, das dinâmicas organizacionais e das histórias locais e regionais
dos antropólogos no Brasil, das formas e critérios de seleção dos professores e sua
2
633
634
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
maior ou menor rotatividade entre disciplinas (a respeito desta última questão, ver
a seção “Trabalho” em Vega Sanabria 2005).
Treze dos 25 professores entrevistados doutoraram-se no estrangeiro: cinco na
França, quatro na Grã-Bretanha, três nos Estados Unidos e um na Alemanha. Os 12
restantes formaram-se no Brasil: sete na USP e cinco no MN. Considerando todos os
professores dos seis PPGAs da pesquisa, a relação estrangeiro-Brasil se inverte, mas
os locais de referência continuam a ser os mesmos em ambos os casos. Segundo a
informação dos sites desses programas em 2005, 62% dos 101 professores permanentes
tinham obtido seus doutorados no Brasil: 32% na USP, 18% no MN, 7% na UnB e os
5% restantes em outros locais. Dos 38% de professores doutorados no estrangeiro,
14% tinham-no feito nos Estados Unidos, 14% na França, 9% na Grã-Bretanha e 1%
na Alemanha (cf. dados similares até 2001 em Fry 2004:231 e Oliven 2004:217).
Em 2014, de 116 professores permanentes nos mesmos seis programas de pós-graduação, 70% tinham se doutorado no Brasil: 26% no MN, 23% na USP, 8% na UnB,
4% na Unicamp, 3% na UFRGS, 3% na UFSC e mais 3% em outros locais. Os 30%
restantes doutoraram-se no estrangeiro: 11% nos Estados Unidos, 10% na França,
8% na Grã-Bretanha e 1% em outros países.
3
Um trabalho de campo de mais fôlego, por exemplo, com entrevistas sucessivas, teria permitido que os professores entrevistados reagissem a esta constatação,
dando-lhes a oportunidade de reelaborar seu raciocínio e, quiçá, que algumas das
questões neste sentido pudessem ter sido respondidas de outro modo. Isto porque,
como já advertira Seeger (1980), quanto maior é a socialização do antropólogo na
“aldeia” em que pesquisa, mais interessantes serão as questões que pode levantar e
mais interessantes ainda serão as respostas de seus anfitriões e interlocutores.
4
O levantamento estatístico – básico, mas abrangente – apresentado em Vega
Sanabria (2005) oferece duas listas de autores e tipos de textos que, por sua recorrência nos programas das disciplinas obrigatórias do período 2001-2003, sugeririam
um certo “cânone” dos autores “clássicos” no ensino, inclusive em termos de “escolas
antropológicas” nacionais. Como essa lista deve ser considerada um exercício inicial,
novas análises, com um recorte temporal mais amplo, seriam úteis para identificar
eventuais constantes ou alterações nesse “cânone”.
5
Uma versão deste texto foi publicada em 2009 na seção Coluna Virtual do site
http://www.antropologia.com.br.
6
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
Referências bibliográficas
BOMENY, Helena & BIRMAN, Patricia
DEGREGORI, Carlos I.; ÁVILA, Javier &
(orgs.). 1991. “Introdução: as ciências
sociais no Brasil”. In: Helena Bomeny;
Patrícia Birman & Antônio Luiz Paixão
(orgs.), As assim chamadas ciências
sociais: formação do cientista social no
Brasil. Rio de Janeiro: UERJ/ Relume
Dumará. pp. 9-17;
BOURDIEU, Pierre. 2003. “Sistemas de
ensino e sistemas de pensamento”. In:
S. Miceli (org.), A economia das trocas
simbólicas. 5ª. ed. São Paulo: Perspectiva. pp. 203-229.
BRANDÃO, Maria do Carmo (org.). 1997.
Anthropológicas. Pós-graduação em
antropologia da UFPE. 20 anos de pós-graduação em antropologia: memória,
tradição & perspectivas. Série Especial
Comemorativa, Ano II. Mimeo.
BRAUDEL, Fernand. 1974. La historia y
las ciencias sociales. 3ª. ed. Madrid:
Alianza.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 1997.
Sobre o pensamento antropológico. 2ª.
ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
CORREA, Mariza. 1995. “A antropologia
no Brasil (1960-1980)”. In: S. Miceli
(org.), História das ciências sociais no
Brasil. Vol. 2. São Paulo: Sumaré &
Fapesp. pp. 25-106.
___. 1997. “O espartilho de minha avó:
linhagens femininas na antropologia”.
Horizontes Antropológicos, 3(7):70-96.
___. 2006. “Damas & cavalheiros de fina estampa, dragões & dinossauros, heróis &
vilões”. In: M. Grossi et al. (orgs.), Ensino de antropologia no Brasil: formação,
práticas disciplinares e além-fronteiras.
Blumenau: Nova Letra. pp. 105-110.
DEBERT, Guita Grin. 2004. “Formação e ensino”. In: W. Trajano & G. L. Ribeiro (orgs.),
O campo da antropologia no Brasil. Rio de
Janeiro: Contra Capa/ ABA. pp. 143-161.
SANDOVAL, Pablo. 2001. “Enseñanza
de antropologia en el Perú”. Serie Investigaciones Breves, 15. Lima: CIES/IEP.
Disponível em: http://www.consorcio.
org/CIES/html/pdfs/ib15.pdf. Acesso
em: 24/10/04.
DESHPANDE, Satish; SUNDAR, Nandini &
UBEROI, Patrícia. 2000. “The problem.
Situating sociology: a symposium on
knowledge, institutions and practices
in a discipline”. Seminar Issue, 495.
Disponível em: http://www.india-seminar.com/2000/495.htm. Acesso
em: 07/06/04.
DUARTE, Luiz Fernando Dias. 2006. “Formação e ensino na antropologia social:
os dilemas da universalização romântica”. In: M. Grossi et al. (orgs.), Ensino
de antropologia no Brasil: formação,
práticas disciplinares e além-fronteiras.
Blumenau: Nova Letra. pp. 10-17.
EVANS-PRITCHARD, Edward Evan. 1964.
Social anthropology and other essays.
Six Lectures on Third Programme of
the BBC, Winter of 1950. New York:
The Free Press.
___. 1978 [1940]. Os Nuer. uma descrição
do modo de subsistência e das instituições políticas de um povo nilota.
São Paulo: Perspectiva.
FONSECA, Claudia. 2006a. “Totens e xamãs na pós-graduação”. In: M. Grossi
et al. (orgs.), Ensino de antropologia no
Brasil: formação, práticas disciplinares
e além-fronteiras. Blumenau: Nova
Letra. pp. 147-163.
___. 2006b. “O exercício da antropologia:
enfrentando os desafios da atualidade”. In: M. Grossi et al. (orgs.), Ensino
de antropologia no Brasil: formação,
práticas disciplinares e além-fronteiras.
Blumenau: Nova Letra. pp. 209-229.
635
636
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
FORTINI, Franco. 1989. “Clássico”. In:
___. 2008. “Trajetórias convergentes: Car-
Enciclopédia Einaudi. vol. 17. Lisboa:
Imprensa Nacional/ Casa da Moeda.
pp. 295-305.
FRY, Peter. 2004. “Internacionalização
da disciplina”. In: W. Trajano Filho
& G. L. Ribeiro (orgs.), O campo da
antropologia no Brasil. Rio de Janeiro: Contra Capa/ABA. pp. 227-248.
___. 2006. “Formação ou educação: os dilemas dos antropólogos perante a grade
curricular”. In: M. Grossi et al. (orgs.), Ensino de antropologia no Brasil: formação,
práticas disciplinares e além-fronteiras.
Blumenau: Nova Letra. pp. 59-75.
GODOI, Emília Pietrafiesa de & ECKERT,
Cornélia (orgs.). 2006. Homenagens:
Associação Brasileira de Antropologia: 50 anos. Blumenau: Nova Letra.
GOLDMAN, Marcio & LIMA, Tânia Stolze. 1999. “Como se faz um grande
divisor?” In: M. Goldman, Alguma
antropologia. Rio de Janeiro: Relume
Dumará/ Núcleo de Antropologia Política. pp. 83-92.
GROSSI, Miriam; TASSINARI, Antonella &
RIAL, Carmen (orgs.), 2006. Ensino de
antropologia no Brasil: formação, práticas disciplinares e além-fronteiras.
Blumenau: Nova Letra.
HUTZLER, Celina Ribeiro. 1997. “A antropologia em Pernambuco: tradição e
atualização”. Anthropológicas. Pós-graduação em antropologia da UFPE.
20 anos de pós-graduação em Antropologia: memória, tradição & perspectivas.
Série Especial Comemorativa, Ano II.
pp. 41-55. Mimeo.
JAGUARIBE, Helio. 2003. “Tempo e história”.
In: M. Doctors (org.), Tempo dos tempos.
Rio de Janeiro: Zahar. pp. 156-165.
LARAIA, Roque de Barros. 1991. “Ensino das
ciências sociais, hoje”. In: H. Bomeny
& P. Birman (orgs.), As assim chamadas
ciências sociais: formação do cientista
social no Brasil. Rio de Janeiro: UERJ/
Relume Dumará. pp. 57-63.
doso de Oliveira e Maybury-Lewis”.
Mana. Estudos de Antropologia Social, 14(2):547-554.
LATOUR, Bruno & WOOLGAR, Steve. 1997.
A vida de laboratório: a produção dos
fatos científicos. Rio de Janeiro: Relume
Dumará.
LÉVI-STRAUSS, Claude. 1962. La pensée
sauvage. Paris: Plon.
___. 1998. “Lévi-Strauss nos 90: voltas ao
passado”. Mana. Estudos de Antropologia Social, 4 (2):107-117.
MAUSS, Marcel. 1969. “Fragment d’un plan
de sociologie générale descriptive”. In:
Ouvres. vol. III. Paris: Minuit. pp. 314-346.
MOTTA, Antonio & BRANDÃO, Maria do
Carmo. 2004. “O campo da antropologia e suas margens: a pesquisa e sua
disseminação em diferentes instituições
de ensino superior no Nordeste”. In: W.
Trajano & G. L. Ribeiro (orgs.), O campo
da antropologia no Brasil. Rio de Janeiro: Contra Capa/ ABA. pp. 163-186.
MOTTA, Roberto. 1997. “Um mestrado de
antropologia em Pernambuco: reminiscências e perspectivas”. Anthropológicas. Pós-graduação em antropologia
da UFPE. 20 anos de pós-graduação
em Antropologia: memória, tradição
& perspectivas. Série Especial Comemorativa, Ano II. pp. 15-39. Mimeo.
OLIVEIRA, Luiz Alberto. 2003. “Imagens do
tempo”. In: M. Doctors (org.), Tempo
dos tempos. Rio de Janeiro: Zahar.
pp. 33-68.
OLIVEN, Ruben G. 2004 “A reprodução da
antropologia no Brasil”. In: W. Trajano
Filho & G. L. Ribeiro (orgs.), 2004. O
campo da antropologia no Brasil. Rio de
Janeiro: Contra Capa/ ABA. pp. 213-226.
PEIRANO, Mariza. 1991. “Por um pluralismo
renovado”. In: H. Bomeny; P. Birman &
Antônio Luiz Paixão (orgs.), As assim
chamadas ciências sociais: formação do
cientista social no Brasil. Rio de Janeiro:
UERJ/ Relume-Dumará. pp. 43-51.
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
___. 1995. A favor da etnografia. Rio de
Janeiro: Relume-Dumará.
___. 1997. “Onde está a antropologia?”.
Mana. Estudos de Antropologia Social, 3(2):67-102.
___. 1999. “Antropologia no Brasil (alteridade contextualizada)”. In: S. Miceli
(org.), O que ler na ciência social brasileira (1970-1995). Antropologia vol.
II. São Paulo: Sumaré. pp. 225-266.
___. 2004. “‘In this context’: as várias histórias da antropologia”. In: F. A. Peixoto;
H. Pontes & L. M. Schwarcz (orgs.),
Antropologias, histórias, experiências.
Belo Horizonte: UFMG. pp. 99-121.
___. 2006a. A teoria vivida e outros ensaios de antropologia. Rio de Janeiro:
Zahar.
___. 2006b. “Um ponto de vista sobre o
ensino da antropologia”. In: M. Grossi
et al. (orgs.), Ensino de antropologia no
Brasil: formação, práticas disciplinares
e além-fronteiras. Blumenau: Nova
Letra. pp. 77-103.
RIBEIRO, Gustavo Lins & LIMA, Antonio
Carlos de Souza. 2004. “O campo da
antropologia no Brasil”. In: W. Trajano & G. Lins Ribeiro (orgs.), O campo
da antropologia no Brasil. Rio de
Janeiro: Contra Capa/ABA. pp.7-12.
RIBEIRO, René & HUTZLER, Celina R. 1991.
“A institucionalização da antropologia
cultural na Universidade Federal
de Pernambuco”. In: H. Bomeny; P.
Birman & Antônio Luiz Paixão (orgs.),
As assim chamadas ciências sociais:
formação do cientista social no Brasil.
Rio de Janeiro: UERJ/ Relume-Dumará.
pp. 65-77.
RUBIM, Christina de Rezende. 1996. Antropólogos brasileiros e a antropologia no Brasil: a era da pós-graduação.
Tese de Doutorado, PPGCS/Unicamp.
SAHLINS, Marshall. 1990. Ilhas de história. Rio de Janeiro: Zahar.
SANCHIS, Pierre. 2006. “Uma leitura
dos textos da Mesa Redonda sobre o
ensino das ciências sociais em questão: a antropologia”. In: M. Grossi et
al. (orgs.). Ensino de antropologia no
Brasil: formação, práticas disciplinares
e além-fronteiras. Blumenau: Nova
Letra. pp. 111-125.
SANTOS, Silvio Coelho dos. 1997. “Notas
sobre a construção da antropologia
social no Brasil”. Horizontes Antropológicos, 3(7):62-69.
SCHADEN, Egon. 1989. A mitologia heroica de tribos indígenas do Brasil. 3ª.
ed. São Paulo: Edusp.
SCHWARCZ, Lilia. 2006. “Ensino de pós-graduação em antropologia: algumas primeiras notas comparativas”.
In: M. Grossi et al. (orgs.), Ensino de
antropologia no Brasil: formação, práticas disciplinares e além-fronteiras.
Blumenau: Nova Letra. pp. 231-248.
SEEGER, Anthony. 1980. “Pesquisa de
campo: uma criança no mundo”. In: Os
índios e nós. Rio de Janeiro: Campus.
pp. 25-40.
SRIVASTAVA, Vynay K. 2000. “Teaching
anthropology”. In: S. Deshpande, N.
Sundar & P. Uberoi (orgs.), Situating
sociology: a symposium on knowledge,
institutions and practices in a discipline.
Seminar Issue 495. Disponível em:
http://www.india-seminar.com/2000/495.
htm. Acesso em: 07/06/04.
TAVARES, Fátima; GUEDES, Simoni Lahud
& CAROSO, Carlos. 2010. Experiências
de ensino e prática em antropologia no
Brasil. Brasília, DF: Ícone.
TRAJANO FILHO, Wilson. 2006. “Quebrando (ainda que lentamente) a inércia:
uma proposta de criação do curso de
graduação em antropologia”. In: M.
Grossi et al. (orgs.), Ensino de antropologia no Brasil: formação, práticas
disciplinares e além-fronteiras. Blumenau: Nova Letra. pp. 281-298.
___. & RIBEIRO, Gustavo Lins. 2004. O campo da antropologia no Brasil. Rio de
Janeiro: Contra Capa/ABA.
637
638
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
VEGA SANABRIA, Guillermo. 2005. O ensino
de antropologia no Brasil: um estudo
das formas institucionalizadas de
transmissão da cultura. Dissertação de
Mestrado, PPGAS/UFSC.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1995. “Sobre a antropologia hoje: te(i)mas para
a discussão”. In: M. Peirano (org.),
O ensino da antropologia no Brasil.
Temas para uma discussão. Rio de
Janeiro: ABA. pp. 5-9.
WOORTMANN, Klass. 2006. “Breve contribuição pessoal à discussão sobre a formação de antropólogos”. In: M. Grossi
et al. (orgs.), Ensino de antropologia no
Brasil: formação, práticas disciplinares
e além-fronteiras. Blumenau: Nova
Letra. pp. 165-190.
A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE COOPER
Resumo
Abstract
Este artigo trata da relação entre o desenho
das grades curriculares em programas de
pós-graduação em antropologia (PPGA),
a seleção de conteúdos de disciplinas
obrigatórias e a compreensão que, nestes
programas, professores têm sobre as obras
e os autores tidos como clássicos e seu lugar
no ensino. Parte da ideia de que as características das grades e certas tendências a
respeito de autores, textos e temas propostos
nas disciplinas obrigatórias exprimem uma
hierarquização do conhecimento antropológico destinado ao ensino neste nível. Essa
hierarquização remete a um cânone para a
formação dos novos antropólogos no Brasil,
mas também a traços idiossincráticos das
relações sociais nos cursos de antropologia.
Com base na análise qualitativa de grades e
programas de disciplinas em seis PPGAs no
Brasil e a revisão de arquivos e entrevistas
com professores e coordenadores dos cursos
em quatro dos seis PPGAs iniciais, temas
como relações interinstitucionais e intergeracionais, divisão do trabalho e reprodução
social surgem no âmago da reflexão sobre
o ensino, à luz de noções como “clássicos”
e “história”.
Palavras-chave Ensino de antropologia no
Brasil, História da antropologia no Brasil,
Educação superior, Currículo universitário.
This article analyses the relationships
between curricula, the content of compulsory disciplines, and lecturers’ understanding of the role of “classical” authors
and works in six Brazilian postgraduate
programmes in Anthropology. The article
starts from the premise that the selection
of authors, works and subjects in anthropology courses conveys a hierarchy of
anthropological knowledge for teaching
purposes. This hierarchy defines a canon
for training new anthropologists in Brazil,
but it also reflects idiosyncratic features of
social relation in Anthropology postgra­
duate programmes. Based on a qualitative
analysis of curricula and syllabuses in six
programmes, as well as archival research
and interviews with lecturers in four of the
six programmes under analysis, topics
such as inter-institutional and intergenerational relationships, division of labour,
and social reproduction emerge as main
questions in the light of notions as “classic”
and “history”.
Key words Teaching Anthropology in
Brazil, History of Anthropology in Brazil,
Higher Education, University curriculum.
639
MANA 21(3): 641-659, 2015 – DOI http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p641
documenta
“QUINHENTOS ANOS DE CONTATO”:
POR UMA TEORIA ETNOGRÁFICA
DA (CONTRA)MESTIÇAGEM
Marcio Goldman
Apresentação
É com muita satisfação que publicamos na seção Documenta de Mana a
conferência proferida pelo Prof. Marcio Goldman durante seu concurso para
Professor Titular do Departamento de Antropologia do Museu Nacional/UFRJ.
A conferência teve lugar no Museu Nacional, no dia 16 de março de
2015, diante da banca examinadora formada pelos professores Otávio Velho,
Gemma Orobitg, José Carlos Rodrigues, Pedro Pitarch e Sylvia Caiuby e de
uma audiência de colegas, alunos, ex-alunos e muitos outros interessados.
Nela, o autor opta por explorar o que denomina provisoriamente de
“relação afroindígena”, termo usado para designar os agenciamentos entre
afrodescendentes e indígenas no continente americano. Apresentando o que
o autor chama de “um caráter incerto e aberto”, a conferência oferece-nos a
possibilidade de acompanhar o momento de amadurecimento dessa reflexão
ainda em curso, não deixando de registrar o quanto ela se ancora em sólida
e longa trajetória de pesquisa, formação e orientação. Densidade etnográfica e teórica combinam-se, desse modo, com vivacidade em um texto que
coloca sob desconfiança as sínteses e as reduções. Como destaca Goldman,
pensar sobre a relação afroindígena é pensar sobre uma relação com “alto
potencial de desestabilização do nosso pensamento e que, por isso mesmo,
deve estar no coração de uma antropologia que encara as diferenças, que
leva a sério o que as pessoas pensam, que é capaz de se manter afastada
dos clichês que nos assolam e, assim, pensar diferente”.
Os Editores
642
documenta
O texto que se segue possui, ainda, um caráter incerto e aberto, uma vez
que diz respeito a um tema com o qual comecei a trabalhar apenas recentemente e que denominei, provisoriamente, de “relação afroindígena”
(sem hífen — ver Goldman 2015) — em poucas palavras, os agenciamentos
entre afrodescendentes e ameríndios. Tema que certamente deriva de meu
campo empírico de investigação, o candomblé de nação angola, com seus
infindáveis debates sobre origens e sincretismos, mas que aparecerá apenas
no início da apresentação.
Após algumas observações iniciais e a apresentação algo abstrata da
questão da relação afroindígena, procurarei extrair algumas conclusões
provisórias a partir da justaposição de dois casos etnográficos específicos.
O objetivo é começar a testar a possibilidade de pensar essa relação aplicando a ela o que Bruno Latour denominou princípio de irredução: não
reduzi-la de antemão a uma pura questão identitária; e, ao mesmo tempo,
não negar a priori que a identidade possa ser uma dimensão do fenômeno.
Trata-se, basicamente, de pensar a relação afroindígena de um modo que
não a reduza a simples reação à dominação branca, nem à mera oposição
entre duas identidades — não importa se tidas como “primordiais” ou como
constituídas por “contraste”. Ao contrário, trata-se de pensar essa relação a
partir das alteridades imanentes que cada coletivo comporta e que devem
ser relacionadas com as alteridades imanentes de outros coletivos, traçando
espaços de interseção em que as chamadas relações interétnicas não são
redutíveis nem à ignorância recíproca, nem à violência aberta, e nem à fusão
homogeneizadora (ver Losonczy 1997).
Começo com a lembrança de um estranho conto de Jorge Luis Borges,
intitulado “O atroz redentor Lazarus Morell”, no qual o autor assinala, de
modo irônico, um dos paradoxos que marcam a invasão do futuro continente
americano pelos europeus:
Em 1517, o padre Bartolomé de las Casas compadeceu-se dos índios que se
extenuavam nos laboriosos infernos das minas de ouro antilhanas, e propôs ao
imperador Carlos V a importação de negros, que se extenuassem nos laboriosos
infernos das minas de ouro antilhanas. A essa curiosa variação de um filantropo
devemos infinitos fatos: os blues de Handy, o sucesso alcançado em Paris pelo
pintor-doutor uruguaio D. Pedro Figari, a boa prosa agreste do também oriental
D. Vicente Rossi, a dimensão mitológica de Abraham Lincoln, os quinhentos
mil mortos da Guerra da Secessão, os três mil e trezentos milhões gastos em
pensões militares, a estátua do imaginário Falucho, a admissão do verbo linchar
na décima terceira edição do Dicionário da Academia Espanhola, o impetuoso
filme Aleluya, a fornida carga de baionetas levada por Soler à frente de seus
documenta
Pardos y Morenos em Cerrito, a graça da senhorita de Tal, o negro que assassinou
Martín Fierro, a deplorável rumba El Manisero, o napoleonismo embargado e
encarcerado de Toussaint Louverture, a cruz e a serpente no Haiti, o sangue
das cabras degoladas pelo machado dos papaloi, a habanera mãe do tango,
o candombe. Além disso: a culpável e magnífica existência do atroz redentor
Lazarus Morell (Borges 1974:295).
A isso, conclui Borges, devemos “infinitos fatos”, dos “quinhentos mil
mortos da Guerra da Secessão”, da “admissão do verbo linchar na décima
terceira edição do Dicionário da Academia Espanhola”, dos “três mil e
trezentos milhões gastos em pensões militares”, aos “blues de Handy”;
“a habanera mãe do tango”; “o candombe”; “a graça de algumas senhoritas”; “a cruz e a serpente no Haiti”; “o sangue das cabras degoladas pelo
machado dos papaloi”.
De forma sem dúvida menos irônica que Borges, e sem qualquer referência ao universo indígena, o mesmo ponto também foi levantado por Félix
Guattari ao falar do jazz, que:
Nasceu de um mergulho caósmico, catastrófico, que foi a escravização das
populações negras nos continentes norte e sul-americano. E, depois, houve
uma conjunção de ritmos, de linhas melódicas, com o imaginário religioso do
cristianismo, com dimensões residuais do imaginário das etnias africanas, com
um novo tipo de instrumentação, com um novo tipo de socialização no próprio
seio da escravidão e, em seguida, com encontros intersubjetivos com as músicas
folk brancas que estavam por lá; houve, então, uma espécie de recomposição
dos territórios existenciais e subjetivos no seio dos quais não só se afirmou uma
subjetividade de resistência por parte dos negros, mas que, além do mais, abriu
linhas de potencialidade para toda a história da música (Guattari 1993:120).
Ora, como o jazz, o blues, a habanera e o candombe, as religiões de
matriz africana — tema com o qual trabalho há quase quarenta anos — são
um dos resultados desse criativo processo de reterritorialização que se seguiu
à brutal desterritorialização de milhões de pessoas no movimento de origem
do capitalismo com a exploração das Américas pela utilização do trabalho escravo. Em face dessa experiência mortal, articularam-se agenciamentos que
combinaram, por um lado, dimensões de diferentes pensamentos de origem
africana com aspectos dos imaginários religiosos cristãos e do pensamento
ameríndio e, por outro, formas de organização social tornadas inviáveis pela
escravização com todas aquelas que puderam ser utilizadas, dando origem a
novas formas cognitivas, perceptivas, afetivas e organizacionais. Tratou-se,
643
644
documenta
assim, de uma recomposição, em novas bases, de territórios existenciais
aparentemente perdidos, do desenvolvimento de subjetividades ligadas a
uma resistência às forças dominantes que nunca deixaram de tentar sua
eliminação e/ou captura.
Pedindo perdão pela obviedade, a expressão “religiões de matriz africana” designa, pois, de forma algo grosseira, um conjunto heteróclito, mas
articulado, de práticas e concepções religiosas cujas linhas de força principais
foram trazidas pelos escravos africanos para as Américas. Provavelmente
formadas ao longo do século XIX, essas religiões, como as conhecemos
hoje, incorporaram, assim, ao longo de sua história, em maior ou menor
grau, elementos das cosmologias e das práticas indígenas, do catolicismo
popular e do espiritismo de origem europeia. Esses elementos foram se
transformando na medida em que iam sendo combinados e foram sendo
combinados na medida em que se transformavam, gerando uma infinidade de
variantes religiosas muito parecidas quando olhadas de uma certa distância
e bem diferentes quando olhadas de outra. Pode-se, assim, observar uma
bem marcada diversidade entre os diferentes grupos de culto, diversidade
ligada à região da África de onde provém a maior parte do repertório de cada
grupo, assim como às modalidades e intensidades de suas conexões tidas
por “sincréticas” com outras tradições religiosas. Meu trabalho etnográfico
diz respeito a uma dessas variantes, o candomblé, mais especificamente
um terreiro de nação angola, situado na cidade de Ilhéus, no sul do estado
da Bahia, no nordeste brasileiro. Não obstante, acredito que o que tentarei
dizer aqui também seja válido para outros casos, ainda que com o custo de
algumas transformações.
O processo histórico de constituição dessas religiões parece explicar,
ao menos em parte, o fato de serem ininterruptamente atravessadas por um
duplo sistema de forças: centrípetas, codificando e unificando os cultos;
centrífugas, fazendo pluralizar as variantes, acentuando suas diferenças
e engendrando linhas divergentes. Mas o ponto fundamental é que essas
forças estão sempre em coexistência e que elas não podem ser dispostas
segundo um esquema histórico linear indo da unificação à desagregação
ou desta para a primeira. A insistência em distribuir pela história forças
sempre em coexistência costuma redundar em uma vã tentativa de apagar
contradições aparentes, mas acaba, na verdade, apagando a heterogeneidade
constitutiva do sistema.
É também em função dessa dualidade de forças que prefiro empregar
a fórmula “religiões de matriz africana no Brasil” em lugar das tradicionais
expressões “religiões africanas no Brasil”, “religiões afro-brasileiras” ou,
pior, “cultos afro-brasileiros”. Isto porque o termo “matriz” tem a vantagem
documenta
de poder ser entendido, simultaneamente, em seu sentido de algo que “dá
origem a alguma coisa” — o que respeita, além de utilizar, o uso nativo,
sempre preocupado em relacionar essas religiões com uma África que não
acredito ser nem real, nem imaginária, nem simbólica, mas dotada de um
sentido existencial — e em seu sentido matemático ou topológico (“matriz
de transformações”), que aponta para o tipo de relação que acredito existir
entre as diferentes atualizações dessas religiões e, ao mesmo tempo, para o
método transformacional que penso necessário para seu tratamento analítico.
Retornemos, contudo, às observações de Borges e de Guattari. De fato, e
ainda que os números sejam algo controversos, não é nada improvável que ao
longo de cerca de 300 anos quase 10 milhões de pessoas tenham sido embarcadas à força da África para as Américas, na maior migração transoceânica da
história. O ponto que eu gostaria de sublinhar aqui é que os cerca de 4 milhões
de pessoas que podem ter chegado ao que hoje chamamos de Brasil encontraram
milhões de indígenas, vítimas de um genocídio paralelo à diáspora africana,
processos que, nunca é demasiado lembrar, sustentam a constituição desse
mundo chamado de moderno. É nessa história, que é a de todos nós, que coexistem os poderes mortais da aniquilação e as potências vitais da criatividade.
Nesse sentido, aquilo que eu gostaria de explorar tentativamente aqui —
o encontro entre afros e indígenas nas Américas — é o resultado do maior
processo de desterritorialização e reterritorialização da história da humanidade, e é bastante notável que um fenômeno dessa envergadura tenha
recebido relativamente tão pouca atenção, ou que tenha recebido um tipo de
atenção que desconsidera completamente o que eu chamaria de dimensão
transcendental desse encontro.
Como já observava Roger Bastide em 1973, “os antropólogos se interessaram sobretudo pelos fenômenos de adaptação dos candomblés africanos
à sociedade dos brancos e à cultura luso-católica” (Bastide 1976:32). O que
quer dizer, por um lado, que não se escreveu tanto assim sobre o que Bastide chamava de “encontro e casamento dos deuses africanos e dos espíritos
indígenas no Brasil”. Mas quer dizer sobretudo que aquilo que foi escrito,
em geral, o foi a partir de um ponto de vista que subordinava a relação afroindígena a um terceiro elemento que estruturava o campo de investigação na
mesma medida em que dominava o campo sociopolítico: o “branco europeu”.
Na própria obra de Bastide, a questão central talvez seja justamente a da
famosa “integração do negro na sociedade de classes”. Tudo se passa então,
como acontece frequentemente demais na antropologia, como se o ponto de
vista do Estado, com seus problemas de nation building, levasse a melhor,
impondo essa espécie de certeza, que parece durar até hoje, de que a única
identidade legítima é a identidade nacional.
645
646
documenta
É claro que a estatização, ou o branqueamento, da relação afroindígena
não marcou apenas as investigações acadêmicas. Como bem se sabe, no caso
brasileiro, assim como em muitos outros, o encontro e a relação afroindígena
foram devidamente submetidos à “sociedade dos brancos” e pensados na
forma daquilo que se convencionou chamar “mito das três raças”. Mito,
inútil lembrar, que elabora, justamente, a “contribuição” de cada uma dessas
“raças” para a constituição da “nação brasileira”, mas segundo uma lógica
e um processo em que o vértice superior do triângulo das raças só pode ser,
claro, encabeçado pelos brancos.
Quanto à antropologia, em especial a brasileira, a questão que se coloca
é bem simples. Por que, afinal de contas, a proximidade entre ameríndios e
afro-americanos — ou seja, o fato inelutável de que, ao longo dos séculos, e
ainda hoje, eles não puderam deixar de estabelecer e de pensar suas relações — sempre esteve acompanhada de um afastamento teórico que faz com
que dessa relação não saibamos quase nada ou saibamos apenas o menos
interessante? Pois é esse afastamento que fez com que esses coletivos e suas
cosmopolíticas tenham sido tão raramente estudados e/ou analisados em
conjunto, preferindo-se, em geral, aproximações teóricas com outras terras,
a Melanésia, a Sibéria ou mesmo a própria África. Contra essa pobreza
antropológica muitas etnografias recentes vêm mostrando a riqueza com a
qual a relação afroindígena é pensada pelos coletivos nela interessados e
que não encontra nenhum paralelo digno na reflexão acadêmica.
O primeiro passo, sem dúvida, consistiria em um movimento para
libertar a relação afroindígena da dominação e do ofuscamento teórico-ideológicos produzidos pela presença dessa variável “maior”, os “brancos”,
o que significa tentar praticar aquilo que, seguindo o exemplo do autor
de teatro Carmelo Bene, Deleuze denominou operação de “minoração”: a
subtração da variável majoritária dominante de uma trama faz com que esta
possa se desenvolver de um modo completamente diferente, atualizando as
virtualidades bloqueadas pela variável dominante e permitindo reescrever
toda a trama (Deleuze & Bene 1979:97-101). Em poucas palavras e grosso
modo: como ficaria o mito das três raças se dele suprimíssemos não o fato
histórico, político e intelectual do encontro, mas o vértice “maior” do triângulo, os “brancos”? Como apareceriam afros e indígenas sem este elemento
sobrecodificador?
Antes, contudo, como costuma dizer Isabelle Stengers, talvez seja
preciso ir um pouco mais devagar e começar sublinhando os riscos desse
empreendimento. Para isso, é necessário deixar claro as imagens que eu
não gostaria que o termo afroindígena evocasse, os clichês que eu não gostaria que ele desencadeasse. O ponto central é que não se trata de pensar a
documenta
relação afroindígena nem de um ponto de vista genético (no sentido amplo
do termo), nem a partir de um modelo tipológico. Não se trata de gênese
porque não se trata de determinar o que seria afro, o que seria indígena e
o que seria resultado de sua mistura — ou, eventualmente, o que não seria
nem uma coisa nem outra. E isso seja em um sentido propriamente biológico
ou genealógico, seja em sentido cultural, social etc. Não se trata, portanto,
de um problema de identidade, muitas vezes, aliás, confundido com o das
origens, o que pode não ser tão fácil quanto parece, porque a primeira coisa que somos tentados a fazer toda vez que nos deparamos com situações
“afroindígenas” são exatamente essas triagens que eu gostaria de evitar.
Por outro lado, não é nada incomum que, ao evitar o fogo da gênese,
os antropólogos caiam na frigideira da tipologia, onde, fingindo fazer abstração das conexões genéticas, acabam chegando exatamente no mesmo
lugar. Estabelecer um tipo (ideal ou não, pouco importa) afro puro, um tipo
indígena puro, e quantos tipos intermediários forem não é, de modo algum,
o que importa. Nem os modelos historicistas, nem os estrutural-funcionalistas, em suas variantes explícitas ou mais ou menos disfarçadas, possuem
qualquer utilidade aqui. Pois não se trata, na verdade, de identificar e/ou
contrastar aspectos históricos, sociais ou culturais em si, mas princípios e
funcionamentos que podem ser denominados ameríndios e afro-americanos
em função das condições objetivas de seu encontro, o que significa que não
são traços, aspectos ou agrupamentos culturais que devem ser comparados,
mas os princípios a eles imanentes.
Observemos, igualmente, que esse enfoque privilegiando comparações
e interações afroindígenas poderia também conduzir à produção de contribuições inovadoras para o campo das chamadas “relações interétnicas”.
Sabe-se bem como a história de diversos países americanos foi contada,
em uma chave ideológica, com ênfase sobre o encontro das “três raças”
que teriam harmoniosamente constituído a nação. É supérfluo denunciar
o caráter mistificador deste tipo de narrativa, mas talvez valha a pena assinalar que ela reelabora um fenômeno que indubitavelmente não pôde
deixar de ter ocorrido. Como também escreveu Roger Bastide (1960:20),
“não são as civilizações que estão em contato, mas os homens” — ou as
pessoas — e cabe a nós tentar descobrir e pensar o que aconteceu e ainda
acontece nesses encontros — que, aliás, não são apenas entre pessoas, mas
também com deuses, objetos, lugares, músicas, danças etc. Por outro lado,
como vimos, nunca se enfatizou suficientemente que a natureza das relações
que unem os vértices do triângulo das “três raças” não pode ser a mesma,
caso se considerem as relações entre dominantes e dominados ou apenas
aquelas entre os segundos.
647
648
documenta
Ora, essas relações se estabelecem entre elaborações que se situam em
diversas dimensões: sociológicas, mitológicas, religiosas, epistemológicas,
ontológicas, cosmopolíticas. Trata-se, em última instância, de mapear as
premissas imanentes aos discursos nativos, extraindo consequências teórico-experimentais efetivas das críticas antropológicas que, ao longo dos últimos
cem anos, vêm insistindo na impossibilidade de determinação de qualquer
“grande divisor” capaz de distinguir substantivamente os coletivos humanos
entre si. Impossibilidade tanto mais evidente quanto as transformações empíricas em curso na paisagem sociocultural do planeta mostram a aceleração
simultânea dos processos aparentemente contraditórios de convergência e
divergência, mimetismo e diferenciação, dissolução e endurecimento das
fronteiras (tanto objetivas como subjetivas) entre os coletivos. Estas dificuldades devem ser levadas a sério, permitindo a elaboração de abordagens
alternativas que afirmem a fecundidade epistemológica de tais impasses e
os situem no coração da produção antropológica.
Se quisermos escapar do clichê antropológico que quer nos prender
à mera determinação de variedades culturais e universais humanas, o que
deve ser visado é o mapeamento das premissas epistemológicas, ontológicas, cosmopolíticas imanentes aos discursos nativos, o que, de imediato,
revela que não há nenhuma razão para confinar o procedimento a uma área
etnográfica ou a um “tipo” de sociedade. Trata-se de explorar — à luz de
contribuições teóricas recentes em torno da “antropologia simétrica” e dos
“grandes divisores” — a questão da potencialidade teórica e/ou heurística
dessas distinções entre sociedades, e a de sua superação. E trata-se em
seguida de estimular um diálogo que, retomando a melhor tradição antropológica, confronte as contribuições específicas das pesquisas realizadas em
sociedades “indígenas” e “complexas”, a fim de que possam se fecundar
reciprocamente, escapando do aprisionamento em círculos restritos de especialistas e das excessivas concessões aos clichês dominantes.
Isto significa, sobretudo, evitar o risco de simplesmente reproduzir,
num estilo talvez mais sofisticado, os clássicos debates em torno do chamado
sincretismo religioso e, assim, isolar traços de culturas originais puras que
teriam se mesclado formando cada manifestação sociocultural específica.
Ao contrário, o ponto é a delimitação e o contraste de princípios cosmológicos
de matriz ameríndia ou africana, sem perder de vista nem sua especificidade,
nem as condições históricas de seu encontro. Ou, em outros termos, trata-se de tentar colocar em diálogo produções etnográficas e reflexões teóricas
oriundas de dois domínios tradicionalmente separados da antropologia, na
esperança de que, por meio desse diálogo, seja possível trazer à luz novas
conexões — e novas distinções — entre eles.
documenta
Se quiséssemos seguir um modelo, poderíamos denominá-lo, talvez,
transformacional, em um sentido análogo, mas não idêntico ao que o termo possui nas Mitológicas, onde Lévi-Strauss (1964-1971) não descarta as
conexões históricas, genéticas e mesmo tipológicas entre ameríndios, mas
desenvolve um procedimento que visa contornar e superar essas obviedades.
Seguindo exemplos mais recentes, como o de Marilyn Strathern (1988) na
Melanésia, talvez seja possível tratar desse modo materiais afro-americanos
em conexão com materiais ameríndios.
Por outro lado, essas “transformações” também devem ser pensadas no
sentido deleuziano sugerido acima (o de um procedimento de minoração
por extração do elemento dominante) e em um sentido guattariano, porque
as conexões que se pretende estabelecer não são nem horizontais, nem
verticais, mas transversais. Ou seja, não se trata de encarar as variações
nem como variedades irredutíveis umas às outras, nem como emanações
de um universal qualquer conectando entidades homogêneas: as conexões
se dão entre heterogêneos enquanto heterogêneos, as relações se dão entre
diferenças enquanto diferenças, como lembra Guattari (1992) ao falar de
heterogênese, conceito que tem como premissa fundamental a hipótese de
que o diferencial não pode ser encarado como mera negação e/ou oposição,
uma vez que ele é sobretudo da ordem da criação ou da criatividade.
Isto significa também, diga-se de passagem, que talvez seja preciso
livrar a comparação levistraussiana da noção de estrutura, ou seja, abandonar
a ideia da realidade como um conjunto de atualizações parciais localmente
moduladas de um conjunto de possíveis que, uma vez não atualizados, são
destinados a uma espécie de tranquila inexistência. Como se sabe, Deleuze
e Guattari propuseram uma perspectiva diferente sobre este ponto ao introduzirem o conceito de virtual-real para se opor justamente à dupla noção
estruturalista do possível e do atual. Falar em virtual-real significa supor
que o que não está manifestamente atualizado continua a existir de alguma
forma, ou antes, continua a funcionar, podendo sempre ser recolocado em
jogo. Mais que um método transformacional, tratar-se-ia talvez de algo como
uma perspectiva transformacional, na qual ontologia se torna sinônimo de
diferença, e epistemologia, de ética. Porque não há nenhuma razão, a não
ser moral e política, para subordinar a diferença à identidade ou a ética à
epistemologia.
É preciso, pois, proceder com cautela, mas o esforço para colocar em
diálogo materiais ameríndios e afro-americanos tão heterogêneos permite
desde já entrever ao menos três tipos de elaboração. Em primeiro lugar,
contextos nos quais os próprios coletivos se definem, mais ou menos diretamente, como afroindígenas.
649
650
documenta
Em segundo lugar, temos as situações em que coletivos autodefinidos
como ameríndios e coletivos autodefinidos como afro-americanos se encontram e interagem efetivamente — mesmo que, como costuma acontecer frequentemente, esses encontros e essas interações possam ser tão codificados
que correm o risco de passar despercebidos.
Enfim, terceira possibilidade: aquela em que, de alguma forma, o próprio
analista se faz, por assim dizer, afroindígena, promovendo e mesmo provocando o encontro de materiais tradicionalmente destinados à incomunicabilidade,
devidamente fechados em seus nichos acadêmicos de proteção. Não é difícil
imaginar como esse procedimento poderia enriquecer debates tradicionais
confrontando temáticas classicamente tidas como “indígenas” (totemismo,
xamanismo, multiplicidade de espíritos...) com outras, tidas por “afro-americanas” (sacrifício, possessão, panteões hierarquizados de divindades e assim
por diante) e que, no entanto, todos sabemos poderem ser encontradas, de
acordo com distintas transformações, dos dois lados do divisor.
Trata-se, assim, de proceder a um confronto entre cosmopolíticas e coletivos em princípio heterogêneos que poderia servir para seu esclarecimento
mútuo, evitando o evolucionismo no plano histórico, o dualismo no plano
ontológico, e o maniqueísmo no plano ético. Essas cosmopolíticas e esses
coletivos devem, assim, ser tomados no que apresentam de desconhecido,
incerteza, indeterminação, não a partir daquilo que sabemos ou acreditamos
saber a seu respeito. Não se trata tampouco de supor algum tipo de unidade ou identidade lá onde se via apenas diferença; trata-se, seguindo o que
Deleuze e Guattari chamam “método diferencial”, de buscar e analisar com
cuidado as “distinções abstratas” a fim de que as “misturas concretas” se
tornem mais inteligíveis. Em outros termos, é preciso distinguir analiticamente bem para melhor entender as alianças e os agenciamentos efetivos
que produzem as misturas concretas.
Isto não significa, contudo, abrir mão de um ponto essencial, o fato de
que, como escreveu em alguma parte Lévi-Strauss, a antropologia é uma
ciência empírica e que, nela, o material empírico deve guiar as problematizações e as conceptualizações. Com o adendo de que esse material empírico
envolve necessariamente o que as pessoas pensam e têm a dizer sobre o que
acontece com elas mesmas e com os outros, uma vez que a antropologia deve
estar sempre subordinada à palavra nativa, de tal modo que seu discurso não
tenha privilégio algum em face daqueles com quem trabalha. Nesse sentido,
o melhor procedimento inicial talvez seja tomar o termo “afroindígena” nos
sentidos em que as próprias pessoas que gostam de pensar a si mesmas como
afroindígenas o utilizam. Ou o que é a mesma coisa, sublinhar que o termo
“afroindígena” tem, ou pode ser tomado como tendo, uma origem afroindígena.
documenta
Desse modo, eu gostaria de utilizar algumas reflexões nativas para apresentar um pouco melhor o que estou propondo. Tentarei fazê-lo a partir da
maneira pela qual dois coletivos distintos elaboram a relação afroindígena,
abrindo assim, talvez, a possibilidade de uma reflexão antropológica sobre
este tema. Esses dois coletivos, aparentemente muito heterogêneos, vivem
no extremo-sul e no sul baianos; o primeiro — os membros do movimento
cultural da cidade de Caravelas, estudados por Cecília Mello (2003, 2010) —
se pensa decididamente como afroindígena; o segundo, os Tupinambá da
Serra do Padeiro, estudados, entre outros, por Helen Ubinger (2012) — se
define resolutamente como indígena.
Quando foram apresentados pela primeira vez, há mais de dez anos,
nem o material etnográfico, nem a análise empírica e a teórica de Cecília
Mello se acomodavam muito bem a um certo clichê que parecia dominar o
pensamento antropológico, mas que, tudo indica, é cada vez mais difícil de
sustentar: a quase certeza de que não temos nada de importante a aprender com as pessoas com quem convivemos durante nossas pesquisas, seja
porque elas realmente não seriam capazes de nos ensinar nada, seja porque
aquilo que elas eventualmente nos ensinam é de curto alcance, limitado ao
contexto paroquial em que vivem.
As pessoas que Cecília estudou em Caravelas criaram e fazem parte de
um bloco de carnaval (o Umbandaum), de um “Movimento Cultural” (o Arte
Manha) e de um Grupo Afroindígena de Antropologia Cultural — todos os
termos são deles. Neles, desenvolvem uma série de atividades que visam
“resgatar” a memória afroindígena, usando para isso formas de expressão
artísticas, que envolvem a escultura, os entalhes em madeira, a pintura, mas
também o teatro e a dança. Além disso, e este ponto é fundamental, sua arte
resulta de pesquisas e debates coletivos sobre suas origens afroindígenas
e suas formas de expressão. As atividades do movimento se concretizam
também no Umbandaum, definido como “bloco-manifestação política” que,
desde 1989, ocupa as ruas de Caravelas no sábado de carnaval, apresentando orixás, caboclos e personalidades históricas marginalizadas da história
baiana. Esse desfile é definido como o que Cecília (2013) denomina “um
teatro-performance, em que os componentes incorporam personagens e
traduzem suas características através de expressões faciais e corporais”.
As mesmas pessoas que fazem o movimento cultural e o bloco são, ademais, filiadas ao Partido dos Trabalhadores e desenvolvem intensa militância
político-eleitoral — tendo alguns se candidatado por diversas vezes a cargos
eletivos e mesmo ocupado algumas secretarias municipais. Além disso, boa
parte de seu tempo é tomado pela elaboração de belíssimas obras de arte,
de esculturas a móveis chamados “rústicos”, criadas a partir da técnica
651
652
documenta
que denominam “reaproveitamento da madeira”, ou seja, a utilização de
madeira considerada “morta”, encontrada nas matas que ainda sobrevivem
aos eucaliptais que infestam a região, madeira que, devidamente tratada,
adquire uma espécie de nova vida.
O ponto essencial aqui é que essas pessoas não apenas se pensam (no
sentido forte da palavra) como “afroindígenas”, como desenvolvem uma série
de complexas reflexões sobre essa expressão e sobre a sua própria situação
no mundo. Em lugar de pretender saber de antemão e “revelar” o que seus
amigos estariam “realmente” querendo dizer ao se afirmarem afroindígenas,
Cecília preferiu seguir de modo detalhado e profundo o que eles efetivamente
dizem, fazem e pensam a respeito de si mesmos, dos outros e dos mundos
de que participam. Porque a necessidade de que os outros pensem — para
usar uma expressão de Deleuze retomada por Stengers — não significa, é
claro, que devamos obrigá-los a pensar, muito menos tentar “esclarecê-los”
ou, no limite, lamentar que não pensem. A necessidade de que os outros
pensem é uma abertura para seu pensamento, a aceitação de que as pessoas
realmente pensam, mesmo, ou principalmente, quando pensam diferente de
nós. Desterritorialização do pensamento próprio por meio do pensamento de
outrem, espécie de participação, discurso livre indireto, única justificativa,
talvez, para a prática antropológica.
Em lugar de ceder à tentação de julgar se seus amigos eram “de fato”
negros, índios, mestiços, pobres, ou o que quer que seja, a antropóloga
aprendeu que “afroindígena” não precisa necessariamente ser da ordem da
identidade, mas pode ser pensado como algo que se torna, que se transforma
em outra coisa diferente do que era, mas que, de algum modo, conserva uma
memória do que se foi — como um devir, portanto.
Cecília aprendeu também que o termo “afroindígena” quer dizer muitas
coisas: um modo de descendência, sem dúvida, mas também uma origem
explicitamente reconhecida como mítica e uma forma de expressão artística,
ou seja, criativa; que não se trata da simples justaposição de influências ou
formas distintas e irredutíveis, mas de uma terceira forma, com características próprias e ao mesmo tempo comuns às outras; que a relação entre
afros e indígenas não é pensada apenas como de proximidade entre mundos
paralelos, mas como uma interseção entre esses mundos, como um encontro
entre indígenas e africanos. Que o encontro tenha sido real ou não — ou
que ele esteja sendo explorado em sua realidade história ou não — pouco
importa. O que realmente importa é a virtualidade desse encontro, aquilo
que ele poderia ter produzido e que, por isso mesmo, ainda pode sê-lo.
Finalmente, Cecília também aprendeu que o conceito foi elaborado com as
mesmas técnicas utilizadas na criação das obras de arte que o grupo produz.
documenta
Vê-se, assim, que as relações afroindígenas são pensadas, simultaneamente, na chave da filiação e na da aliança, extensivas e intensivas ao mesmo tempo; que tanto uma quanto a outra são encaradas em sua molaridade
histórica e em sua molecularidade criativa. O afroindígena é uma linha de
fuga minoritária não apenas em relação à variável majoritária dominante
“brancos”, mas também em relação à captura que sempre ameaça as linhas de
fuga: o rebatimento do devir em uma identidade ou mesmo em um pertencimento — negro, índio como minoria em lugar de devir-minoritário ou menor.
É nesse sentido que o conceito de afroindígena é criado em Caravelas
a partir dos mesmos procedimentos utilizados para criar qualquer obra de
arte, ou seja, a partir dessa técnica que os artistas chamam de “reaproveitamento” ou “ressuscitamento”, técnica que opera por meio da reatualização
de virtualidades reprimidas pela história. Uma árvore derrubada ou uma
dança esquecida preservam potências vitais que o artista e o militante podem
desencadear. Trata-se, assim, de uma espécie de bricolage das experiências
históricas vividas de diferentes maneiras pelos membros do grupo como
afros e como indígenas, ou seja, como dominados. Do mesmo modo que na
“madeira morta” uma nova vida pode ser encontrada, nas experiências de
resistência à dominação uma nova força pode sempre ser despertada.
Se para os Maia do México contemporâneo, como mostrou Pedro Pitarch
(2013), a coexistência de narrativas indígenas e europeias é um modo de não
permitir a incorporação da lógica europeia na própria narrativa indígena, no
caso de Caravelas tudo se passa como se fosse a articulação das narrativas
afro e indígena que produz esse efeito de evitar a incorporação da lógica
dominante, o que não significa que aquilo que os Maia obtêm a partir de
uma evitação rigorosa de qualquer mistura seja feito pelos afroindígenas
simplesmente “misturando” as coisas.
Já há algum tempo, José Carlos dos Anjos (2006) nos revelou tudo o que
teríamos a ganhar abandonando os clichês dominantes da miscigenação, da
mestiçagem ou do sincretismo em benefício de imagens oriundas de nossos
próprios campos empíricos de investigação. Assim, a ideia de “linha cruzada”,
presente em praticamente todas as religiões de matriz africana no Brasil, permite pensar um espaço de agenciamento de diferenças enquanto diferenças,
sem a necessidade de pressupor nenhum tipo de síntese ou fusão. As diferenças
são intensidades que nada têm a ver com uma lógica da assimilação, mas sim
com a da organização de forças, que envolve a modulação analógica (contra
a escolha digital) dos fluxos e de seus cortes, bem como o estabelecimento
de conexões e disjunções. Esse modelo heterogenético apoiado nas variações
contínuas permite opor termo a termo mestiçagem e sincretismo, de um lado,
contramestiçagem e composição (no sentido artístico do termo), de outro.
653
654
documenta
Porque em última análise é do mito das três raças que os afroindígenas
de Caravelas estão tentando se livrar. E, se o fazem, é porque sabem muito
bem que os mitos das classes dominantes têm o mau costume de produzir
efeitos muito reais. Nesse sentido, sua elaboração do afroindigenismo tem
igualmente uma dimensão mítica. Aqui, entretanto, temos que livrar o conceito de suas dimensões representacionais ou mesmo estruturais. Como
escreveram Deleuze e Guattari (1972:185), o mito não é “uma representação
transposta ou mesmo invertida das relações reais em extensão”; ele, ao contrário, “determina, conforme o pensamento e a prática indígenas, as condições
intensivas do sistema”; ou, em outras palavras, o mito “não é expressivo,
mas condicionante”. O problema é de agenciamento, não de representação.
Se a bricolage, como postulou Lévi-Strauss (1962), corresponde, no
plano da atividade prática, ao mito da atividade especulativa, a mesma
passagem do expressivo ao condicionante poderia ser transposta para essa
noção. O “reaproveitamento”, ou “ressuscitamento”, é uma forma de resistência, e a criação de novas condições e condicionantes faz parte inevitável
de toda luta política.
O afroindígena pode aparecer, assim, como uma espécie de perspectiva.
Perspectiva que não é tanto a da oposição simples entre afroindígena, de
um lado, e brancos, de outro — o que reconduziria inevitavelmente a uma
captura pela forma-identidade — mas sim uma perspectiva estabelecida a
partir da oposição mesmo entre afro e indígena, oposição que, evidentemente,
é de natureza muito distinta daquela entre afro e/ou indígena, de um lado,
e branco, de outro.
Trata-se — esta talvez seja a hipótese mais forte que eu gostaria de levantar — de um processo que poderíamos denominar “contramestiçagem”.
Não no sentido de uma recusa da mistura em nome de uma pureza qualquer,
mas no da abertura para o caráter analógico, e não digital, e para o elemento
de indeterminação que qualquer processo de mistura comporta.
Em certo sentido, o desafio colocado pela exploração antropológica da
noção de afroindígena — que aparece ou reaparece hoje em tantas partes —
bem como de seus correlatos, não é mais do que a tentativa de elaborar em
chave acadêmica aquilo que os militantes afroindígenas de Caravelas, assim
como muitos outros, expuseram em chave existencial.
A quase 400 km ao norte de Caravelas, e a cerca de 50 km do litoral,
fica a cidade de Buerarema, parte da antiga grande região cacaueira baiana.
E a pouco menos de 20 km do centro de Buerarema fica a Serra do Padeiro,
onde vivem hoje quase mil tupinambás. Eles fazem parte de um grupo mais
abrangente que inclui os Tupinambá de Olivença (que vivem mais perto do
litoral) e, como seus vizinhos, lutam há pelo menos vinte anos pela criação
documenta
de sua terra indígena (sobre o que se segue, ver principalmente Ubinger
[2012], também Macêdo [2007] e Couto [2008]).
A história dos Tupinambá dessa região se parece muito com a de inúmeros grupos indígenas do nordeste brasileiro — e hoje também de outras
regiões. Grosso modo, essa história é por eles dividida entre um grande
período que vai do século XVI ao XIX (marcado por sua redução em missões
jesuítas em conjunto com outros grupos indígenas e, depois, pela ocupação de
certos territórios), seguido, a partir do início do século XX, por períodos mais
curtos de invasão, expulsão, revolta, dispersão, submersão e retomada. Esta
não é a ocasião para nos determos nesse intrincado processo e no complexo
modo como é pensado e narrado pelos envolvidos. Basta observar que os
Tupinambá não supõem que tenham deixado de existir enquanto indígenas
em nenhum momento, e que pensam as alianças e a submersão a que se
viram obrigados a praticar como meios de luta para garantir a sua existência.
Desse modo, não veem nenhum problema em reconhecer que são “misturados”. No entanto, e ao contrário do que vimos ocorrer em Caravelas, a
expressão afroindígena parece não fazer muito sentido na Serra do Padeiro,
uma vez que a mistura não anula o fato de que são, sempre foram e pretendem
permanecer indígenas. Tudo se passa de modo semelhante àquele que foi
descrito pela primeira vez, em 1991, por Peter Gow para os Piro da Amazônia
peruana: o fato de que a diferença entre pessoas pode ser introjetada em
cada uma não anula o fato de que, coletivamente, podem seguir sendo o
que sempre foram. Parafraseando uma comunicação oral de Pedro Pitarch
para o caso dos Maia mexicanos, os Tupinambá da Serra do Padeiro não
são os “descendentes” dos antigos Tupinambá: eles são aqueles Tupinambá
que foram capazes de sobreviver a uma experiência histórica devastadora.
De seu próprio ponto de vista, o ponto central dessa articulação entre
identidade e diferença, continuidade e descontinuidade parece se situar
no plano cosmológico. Conhecidos pelo culto que prestam aos encantados,
continuam a ver suas práticas religiosas sendo usadas para negar a eles o
direito a terra, sob o argumento de que assim como fenotipicamente eles não
parecem índios, sua religião estaria mais próxima das religiões de matriz
africana do que de práticas indígenas.
Como se sabe, por “encantado” entende-se, em praticamente todo o
Brasil, do oeste amazônico ao litoral nordestino e do extremo norte do país a
Minas Gerais, um conjunto de seres espirituais que assumem características
semelhantes e diferentes nas diversas práticas religiosas em que aparecem.
Denominados em muitas partes “caboclos”, esses encantados se caracterizam, em geral, por não se confundirem com as divindades propriamente ditas
e, ao mesmo tempo, por apresentarem algum tipo de afastamento significativo
655
656
documenta
em relação aos antepassados e aos espíritos de mortos em geral. Ainda que
isso não ocorra em todas as partes, os encantados costumam ser pensados
como “vivos”, seja no sentido de que são seres que passaram deste plano da
existência para outro sem conhecer a experiência da morte, seja no sentido
de que sempre existiram, habitaram e protegeram determinado território.
É bem nesta última acepção que os Tupinambá da Serra do Padeiro
definem os seus encantados — que eles ocasionalmente chamam de “caboclos”, termo igualmente utilizado como sinônimo de índios. Os encantados
são os “donos da terra”, essa terra que foi transformada em um “território de
sangue” e que é preciso agora “curar”, transformando-a em uma “Terra sem
Males”. Esta será a nova forma da vingança tupinambá, não mais a partir de
um “derrame de sangue”, mas justamente da cura de um território doente de
sangue. Para isso, são necessárias as “retomadas” das terras, da cultura, da
vida. Retomadas que devem ser entendidas literalmente no sentido proposto
por Isabelle Stengers para a noção de “reclaim”: não simplesmente lamentar
o que se perdeu na nostalgia de um retorno a um tempo passado, mas sim
recuperar e conquistar ao mesmo tempo, “tornar-se capaz de habitar de
novo as zonas de experiência devastadas” (Pignarre & Stengers 2005:185).
O modo como os Tupinambá da Serra do Padeiro narram os começos
de seu culto aos encantados é impressionante e constitui um dos condicionantes de suas práticas e representações. Um migrante do sertão baiano
acaba parando na Serra e se casando com uma nativa. Um de seus filhos
experimenta crises de dor ou mesmo de “loucura”. Seu pai decide levá-lo
para a mais famosa mãe de santo da Bahia, Mãe Menininha do Gantois,
sua parente distante. Em Salvador, a poderosa mãe de santo se dá conta de
que não pode curá-lo porque ele já possui o poder da cura. E que a única
solução é “cumprir sua sentença”, ou seja, voltar para a Serra e começar a
curar as pessoas. De volta, o primeiro pajé tupinambá contemporâneo cura
primeiro a si mesmo e em seguida outras pessoas. Em seus sonhos, descobre
pessoas com o mesmo dom, capazes de acolher os encantados, e dá início a
seu culto. Começa a acolher um encantado específico, o Caboclo Tupinambá,
que avisa que “essa terra vai voltar a ser uma aldeia indígena”, e anuncia
a missão de retomada do território indígena. Nessa retomada, humanos e
encantados são parceiros: os segundos seguem sempre na frente das ocupações territoriais e conduzem os primeiros na retomada da cultura.
Quando confrontados com a acusação de que suas práticas religiosas
não seriam realmente indígenas, mas “misturadas” ou mesmo de origem
africana, os Tupinambá da Serra do Padeiro sabem exatamente o que dizer.
Como afirma Célia, irmã do cacique Babau e grande pensadora, “o candomblé
é bom pra gente usar” (Ubinger 2012:149). Continuo a citá-la:
documenta
A gente não discrimina, sabemos que algumas das entidades dos negros são
do bem. Mas se eles não combinam, a gente não trabalha com eles, nós não
trabalhamos com as entidades negras, mas algumas sim, pois elas ajudam.
Porque havia muito contato entre as culturas (Ubinger 2012:135).
Ora, essa visão pragmática, no sentido filosoficamente mais profundo do
termo, também pode ser aplicada às religiões dos brancos. Como diz Célia,
orações católicas, por exemplo, são utilizadas pelos Tupinambá, mesmo que
eles de modo algum sejam cristãos, porque — e sigo citando-a:
Nós fomos catequizados. Aí nós usamos o que era bom ou tinha mais força da
religião do outro e adaptamos às nossas práticas e crenças. Mas continuamos
fazendo nossos rituais e tendo fé nas nossas crenças, só que adaptamos, usando
o que era útil ou bom do homem branco (Ubinger 2012:135).
Tão longe, tão perto dos afroindígenas de Caravelas. A relação afroindígena
segue sendo o modo pelo qual se pode resistir aos brancos, mesmo que, neste caso,
seja preciso manter a separação interna entre afro e indígena, de algum modo
“eclipsada” pelos militantes de Caravelas. Índios até o século XIX, os Tupinambá
se veem obrigados a “submergir” para não serem mortos — um pouco como seus
encantados, que passam de um plano a outro sem conhecer a experiência da
morte. Nessa submersão, tanto eles quanto seus encantados se metamorfoseiam
em “caboclos”, capazes de sobreviver em alguns nichos até poderem reemergir
neste mundo como índios e encantados a fim de retomarem o que é seu.
Não se trata aqui ainda de tirar muitas conclusões da justaposição
etnográfica e conceitual que apenas esbocei a partir dos belos trabalhos de
Cecília Mello e Helen Ubinger. Limito-me a observar que esse confronto
pode ser estendido a outras etnografias e teorias nativas na direção da elaboração de teorias etnográficas — para voltar ao conceito malinowskiano
que redescobri em meu trabalho sobre política — do que estou chamando
provisoriamente (contra)mestiçagem.
De todo modo, essas teorias etnográficas devem necessariamente se
apoiar em teorias nativas, e tudo indica que estas nunca deixam de opor,
ou de distinguir, o cruzamento, a parcialidade, a heterogênese, a modulação analógica, as intensidades, as variações contínuas, a composição e
a contramestiçagem aos clichês dominantes da síntese, da totalidade, da
miscigenação, da identificação por contraste, dos interesses, da lógica da
assimilação, da fusão e da mestiçagem e/ou sincretismo.
É nesse sentido que creio que a relação afroindígena possui um alto
potencial de desestabilização do nosso pensamento e que, por isso mesmo,
657
658
documenta
deve estar no coração de uma antropologia que encara as diferenças, que
leva a sério o que as pessoas pensam, que é capaz de se manter afastada
dos clichês que nos assolam e, assim, pensar diferente.
Para terminar, queria apenas justificar meu título, no qual fiz o que
sempre aconselho meus estudantes a não fazerem — a utilização literal de
uma expressão nativa seguida de um rebuscado subtítulo. Desta vez, contudo,
não fui capaz de resistir à força do episódio que me foi narrado por outra
ex-aluna que, como eu, fez sua pesquisa de campo em Ilhéus. No mercado
local de artesanato, Ana Cláudia Cruz da Silva vê um turista comprando
artesanato indígena de um vendedor que se apresenta como tupinambá.
Um pouco cético, o turista pergunta se ele é mesmo índio; ele responde que
sim, que é índio; o turista insiste na dúvida, suspeitando, sem dúvida, de
uma ascendência negra; o índio confirma que é tupinambá; o turista ainda
argumenta: “mas você não parece índio!”. E a resposta: “O que o senhor
queria? São quinhentos anos de contato”.
documenta
Referências bibliográficas
ANJOS, José Carlos Gomes dos. 2006.
MELLO, Cecília Campello do Amaral.
Território da linha cruzada: a cosmopolítica afro-brasileira. Porto Alegre:
2003. Obras de arte e conceitos: cultura e antropologia do ponto de vista
de um grupo afro-indígena do sul da
Bahia. Dissertação de Mestrado, Rio
de Janeiro, PPGAS-Museu Nacional.
___. 2010. Política, meio ambiente e arte:
percursos de um movimento cultural
do extremo sul da Bahia (2002-2009).
Tese de Doutorado, Rio de Janeiro,
PPGAS-Museu Nacional.
___. 2013. “Irradiação e bricolagem do
ponto de vista de um movimento cultural afroindígena”. Cosmos e Contexto:
Revista Eletrônica de Cosmologia e
Cultura, 18. Disponível em: http://
www.cosmosecontexto.org.br/?p=2292
Acesso em: 23/11/2015.
PIGNARRE, Philippe & STENGERS, Isabelle. 2005. La sorcellerie capitaliste.
Paris: La Découverte.
PITARCH, Pedro. 2013. La cara oculta
del pliegue. Ensayos de antropología
indígena. México: Artes de México/
Conaculta.
STRATHERN, Marilyn. 1988. The gender
of the gift: problems with women and
problems with society in Melanesia.
Berkeley: University of California Press.
UBINGER, Helen Catalina. 2012. Os tupinambá da Serra do Padeiro: religiosidade e territorialidade na luta pela terra
indígena. Dissertação de Mestrado,
Salvador, UFBA.
UFRGS.
BASTIDE, Roger. 1960. Les religions afri-
caines au Brèsil. Paris: PUF.
___. 1976 [1973]. “La rencontre des dieux
africains et des esprits indiens”.
AfroAsia, 12:31-45.
BORGES, Jorge Luis. 1974 [1935]. “El atroz
redentor Lazarus Morell”. In: Obra
completa 1923-1972. Buenos Aires:
Emecé Editores.
COUTO, Patrícia Navarro de Almeida.
2008. Morada dos encantados: identidade e religiosidade entre os tupinambá da
Serra do Padeiro – Buerarema, BA. Dissertação de Mestrado, Salvador, UFBA.
DELEUZE, Gilles & BENE, Carmelo. 1979.
Superpositions. Paris: Minuit.
DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. 1972.
L’Anti-Oedipe: capitalisme et schizofrénie. Paris: Minuit.
GOLDMAN , Marcio. 2015. “A relação
afroindígena”. Cadernos de Campo,
23 (no prelo).
GUATTARI, Félix. 1992. Chaosmose. Paris:
Galilée.
___. 1993. “La pulsion, la psychose et
les quatre petits foncteurs”. Revue
Chimères, 20:113-122.
LÉVI-STRAUSS, Claude. 1962. La pensée
sauvage. Paris: Plon.
___. 1964-1971. Mythologiques (4 vols.).
Paris: Plon.
LOSONCZY, Anne-Marie. 1997. Les saints
et la forêt: rituel société et figures de
l’échange entre noirs et indiens emberá.
Paris: L’Harmattan.
MACÊDO, Ulla. 2007. A “dona do corpo”:
um olhar sobre a reprodução entre os
Tupinambá da Serra – BA. Dissertação
de Mestrado, Salvador, UFBA.
659
MANA 21(3): 661-678, 2015
RESENHAS
DOI
http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p661
ARNOLD, Denise & ESPEJO, Elvira. 2013.
El textil tridimensional: la naturaleza del
tejido como objeto y como sujeto. La Paz:
Fundación Interamericana / Fundación
Xavier Albó / Instituto de Lengua y Cultura
Aymara. 375 pp.
Indira Viana Caballero
PPGAS-MN/UFRJ
Neste livro, a antropóloga Denise Arnold
e a artista plástica Elvira Espejo fazem
uma análise dos tecidos artesanais como
objeto material, resgatando a abordagem sobre cultura material, porém com
o diferencial de que não os consideram
somente como objeto, tal qual faziam
outros trabalhos pioneiros deste campo.
Os tecidos emergem na abordagem das
autoras como um sujeito, um “ser vivente” que tem uma relação íntima com
as tecedoras que os elaboram com suas
próprias mãos. Essa noção vai sendo
aprofundada a cada capítulo ao serem
apresentados os conceitos acerca dos tecidos desde o ponto de vista das próprias
tecelãs, valorizando-se, assim, a perspectiva etnográfica. Ademais, Elvira Espejo
é uma tecelã de Qaqachaka, localidade
ao sul do departamento de Oruro, região
dos Andes bolivianos, cuja população é
falante de aymara, onde grande parte dos
instrumentos referidos no livro era usada
até recentemente e onde foi concentrada
a pesquisa etnográfica.
Este é o terceiro livro de uma trilogia
sobre a tecelagem artesanal – o primeiro
foi intitulado Ciencia de las mujeres e o
segundo, Ciencia de tejer en los Andes,
ambos publicados em 2010 – resultado
de três anos de pesquisa sobre tecidos
etnográficos e também arqueológicos
de coleções de museus do Reino Unido,
Peru, Bolívia e Chile. Repleto de imagens
coloridas que realçam tecidos e instrumentos têxteis, o livro está dividido em
três partes. Na primeira delas, Arnold e
Espejo apresentam algumas concepções
sobre a tridimensionalidade, sua importância nos Andes, não apenas no que se
refere aos tecidos, mas também à noção
de pessoa, paisagem, tempo, e outras.
A segunda parte trata da produção têxtil
propriamente dita, focando na tecnologia
relacionada ao processo de confecção
dos tecidos, desde o tear e outros instrumentos até as técnicas de planificação de
desenhos e tingimentos. A parte final enfoca os “tecidos como documento social”,
isto é, como registro deixado pelos povos
andinos do passado e que as populações
atuais deixarão.
As autoras mostram que a elaboração
dos tecidos é fruto de uma rede complexa
de processos que se inicia com a criação
do gado, que requer a tosa dos animais, a
662
RESENHAS
transformação dos pelos em fios, a elaboração das tinturas para os tingimentos e a
fabricação dos artefatos necessários para
tecer (feitos com pedras, ossos, metais e
madeiras). Além de precisar, evidentemente, da realização de oferendas para
seres não humanos – como a Pachamama
(mãe terra) e os Apus (montanhas protetoras) – que participam da criação dos
animais e garantem sua reprodução a
cada ano. Perceber a extensa cadeia vital
em que a confecção artesanal têxtil está
inserida é parte fundamental da construção do argumento dos tecidos como um
ser vivente.
A multidimensionalidade dos objetos é uma questão central na vida dos
qaqachaqueños. Tecedoras como Elvira
Espejo explicam que a construção de uma
peça têxtil com três dimensões somente
é possível se a artesã “consegue pensar
em três dimensões na vida real” (:56).
Concepção relacionada, por sua vez, a
um conhecimento profundo, ligado aos
“três corações da tecedora”, ou à busca da
“habilidade de plasmar na sua obra não
apenas o mundo cotidiano, mas os três
mundos em sua totalidade: o de cima, o
de baixo e o do meio ou interior” (:56).
Aquele capaz de alcançar essa compreensão conceitual pode dominar, então, o
que quiser, chegando a manipular quatro
planos ou mais, tanto no que se refere aos
têxteis como para além deles, tornando-se, inclusive, uma pessoa mais apreciada
pelos demais por haver adquirido uma
habilidade que nem todos alcançam.
O domínio da multidimensionalidade
é visto como uma capacidade técnica e
intelectual.
Assim que as meninas começam
aprender a tecer diz-se: “Pensa com tua
cabeça, tira os desenhos do teu coração,
e como tu te inspiras, realiza com tuas
mãos” (:60). Expressa-se, nesta formulação, um forte encadeamento entre mente,
coração e mãos. Tudo deve ser planificado
com a mente, para logo ser consolidado
no coração e, finalmente, feito com as
mãos, tratando-se de uma sequência de
três etapas. Nessa tríade, o coração é parte
fundamental na expressão de formulações
concebidas pela mente, seja através de
palavras (proferidas por um bom orador),
seja na forma de objetos (feitos por um
reconhecido artesão).
Cabe ressaltar que para as tecedoras
o coração não é exclusividade de poucos,
pois “tudo tem seu coração” (:80). Os fios,
ou lãs, os instrumentos utilizados para
tecer, os cultivos, todos possuem seu
coração; incluindo as peças têxteis terminadas, como o ahuayo – manta utilizada
para diversos fins – cujo coração é sua
costura central. Para as tecelãs, “todo o
mundo têxtil é como a pessoa, que possui
três dimensões que são refletidas no seu
coração” (:80), noção que integra a ideia
mais ampla da tridimensionalidade dos
tecidos e da pessoa.
A vitalidade dos tecidos se deve, em
parte, à matéria-prima que lhe dá origem,
a saber, os pelos dos animais, e também ao
vínculo corporal que se estabelece entre
as tecelãs e a própria peça que vai sendo
feita com suas mãos, ou que é “trazida à
vida”. Como nos diz Catherine Allen no
seu livro La coca sabe: coca e identidad
cultural en una comunidad andina (2008
[1988]), um clássico da antropologia
feita nos Andes, a ideia de que o criador
de um objeto confere a este certa força
vital é muito antiga nos Andes (:182).
Na mesma direção, Arnold e Espejo
afirmam que aquela que cria um artefato
têxtil não o percebe apenas como parte
de seu corpo, mas também como parte de
sua “linhagem”, uma vez que o conteúdo
iconográfico dos tecidos expressa determinados princípios, como o direito das
famílias de usarem certos desenhos e de
passá-los de geração em geração.
A criatividade envolvida na confecção
têxtil, vale ressaltar, é vista como algo
RESENHAS
estendido a toda a família, ainda que o
talento individual das artesãs seja reconhecido. Por esta razão, ao iniciarem
uma nova peça, é comum que as tecelãs
invoquem seus antepassados fazendo oferendas de coca para que eles as inspirem,
para que suas almas ajudem no objeto/sujeito que começam a criar. Nesse sentido,
o têxtil ultrapassa a ideia de “pele social
superficial”, materializando em si mesmo
o patrimônio e a riqueza das linhagens.
Ao longo do livro, os conteúdos iconográficos de tecidos, desenhos, formas
e formulações a respeito da composição
de cores vão sendo detalhadamente
percorridos, constituindo-se como temas
centrais desse campo de estudos. Sobre
este aspecto vale destacar dois pontos.
Um deles é sobre as cores: a concepção
europeia de agregar cores a uma superfície nos tecidos difere muito dos artefatos
analisados por Arnold e Espejo, cujas
cores derivam da própria estrutura têxtil,
pois são aplicadas no seu interior – semelhante ao processo de elaboração da cerâmica, em que não se trata simplesmente
de aplicar uma pintura à superfície, sendo
sua estrutura, seu corpo e seu ser como
objeto material “o que se deve construir
com a participação humana” (:57).
Os dados mostram ainda que a busca por
pigmentos, os processos de tingimento e
o uso das cores podem estar relacionados
ao gênero, à idade e à classe daquele que
veste o tecido.
O segundo aspecto importante diz respeito aos motivos e às figuras têxteis como
codificação da produção, principalmente
agrícola, por parte da tecelã, os quais
informam com o número de listras, por
exemplo, qual família possui mais milho
ou batata, ou ainda quais produtos foram
trazidos de fora. A relação entre a elaboração têxtil e as chacras, as roças, chamam
a atenção: diversas imagens fazem referência a processos agrícolas, irrigação
e plantio e, mais do que isso, o próprio
modo de expressar técnicas têxteis e de
se reportar a elas guarda estreita conexão
com as técnicas agrícolas. É o caso de um
dos instrumentos usados no processo de
tecer, uma espécie de palito chamado
de jaynu, considerado como aquele que
“guia o caminho da figura, dos desenhos”, “é como se fosse a água que rega
o que está nos sulcos das listras estreitas
[…], que rega essas cores e outras cores
do fio para que possam brotar melhor nas
figuras do tecido” (:97). De modo que o
próprio têxtil é visto como uma chacra,
com suas plantas e sementes, e como se
esse “guiador” chamado jaynu regasse
cada planta, guiando a água destinada a
cada uma. Em ambos os casos, os fluxos –
de cor (de lã) e de água – devem ser dosados e conduzidos para que alcancem
seus objetivos, emergindo através de tais
noções a relação viva entre as partes do
têxtil e a esfera da produção agropastoril.
Os instrumentos têxteis, componentes
fundamentais no processo da tecelagem,
recebem destaque através da forma como
são compreendidos nesta abordagem,
não sendo considerados como simples
acessórios externos aos corpos das tecedoras. Arnold e Espejo propõem que tais
objetos sejam encarados como “extensões
dos corpos que trabalham dentro de um
campo de forças em que um objeto, neste
caso o objeto têxtil, emerge da interação
rítmica entre corpo, instrumento e matéria-prima” (:86). Conforme este enfoque,
são artefatos animados pela vontade do
usuário de “alcançar o impacto desejado
na matéria-prima”, os quais “estendem a
capacidade da tecedora”, atuando como
“intermediários entre as pessoas e seu
ambiente, dirigidos para a elaboração do
tecido” (:111). Portanto, são objetos que
ajudam a transmitir as forças vitais das
artesãs ao tecido em construção.
Ao final dessa magnífica leitura,
fica claro que, na concepção qaqachaqueña, objetos e seres vivos são partes
663
664
RESENHAS
de um contínuo criativo compartilhado,
percebendo-se através da análise do
ciclo vital dos têxteis e das pessoas que
ambos os tipos de corpos se constituem
mutuamente. De um lado, a elaboração
do têxtil é comparável ao processo de
engendrar uma criança, de outro, a gestação em si aparece como um processo
de hilar la vida.
DOI
http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p664
BECKER, Howard. 2015. Truques da escrita:
para começar e terminar teses, livros e
artigos. Tradução de Denise Bottmann.
Revisão técnica de Karina Kuschnir. Rio de
Janeiro: Zahar. 253 pp.
Cleverton Barros de Lima
Prof. Doutor em História pela UNICAMP.
Professor na Fanese
A atividade da escrita acadêmica é a temática central do livro Truques da escrita,
de Howard Saul Becker. O autor utiliza,
numa reflexão sociológica acurada, a realidade social da produção textual, desde
o momento de formação dos discentes nos
cursos de graduação até o ponto final, na
fase profissional. Exatamente quando o
pesquisador inclui, entre as suas principais tarefas e obrigações acadêmicas, a
escrita de artigos, capítulos e livros.
Howard S. Becker é um conhecido
sociólogo americano de obras como Uma
teoria da ação coletiva (1977); Outsiders:
estudos da sociologia dos desvios (2008);
Falando da sociedade (2009); e Segredos
e truques da pesquisa (2007), publicadas pela mesma editora do livro desta
resenha. Graduado pela University of
Chicago, Becker tem dado relevante contribuição ao debate no âmbito da sociologia da arte, do desvio e da música. Recentemente, publicou o livro What About
Mozart? What About Murder? (2015),
revelando assim uma das referências das
Ciências Sociais.
O livro Truques da escrita tem por
escopo a reflexão sobre as condições sociais da escrita, distribuídas nos seus dez
capítulos. No prefácio à edição brasileira,
o autor refere-se à tradição de sociólogos
brasileiros do passado, dos quais ele
admira, em especial a escrita de Sérgio
Buarque de Holanda e Antonio Candido.
Becker percebe uma tradição instigante
no aspecto da narrativa nas obras dos
autores de Raízes do Brasil e Os Parceiros do Rio Bonito. De certo, a produção
intelectual destes escritores conferiu ao
debate sociológico a respeito do Brasil
um grau inegável de sofisticação e refinamento. E neste aspecto, a escrita, não
só deles, mas de obras como Casa grande
e senzala de Gilberto Freyre, aponta para
uma tradição sociológica frutífera, em
que a tessitura da linguagem tornou-se
um ponto emblemático.
Mas o objeto do livro de Becker assinala outro sentido do processo da escrita,
ou seja, o início da formação dos muitos
estudantes de graduação de ciências humanas e sociais que encontram inúmeros
obstáculos, muitas vezes vistos como
intransponíveis, na produção de textos
acadêmicos. As dificuldades aumentam
gradativamente, caso o estudante invista
na pós-graduação. Nesse sentido, Becker
observa os esforços que, com frequência,
deixam os estudantes desconsolados,
melhor dizendo, desolados em função
do temor de mostrar aos colegas os rascunhos dos textos que estão escrevendo.
A ideia central de Howard Becker é
pensar sociologicamente as dificuldades
da escrita dos estudantes, pois são fruto
não das deficiências individuais, mas dos
“problemas de organização social” (:8),
ou seja, a resposta para o fraco desempenho na escrita acadêmica resulta não
da inépcia pessoal, mas da “organização
664
RESENHAS
de um contínuo criativo compartilhado,
percebendo-se através da análise do
ciclo vital dos têxteis e das pessoas que
ambos os tipos de corpos se constituem
mutuamente. De um lado, a elaboração
do têxtil é comparável ao processo de
engendrar uma criança, de outro, a gestação em si aparece como um processo
de hilar la vida.
DOI
http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p664
BECKER, Howard. 2015. Truques da escrita:
para começar e terminar teses, livros e
artigos. Tradução de Denise Bottmann.
Revisão técnica de Karina Kuschnir. Rio de
Janeiro: Zahar. 253 pp.
Cleverton Barros de Lima
Prof. Doutor em História pela UNICAMP.
Professor na Fanese
A atividade da escrita acadêmica é a temática central do livro Truques da escrita,
de Howard Saul Becker. O autor utiliza,
numa reflexão sociológica acurada, a realidade social da produção textual, desde
o momento de formação dos discentes nos
cursos de graduação até o ponto final, na
fase profissional. Exatamente quando o
pesquisador inclui, entre as suas principais tarefas e obrigações acadêmicas, a
escrita de artigos, capítulos e livros.
Howard S. Becker é um conhecido
sociólogo americano de obras como Uma
teoria da ação coletiva (1977); Outsiders:
estudos da sociologia dos desvios (2008);
Falando da sociedade (2009); e Segredos
e truques da pesquisa (2007), publicadas pela mesma editora do livro desta
resenha. Graduado pela University of
Chicago, Becker tem dado relevante contribuição ao debate no âmbito da sociologia da arte, do desvio e da música. Recentemente, publicou o livro What About
Mozart? What About Murder? (2015),
revelando assim uma das referências das
Ciências Sociais.
O livro Truques da escrita tem por
escopo a reflexão sobre as condições sociais da escrita, distribuídas nos seus dez
capítulos. No prefácio à edição brasileira,
o autor refere-se à tradição de sociólogos
brasileiros do passado, dos quais ele
admira, em especial a escrita de Sérgio
Buarque de Holanda e Antonio Candido.
Becker percebe uma tradição instigante
no aspecto da narrativa nas obras dos
autores de Raízes do Brasil e Os Parceiros do Rio Bonito. De certo, a produção
intelectual destes escritores conferiu ao
debate sociológico a respeito do Brasil
um grau inegável de sofisticação e refinamento. E neste aspecto, a escrita, não
só deles, mas de obras como Casa grande
e senzala de Gilberto Freyre, aponta para
uma tradição sociológica frutífera, em
que a tessitura da linguagem tornou-se
um ponto emblemático.
Mas o objeto do livro de Becker assinala outro sentido do processo da escrita,
ou seja, o início da formação dos muitos
estudantes de graduação de ciências humanas e sociais que encontram inúmeros
obstáculos, muitas vezes vistos como
intransponíveis, na produção de textos
acadêmicos. As dificuldades aumentam
gradativamente, caso o estudante invista
na pós-graduação. Nesse sentido, Becker
observa os esforços que, com frequência,
deixam os estudantes desconsolados,
melhor dizendo, desolados em função
do temor de mostrar aos colegas os rascunhos dos textos que estão escrevendo.
A ideia central de Howard Becker é
pensar sociologicamente as dificuldades
da escrita dos estudantes, pois são fruto
não das deficiências individuais, mas dos
“problemas de organização social” (:8),
ou seja, a resposta para o fraco desempenho na escrita acadêmica resulta não
da inépcia pessoal, mas da “organização
RESENHAS
social” que estaria forjando as barreiras
para os estudantes. Então, a tese importante deste sociólogo é a de que as pistas
para a ineficiência na escrita requerem
observação do ambiente no qual estamos inseridos, pois ele traz as barreiras
que transformam a escrita numa obra de
poucos escolhidos. Ao investigar as peculiaridades desse problema social, ele observa que as dificuldades surgem quando
temos receio de expor nossos textos, pois
supostamente seríamos ridicularizados.
O escárnio dos leitores, seja o professor
ou o colega, suscita nos alunos os temores que paralisam o aprimoramento do
primeiro rascunho.
Isto posto, Becker acrescenta que o
isolamento é a regra geral da produção
acadêmica. Ele alega que escondemos
os nossos textos e, assim, observa-se
quase tão somente o produto final publicado pelo professor, sem nenhuma ideia
clara, ou melhor, menos misteriosa, dos
processos e dos rituais de escrita vividos
até o resultado final. Desta maneira, o
problema da escrita entre os estudantes
universitários seria resultado daquilo que
ele denomina “privacidade socialmente
organizada”. Em outras palavras, mesmo
que todos passem pelos mesmos problemas na produção do texto, segundo ele,
nós nos escondemos e não sabemos das
dificuldades que até mesmo um pesquisador sênior vivencia.
Ainda de acordo com o autor, existe
uma solução para os entraves da escrita,
pois a dificuldade “não é irremediável”.
Ele completa a sua instrução: “E que isso
sirva de modelo para todos os seus problemas de redação! Encontre a situação
que gera seu problema e mude-a” (:10).
A tarefa sugerida é pensar nas fases da
produção da escrita, naquilo que “está
travando” e, em seguida, reescrever a
nova versão. O texto seria, segundo o sociólogo, resultado dos esforços empreendidos para aprimorá-lo, desde a produção
do primeiro rascunho à fase da revisão
e, por último, não menos importante, à
da reescrita.
Os truques foram ensinados no seminário de redação que Becker ministrou
para os discentes de pós-graduação em
Sociologia na Northwestern University.
Ele aproveitou a oportunidade para
exercer os papéis de professor particular
e terapeuta de várias pessoas com os
mesmos problemas na escrita. E nesta
experiência, rascunhou as primeiras
análises, publicadas num artigo que ele
reuniu no primeiro capítulo deste livro.
A reação às ideias de seu trabalho gerou
o interesse de um público bem maior.
O autor relata, por exemplo, receber
cartas emotivas que trazem relatos de
como a leitura do artigo foi importante
para a retomada da escrita. Alguns questionaram o fato de alguém descrever em
detalhes os medos e as apreensões de
tantos desconhecidos.
É importante o relato da professora
Pamela Richards, socióloga que ensina
na Universidade da Flórida. Parte do
capítulo intitulado “Riscos” foi escrito
também por ela, ou seja, a reflexão de
Becker retoma o fato de que as dificuldades de escrita não se restringem aos
iniciantes. A socióloga, então, discorre
sobre a questão dos riscos que envolvem
o trabalho da escrita acadêmica. O problema apontado por ela está relacionado
ao medo que desenvolvemos quando outras pessoas avaliam os nossos primeiros
rascunhos. Daí o aspecto do isolamento
social garantir, de certa forma, podermos
correr os riscos que o trabalho da escrita
exige. Trabalhar num novo projeto pode
gerar um padrão angustiante. O método
de Becker para que Richards superasse
os bloqueios iniciais foi escrever de forma
contínua as primeiras impressões o mais
rápido possível. Ele prescreveu inicialmente que ela redigisse as primeiras
ideias que lhe viessem à cabeça, sem
665
666
RESENHAS
uma censura preliminar, ou até mesmo
se valesse da consulta às suas anotações,
bibliografia e notas de campo. Liberar
o fluxo da escrita seria, então, o truque
deste método de produção textual, que
tem por finalidade restaurar a confiança
na percepção; além disso, a crença no
entendimento de que o primeiro rascunho guarda a ideia de um melhoramento
futuro. Assim, quando houvesse algum
bloqueio ou dificuldade, o truque seria
escrever “empaquei”, e seguir em frente
com outro tópico.
Algum tempo sem dar notícias, Pamela Richards escreveu para Howard
Becker. Ela havia alugado uma cabana
na floresta com o intuito de escrever o
primeiro rascunho. De antemão, acreditou ser um “risco” pôr em prática o
conselho do colega, mesmo assim optou
pelo “risco”. Por isso, a questão central,
nas palavras de Richards, estava no
centro dos seus temores. Na realidade, o
risco, para a socióloga, era se “expor ao
escrutínio” dos leitores. A argumentação
do livro de Becker sugere exatamente a
solução prática para o risco com o qual
estamos envolvidos socialmente. Temores como os de Richards descrevem um
quadro panorâmico das condições sociais da produção da escrita acadêmica.
As exigências dos pares, os rigores e os
temores pessoais são entraves para o
contexto de risco.
O livro de Becker aborda ainda o aspecto da produção da escrita acadêmica
profissional, e só por isso já é um exercício sociológico de pensar a realidade
social da produção textual. Pensar os
problemas relacionados a como escrever
na academia não pode ser entendido
como restrito aos sociólogos. A tarefa é
refletir a respeito das condições da escrita
que isola, e que direciona a discussão da
produção acadêmica somente ao produto
acabado, ou seja, não são visíveis os dilemas e os impasses do risco de escrever.
Neste quesito, o livro Truques da Escrita
levanta as questões referentes não só à
comunicação científica, mas também às
condições sociais de organização da vida
acadêmica, numa perspectiva instigante.
O problema de escrever de forma precária, na acepção do sociólogo, não se
restringe aos estudantes, mas abrange
os ritos acadêmicos que consolidam o
desenvolvimento da produção escrita
num viés isolado e, em certo grau, numa
sabotagem coletiva.
Por isso, a relevância de uma obra
como Truques da Escrita no período de
expansão da cultura acadêmica no Brasil,
o que se dá exatamente pelos novos caminhos de organização acadêmica, em que
é preciso refletir mais a respeito das condições sociais da comunicação científica.
A ideia de trabalhar o texto entendendo
os níveis de melhoramento dos rascunhos
consagra as várias operações necessárias
para compreender o desenvolvimento
da redação. Neste sentido, o livro revela
os impasses da tarefa do trabalho acadêmico, que necessariamente precisa
romper práticas isolacionistas para então
construir um modelo social de produção
acadêmica.
O grande mérito deste livro é trazer
para o debate a responsabilidade da universidade em valorizar o trabalho acadêmico numa perspectiva colaborativa.
A experiência de seminários de redação
entre os acadêmicos constitui uma preocupação quanto à relevância da escrita
para o desenvolvimento profissional.
Comunicar as reflexões de pesquisa é
uma das tarefas elementares da Universidade e, neste sentido, Becker salientou
a necessidade de auxiliar os graduandos
no início de sua formação. Assim, a
importância da escrita acadêmica é um
dos indicadores da amplitude do debate
educacional, especialmente quando
este chega ao leitor com sofisticação
e estilo.
RESENHAS
DOI
http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p667
CAIAFA, Janice. 2013. Trilhos da cidade:
viajar no metrô do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: 7Letras. 392 pp.
Raphael Bispo
(ICH/ UFJF)
Desde a década de 1980, a antropóloga
Janice Caiafa dedica-se a estudar as
dinâmicas da vida urbana no Brasil e no
exterior a partir de diferentes abordagens.
Uma das qualidades da concepção de
suas pesquisas que salta aos olhos desde
então é parecer incorporar em suas experimentações etnográficas a figura do
flâneur, que tão bem povoa o imaginário
dos antropólogos urbanos. Do já clássico
Movimento punk na cidade (1985) –
circulando junto a jovens suburbanos roqueiros que vagavam sem destino certo, a
esmo, por becos e vielas do centro do Rio
de Janeiro – às suas diversas pesquisas
subsequentes acerca dos transportes públicos rodoviários e ferroviários no Rio e
em Nova York – reunidas em trabalhos
como Jornadas urbanas (2003) e Aventura
das cidades (2007) – Caiafa parece estar
sempre andando por aí, sendo afetada pelas pulsões das ruas, disposta a se expor
às novidades e às diferenças tipicamente
urbanas para com isso conhecer as invenções da vida social que eclodem de seus
heterogêneos trânsitos. Há, portanto, algo
da flânerie no espírito de sua obra.
Trilhos da cidade, seu mais recente
trabalho, reforça ainda mais esta constatação. O objetivo do estudo é simples,
não se erige a partir de grandes hipóteses: apresentar aspectos da experiência
de viajar no metrô do Rio de Janeiro.
A pesquisa de campo teve início em 2005
e é justamente ao acompanharmos os
passeios da autora pelo underground da
cidade que uma complexa trama se erige.
De longe, poderíamos afirmar que é “um
livro bem escrito” (um elogio recorrente
aos trabalhos de Caiafa). Mas Trilhos da
cidade se faz “bem escrito” não só por
sua elegância descritiva, mas por oferecer
boas soluções para dilemas antropológicos que carregamos há anos. A autora nos
brinda com resoluções criativas ao compor um texto etnográfico que concilia de
maneira eficiente suas ideias ao lado das
de seus interlocutores: usuários do metrô,
profissionais do transporte, seguranças,
engenheiros, especialistas jurídicos etc.
Caiafa também torna conceitos e teorias
antropológicos compreensíveis e interessantes, bem longe de um olhar científico
asséptico. Nesse sentido, a “simpatia”
como um modus operandi a ser adotada
pelos antropólogos quando em campo que
Caiafa propôs em obra anterior (Aventura
das cidades) se concretiza em Trilhos.
A autora não opera a partir de um sentimento de estima ou caridade para com os
frequentadores do metrô. Ela é “simpática” porque age “com”, fala “com”, tem
algo a ver, a agenciar e a trocar com eles.
A etnografia se distribui ao longo de
12 capítulos que dão conta das dimensões que o sistema metroviário suscita:
“solidão povoada”, “uso e consumo no
metrô”, “trocando de linha”, “sobre assentos preferenciais” etc. Já por estes títulos
conseguimos antever algo constante:
uma harmonia entre a relação sensível
e imediata decorrente da observação
participante com outra mais estranhada,
analítica, resultado de reflexões sobre
esse meio de transporte. Assim, há nessa
etnografia uma conciliação eficiente – e
para qual não existe uma fórmula – entre
os tão problematizados “micro” e “macro” da vida social, porque justamente
a todo instante Caiafa exercita através
da escrita o borrar dessas fronteiras,
fazendo com que o “dado empírico” e a
“análise” percam seus poderes de definição nesse formato estanque. É como se a
autora encontrasse a medida justa entre
667
668
RESENHAS
a “experiência próxima” e a “experiência
distante” – para relembrarmos os consagrados (e criticados) conceitos de Clifford
Geertz – justamente porque nunca pensou
em separá-los, mas sim em confundi-los
de múltiplas e criativas maneiras.
Logo, a partir desse nível mais “micro”
das dinâmicas metroviárias, conseguimos
antever uma poética dos trilhos que cortam
o subsolo. A autora registra nos capítulos
iniciais a intensidade particular que se
desenvolve no “ambiente polido” (:63) do
metrô, seja nas conversas contidas entre
os usuários, seja nas leituras por eles feitas
durante as viagens, ou mesmo nas contemplações silenciosas dos desconhecidos ali
presentes. Na reunião coletiva de viajantes
que é o metrô, uma solidão especial se produz. Não se trata da falta de contato entre
as pessoas, mas algo que se cultiva. Silêncio denso, povoado de presenças, porque
se dá num meio coletivo heterogêneo, onde
mundos estranhos se expõem e entram em
choque a todo instante.
A poética metroviária se estende também nos capítulos que abordam o ambiente
particularmente vigiado e controlado do
metrô, capaz de impor um ritmo e atitudes
aos corpos que por ali trafegam. O sistema
é marcado por regulações (sinalizações,
placas, indicações de acesso) que exigem
de nós entrar em contato com inúmeras
máquinas. É o metrô, portanto, um espaço
regido por requisitos de circulação e que
geram uma forma específica de fruição.
Assim, Caiafa demonstra haver um “balé”
(:50) para se atingirem as escadas rolantes,
por exemplo, já que um grande número de
pessoas caminha junto e isto impõe um flanar rigoroso no espaço. Deve-se caminhar
com todos, numa ética que se aprende habitando os centros urbanos, demonstrando
“o traquejo para conviver com os outros na
cidade” (:48) numa “fricção que anima os
corpos” (:49). O metrô é visto por Caiafa
como um espaço heterotópico, nos termos
de Foucault, por contrastar com o agito,
a sujeira e o ritmo da cidade exposta.
No underground, portanto, a flânerie tem
tonalidades particulares.
O dia a dia metroviário também ganha
espaço na etnografia, para além dessa
poética suscitada por torniquetes, bancos
e silêncios densos. Caiafa nos mostra a maneira particular como a cidade se apresenta
na linha 2, que corta as áreas mais pobres
do Rio de Janeiro, com suas paisagens e
problemas invadindo o ambiente de linha
férrea não subterrânea. A cidade não está
fora do metrô, pode-se concluir. A linha 2 é
marcada por uma sociabilidade específica,
gerando sensações e afetos característicos
por conta de sua particularidade pendular,
levando moradores da periferia aos centros
mais urbanizados.
O everyday-life do metrô se faz etnograficamente também como consequência das inúmeras modificações sofridas
pelo sistema ao longo da pesquisa de
campo. A antropóloga não deixa de lado
a “realidade que se move” (:305), acompanhando os problemas que os usuários
enfrentam nas viagens. Caiafa aponta as
mudanças nos sistemas de bilhetagem e
as perdas financeiras dos passageiros ao
adquirirem bilhetes unitários. É crítica de
um estilo de cobrança que oferece descontos temporários, aumentos constantes
e que surpreendem os usuários. Posiciona-se ao lado dos estudantes quando
estes passam a ser mais cerceados em
seu ir e vir com o surgimento de novas
modalidades de controle da gratuidade.
A autora acompanhou também o agravamento da superlotação e das falhas
operacionais decorrentes das decisões
unilaterais tomadas pelo estado junto
com a concessionária que administra o
metrô e que reconfiguraram o sistema de
maneira profunda. A opção por poucos
cruzamentos e pela extensividade das
linhas é bastante criticada por técnicos
e especialistas ouvidos por Caiafa. Além
disso, a reconfiguração desse transporte
RESENHAS
pela via da segregação por gênero – decorrente da imposição de uma lei que
exige vagão exclusivo para as mulheres
em horários de pico – é vista com ressalvas por ela. Caiafa coloca-se contrária a
uma percepção essencialista da mulher,
vista constantemente pelas lentes da
vitimização e da dominação por certas políticas públicas espetaculares, de grande
visibilidade para a população, mas que
não tocam nos problemas centrais que se
propõem a enfrentar, como a superlotação
dos trens e as hierarquias de gênero.
Nota-se com isso uma etnografia bem
próxima, atenta às inquietações banais
dos usuários do metrô, mas sem os efeitos
típicos da ideia de identificação, que leva
o pesquisador ao contágio, a se confundir
com os outros. O estudioso de algo familiar –
Caiafa, em vários momentos, se coloca
como uma antiga usuária do metrô – não
está impedido de tomar posições e de desenvolver um senso crítico em relação ao
que está sendo observado. Trilhos da cidade oferece, assim, lições valiosas para muitos antropólogos urbanos que em diversas
situações confundem seus trabalhos com
o diário íntimo de suas vidas, fazendo da
etnografia uma egotrip. Caiafa nos indica
que é possível uma etnografia do próximo
“afetada”, sem as identificações ou a transformação de dilemas íntimos vividos pelo
antropólogo em objeto de estudo.
Por fim, a etnografia é também recortada a todo tempo pelos contextos mais
amplos que envolvem questões da cidade
e do país. Tem destaque o processo de
urbanização da cidade do Rio ao longo
do século XX e a preparação do espaço
urbano para o automóvel privado em detrimento dos trens e dos bondes de outrora.
O “rodoviarismo” (:210) da cidade é visto
pela autora como um potencial agente de
segregação social, gerando uma distribuição desigual dos espaços da cidade. Além
disso, os regimes de propriedade e gestão
baseados na concessão de serviços públi-
cos essenciais e que estão nas mãos do
setor privado são um fenômeno recorrente
da ordem neoliberal que Caiafa analisa
localmente por meio do metrô carioca.
O regime de gestão privada transforma o
usuário em cliente. Ele deixa de ser alguém
que exerce seu direito de uso de um serviço
essencial e passa a ser um indivíduo que
compra deslocamentos, um “pagante de
trechos em trânsito” (:159). Caiafa percebe
que um serviço público de qualidade aos
poucos vai sendo deixado de lado no Rio
em prol da venda e do consumo de uma
marca. O metrô às vezes aparenta não mais
ser um direito, mas sim um produto posto à
venda para quem pode comprá-lo.
Por tudo isso, Trilhos da cidade é um
elogio ao transporte público, o reconhecimento do metrô e de seu papel social.
O livro é também um elogio à etnografia,
à potência criativa dos encontros gerados
entre antropólogos e seus “nativos”.
Mas, acima de tudo, Trilhos da cidade
é um elogio à vida urbana, ao encontro
com estranhos e à criação de novas formas de relacionamentos decorrentes da
partilha nem sempre harmônica de seus
heterogêneos espaços.
DOI
http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p669
MUSSI, Joana. 2014. O espaço como obra:
ações, coletivos artísticos e cidade. São
Paulo: Annablume Editora/ Fapesp/ Invisíveis Produções. 259 pp.
Ana Carolina Freire Accorsi Miranda
Doutoranda em Sociologia e Antropologia –
PPGSA/UFRJ
O espaço como obra: ações, coletivos artísticos e cidade revela uma proposta de
pensar intervenções urbanas de coletivos
artísticos como modos de resistência ao
poder da “sociedade de controle” im-
669
RESENHAS
pela via da segregação por gênero – decorrente da imposição de uma lei que
exige vagão exclusivo para as mulheres
em horários de pico – é vista com ressalvas por ela. Caiafa coloca-se contrária a
uma percepção essencialista da mulher,
vista constantemente pelas lentes da
vitimização e da dominação por certas políticas públicas espetaculares, de grande
visibilidade para a população, mas que
não tocam nos problemas centrais que se
propõem a enfrentar, como a superlotação
dos trens e as hierarquias de gênero.
Nota-se com isso uma etnografia bem
próxima, atenta às inquietações banais
dos usuários do metrô, mas sem os efeitos
típicos da ideia de identificação, que leva
o pesquisador ao contágio, a se confundir
com os outros. O estudioso de algo familiar –
Caiafa, em vários momentos, se coloca
como uma antiga usuária do metrô – não
está impedido de tomar posições e de desenvolver um senso crítico em relação ao
que está sendo observado. Trilhos da cidade oferece, assim, lições valiosas para muitos antropólogos urbanos que em diversas
situações confundem seus trabalhos com
o diário íntimo de suas vidas, fazendo da
etnografia uma egotrip. Caiafa nos indica
que é possível uma etnografia do próximo
“afetada”, sem as identificações ou a transformação de dilemas íntimos vividos pelo
antropólogo em objeto de estudo.
Por fim, a etnografia é também recortada a todo tempo pelos contextos mais
amplos que envolvem questões da cidade
e do país. Tem destaque o processo de
urbanização da cidade do Rio ao longo
do século XX e a preparação do espaço
urbano para o automóvel privado em detrimento dos trens e dos bondes de outrora.
O “rodoviarismo” (:210) da cidade é visto
pela autora como um potencial agente de
segregação social, gerando uma distribuição desigual dos espaços da cidade. Além
disso, os regimes de propriedade e gestão
baseados na concessão de serviços públi-
cos essenciais e que estão nas mãos do
setor privado são um fenômeno recorrente
da ordem neoliberal que Caiafa analisa
localmente por meio do metrô carioca.
O regime de gestão privada transforma o
usuário em cliente. Ele deixa de ser alguém
que exerce seu direito de uso de um serviço
essencial e passa a ser um indivíduo que
compra deslocamentos, um “pagante de
trechos em trânsito” (:159). Caiafa percebe
que um serviço público de qualidade aos
poucos vai sendo deixado de lado no Rio
em prol da venda e do consumo de uma
marca. O metrô às vezes aparenta não mais
ser um direito, mas sim um produto posto à
venda para quem pode comprá-lo.
Por tudo isso, Trilhos da cidade é um
elogio ao transporte público, o reconhecimento do metrô e de seu papel social.
O livro é também um elogio à etnografia,
à potência criativa dos encontros gerados
entre antropólogos e seus “nativos”.
Mas, acima de tudo, Trilhos da cidade
é um elogio à vida urbana, ao encontro
com estranhos e à criação de novas formas de relacionamentos decorrentes da
partilha nem sempre harmônica de seus
heterogêneos espaços.
DOI
http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p669
MUSSI, Joana. 2014. O espaço como obra:
ações, coletivos artísticos e cidade. São
Paulo: Annablume Editora/ Fapesp/ Invisíveis Produções. 259 pp.
Ana Carolina Freire Accorsi Miranda
Doutoranda em Sociologia e Antropologia –
PPGSA/UFRJ
O espaço como obra: ações, coletivos artísticos e cidade revela uma proposta de
pensar intervenções urbanas de coletivos
artísticos como modos de resistência ao
poder da “sociedade de controle” im-
669
670
RESENHAS
posta pelo capitalismo tardio. A autora,
Joana Zatz Mussi, é integrante de uma
rede de coletivos e artistas que surge em
meados dos anos 1990 em São Paulo,
justamente no auge do neoliberalismo,
e ocupa o espaço urbano com novas
formas de autoria e trabalhos artísticos.
Mussi é o “outro”, o próprio pesquisado,
estudando a si mesmo, o que gera um
desafio metodológico para a antropologia
urbana. Os coletivos, para antropólogos
que estudam a arte, podem ser pensados como alteridades no espaço urbano.
O livro constrói uma narrativa que coloca
a cidade como lugar possível de produzir
formas de micropolítica por meio da arte.
As intervenções artísticas, por se darem
num espaço público, têm o intuito de alterar as possíveis formas de convivência
neste meio e assim as subjetividades dos
atores sociais.
Os quatro grupos (Contrafilé – passando pelo MICO, grupo que deu origem
ao Contrafilé – Política do Impossível,
Frente 3 de Fevereiro e Grupo de Arte
Callejero) analisados no livro realizaram
trabalhos em resposta às rebeliões de
presídios, mortes de jovens na Febem,
Copa do Mundo, comemorações de Brasil
500 anos, greve de professores, ou seja,
aspectos de crise da sociedade em geral.
Os coletivos partem da própria crise política para fazer política na cidade. Isto se
dá em forma de ações artísticas que posteriormente poderão ir, como muitos foram,
para exposições em galerias e museus.
Este ciclo, da rua para o museu, tornou-se
característico da arte contemporânea atualmente desenvolvida. As intervenções
urbanas propostas por grupos de jovens
artistas se inseriram, desde que surgiram,
em instituições de arte e, assim, vêm
contribuindo para mudanças no mundo
da arte. Esse processo merece também a
atenção de pesquisadores da sociologia
e da antropologia, principalmente por
suscitar discussões de “artificação” –
quando algo que não é considerado arte
começa a ser legitimado como tal – e por
se aproximar do crescente turvamento
de fronteiras entre alta e baixa culturas.
A leitura deste ensaio contribui para
pensar as cidades e suas transformações
na contemporaneidade, mostrando como
o espaço público é um espaço de construção social e vem se tornando palco de
novas formas de resistência a um sistema
político que oprime as subjetividades e
os corpos. A ressignificação dos espaços públicos por meio de intervenções
de coletivos, tais como o cobrimento
com cobertores de moradores de rua do
Monumento às bandeiras, de Victor Brecheret, localizado em frente ao Parque
do Ibirapuera feito pelo coletivo MICO,
ou a instalação de uma catraca em um
pedestal vazio do Largo do Arouche com
a placa “Monumento à catraca invisível –
Programa para descatralização da vida” –
intervenção do coletivo Contrafilé – como
é mostrado no livro, desencadeou ações
para além do mundo da arte, evidenciadas em notícias de jornal e manifestações
políticas nas ruas.
O argumento central de Joana Mussi
é a apropriação dos espaços públicos
da cidade pelas práticas artísticas dos
coletivos investigados como um fenômeno não só macropolítico, mas também e
principalmente micropolítico, por gerar
redes de sociabilidades que evidenciam
a necessidade de fazer emergir uma
subjetividade política na contemporaneidade que esteja atenta às fragilidades
do sistema econômico imposto, e que
discuta e proponha novas alternativas de
convivência que resistam a esse modelo.
A sua base metodológica da pesquisa
é a investigação-ação, ou seja, uma observação participante que compreende a
própria investigação como intervenção.
A questão metodológica crucial é o afastamento que a autora procura realizar por
ser parte integrante do campo, esta sendo
RESENHAS
uma problemática cara ao trabalho de
campo da antropologia urbana. Segundo
a metodologia da pesquisa realizada, a
investigação é uma ação que intervém.
Assim, Joana Mussi assume esta condição e tenta resolver a questão separando-se em duas vozes: a sua própria voz como
estudante e pesquisadora, e a sua própria
voz enquanto artista.
Ao longo de sua escrita e de todas
as seções a autora consegue manter
um fio condutor analítico. No Prefácio,
Vera Pallamim, orientadora da autora
na pesquisa de mestrado que originou o
livro, aborda a questão política implícita
no texto, e enfatiza como os ensaios se
comprometem com a vontade de transformação das condições de existência coletiva, apoiando assim o argumento central
da obra. Na introdução, a autora aborda
sua metodologia e coloca uma conversa
introdutória, uma gravação da sua qualificação de mestrado. Nesta conversa, Suely
Rolnik, filósofa e crítica de arte, enfatiza
como a autora é um documento vivo do
atual momento da história da arte, contribuindo assim para o intuito da autora de
dar a esses grupos um papel de destaque
na arte contemporânea, fazendo parte de
um novo movimento artístico.
O capítulo um é titulado “Nada é
mais importante do que essa nuança
fugidia”. Nele, Mussi discorre principalmente sobre ações que deram origem
aos coletivos MICO e GAC. Demonstra
como ambos surgiram em reação a algum
acontecimento social de violência ou crise
da atual “sociedade de controle”. Assim,
neste capítulo, a autora parte da microssociologia de Gabriel Tarde e se detém
longamente a explicar de que maneira
as ações dos coletivos podem promover
revoluções moleculares, de micropolítica,
por trabalharem na reinvenção do cotidiano, na construção do espaço social da
cidade – um espaço vivo que responde às
provocações colocadas nas intervenções
urbanas dos grupos analisados. Para isso
são inseridas no texto reportagens da mídia nas quais ações do grupo foram confundidas com a vida real, pois comumente
em seus trabalhos de intervenção urbana
os coletivos não assumem sua autoria.
O capítulo dois se chama “A cidade
em disputa”, no qual há um mergulho em
autores da antropologia e da sociologia
para analisar as intervenções dos grupos
e assim discutir a cidade e as dimensões
sociais do espaço urbano. Busca mostrar
como a cidade é um espaço de produção
social, que é também uma discussão na
sociologia e na antropologia urbana. As
ações dos coletivos artísticos analisadas
nesta parte têm em comum a representação social da memória e as disputas por
apropriação do espaço público. Assim, a
autora destaca como os grupos se manifestam nas ruas para buscar entrar em
diálogo maior com distintas camadas da
cidade, trazendo exemplos de performances interativas entre público e artistas.
O capítulo três, “Pensando a crítica”,
disserta sobre a questão da crítica institucional realizada pelos coletivos por
trabalharem nos espaços públicos, mas
ao mesmo tempo discute o fato de estes
grupos, muitas vezes, receberem apoio
institucional para realizar suas obras.
Esta problemática é bastante debatida
dentro do campo artístico, há sempre uma
rejeição à instituição que se opõe a uma
crítica que pode ser elaborada “de dentro” da instituição. Joana Mussi acredita
na possibilidade de questionamento das
instituições de arte, mesmo quando se é
financiado por uma. Hoje, o poder hegemônico é um poder abstrato difícil de se
identificar e, para combatê-lo, é preciso
utilizar também estratégias performáticas abstratas, como as propostas pelos
grupos coletivos, que permeiam distintas
poéticas e camadas da vida social. Daí é
possível perceber como questões de arte,
política e cidade se tornam complemen-
671
672
RESENHAS
tares neste campo e contribuem para o
argumento deste livro.
No capítulo quatro, o último, intitulado “Eles não podem partir sem nós”,
a questão da autoria coletiva é abordada
através da discussão teórica da relação
com o outro. Esta discussão clássica da
Antropologia é vista pela autora segundo
a ótica de que, a partir do contato com o
outro, há alterações na prática artística.
A criação artística é colocada como uma
prática social nesta parte do livro para
pensar de que maneira a subjetividade é
alterada na contemporaneidade. Mussi
defende que atualmente, quando coletivos artísticos estão realizando intervenções urbanas, há a emergência de uma
“subjetividade que se rebela contra a arbitrariedade do poder”, sendo criado um
contraespaço. Além deste aspecto, neste
capítulo são analisadas algumas medidas
externas que influenciaram a criação e o
desenvolvimento desses grupos ao longo
dos anos 2000. A política cultural do Ministério da Cultura de 2003 a 2010 é uma
dessas fontes de influência. As viagens
internacionais de alguns dos grupos são
também tomadas como importante ferramenta para a construção da subjetividade
dos integrantes de coletivos, devido ao
contato com o outro estrangeiro.
No entanto, Joana Mussi dá indícios
de que compra o discurso nativo, o qual
acredita fortemente na potência das
microações nas transformações sociais
sem questioná-las ou ao menos titubear
quanto à validade dessas concepções a
partir do campo, trazendo novos questionamentos que a teoria não alcançou.
O que pode ser observado hoje é a concepção do coletivo como fetiche. Atualmente, a fetichização transforma o coletivo em uma categoria de legitimação para
que muitos grupos alcancem visibilidade
no mundo da arte. Mussi não tangencia
e nem problematiza a rápida proliferação
dos coletivos e a vulgarização deste termo
nos anos 2000. Contudo, o livro é uma importante etnografia da transformação do
mundo da arte ainda em curso, e também
de uma nova apropriação dos espaços
públicos e de se fazer política. Mesmo
sendo um estudo defendido em uma pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo
(FAU/USP), suas contribuições alcançam
distintas áreas das ciências humanas,
principalmente a antropologia urbana
e da arte. A pesquisa coloca questões
sobre espaço urbano e suas apropriações,
novas formas de arte, interações sociais e
problemáticas políticas, além de questões
antropológicas, sendo um ponto forte do
livro seu aspecto multifacetado e transdisciplinar.
DOI
http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p672
PAXSON, Heather. 2013. The life of cheese –
crafting food and value in America. Berkeley/ Los Angeles / London: University of
California Press. 303 pp.
Leonardo Vilaça Dupin
Doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp
O livro The life of cheese nos conduz a
uma geração de produtores rurais que em
três décadas consolidou e diversificou a
fabricação de queijos artesanais nos Estados Unidos, um movimento que levou
para aquele país a experiência de outros
com grande tradição na fabricação de
produtos lácteos, como Holanda e França.
Trata-se da análise de um processo que
tem sido chamado de “renaissance of
artisanal cheese”. A autora é Heather Paxson, professora
do Departamento de Antropologia do
Massachusetts Institute of Technology
(MIT). O livro foi lançado em 2013 pela
editora da Universidade da Califórnia,
mas ainda não foi traduzido para o portu-
672
RESENHAS
tares neste campo e contribuem para o
argumento deste livro.
No capítulo quatro, o último, intitulado “Eles não podem partir sem nós”,
a questão da autoria coletiva é abordada
através da discussão teórica da relação
com o outro. Esta discussão clássica da
Antropologia é vista pela autora segundo
a ótica de que, a partir do contato com o
outro, há alterações na prática artística.
A criação artística é colocada como uma
prática social nesta parte do livro para
pensar de que maneira a subjetividade é
alterada na contemporaneidade. Mussi
defende que atualmente, quando coletivos artísticos estão realizando intervenções urbanas, há a emergência de uma
“subjetividade que se rebela contra a arbitrariedade do poder”, sendo criado um
contraespaço. Além deste aspecto, neste
capítulo são analisadas algumas medidas
externas que influenciaram a criação e o
desenvolvimento desses grupos ao longo
dos anos 2000. A política cultural do Ministério da Cultura de 2003 a 2010 é uma
dessas fontes de influência. As viagens
internacionais de alguns dos grupos são
também tomadas como importante ferramenta para a construção da subjetividade
dos integrantes de coletivos, devido ao
contato com o outro estrangeiro.
No entanto, Joana Mussi dá indícios
de que compra o discurso nativo, o qual
acredita fortemente na potência das
microações nas transformações sociais
sem questioná-las ou ao menos titubear
quanto à validade dessas concepções a
partir do campo, trazendo novos questionamentos que a teoria não alcançou.
O que pode ser observado hoje é a concepção do coletivo como fetiche. Atualmente, a fetichização transforma o coletivo em uma categoria de legitimação para
que muitos grupos alcancem visibilidade
no mundo da arte. Mussi não tangencia
e nem problematiza a rápida proliferação
dos coletivos e a vulgarização deste termo
nos anos 2000. Contudo, o livro é uma importante etnografia da transformação do
mundo da arte ainda em curso, e também
de uma nova apropriação dos espaços
públicos e de se fazer política. Mesmo
sendo um estudo defendido em uma pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo
(FAU/USP), suas contribuições alcançam
distintas áreas das ciências humanas,
principalmente a antropologia urbana
e da arte. A pesquisa coloca questões
sobre espaço urbano e suas apropriações,
novas formas de arte, interações sociais e
problemáticas políticas, além de questões
antropológicas, sendo um ponto forte do
livro seu aspecto multifacetado e transdisciplinar.
DOI
http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p672
PAXSON, Heather. 2013. The life of cheese –
crafting food and value in America. Berkeley/ Los Angeles / London: University of
California Press. 303 pp.
Leonardo Vilaça Dupin
Doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp
O livro The life of cheese nos conduz a
uma geração de produtores rurais que em
três décadas consolidou e diversificou a
fabricação de queijos artesanais nos Estados Unidos, um movimento que levou
para aquele país a experiência de outros
com grande tradição na fabricação de
produtos lácteos, como Holanda e França.
Trata-se da análise de um processo que
tem sido chamado de “renaissance of
artisanal cheese”. A autora é Heather Paxson, professora
do Departamento de Antropologia do
Massachusetts Institute of Technology
(MIT). O livro foi lançado em 2013 pela
editora da Universidade da Califórnia,
mas ainda não foi traduzido para o portu-
RESENHAS
guês. É o resultado de mais de cinco anos
de pesquisa etnográfica em três regiões
do país – New England, Wisconsin e
Califórnia – e ainda da realização de um
survey entre famílias produtoras.
O trabalho é, como declara Paxson,
uma etnografia multissituada do movimento contemporâneo pró-queijos artesanais nos EUA, que acompanha tal cadeia
produtiva: “from pasture to plate”. Com
ele, a autora venceu o prêmio Diana Forsythe de 2013, concedido pela Associação
Americana de Antropologia. Pela clareza
e profundidade de sua fundamentação,
talvez seja a melhor etnografia sobre esse
movimento de produtores que vêm se
legitimando e transformando a paisagem
rural em diferentes países do mundo.
Paxson tem uma parte de sua trajetória vinculada aos estudos feministas,
movimento ao qual credita certa responsabilidade pela emergência desses
“novos” produtores no país, destacando o
papel de uma rede de mulheres nos anos
1970 que, em busca de autonomia, foi viver da atividade. Seu trabalho anterior de
maior fôlego, chamado Making modern
mothers: ethics and family planning in
urban Greece (2004), foca temas como
aborto, política reprodutiva e biomedicina. Porém, nessa nova fase, a autora
parece confortável ao transitar pela antropologia econômica e pelo estudo de
comunidades rurais.
O livro oferece ao leitor uma oportunidade de conhecer em múltiplas
perspectivas os significados morais que
organizam a produção, a distribuição e o
consumo de queijos artesanais transpostos em aspectos cotidianos da vida dessas
pessoas. Paxson levanta conceitos como
unfinished commodity, desconstruindo a
ideia de racionalismo econômico, ao demonstrar como economia, moral e ações
sociais são inseparáveis.
Ao iluminar como queijos artesanais
têm uma biografia explicitada, ela mos-
tra como produtores artesanais vendem
também seu modo de vida em histórias.
Trazendo seletos elementos da “vida
social” da mercadoria para o primeiro
plano, tais atores chamam a atenção para
o seu próprio trabalho, bem como para as
contribuições dos animais da fazenda, das
bactérias e dos fungos, que se refletem
diretamente nas qualidades sensórias dos
queijos, estabelecendo assim fronteiras
com aqueles produzidos pela indústria.
É dessa forma que ela inicia o livro, conceitualizando “Ecologies of production”,
responsáveis pela “vida dos queijos”.
Em seguida – no capítulo “Economies
of sentiments” – ela busca entender as
motivações de uma variedade de pessoas para entrar no empreendimento.
Ela mostra como o cenário de preços, a
propaganda e o ajuste dos negócios fizeram com que os empreendedores rurais
reconciliassem seus princípios de uma
vida no campo e necessidades pragmáticas, assegurando o cumprimento de interesses pessoais e viabilidade financeira.
Já o capítulo “Traditions of invention”
traz uma perspectiva histórica para a
etnografia. Ela explora a tensão entre a
relativa continuidade da prática artesanal
e a avaliação cultural da mudança dessa
prática. E analisa como os estudos de ciência e tecnologia têm desenhado as práticas
e as condições de regulações do produto.
Em The art and science of craft, ela
investiga o que faz de tal queijo um produto artesanal. Produtores artesanais têm
ajustado seus métodos para trabalhar com
variações sazonais e climáticas que afetam
a cor e o sabor do queijo. Por esse lado, ela
explora também o balanço local entre ciência e arte na produção. Segundo a autora,
fazer o queijo à mão se transformou de tarefa de ocupação em vocação; de trabalho
econômico em esforço expressivo. Uma
das razões, sugere, é que para tais atores
tomar a atividade como arte oferece outra
antítese à fabricação industrial.
673
674
RESENHAS
Porém, o ponto alto do livro está em
“Microbiopolitcs”, capítulo em que ela
se aprofunda nas dimensões regulatórias na produção de alimentos no país.
Há uma “guerra do queijo” acontecendo
nos EUA, vinculada à não conformidade
da principal matéria-prima dos queijos
artesanais, o “leite cru” (não pasteurizado), aos parâmetros científicos que
definem as políticas públicas locais
sobre segurança alimentar. Para a Food
and Drug Administration (FDA), agência
responsável pelo controle dos alimentos
no país, o leite cru representa um perigo.
A opinião repousa sobre uma constatação: a pasteurização permite destruir os
micróbios. Desta forma, um queijo de leite
cru ofereceria, em essência, mais “riscos”
do que um queijo de leite pasteurizado,
“seguro” por natureza (ou contra ela).
Já para seus defensores, chamados pela
autora de pós-pasteurianos, o queijo produzido com leite cru tem como vantagem
a riqueza de sua flora microbiana, uma
vez que tratamentos térmicos a eliminam,
padronizando o produto. Quanto mais
rico em diferentes colônias de microorganismos, maiores as chances de o queijo produzido ser complexo e saboroso.
Partindo da noção foucaultiana de biopolítica e também dos estudos de Latour,
em especial The pasteurization of France
(1988), Paxson chama a atenção para as
práticas regulatórias sanitaristas, que
trabalham não só para a produção de
alimentos seguros, mas também para
cultivar a “germofobia”: a criação de
categorias de agentes biológicos microscópicos, a avaliação antropocêntrica de
tais agentes e a elaboração de comportamentos humanos a eles adequados. Estes
vão conduzir agentes públicos no sentido
de decisões racionais para proteger a
saúde pública ao comer.
Se antes de Pasteur os europeus pensavam que açougueiros vendiam apenas
carne, depois descobriram que seres
invisíveis ocupam aquele mesmo espaço. Com os micróbios revelados a serem
controlados, higienistas, funcionários do
governo e economistas lançaram as bases
para o que eles acreditavam ser relações
sociais “puras”, que não devem ser prejudicadas pela interrupção microbiana,
que pode ser prevista e racionalmente
ordenada.
A lógica mecanicista do entendimento
de doença em Pasteur tirou o poder de
curar do indivíduo e o teria colocado nas
mãos dos profissionais de saúde. Paxson
vai chamar essa lógica de microbiopolítica: o controle indireto de corpos humanos
através do controle direto sobre os corpos
microbianos.
Segundo ela, a microbiopolítica é
guiada por uma ciência dietética que
aconselha que a escolha dos alimentos
seja governada por consideração à saúde,
não ao prazer do paladar. O comer bem
em mundos de alimentos industriais
significa alimentar-se de forma segura
(responsabilidade moral). Assim, a subjetividade ética está no centro das lutas
por comida.
Para Paxson, a governamentabilidade da microbiopolítica apresenta
semelhanças com a biopolítica das
campanhas de sexo seguro na Europa.
A partir da recomendação dietética,
proposta pela FDA, de que as mulheres grávidas devem evitar queijos de
leite cru, a autora estende as críticas
feministas da médico-moralização da
gravidez para explorar como o produto
se encontra na cultura de risco dos EUA.
Em seu íntimo, ambas visam à gestão da
população através da racionalização do
sexo e da alimentação, incentivando os
assuntos de “escolher” a profilaxia como
uma virtude moderna. Nesse sentido,
segundo ela, a microbiopolítica, através
dos mecanismos de vigilância sanitária,
expande o domínio do quarto e chega às
mesas de jantar.
RESENHAS
DOI
Porém, em sentido oposto, emergem
os pós-pasteurianos. Pessoas que lutam
pelo direito de comer alimentos não pasteurizados, estabelecendo uma relação
mais tolerante com o microcosmo. Elas
acreditam que a melhor proteção existente em alguns alimentos está no trabalho
dos micróbios “bons”, que são mortos
pela pasteurização.
Em uma entrevista à revista francesa
Profession Fromager, em abril de 2015,
Paxson localizou esses atores em três subculturas: libertários que rejeitam controles
governamentais; intelectuais urbanos, que
tendem a ser de esquerda; e um grupo de
evangélicos que concebem que a imunidade humana está ameaçada. Para todos eles,
queijos artesanais são sistemas ecológicos
complexos que podem defender e policiar
a si mesmos. Produzir e consumir esses
produtos é, dessa forma, um ato político e
ecológico, uma maneira de fazer contato
com bactérias e fungos, de honrar nossa
interdependência coevolutiva e superar
uma germofobia autodestrutiva.
Nos últimos capítulos de Place, taste
and promisse terroir e bellwether, ela
analisa as implicações para os EUA da
importação do termo francês terroir, que
liga elementos gustativos com fatores
geográficos na agricultura. Artesãos locais
dão ao conceito um novo significado como
uma forma de homenagear a agricultura
de pequena escala e paisagens de “trabalho” que têm valor estético e ecológico.
The life of cheese faz pensar a maneira como concebemos a comida (sua
produção, valor cultural e a regulação
da sua segurança). Porém, sua mais sutil
reflexão diz respeito à dissidência sobre
como viver com micro-organismos, refletindo um desacordo sobre como os seres
humanos devem viver uns com outros.
Aos que desejam conhecer previamente
tal trabalho, alguns artigos a partir dos
quais Paxson desenvolveu o livro estão
acessíveis no site do MIT.
http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p675
SEEGER, Anthony. 2015. Por que cantam
os Kĩsêdjê. Trad. Guilherme Werlang. São
Paulo: Cosac Naify. 320 pp.
Rafael Nonato
Pós-doutorando PPGAS/MN/UFRJ
Na nota à edição brasileira (2015), Anthony Seeger traça a história de edições
do livro – lançado em inglês em 1987,
língua em que foi reeditado em 2004 – e
relata as melhorias técnicas que a acompanharam – a primeira edição vinha com
um cassete, a segunda, com um CD e a
atual, com um DVD que contém, além dos
excertos em áudio já presentes no cassete,
excertos em vídeo de duas realizações
(1996/2012) da cerimônia descrita no
livro, a Festa do Rato. Seeger afirma que a
descrição original que fizera com base na
festa de 1972 se aplica igualmente bem
às posteriores, de forma que nesta edição
foram feitas apenas pequenas correções e
a revisão da grafia das palavras kĩsêdjê.
No prefácio, Seeger distancia sua
abordagem – a da antropologia musical –
de uma abordagem similar, mas diferente
em termos de ênfase e perspectiva – a da
antropologia da música – e defende os
Kĩsêdjê enquanto objeto privilegiado para
estudo da antropologia musical.
No capítulo 1, Seeger descreve o início
da Festa do Rato de 1972 e comenta sobre
sua situação entre os Kĩsêdjê, assim como,
em geral, sobre a relação do antropólogo
com o povo que lhe oferece hospitalidade.
Também tece observações sobre a simetria entre a estrutura da Festa do Rato e
a estrutura do parentesco e nomeação
kĩsêdjê.
Eu participei das duas primeiras
semanas da Festa do Rato de 2012, e a
descrição dada neste capítulo me parece aplicar-se igualmente bem a esta
realização – um mesmo começo gradual,
675
RESENHAS
DOI
Porém, em sentido oposto, emergem
os pós-pasteurianos. Pessoas que lutam
pelo direito de comer alimentos não pasteurizados, estabelecendo uma relação
mais tolerante com o microcosmo. Elas
acreditam que a melhor proteção existente em alguns alimentos está no trabalho
dos micróbios “bons”, que são mortos
pela pasteurização.
Em uma entrevista à revista francesa
Profession Fromager, em abril de 2015,
Paxson localizou esses atores em três subculturas: libertários que rejeitam controles
governamentais; intelectuais urbanos, que
tendem a ser de esquerda; e um grupo de
evangélicos que concebem que a imunidade humana está ameaçada. Para todos eles,
queijos artesanais são sistemas ecológicos
complexos que podem defender e policiar
a si mesmos. Produzir e consumir esses
produtos é, dessa forma, um ato político e
ecológico, uma maneira de fazer contato
com bactérias e fungos, de honrar nossa
interdependência coevolutiva e superar
uma germofobia autodestrutiva.
Nos últimos capítulos de Place, taste
and promisse terroir e bellwether, ela
analisa as implicações para os EUA da
importação do termo francês terroir, que
liga elementos gustativos com fatores
geográficos na agricultura. Artesãos locais
dão ao conceito um novo significado como
uma forma de homenagear a agricultura
de pequena escala e paisagens de “trabalho” que têm valor estético e ecológico.
The life of cheese faz pensar a maneira como concebemos a comida (sua
produção, valor cultural e a regulação
da sua segurança). Porém, sua mais sutil
reflexão diz respeito à dissidência sobre
como viver com micro-organismos, refletindo um desacordo sobre como os seres
humanos devem viver uns com outros.
Aos que desejam conhecer previamente
tal trabalho, alguns artigos a partir dos
quais Paxson desenvolveu o livro estão
acessíveis no site do MIT.
http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p675
SEEGER, Anthony. 2015. Por que cantam
os Kĩsêdjê. Trad. Guilherme Werlang. São
Paulo: Cosac Naify. 320 pp.
Rafael Nonato
Pós-doutorando PPGAS/MN/UFRJ
Na nota à edição brasileira (2015), Anthony Seeger traça a história de edições
do livro – lançado em inglês em 1987,
língua em que foi reeditado em 2004 – e
relata as melhorias técnicas que a acompanharam – a primeira edição vinha com
um cassete, a segunda, com um CD e a
atual, com um DVD que contém, além dos
excertos em áudio já presentes no cassete,
excertos em vídeo de duas realizações
(1996/2012) da cerimônia descrita no
livro, a Festa do Rato. Seeger afirma que a
descrição original que fizera com base na
festa de 1972 se aplica igualmente bem
às posteriores, de forma que nesta edição
foram feitas apenas pequenas correções e
a revisão da grafia das palavras kĩsêdjê.
No prefácio, Seeger distancia sua
abordagem – a da antropologia musical –
de uma abordagem similar, mas diferente
em termos de ênfase e perspectiva – a da
antropologia da música – e defende os
Kĩsêdjê enquanto objeto privilegiado para
estudo da antropologia musical.
No capítulo 1, Seeger descreve o início
da Festa do Rato de 1972 e comenta sobre
sua situação entre os Kĩsêdjê, assim como,
em geral, sobre a relação do antropólogo
com o povo que lhe oferece hospitalidade.
Também tece observações sobre a simetria entre a estrutura da Festa do Rato e
a estrutura do parentesco e nomeação
kĩsêdjê.
Eu participei das duas primeiras
semanas da Festa do Rato de 2012, e a
descrição dada neste capítulo me parece aplicar-se igualmente bem a esta
realização – um mesmo começo gradual,
675
676
RESENHAS
com foco no aprendizado das canções-chamado pelos jovens.
Seeger identifica no capítulo 2 os
gêneros orais kĩsêdjê, os quais caracteriza através das suas relações mútuas.
O resultado é um quadro complexo de
contínuos estruturadores da diferença
entre a música – canto-chamado (akia) e
canto uníssono (ngere) – a fala (kapẽrẽ), a
instrução (sarẽ) e a invocação (sangere).
Os contínuos que interessam a Seeger
não são apenas musicais, mas também
linguísticos, e incluem a versificação e o
conteúdo semântico. Tendo me familiarizado com os gêneros orais kĩsêdjê enquanto
coordenador de um projeto de documentação da sua língua, a classificação que
Seeger faz me parece correta. Devo criticar
apenas esta sua afirmação linguística:
“Os mitos kĩsêdjê não continham os marcadores ‘ele disse’ ou ‘ela disse’ para indicar
quem estava falando […]” (:78).
Existem em kĩsêdjê um verbo e uma
construção gramatical que, combinados,
cumprem uma função equivalente à dos
marcadores “ele disse” e “ela disse” do
português. Kĩsêdjê tem um verbo que
significa “fazer” ou “dizer” – amplamente
usado em narrativas – o verbo “ne”, reduzido a “n” se segue palavra terminada
em vogal. Este verbo toma como objeto
uma citação direta, como em “‘hẽn wa pâj’
ne” (“‘cheguei’, disse”). Kĩsêdjê não tem
pronomes que traduzam “ele” e “ela”.
A indicação gramatical de quem está
falando é, entretanto, mais precisa que
nas línguas europeias. O verbo “ne” (ou
qualquer outro verbo) pode ser seguido
da palavra átona “nhy” para indicar que
o sujeito da próxima oração é diferente
(i.e., que a próxima fala é de outro personagem), ou da palavra átona “ne” (homófona ao verbo “ne”, e também reduzida a
“n” se segue palavra terminada em vogal)
para indicar que não há troca de sujeito
na oração seguinte (i.e., atribuindo a
próxima citação ao mesmo personagem
que a anterior). Um bom exemplo do uso
dessas palavras se vê nos versos 11 e 12
do kapẽrẽ kahrĩre (:90). No final do verso
11, a palavra “nhy” marca que o sujeito
gramatical da frase “kwã kapẽrẽ ro pa”
(lhes ficavam falando) – os avôs e tios –
difere do sujeito gramatical da frase seguinte, “kãm ngryk kêt” (não lhes tinham
raiva) – os sobrinhos e netos. Seguindo
a última frase, vem a palavra “ne”, que
marca que o sujeito da oração seguinte,
“kwã kapẽrẽ mbaj to pa” (ficam lhes escutando a fala), é o mesmo que o sujeito
da oração anterior – os sobrinhos e netos.
Em relação às categorias que Seeger
estabelece, noto apenas que seu significado dentro da língua é por vezes mais
amplo. A raiz “ngere”, por exemplo, com
que Seeger se refere apenas ao canto-uníssono, diz respeito também a outros
gêneros de canto ou dança, podendo se
referir isoladamente a um ou outro, dependendo do contexto.
No capítulo 3, Seeger trata da origem
da música kĩsêdjê. Sua hipótese é que,
para os Kĩsêdjê, sua música tem sempre
uma origem externa – em outros grupos
humanos ou não humanos. Seeger identifica a preeminência de seres “híbridos”
no processo de obtenção dos cantos.
Os cantos cuja origem é mítica, por um
lado, foram ensinados aos Kĩsêdjê por
seres em “metamorfose” – no mito sobre a
origem dos cantos do veado, por exemplo,
os cantos são ensinados por um homem-veado. Por outro lado, canções novas são
continuamente adicionadas ao repertório
musical pelos “homens-sem-espírito” (mẽ
katwân kêrê). Estes são pessoas das quais
um feiticeiro arrancou o espírito e o lançou para junto de uma espécie animal ou
vegetal. São estes últimos que ensinam
cantos ao homem-sem-espírito, que, por
sua vez, apenas os repassa aos Kĩsêdjê.
Na época em que Seeger trabalhou
com os Kĩsêdjê havia apenas um homem-sem-espírito, Petxi. Seeger relata que,
RESENHAS
em tempos anteriores, havia muitos homens (e mulheres) sem espírito, e prognostica o fim desses especialistas. Tendo
começado a trabalhar com os Kĩsêdjê
depois da morte de Petxi, conheci, entretanto, outro homem-sem-espírito, que me
ensinou minha canção-chamado para a
Festa do Rato de 2012.
Seeger discorre no capítulo 4 sobre
o poder (re)criativo das performances
musicais entre os Kĩsêdjê, estabelecendo correlações entre a vida social e as
performances musicais. Primeiramente, relaciona com o uso do espaço nas
cerimônias e seu sequenciamento no
tempo a organização espacial da aldeia
e a divisão do ano em estações. Também
descreve como as relações sociais entre os
indivíduos se (re)criam nas cerimônias –
papéis cerimoniais são atribuídos de
acordo com essas relações. Os próprios
indivíduos, afirma, (re)criam seus papéis
sociais dentro das cerimônias, enquanto
pertencentes a grupos etários e sexuais
ou posições de liderança. Mesmo a organização do corpo dos indivíduos refletiria
as cerimônias musicais: se, por um lado,
estes constituem instrumentos – toda
música é vocal – por outro, o corpo é ornamentado em valorização à oralidade –
com alargadores de orelha e lábios. Final­
mente, a cosmologia do corpo estaria
relacionada às cerimônias musicais: para
Seeger, o corpo kĩsêdjê é constituído de
três componentes: sua materialidade física – herdada dos pais – sua identidade
social onomástica, e seu “espírito” ou
“sombra”. As relações de parentesco e
pertencimento a um grupo onomástico
identificam papéis cerimoniais, e o espírito, ou melhor, sua falta, caracteriza os
homens-sem-espítiro, centrais na incorporação de novas canções.
A caracterização etnográfica das performances musicais kĩsêdjê dada neste
capítulo também está de acordo com a minha experiência. Em 2015, passei 10 dias
na aldeia central kĩsêdjê durante a realização da Festa da Abelha. Testemunhei
o crescimento da euforia comunitária e a
entrada no modo cerimonial que Seeger
descreve, com a progressiva adição de cerimônias menores à cerimônia principal,
de forma a ocupar os períodos do dia que
não estavam ocupados por atividades da
cerimônia principal.
Devo notar, entretanto, que Seeger não
parece distinguir termos karõ e katwân.
Neste capítulo, ele afirma que o karõ é o
que os homens-sem-espírito perderam.
Homem-sem-espírito, em kĩsêdjê, é mẽ
katwân kêrê (pessoas sem katwân), e não
mẽ karõ kêrê (pessoas sem karõ. Karõ é
o termo usado para designar “imagem”
(tendo um referente que abarca fotos e
imagens filmadas), “sombra” (de indivíduos, não de tetos) ou “fantasma”. Já katwân tem como referente “fundo”, como
em “fundo do rio” (ngô katwân) e fundo
do buraco (hwyka kre katwân). Mẽ katwân
kêrê seria, então, “homem-sem-fundo”.
Não tendo conversado com os Kĩsêdjê
sobre esta questão, não saberia dizer se
os dois termos são intercambiáveis com
respeito à ontologia do indivíduo.
No capítulo 5, Seeger se lança a um
estudo minucioso de uma característica
física das canções em uníssono, a gradual
ascensão do diapasão absoluto ao longo
das repetições. Ele coleta evidências de
vários tipos – medições laboratoriais,
análises de oitiva, transcrições musicais,
entrevistas com os Kĩsêdjê, sua experiência participativa e a recepção inesperadamente positiva por parte dos Kĩsêdjê
de uma gravação defeituosa – para tentar
relacionar a característica física da ascensão do diapasão absoluto à estética
musical do povo.
Seeger finaliza, no capítulo 6, sua
descrição da Festa do Rato, narrando e
interpretando seus acontecimentos finais.
Central para sua análise é a tese de que,
após a “ativação” de certos itens ceri-
677
678
RESENHAS
moniais, os homens se transformam em
criaturas híbridas homens-rato. Depois
da transformação, os homens-rato cantam
suas canções-chamado a noite inteira e,
ao raiar do dia, “morrem” cerimonialmente, voltando a ser completamente homens.
No capítulo 7, Seeger refaz a pergunta
do título do livro e retoma as razões para
cantar que já identificara em capítulos anteriores – o canto recria a sociedade, o espaço, o tempo e a identidade individual.
Ele também identifica a sobrevivência
étnica como razão suplementar e comenta
sobre como as mudanças recentes no
modo de vida dos Kĩsêdjê se refletem
em seus hábitos musicais. Finalmente, o
autor tece comentários sobre o papel da
música entre outros grupos indígenas
das terras baixas da América do Sul, e
argumenta que o método etnomusicológico ajuda a compreender as sociedades
humanas.
Esta edição do livro conta com um
posfácio em que Seeger comenta sobre as
mudanças ocorridas na vida dos Kĩsêdjê
nas quatro últimas décadas. De particular
importância é sua reiteração de que as
Festas do Rato realizadas posteriormente
pelos Kĩsêdjê em nada invalidam, senão
reforçam, sua descrição etnográfica e
análise originais.
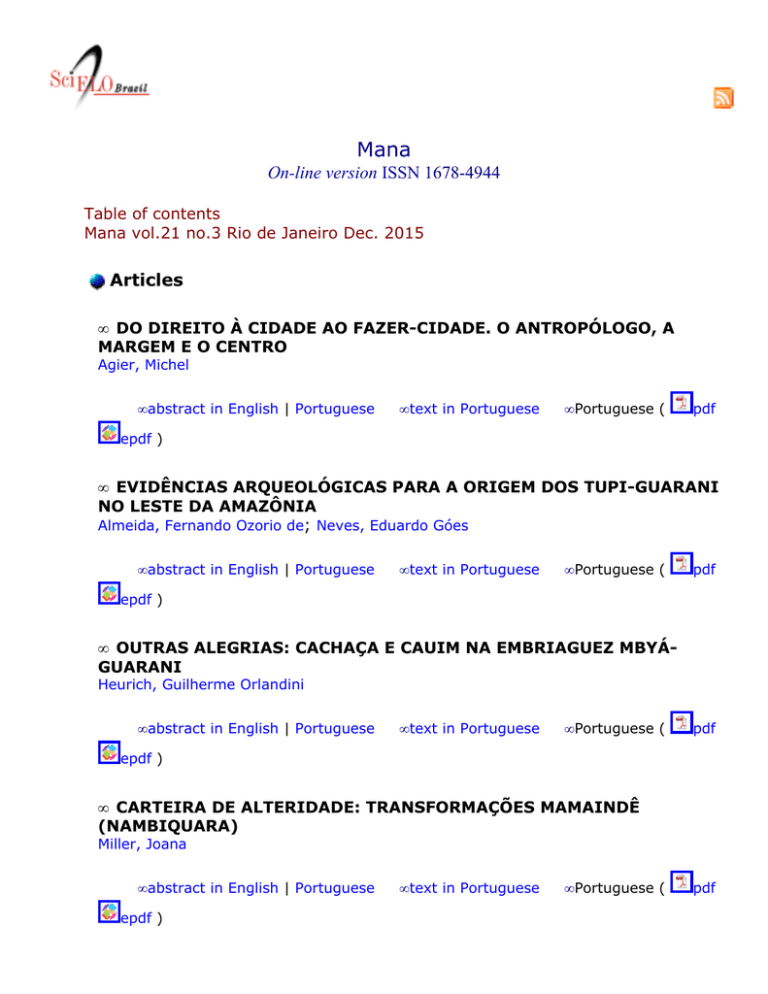










![Antropologia [Profa. Ol via]](http://s1.studylibpt.com/store/data/000329787_1-86f1de23ef4fc8c4b10e2491c0fd4e18-300x300.png)