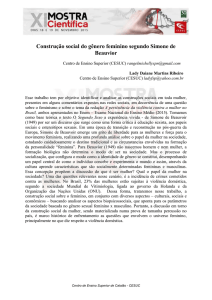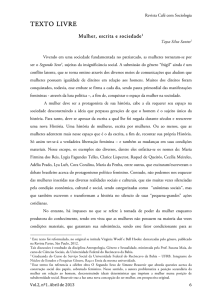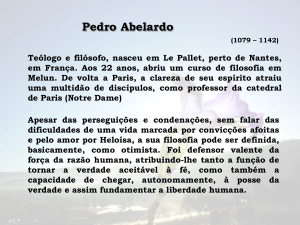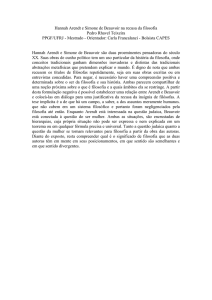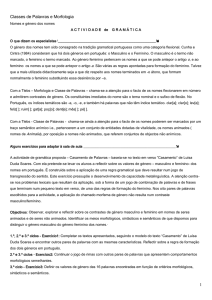Género e Desejo. Da biologia à cultura1
Fernanda Henriques
Universidade de Évora
À memória de Simone de Beauvoir
L’être qui parle en première personne, homme et femme,
n’est pas de la création mais de l’esprit qui vient en leur rencontre.
Cet esprit demeurera en l’humain le temps qu’il dise « Je ». Le temps qu’il dise
« Tu ».
Puis il traversera la mort. Incrée ne peut mourir.
Marie Balmary
Interpretando o título
De inócua aparência, o nome desta comunicação é, contudo,
assaz controverso.
Desde logo o conceito de género é uma designação altamente
problemática, não cobrindo um campo semântico pacífico, nem sendo
pacífica a sua inclusão no âmbito dos Estudos sobre as Mulheres. Pelo
contrário, é alvo das mais intrincadas controvérsias epistemológicas e
ideológicas. Para algumas perspectivas é uma categoria fundamental
de análise; para outras é um instrumento útil em algumas
circunstâncias, mas, mesmo assim, usado com muitas limitações e
reservas; para outras, ainda, não tem qualquer alcance real, podendo
até ser escamoteador de uma autêntica investigação feminista2.
E que dizer do vocábulo desejo? Que conceito está a convocar?
Tem a ver com o sentido genérico de necessidade ou necessidades?
Está pensado no horizonte da psicanálise, ligado, portanto, ao
inconsciente e aos sinais que este emite no corpo e no espírito? É
antes recortado de um plano erótico ou estritamente sexual?
1
Comunicação proferida no Encontro de Bio-ética realizado na Universidade de Évora, em 8 de Maio de
2004 e publicado em Cadernos de bioética.
2
Os textos habitualmente referenciados para caracterização do conceito de género são: Joan W. SCOTT,
“Gender: a useful category of historical analysis” in Joan W. Scott, Gender and the Politics of History,
New York, Columbia University Press, 1988, pp. 28-50; Gisela BOCK, “História, História das Mulheres,
HIstória do Género”, Penélope, nº 4 (1989), pp. 157-187.
Para ver a articulação do conceito de género com as diferentes correntes feministas ver também: Mª
Luísa Ribeiro FERREIRA, “Reflexões sobre o conceito de Género” in Mª Luísa Ribeiro Ferreira org.),
Pensar no feminino, Lisboa, Colibri, 2001, pp, 47-58; Sillvia TUBERT (ed.), Del sexo al género, Madrid,
Cátedra, 2003.
1
Por seu lado, o subtítulo – da biologia à cultura – também tem
os seus problemas.
A uma primeira leitura pode interpretar-se como querendo
remeter para um percurso de desenvolvimento que, a partir de uma
base biológica, se culturaliza. A ser assim, há, pelo menos, duas
consequências imediatas possíveis e ambas problemáticas:
1. por um lado, pode sugerir uma separação intrínseca entre
o biológico e o cultural, que remete para uma posição não
só polémica, como insustentável;
2. por outro, pode sustentar a tese de que, a haver
diferença no desejo de homens e de mulheres, ela
radicaria no contexto cultural e não no sexo que, como
sabemos bem, não é uma posição líquida, havendo
mesmo quem defenda exactamente o contrário como
verdadeiro.
Resta ainda considerar uma objecção epistemológica de fundo:
será legítimo a uma pessoa de filosofia ocupar-se com um tema desta
natureza?
Elisabeth Badinter, no prefácio do seu livro L’amour en plus.
Histoire de l’amour maternel – XVII, XX siècle3, referindo-se às
críticas de que foi alvo, identifica como ponto comum exactamente o
facto de a acusarem de ter ”ultrapassado de forma intolerável” os
limites da filosofia como saber especializado, por se ter dedicado ao
estudo e à desconstrução da ideia de instinto maternal. Neste
contexto, cabe perguntar se a perspectiva filosófica tem legitimidade
para se ocupar de um tema de fronteira como este que procura
pensar a relação entre sexo e desejo.
Com todos estes constrangimentos, como aceitar, então, o
título proposto?
No que respeita à objecção epistemológica de fundo, faço
minhas as palavras de Elisabeth Badinter para quem a criticou:
Mas, de facto, quais são os limites da filosofia? E para que
serve esse discurso, especializado em nada e que se mistura
em tudo, se não serve exactamente para voltar a questionar as
verdades aceites e para analisar todos os sistemas de
pensamento?4
Quanto às outras objecções, devo declarar que tomei
conscientemente o título no quadro da sua polissemia e
aporeticidade, tanto mais que o tema que ele convoca se recorta do
campo dos indecidíveis teóricos e que, enquanto tal, à maneira das
ideias reguladoras de que falava Kant, apenas nos pode servir de guia
3
4
Paris, Flammarion, 1980.
Ibidem, p. 11.
2
na reflexão, conduzindo-nos no aprofundamento do que está em
causa, mas não permitindo chegar a uma conclusão transparente e
de aceitação universal. Deste modo, por ser um indecidível, só é
susceptível de uma abordagem no interior da circularidade
hermenêutica em que os pontos de partida condicionam as
explicitações, as crenças determinam as conclusões e todo o processo
se move no quadro de um não-saber constitutivo e insuperável. Mas
por essa razão, também, é importante o compromisso de quem
analisa, a explicitação dos contextos em que se move e das
premissas de que parte.
É o que farei a seguir.
Quadro de leitura da questão
Partirei do lema clássico de Simone de Beauvoir “on ne naît pas
femme: on le devient” e procurarei interpretá-lo à sua sombra, mas
alargando essa afirmação à humanidade no seu todo, de homens e de
mulheres, retomando o dito de Beauvoir na seguinte paráfrase: “não
nascemos humanos: tornamo-nos humanos”.
Tal perspectiva, a que, sobretudo, o século XVIII com a
descoberta de crianças selvagens deu uma ressonância fundamental,
já pode, contudo, ser recolhida num dos textos fundadores da nossa
cultura, o Génesis, pelo menos em duas situações determinantes, a
saber: tomar a narrativa da saída do paraíso como significando a
humanização do ser humano e a sua passagem a um estado de
maturidade, e, por outro lado, interpretando a narrativa do assassínio
de Abel e o imperativo “não matarás” como a transposição das
relações humanas para o plano ético, instaurando uma ruptura
irreversível com o plano natural.
No entanto, esta posição de partida não significa a defesa de
um ponto de vista totalmente construtivista ou culturalista que
pressupusesse que o ser humano, homem ou mulher, seria apenas
um efeito da acção da história e da cultura, um seu mero
epifenómeno descorporizado, que fosse uma pura construção das
práticas discursivas, à maneira de algumas posições pós-modernas.
Também não supõe que o tornar-se humano da humanidade
signifique a ideia de um sujeito concebido como uma cidadela
autónoma, transcendental, absolutamente constituinte do sentido do
ser e do seu próprio sentido, no horizonte do projecto das Luzes.
Supõe antes que a subjectividade humana é uma subjectividade
incarnada e situada, e que, por isso, o corpo humano é, em si
mesmo, um corpo-sujeito, para falar como Paul Ricoeur5, isto é, um
corpo vivido por uma subjectividade que, embora o experiencie
individualmente, todavia, o constitui com os outros e no meio dos
outros. Dito de outro modo, a subjectividade nunca é uma
5
Cf., Paul RICOEUR, Le Volontaire et l’Involontaire, Paris Aubier, 1950.
3
experiência individual da existência, razão pela qual é,
simultaneamente, constituinte e constituída6. Nessa medida, ser
homem ou ser mulher é, desde sempre, uma experiência socialmente
construída e individualmente vivida que, por esse motivo, terá
marcas sociais e culturais, mas, também, formas individuais de as
experimentar e integrar, pelo que haverá semelhanças e diferenças
entre os desejos dos homens e das mulheres em função, quer da sua
inserção histórica, quer, sobretudo, em função da realidade específica
de cada ser humano, tomado enquanto pessoa individual.
Este ponto de vista é, aliás, defendido por muita gente que,
embora parta do dualismo homem-mulher como uma diferença
estruturante, todavia, não aceita as posições que apenas dão voz à
natureza, estabelecendo, no fundo, uma analogia de continuidade
total entre o reino animal e o humano. Insere-se nesta perspectiva,
por exemplo, a afirmação do ginecologista Miguel Oliveira e Silva que
diz sobre isto o seguinte:
[…] os homens da ciência, com a biologia obviamente à cabeça,
permanecem prisioneiros de uma concepção de causalidade
final que privilegia a associação de dois fenómenos como
relação de causa a efeito, como se da múltipla interacção de
hormonas,
neuro-transmissores,
metabolitos
e
células
neuronais não resultasse no organismo humano algo de
diferente do que se passa no organismo animal7.
A comunicação do referido ginecologista a que esta citação se
reporta, cujo significativo título era Hormonas, Afectos e Razão,
colocando-se, embora, no ponto de vista de que no princípio era a
dualidade e não a unidade, e pleiteando, por isso, pela diferença
como determinação ontológica, todavia, chama a atenção para
aspectos que nos permitem pensar que aquilo que constitui a mais
valia do humano – que é, simultaneamente, a sua especificidade e a
sua fragilidade – faz com que não haja legitimidade para pensar nem
a existência sexuada, nem a formação da subjectividade como
epifenómenos. Nesse quadro, e para a questão que aqui nos ocupa,
remete-nos, necessariamente, para a consideração de que os desejos
devem ser vistos principialmente como humanos e não
primariamente como sexuados. Ou seja, com esta diferenciação
entre principial e primário quero chamar a atenção para que a relação
entre humanidade e culturalidade é de tal ordem que a procura de
uma causalidade directa entre uma determinação biológica, seja ela o
sexo ou outra, e qualquer vivência subjectiva corresponde a uma
6
Sonia KRUKS, num artigo sobre Simone de Beauvoir, defende que esta era a posição da filósofa que,
embora dizendo o contrário, se tinha demarcado desde muito cedo da posição sartreana sobre a
subjectividade: cf., “Genre et subjectivité: Simone de Beauvoir et le feminisme contemporaine “,
Nouvelles Questions Féministes, nº1(14) (1993), pp. 3-28.
7
Miguel O. SILVA, “Hormonas, afectos e razão” in Mª Luísa Ribeiro Ferreira org.), Pensar no feminino,
Lisboa, Colibri, 2001, pp. 23-27, p. 24.
4
ponto de vista que não tem em conta a complexidade da realidade
em análise e, no fundo, releva mais do hábito de pensar de certa
maneira do que de uma reflexão aberta e desassombrada sobre a
problemática.
O psiquiatra francês, Alain Braconnier, anda às voltas com a
mesma dificuldade não em relação aos desejos, mas no que respeita
às emoções.
No seu livro Le sexe des èmotions8 e com base na sua
experiência clínica, o autor questiona-se sobre as razões que levam,
por exemplo, as mulheres a chorar e os homens a encolerizar-se e
desenvolve todo um conjunto de reflexões que colocam o acento na
aprendizagem de si e de ser como o factor que mais determina a
forma diferente como os homens e as mulheres se expressam
emocionalmente.
O que o move, como profissional, é criar condições para o real
entendimento entre homens e mulheres, nomeadamente, no contexto
familiar e, como reconhece que a compreensão de outra pessoa é
uma tarefa que ultrapassa largamente a dimensão puramente
intelectual, dedica-se a tentar compreender o processo de formação e
de expressão das emoções em homens e mulheres, para afinar a sua
eficácia como terapeuta.
Na Introdução a Le sexe des émotions, o autor aceita que há
diferenças afectivas entre os dois sexos, mas apressa-se a
acrescentar que tais diferenças “se diferenciam menos pela natureza
do que eles experimentam do que pelo sentido aparente, pela
significação escondida ou pela expressão que os seus sentimentos
tomam”9. É esta convicção que o leva a dizer um pouco mais à
frente, na mesma página:
Desde há muito tempo que tínhamos por adquirido que as
mulheres eram mais emotivas do que os homens. É isto
verdade? De facto, a principal diferença não reside aí. As
recentes pesquisas em psicologia concordam todas no facto
seguinte: as mulheres exprimem mais facilmente aquilo que
sentem e compreendem mais o que o outro sente. Portanto,
elas não são mais emotivas, mas comunicam melhor as suas
emoções do que os homens.
Para ele, embora as diferenças emocionais entre os sexos se
possam pensar com base nas diferenças do metabolismo cerebral
respectivo, não é claro se o cérebro é sexuado desde o nascimento
ou se se sexualiza progressivamente. O que lhe parece evidente, pelo
contrário, é o facto de que:
8
9
Paris, Odile Jacob, 1996.
Ibidem, p. 12.
5
Desde a mais tenra idade, aprendemos a emocionar-nos
de modo diferente. Para lá da genética, é a educação, no
sentido lato do termo, que favorece o desenvolvimento das
diferenças.10
Dentro desta sua interpretação, acrescenta algo que é
particularmente relevante para consolidar a perspectiva em que me
coloco:
A igualdade entre os sexos choca-se com algo muito mais
forte do que o direito. Ela tropeça naquilo que nos constitui
mais fundamentalmente, no facto de que somos homem ou
mulher. Ela esbarra sobre diferenças efectivas, reais ou
imaginadas. As emoções que nos opõem enraízam-se bem
longe no passado. Elas são em muito o fruto de uma história
milenária. A nossa imaginação está povoada de fantasmas.11
Assim sendo, o que aparece como tarefa de rigor para
responder aos desafios lançados pelo título desta comunicação é a
realização de um trabalho que ajude a identificar e a desconstruir os
fantasmas que povoam a nossa imaginação acerca do que é ser
homem ou mulher. Nesse horizonte, proponho-me continuar esta
reflexão abordando dois temas:
•
em primeiro lugar, debater a questão da identidade ou da
diferença na perspectiva das contribuições dos Estudos
sobre as Mulheres e dos Estudos de Género;
•
num segundo momento, situar-me naquilo que, a meu
ver, é o desejo humano por antonomásia – o desejo de
reconhecimento.
Temas e problemas em causa: a questão da identidade e
da diferença
e o binómio natureza/cultura
Do que foi desenvolvido anteriormente, facilmente se aceita
que questionarmo-nos acerca da relação possível entre os desejos
humanos e a determinação sexual nos situa no cerne do problema
10
11
Ibidem, p. 13.
Ibidem, p. 15.
6
geral da natureza humana e, dentro deste, na questão da identidade
e da diferença entre as duas formas, feminina e masculina, em que a
natureza humana, morfologicamente, se corporiza. No fundo,
preocupa-nos a questão da identidade e, ao mesmo tempo,
preocupa-nos saber como é que, nessa identidade, se organiza o
biológico e o cultural.
No quadro específico da questão das mulheres, essa
preocupação recorta-se de uma amalgama de pensamento
constituído e de representações estratificadas que retiram toda a
frescura ao questionar, tornando a reflexão pouco aberta a uma
análise realmente capaz de aceitar desconstruir hábitos adquiridos de
ideias feitas e que são estruturantes do nosso olhar. Proponho, por
isso, que façamos um exercício de ascese, escutando a introdução do
livro que Simone de Beauvoir escreveu, há quase 60 anos, sobre este
assunto:
Hesitei muito tempo em escrever um livro sobre a
mulher. O tema é irritante, principalmente para as mulheres.
E não é novo […]. No entanto, ainda se fala dela. E não
parece que as volumosas tolices lançadas neste último século
tenham realmente esclarecido a questão. Aliás, haverá um
problema? E qual é ele? Haverá mesmo mulheres? Sem
dúvida a teoria do “eterno feminino” ainda tem adeptos;
diz-se “Até na Rússia elas permanecem mulheres.” Mas outras
pessoas igualmente bem informadas – e por vezes as mesmas
– suspiram: “A mulher está a perder-se, a mulher já está
perdida. Já não se sabe se ainda existem mulheres […].” […]
Mas antes de mais que é uma mulher? […] os conhecedores
decretam: “não são mulheres”, embora tenham um útero
como as outras. Toda a gente reconhece que há fêmeas na
espécie humana; constituem hoje, como outrora, mais ou
menos metade da humanidade; e contudo dizem-nos que a
feminilidade “corre perigo”; e exortam-nas: “Sejam
mulheres”, permaneçam mulheres, tornem-se mulheres”.
Todo o ser humano do sexo feminino não é, portanto,
necessariamente, mulher; cumpre-lhe participar dessa
realidade misteriosa e ameaçada que é a feminilidade. Será
esta segregada pelos ovários? Ou estará cristalizada no fundo
de um céu platónico? Bastará um saiote de folhos para fazê-la
descer à terra? Embora certas mulheres se esforcem por
encarná-lo zelosamente, o modelo nunca foi registado. […] Se
hoje já não há feminilidade é porque nunca houve. Significará
isso que a palavra “mulher” não tenha conteúdo algum?
[…]
Se a função da fêmea não basta para definir a mulher, se nos
recusamos também explicá-la pelo “eterno feminino”, e se, no
entanto, admitimos, ainda que provisoriamente, que há
7
mulheres na Terra, teremos de formular a pergunta: que é
uma mulher?
O próprio enunciado do problema sugere-me uma primeira
resposta. É significativo que eu enuncie esse problema. Um
homem não teria a ideia de escrever um livro sobre a situação
singular que ocupam os machos na humanidade. […] Um
homem nunca começa por se apresentar como um indivíduo
de determinado sexo: que seja homem é natural. […] O
homem representa ao mesmo tempo o positivo e o neutro, a
ponto de dizermos “o homem” para designar os seres
humanos, tendo-se assimilado ao sentido singular do vocábulo
vir o sentido geral da palavra homo. A mulher aparece como o
negativo, de modo que toda a determinação lhe é imputada
como limitação sem reciprocidade12.
Eu diria que, na sua essência, o fundo questionante deste texto
se mantém inalterável.
Atente-se, por exemplo, no chamado “eterno feminino”: não é
dessa referência que se alimentam as revistas de massas que se
dirigem quer a homens quer a mulheres? Não é o mito do “eterno
feminino” ligado à beleza estereotipada, à permanente juventude, a
um certo tipo de erotismo e de sensualidade, que subjaz às
mensagens dessas revistas, mesmo quando se arrogam defensoras
de princípios de modernidade ou de libertação?
E quanto ao tema de haver uma essência feminina, não é essa a
perspectiva que alimenta o mais profundo do nosso pensar de tal
modo que a qualquer falha cometida por uma determinada mulher
sobrevém habitualmente o comentário – mulheres! -, como se elas
fossem todas iguais – um colectivo – ao contrário dos homens que
são sempre diferenciados e responsabilizados individualmente?
Também no que respeita àquilo que Simone de Beauvoir diz
acerca da imagem social do masculino, não há, no plano das
mentalidades, alterações substanciais. Hoje, como no seu tempo,
nenhum homem pensaria ser necessário apresentar-se fosse onde
fosse como sendo um indivíduo de determinado sexo. Esta questão,
aliás, sempre me causou a maior perplexidade, na medida em que,
por um lado, é a mulher que, tradicionalmente, é vista e simbolizada
como objecto sexual ou como ligada a uma natureza de que não
consegue libertar-se – como se só ela fosse sexuada ou como se só
nela pesasse a variável sexo; no entanto, sempre que na cultura
ocidental se teorizou sobre a questão sexual, toda a teorização foi
feita a partir do masculino, como se apenas houvesse um sexo. Ou
12
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe (1949). Versão portuguesa de Sérgio Milliet: O segundo sexo,
Amadora, Livraria Bertrand, 1975, pp. 9-12.
8
seja, o masculino é o sexo, mas os homens são vistos e simbolizados
como se o sexo não fosse para eles um factor determinante ou
determinador.
Contudo, embora a essência do fundo questionante do texto se
mantenha inalterável, ao mesmo tempo, quer na realidade social,
quer nas construções ou nos debates teóricos, a mudança é
completamente abissal, porque o século vinte, fundamentalmente a
partir dos anos 60, trouxe para a ribalta das discussões a
problemática dos direitos das mulheres e, pelo menos a partir daí, o
desenvolvimento social, no que respeita às relações entre os sexos,
alterou-se substancialmente.
Tal paradoxo releva apenas do facto de que os tempos da
realidade objectiva e os da realidade subjectiva não são equivalentes
– a incorporação real em nós e nas estruturas da nossa
subjectividade daquilo que fora de nós se vai transformando e
consolidando, corresponde sempre a um longo caminho a percorrer;
tratando-se de algo que toca no essencial do nosso ser, como seja a
configuração da nossa natureza e da nossa identidade, tal caminho
não só se alonga como também se bifurca e se torna sinuoso, na
exacta medida em que mexe nos nossos fantasmas e seguranças
ancestrais.
Mas, como parece ter dito ou pensado Galileu, a terra continua a
mover-se… e esse seu movimento, na questão vertente, tem-se
pautado pelo questionamento do que tinha sido ancestralmente
aceite como sendo a identidade feminina e a identidade masculina.
Perderam-se as certezas e as noções acabadas e completas e
instaurou-se o difícil caminho da busca comum de novas perspectivas
que, embora possam ser perturbadoras dos velhos hábitos de pensar,
têm, contudo, como finalidade última traçar uma concepção mais
digna do que é, afinal, ser-se humano.
No que diz respeito ao tema da masculinidade, são os anos 70
que vêem emergir os primeiros estudos científicos relevantes, no
âmbito do mundo cultural dos USA. Tais trabalhos empenham-se em
denunciar o ideal universalista de masculinidade e a pôr a nu as suas
contradições e a sua dimensão ideológica. Na sequência, a
implantação dos Men’s Studies coloca no centro da análise o carácter
de plasticidade da vida e da identidade humana. Nessa medida, põem
a tónica no construtivismo social em detrimento da biologia, e
repetem, por um lado, a tese de Simone de Beauvoir no plano
masculino, defendendo que também não se nasce homem, e, por
outro, como consequência, destroem a ideia de que apenas haja um
modelo único para se ser homem.
9
No início dos anos 90, Elisabeth Badinter publica um livro
controverso sobre o tema da masculinidade13. Com o título XY,
através do qual faz apelo ao par cromossómico determinador do
sexo, esta obra considera o homem e a identidade masculina como
artefactos. Do seu ponto de vista, os movimentos das mulheres e os
questionamentos radicais a que submeteram a estrutura patriarcal da
sociedade ocidental puseram em causa a lendária e universal crença
da superioridade dos homens sobre as mulheres e, ao fazê-lo,
obrigaram os homens a repensar-se fora dos quadros onde se tinham
acantonado concebendo-se “como o(s) representante(s) mais
realizado(s) da humanidade”, concepção essa que permitiu que “o
homem (vir) se visse a si mesmo como universal (homo)”14.
Este texto, que como já referi, suscitou muitas polémicas, tem,
apesar de tudo, a grande vantagem de colocar na mira da análise
uma forma oposta à forma corrente de ver os problemas. E fá-lo por
duas vias convergentes:
1.
por um lado, ao indicar que se pode sobreviver sem o
cromossoma y, mas não se pode sobreviver sem o
cromossoma x, faz do feminino a estrutura matricial e a
forma humana primordial e, portanto, inverte os tradicionais
modos de pensar o humano a partir do masculino;
2.
por outro, colocando a construção da identidade masculina
como uma sucessiva e sistemática recusa do feminino,
reitera a ideia de que o feminino é a referência principial e,
ao mesmo tempo, denuncia o carácter eminentemente frágil
da identidade masculina, uma vez que a sua definição é feita
por negação do feminino.
Independentemente da adesão que se possa fazer às teses que
atravessam esta obra de Badinter, tem de se lhe reconhecer o mérito
de ter questionado a abordagem clássica de considerar o masculino
como a referência e o feminino como a derivação, pondo em relevo
que se pode e se deve pensar as relações entre o feminino e o
masculino de outra maneira e a partir de outros paradigmas.
A sua posição acerca da relação entre as identidades feminina e
masculina, nesta obra, é, essencialmente, ambígua, na medida em
que, por um lado, supõe a diferença, uma vez que defende que a
identidade masculina se constrói por negação sucessiva do que é
feminino, mas, por outro, preconiza a aproximação e a semelhança
porque não só parte da presença da bi-sexualidade em ambos os
sexos, como também defende que aos homens compete a tarefa de
se trabalharem no sentido de construírem a sua identidade dando
corpo ao feminino e ao masculino que os habita.
13
14
Elisabeth Badinter, XY. De l’identité masculine, Paris, Odile Jacob, 1993.
Ibidem, p. 19.
10
No que respeita à identidade feminina, ou, como diz Simone de
Beauvoir o que é, afinal, uma mulher?, os chamados Women’s
Studies, olhados no conjunto da sua extensão e amplitude, dão
respostas extremamente divergentes, em função dos princípios
hermenêuticos de que partem, havendo muitas categorizações das
diferentes perspectivas
que procuram configurar
a natureza
feminina. Por exemplo, algumas autoras propõem uma divisão dos
feminismos em dois grandes grupos: o feminismo ginocêntrico15 −
defendendo as diferenças constitutivas entre homens e mulheres e
considerando as mulheres como alfobres de valores próprios e
superiores aos valores das instituições tradicionais dominadas pelos
homens −, e o humanismo que considera o género como acidental
preconizando que a humanidade tem de se concentrar nas
actividades que distinguem os seres humanos do resto da natureza.
Outras autoras propõem uma categorização mais especificadora
ou baseada em outros princípios de interpretação. tal é o caso de
Judith Evans que classifica os feminismos em cinco categorias:
liberal, radical, socialista, cultural e pós-moderno; os três primeiros
são defensores da semelhança entre os sexos e os dois últimos
sustentam a sua diferença.
Mais interessante para o que nos importa aqui parece-me ser a
proposta de análise da ecofeminista, Ynestra King, que avalia e
categoriza as correntes feministas tendo em atenção o modo como se
posicionam acerca da relação entre a natureza e a cultura, no seio da
identidade feminina. Nesta perspectiva, organiza as diferentes
escolas do pensamento feminista de acordo com três grandes pontos
de vista:
1. o feminismo liberal e o socialista que encaram a natureza
em termos de dominação e de racionalização;
2. os feminismos radicais que ou integram totalmente ou
rejeitam totalmente a relação com a natureza na
compreensão da identidade feminina;
3. os ecofeminismos que procuram relacionar dialecticamente
natureza e cultura no seio da identidade feminina.
O primeiro grupo defende a igualdade de base entre os sexos,
considerando que as diferenças que homens e mulheres apresentam
não são mais que o resultado da acção da cultura. Esta era, por
exemplo, a posição da primeira grande pensadora feminista, Mary
Walstonecraft, que gritou, contra Rousseau, que se deveria dar às
raparigas uma educação equivalente à dos rapazes, porque a limitada
e discriminadora educação que as raparigas recebiam era a única
15
Cf. Rosi BRAIDOTI e outras, Mulher, Ambiente e Desenvolvimento sustentável (1994). (Versão
portuguesa), Lisboa, Piaget, 2000.
11
responsável pelo seu perfil de mulheres e não qualquer determinação
sexual.
O segundo grupo, o do feminismo radical, bifurca-se em duas
posições reciprocamente excludentes – as feministas racionalistas,
como é o caso de Simone de Beauvoir, que repudiam toda a ligação
entre as mulheres e a natureza, e as feministas culturais que, pelo
contrário, celebram a relação constitutiva entre as mulheres e a
natureza, defendendo as diferenças absolutas entre homens e
mulheres, ao mesmo tempo que valorizam a cultura e os valores
femininos como sendo valores superiores. Virginia Woolf está na
origem desta posição.
Por fim, os ecofeminismos defendem que tem de se desconstruir
o modo tradicional de pensar a relação entre natureza e cultura,
considerando-as
não
como
entidades
separadas,
mas,
dialecticamente, inter-relacionadas.
Para a temática da articulação entre género e desejo, são os
designados feminismos culturais que, clara e inequivocamente,
advogam a diferença radical entre os sexos, conceptualizando-os
como alteridades insuperáveis. Nessa medida, sejam quais forem as
especificidades com que se apresentem, acabam sempre por ter por
base uma visão essencialista e dicotomizadora dos seres humanos.
Além disso, esquecem, necessariamente, por esse princípio
dicotómico de partida, outras determinações que marcam
indelevelmente a experiência humana de ser homem ou de ser
mulher, como é o caso, por exemplo, da cor da pele. Como, por outro
lado, esta visão é acompanhada de uma sobrevalorização de tudo o
que é feminino, propõe, no fundo, um novo tipo de relação
hierárquica e, portanto, assimétrica, entre os sexos.
Todas as outras posições, embora com algumas particularidades,
acabam por defender a proximidade entre os sexos. É a esta
perspectiva que me sinto vinculada, quer do ponto de vista das suas
raízes ontológicas e dos seus pressupostos epistemológicos, quer
também, das suas consequências e corolários nos planos da vivência
das relações interpessoais e de cidadania.
Feito todo este percurso de comentário e de reflexão, tem de se
reconhecer que ele reitera o ponto de partida da análise de
considerar que estamos a tratar com um indecidível teórico e de que
o máximo que em verdade podemos dizer é que o desejo ou os
desejos humanos, ainda que sejam vividos por um corpo sexuado
são, igualmente, resultado de um processo histórico e cultural. A meu
ver, só se pode avançar por uma decisão interpretativa acerca do que
está em jogo no conceito de desejo. É o que vou fazer considerando
que o desejo, afinal, tem a ver com a própria raiz da existência
humana se a tomarmos, tal como faz Paul Ricoeur como desejo e
esforço – desejo de ser e esforço de existir. Esta decisão desloca
12
o plano em que a questão tem estado a ser analisada, situando-a,
inequivocamente, no plano ontológico, em cuja dimensão se terá de
reconhecer que homens e mulheres habitam o mesmo desejo e
desenvolvem o mesmo esforço para se afirmar como humanos. É
esse esforço de afirmação da existência humana na sua humanidade
que nos conduz ao tema hegeliano do reconhecimento que, para
mim, protagoniza o desejo primordial e constituinte do humano
enquanto tal e com cuja análise terminarei esta reflexão.
O desejo instaurador do humano: o reconhecimento
O texto mais interpelador para mim, no quadro da procura do
que é um ser humano e como se instaura a sua humanidade, é, de
facto, o clássico texto hegeliano da Fenomenologia do Espírito,
conhecido como a dialéctica do senhor e do servo16. Nele, Hegel
apresenta a génese da consciência de si, cuja emergência ocorre no
interior de uma luta de morte, em que duas consciências se envolvem
para obterem o reconhecimento mútuo. Trata-se, efectivamente de
uma luta de morte, uma vez que essa luta apenas termina quando
uma das consciências envolvidas se reconhecer vencida.
O que é que está em causa nesta figura da dialéctica do Senhor
e do Servo?
De que é que ela pode ser metáfora?
Paul Ricoeur, no contexto da sua análise do pensamento de
Freud, mostrando o seu valor e os seus limites, propõe uma
interpretação deste Capítulo da Phänomenologie des Geistes,
explicitando que ela assenta “(...) na insuperabilidade da vida e do
desejo(...)”17. Ou seja, põe em relevo a estrutura desejante da
consciência, estrutura essa que explica, por um lado, a sua natureza
cindida e inquieta, e, por outro, o seu carácter teleológico, isto é, a
sua abertura ao desenvolvimento e ao futuro como possibilidade de
realização. É nesse quadro que se vem perfilar o outro como sendo, a
um tempo, obstáculo e possibilitação. O outro vai ser o lugar ou a
referência onde cada consciência se procura a si própria e, também,
aquilo que é necessário suprimir para que a afirmação de si possa
acontecer. Por outras palavras, o desejo humano fundamental é o
16
HEGEL, Phänomenologie des Geistes. Tradução de Jean Hyppolite, Paris, Aubier-Montaigne, tomo I.
Já trabalhei este texto em dois artigos anteriores, no contexto de outra temática: Fernanda HENRIQUES,
“Dizer Deus – Outras metáforas” in Manuela Silva (coord.), Dizer Deus – Imagens e Linguagens, Lisboa,
Gótica, 2003, pp. 67-90 ; Fernanda HENRIQUES, “Intertextualidades. Freud, Hegel e Husserl na
constituição da teoria da consciência-texto de Paul RIcoeur”, in Homenagem a João Paisana.
Phainomenon, nº5/6 (2002-2003), pp. 233-249.
17
Cf. Paul RICOEUR, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris, Seuil, 1969, pp. 453-456.
13
desejo do outro porque só através dele pode atingir o seu si-mesmo
e, por essa razão, a construção da identidade obriga a um confronto,
a uma luta entre desejos com a mesma intencionalidade e, por esse
motivo, de interesses opostos. A constituição do si-mesmo de cada
consciência de si supõe, portanto, o reconhecimento como operação
bilateral.
É em função disto que a dialéctica do Senhor e do Servo é uma
luta de morte entre duas consciências na busca da sua identidade, ao
mesmo tempo que esta operação de génese para si mesma da
consciência de si que ela representa é uma luta pela vida, travada no
seio da vida e resolvida de acordo com a maneira como a vida se
valora. À partida, há uma igualdade entre as consciências envolvidas,
ou seja, qualquer das consciências que se implica na luta pelo
reconhecimento de si, pode lutar até ser reconhecida pela outra
consciência. Dito de outro modo, Senhor ou Servo é um ponto de
chegada, um resultado, e não uma definição de partida. Tornar-se
Senhor ou Servo decorre de uma escolha entre sobrevivência e
liberdade.
O que me interessa de todo este processo é relevar a sua
estrutura originária, isto é, considerar que o desenvolvimento
humano aqui metaforizado se dá através de um trabalho de
conservação-superação da relação entre desejo e vida, porque o facto
primordial da consciência é a sua dimensão pulsional-desejante. No
fundo, trata-se de pôr em relevo a presença permanente e operante
do desejo na formação da humanidade e, ao fazê-lo, realçar também
que essa humanidade do humano se constitui num processo de
reciprocidade que é, em última instância, uma operação de
reconhecimento bilateral.
Hegel não estava minimamente interessado na problemática da
igualdade entre os sexos – aliás, a sua posição era a de acantonar a
mulher a uma ligação determinante com a natureza; todavia, a
simbólica do desenvolvimento humano que nos facultou permite-nos
pensar que a verdade e a autenticidade das relações se estabelecem
no contexto de uma dialéctica de horizontalidade e não no quadro de
qualquer hierarquia pré-determinada. Nessa perspectiva, ou seja, no
plano ontológico da determinação da vida e do viver, parece ser
evidente que o desejo que a faz desenvolver é correspondente nos
homens e nas mulheres. Negar esta equivalência só pode ser feito a
partir do lugar ideológico do poder e nunca da perspectiva da vontade
de sentido e de verdade que nos torna humanos, porventura
demasiado humanos ou, quiçá, divinos18.
18
Encontrei um paralelismo desta minha leitura exploratória da metáfora hegeliana num texto de uma
outra natureza, embora também constituído no interior de um confronto crítico com a psicanálise, e que
chama igualmente a atenção para que a humanidade só se configura realmente quando há a
possibilidade de um diálogo entre iguais. A obra é de uma psicanalista, Marie Balmary, tem como título
La DIvine Origine. Dieu na pas crée l’homme (Paris, Grasset, 1993) e corporiza-se através de uma
14
Bibliografia de referência
AAVV, Provenances de la Pensée. Femmes/Philosophie. Les Cahiers
du Grif, Paris, Deuxtemps Tierce, 1992.
AAVV, L’exercice du savoir et la différence des sexes, Paris, L’
Harmattan, 1990.
AAVV, Invention du féminin, Paris, Éditions Campagne Première,
2002.
AMÂNCIO, Lígia, “Mitos e Racionalidades sobre a “natureza”
feminina” in Mª Luísa Ribeiro Ferreira (org.), Pensar no feminino,
Lisboa, Colibri, 2001, pp. 29-34.
AMORÓS, Celia, Tiempo de Feminismo, Madrid, Cátedra, 1997.
BADINTER, Elisabeth, L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel –
XVII, XX siècle, Paris, Flammarion, 1980.
BADINTER, Elisabeth, L’un est l’autre, Paris, Odile Jacob, 1986.
BADINTER, Elisabeth, XY. De l’identité masculine, Paris, Odile Jacob,
1993.
BADINTER, Elisabeth, Fausse Route, Paris, Odile Jacob, 2003.
BALMARY,Marie, La DIvine Origine. Dieu na pas crée l’homme, Paris,
Grasset, 1993.
BEAUVOIR, Simone de, Le deuxième sexe (1949). Versão portuguesa
de Sérgio Milliet: O segundo sexo, Amadora, Livraria Bertrand, 1975.
BRACONNIER, Alain, Le sexe des émotions, Paris, Odile Jacob, 1996.
BRAIDOTI, Rosi e outras, Mulher, Ambiente e Desenvolvimento
sustentável (1994). (Versão portuguesa), Lisboa, Piaget, 2000.
DALLERY, Arleen, “A política da escrita do corpo: écriture féminine”,
in Alison Jaggar e Susan Bordo (eds.), Gender, Body, Knowledge
(1988). Versão para português: Gênero, Corpo, Conhecimento, Rio
de Janeiro, Rosa dos tempos, 1997,pp.62-78.
FERREIRA, Mª Luísa R.(org.), Pensar no feminino, Lisboa, Colibri,
2001.
FERREIRA, Mª Luísa R., “Reflexões sobre o conceito de Género” in Mª
Luísa Ribeiro Ferreira (org.), Pensar no feminino, Lisboa, Colibri,
2001, pp. 47-58.
FRAISSE, Geneviève, Muse de la raison. La démocratie exclusive et la
différence des sexes, Aix-en-Provence, Éditions Alinéa, 1989.
FRAISSE, Geneviève, La controverse des sexes, Paris, PUF, 2001.
GALCERÁN, Montserrat, “Naturalismo e anti-naturalismo. Em torno da
distinção sexo/género” in Mª Luísa Ribeiro Ferreira org.), Pensar no
feminino, Lisboa, Colibri, 2001, pp. 35-45.
análise discursiva do Génesis. A tónica do livro ou o seu móbil é chegar a encontrar resposta para a
pergunta acerca da origem do humano, ou seja, aquilo que verdadeiramente faz de um indivíduo um ser
humano.
15
HENRIQUES, Fernanda, “Dizer Deus-Outras Metáforas”, in Manuela
Silva (coord.), Dizer Deus – Imagens e Linguagens, Lisboa, Gótica,
2003, pp. 67-90.
HENRIQUES, Fernanda, “Intertextualidades. Freud, Hegel e Husserl
na constituição da teoria da consciência-texto de Paul RIcoeur”, in
Homenagem a João Paisana. Phainomenon, nº5/6 (2002-2003), pp.
233-249.
IRIGARAY, Luce, Speculum. De l’autre femme, Paris, Minuit, 1974.
IRIGARAY, Luce, Ce sexe qui n’en est pas un, Paris, Minuit, 1977.
IRIGARAY, Luce, Éthique de la difference sexuelle, Paris, Minuit,
1984.
JAGGAR, Alison e BORDO, Susan (eds.), Gender, Body, Knowledge
(1988). Versão para português: Gênero, Corpo, Conhecimento, Rio
de Janeiro, Rosa dos tempos, 1997.
KING, Ynestra, « Curando as feridas : feminismo, ecologia e dualismo
natureza/cultura », in Alison Jaggar e Susan Bordo (eds.), Gender,
Body, Knowledge (1988). Versão para português: Gênero, Corpo,
Conhecimento, Rio de Janeiro, Rosa dos tempos, 1997,pp.126-154.
KRUKS, Sonia, “Genre et subjectivité: Simone de Beauvoir et le
féminisme contemporaine“, Nouvelles Questions Féministes, nº1(14)
(1993), pp. 3-28.
Les temps Modernes, nº 593 (52) (1997).
MACEDO, Ana Gabriela (org.), Género, Identidade e Desejo, Lisboa,
Cotovia, 2002.
MOORE, Henrietta L., Feminism and Anthropology. Versão
castelhana: Antropología y feminismo, Madrid, Cátedra, 1999.
NOGUEIRA, Conceição, Um novo olhar sobre as relações sociais de
género, Lisboa, FCG-FCT, 2001.
PULEO, Alicia, “De Marcuse a la Sociobiología: la deriva de una teoría
feminista no ilustrada”, Isagoría nº6 (1992), pp. 113-127.
PULEO, Alicia, Filosofia, Género y Pensamiento Crítico, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 2000.
RICHARDS, Janet Radcliffe, “The great gulf of feminism”, in The
Ceptical feminist. A philosophical enquiry, England, Penguin Books,
1994, pp. 385-447.
SILVA, Miguel O., “Hormonas, afectos e razão” in Mª Luísa Ribeiro
Ferreira (org.), Pensar no feminino, Lisboa, Colibri, 2001, pp. 23-27.
TUBERT, Silvia (ed.), Del sexo al género, Madrid, Cátedra, 2003.
VALCÁRCEL, Amelia, La Politica de las Mujeres, Madrid, Cátedra,
1997.
VARIKAS, Eleni, “Féminisme, modernité, postmodernité: pour un
dialogue des deux côtés de l’océan“, in Aavv, Féminisme au présent,
Paris, L’Harmattan, 1993, pp. 59-84.
16