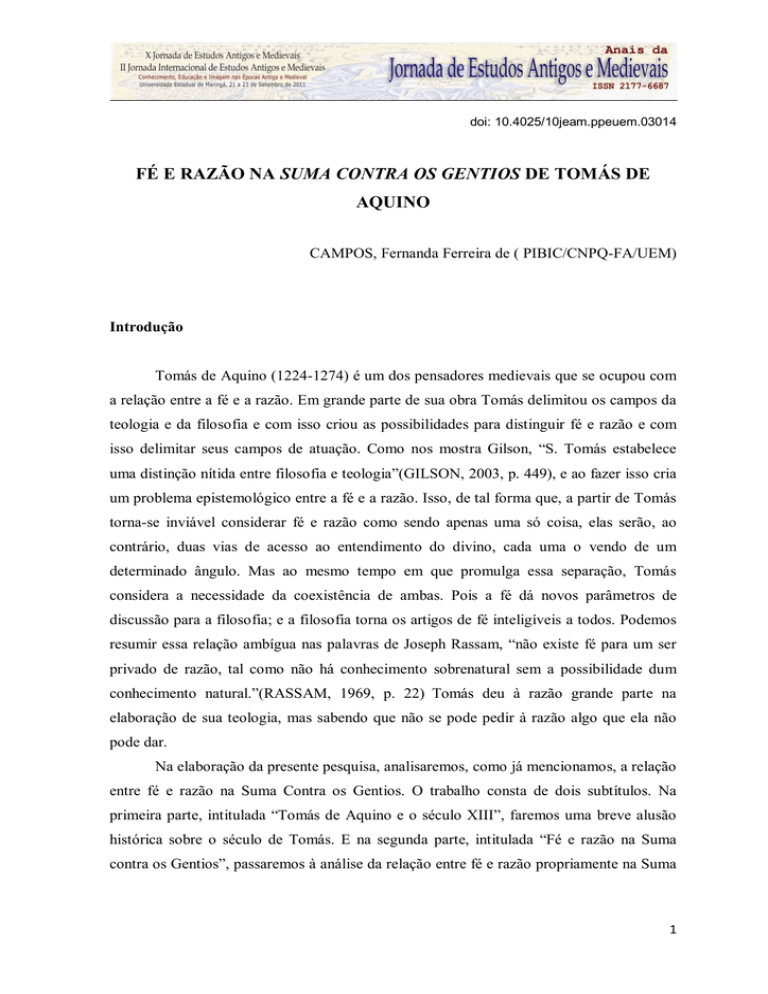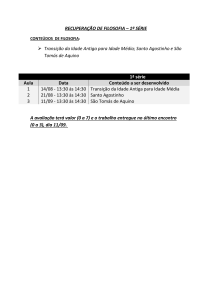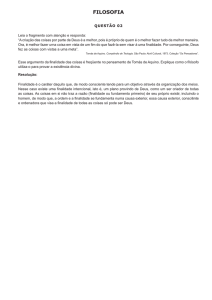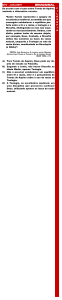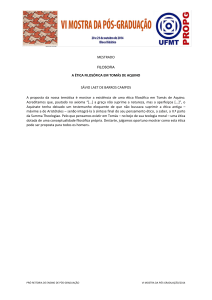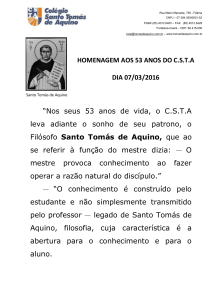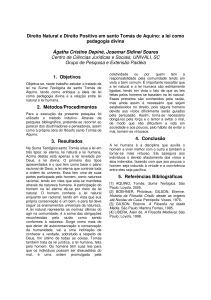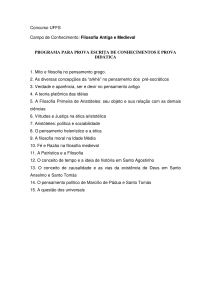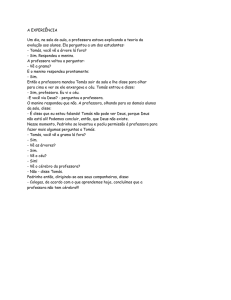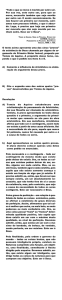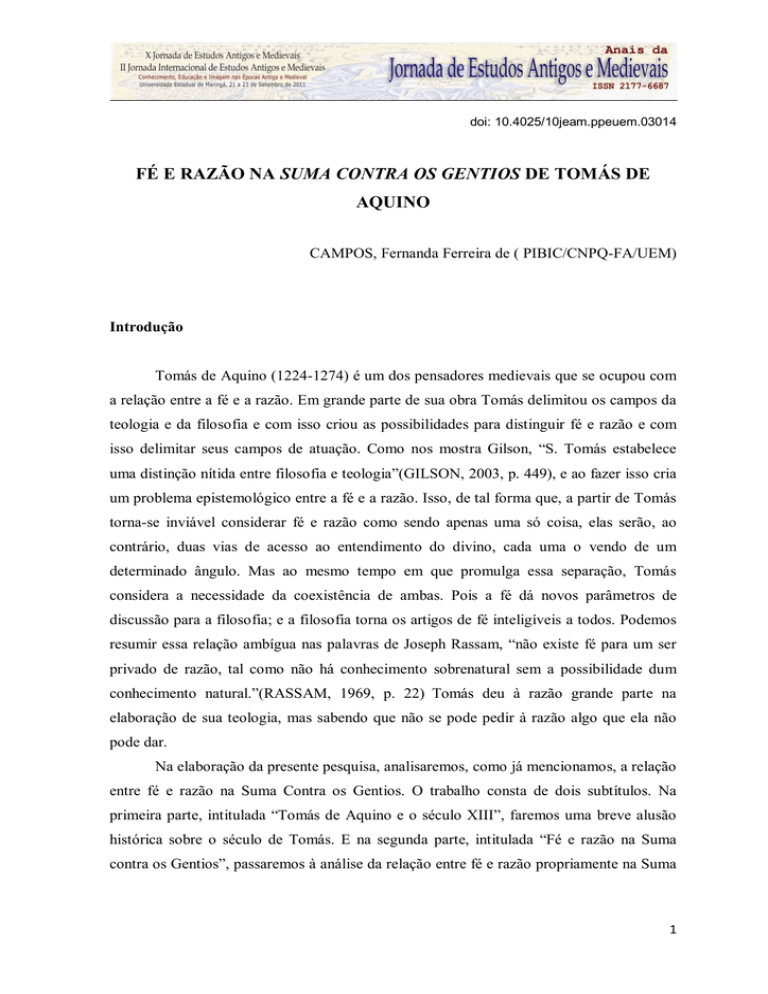
doi: 10.4025/10jeam.ppeuem.03014
FÉ E RAZÃO NA SUMA CONTRA OS GENTIOS DE TOMÁS DE
AQUINO
CAMPOS, Fernanda Ferreira de ( PIBIC/CNPQ-FA/UEM)
Introdução
Tomás de Aquino (1224-1274) é um dos pensadores medievais que se ocupou com
a relação entre a fé e a razão. Em grande parte de sua obra Tomás delimitou os campos da
teologia e da filosofia e com isso criou as possibilidades para distinguir fé e razão e com
isso delimitar seus campos de atuação. Como nos mostra Gilson, “S. Tomás estabelece
uma distinção nítida entre filosofia e teologia”(GILSON, 2003, p. 449), e ao fazer isso cria
um problema epistemológico entre a fé e a razão. Isso, de tal forma que, a partir de Tomás
torna-se inviável considerar fé e razão como sendo apenas uma só coisa, elas serão, ao
contrário, duas vias de acesso ao entendimento do divino, cada uma o vendo de um
determinado ângulo. Mas ao mesmo tempo em que promulga essa separação, Tomás
considera a necessidade da coexistência de ambas. Pois a fé dá novos parâmetros de
discussão para a filosofia; e a filosofia torna os artigos de fé inteligíveis a todos. Podemos
resumir essa relação ambígua nas palavras de Joseph Rassam, “não existe fé para um ser
privado de razão, tal como não há conhecimento sobrenatural sem a possibilidade dum
conhecimento natural.”(RASSAM, 1969, p. 22) Tomás deu à razão grande parte na
elaboração de sua teologia, mas sabendo que não se pode pedir à razão algo que ela não
pode dar.
Na elaboração da presente pesquisa, analisaremos, como já mencionamos, a relação
entre fé e razão na Suma Contra os Gentios. O trabalho consta de dois subtítulos. Na
primeira parte, intitulada “Tomás de Aquino e o século XIII”, faremos uma breve alusão
histórica sobre o século de Tomás. E na segunda parte, intitulada “Fé e razão na Suma
contra os Gentios”, passaremos à análise da relação entre fé e razão propriamente na Suma
1
contra os Gentios, na qual Tomás analisa o ofício do sábio, levando em conta o uso da fé e
da razão.
Tomás de Aquino e o século XIII
O século de Tomás de Aquino foi marcado por encruzilhadas que determinaram de
forma decisiva o rumo da história no Ocidente. Isso, pois, foi uma história marcada pela
influência da ambiguidade, que trazia consigo marcas tanto da cultura árabe como da
cultura judia, além da forte influência do cristianismo, que ditava novos parâmetros no
rumo do conhecimento.
A cultura intelectual árabe-judia que influenciou o ocidente medieval começou a se
desenvolver, segundo Vaz (VAZ, 1986), a partir de 750 d.C., quando a cultura grega inicia
seu lento processo de penetração no mundo árabe, tendo Aristóteles como seu principal
representante. Os intermediários dessa penetração foram os cristãos sírios, cuja cultura
religiosa inspirava-se na patrística grega, que os possibilitou o conhecimento de toda a
cultura clássica grega, entre elas a filosofia. Esse primeiro contato dos árabes com a
filosofia medieval, em especial à do séc. XIII, com o conhecimento integral das obras
aristotélicas. Um dos problemas que se formulará aos pensadores árabes, que também
retorna ao ocidente cristão, é o de como conciliar a noção de “criação” e a contingência
dos seres criados com a necessidade inteligível, que é predicado primeiro da realidade
verdadeira segundo a tradição filosófica grega.
O desenvolvimento filosófico árabe pode ser dividido em duas grandes correntes: a
corrente oriental, cujos representantes são Al-Farabi e Ibn-Sina (Avicena); e a corrente
oriental, representada por Ibn Badja (Avempace) e Ibn-Roschd (Averróis). Todavia dentre
a filosofia árabe, o autor que mais se destaca por sua influência na cultura ocidental é
Averróis, considerado o comentador por excelência de Aristóteles, daí a sua maior
influência no ocidente. Mas além de seu papel como comentador, Averróis inaugura um
tipo de racionalismo que virá a ser uma das constantes da cultura ocidental moderna. O
filósofo andaluz distingue radicalmente o plano da demonstração, no qual o sistema
aristotélico se apresenta com os predicados da ciência e tem por objeto o necessário
racionalmente fundado, e o plano da probabilidade e da exortação piedosa, no qual a
religião e a teologia não se elevam acima da opinião e do mito.
2
A influência da filosofia judia na Idade Média segue em paralelo à da filosofia
árabe. Dessa linha, dois pensadores judeus são Ibn Gebirol (Avicebron) e Moisés bem
Maimônides, que se colocam em duas linhas de pensamento diferentes. Avicebron,
inspirando-se fielmente ao criacionismo bíblico, coloca como princípio dos seres uma
vontade criadora, Deus; mas após o ato de criação, o universo desenvolve-se por meio de
uma hierarquia de formas, dentro de um esquema neoplatônico. Enquanto que,
Maimônides é reconhecido por sua adesão decidida ao aristotelismo, admitindo um único
intelecto agente para todos os homens; mas recusa à inteligência humana qualquer
conhecimento positivo do que Deus é, sendo possível apenas conhecer que ele é. Esse
pensamento de Maimônides influenciou visivelmente todos os pensadores medievais, pois
eles afirmam o mesmo, que de Deus não podemos saber o que ele é, mas apenas que ele é.
O desenvolvimento do cristianismo no ocidente ocorria em paralelo ao
desenvolvimento da filosofia árabe-judia. O cristianismo, desde sua origem, de acordo com
Savian (SAVIAN, 2005), apresentou-se como uma religião, comportando-se propriamente
como uma teologia, como um discurso inteligente sobre Deus. Aquele que se dedicava ao
estudo das Escrituras, para fazê-lo de forma adequada, deveria, além de entendê-las
também comentá-las e encontrar nelas explicações para as coisas. Por meio desse trabalho
intelectual o cristianismo se expandia por entre os lugares, encontrando-se pois, com a
filosofia, que passou a exigir do discurso cristão um sério esforço para garantir sua
coerência e inteligibilidade. O discurso cristão, por sua vez, apropriava-se de conceitos
propriamente filosóficos para se fazer inteligível. Essa apropriação mostra o intercâmbio
que se instalou entre a religião cristã e o pensamento filosófico. A filosofia fornecia à
religião meios apropriados para exprimir-se, enquanto a religião passava a fornecer à
filosofia um emprego novo e inusitado de seus conceitos, aos quais ela mesma nunca
chegaria. Todavia, a partir dos séculos III-IV o cristianismo começa a reivindicar o estatuto
de verdadeira filosofia. O termo filosofia passou a designar, então, durante um longo
período, uma racionalidade filosófica engendrada no seio da experiência cristã. Pode-se
dizer, então, que até meados do século X a filosofia manteve um caráter existencial
essencialmente cristão. Porém, a partir do século X é possível observar certa dissociação
entre o meio filosófico e o cristão no trabalho universitário. A partir de então a filosofia é
considerada como disciplina institucional dentro da Universidade, com técnicas próprias
3
para a aquisição do saber. Ao longo do séc. XIII e, fundamentalmente no século seguinte,
inicia-se o processo de distinção entre filosofia e teologia.
Do ponto de vista religioso, então, o século XIII foi um século de grande destaque
para o ocidente cristão, período de consolidação da sua principal instituição a
Universidade. A igreja católica possuía uma forte influência em todos os campos da vida
medieval, sendo por muitas vezes difícil delimitar os domínios do poder civil e do poder
religioso, bem como o poder do rei e o poder do papa, que viviam em constante luta pela
hegemonia. Além disso, esse século sofreu com inúmeras cruzadas e perseguições aos
infiéis, marcada pela força da inquisição. Mas a Igreja também guardava em seu interior os
grandes tesouros da cultura intelectual, concentrando-se de toda a sabedoria.
Em relação à cultura filosófica, ao dar início o século XIII, o Ocidente já estava de
posse, tanto da literatura aristotélica e neoplatônica e também árabe-judia; ambas as
correntes em contato com a tradição cristã. Contato esse que gerou algumas datas
importantes para a construção de um pensamento medieval original, como nos apresenta
Vaz (VAZ, 1986). Entre 1200 – 1210, há o conhecimento de grande parte da obra
aristotélica. Em 1210 um concílio de bispos da província de Sens proíbe o ensino público
dos livros de filosofia natural de Aristóteles. Em 1215 a mesma proibição de 1210 é
renovada, perdurando até 1231. Mas, de fato, até 1240 o estudo oficial de Aristóteles era
restrito. Entretanto, entre 1230 e 1250 os livros aristotélicos ainda proibidos eram
utilizados largamente pelos mestres de teologia. Todavia, é somente em 1255 que as obras
de Aristóteles entram oficialmente na faculdade de Artes da Universidade de Paris, o
principal expoente universitário do mundo ocidental.
Além da penetração das obras aristotélicas, algo que marcou decisivamente a Idade
Média foi, como vimos, a fundação das Universidades. Surgida por um processo de
fortalecimento das escolas urbanas que, no século XII, haviam suplantado as escolas
monásticas, constitui um órgão institucional do corpo religioso-político da cristandade, ao
lado do sacerdócio e do império. Sendo assim, é nas universidades que se dará o encontro
decisivo entre aristotelismo e cristianismo, entre filosofia e teologia. O modelo de ensino
da época compreendia dois momentos: a lectio, que se refere quase sempre à elucidação do
sentido de um texto de autoridade reconhecida; e a disputatio, a discussão de um problema
colocado pelo mestre e por ele resolvido.
4
É nesse período de proibição e aceitação da filosofia aristotélica e de supremacia
cristã que surge Tomás de Aquino. Nascido no ano de 1225, no castelo de Roccasecca,
próximo de Cassino, no reino de Nápoles (sul da Itália), Tomás era de família nobre. Como
o caçula da família, segundo o costume da época, Tomás havia sido destinado à Igreja;
sendo mandado ao mosteiro de Monte Cassino, por volta dos 5 anos. Tomás permaneceu
no mosteiro até 1239, quando então é mandado à Nápoles para completar seus estudos,
onde estudou artes liberais, ingressando, em seguida, na Ordem dos Dominicanos, em
1244. Entre 1245 e 1248 estudou teologia em Paris, indo depois a Colônia. Em 1252
Tomás voltou para a universidade de Paris, onde lecionou até 1269, quando regressa à
Itália para atender um chamado do papa. Em 1269 volta novamente a Paris, onde luta
contra o averroísmo de Sigério de Brabante. Em 1272 retorna à Nápoles onde leciona
teologia. Dois anos depois, em 1274, Tomás morre a caminho do Concílio de Lyon.
De Tomás, analisaremos, como já mencionado, a Suma Contra os Gentios. A Suma
Contra os Gentios, de acordo com Torrell (TORRELL, 1999), teve seu início enquanto
Tomás estava em Paris, por volta de 1259. Esta obra possui como propósito o combate aos
gentios, como se encontra no próprio título da obra. Todavia, a Suma ultrapassou muito
suas pretensões iniciais. Isso, pois, ela dialogava não apenas com o Islã, mas também com
todos aqueles que se colocavam, em certa medida, contrários às ideias professadas pela fé
cristã.
Fé e razão na Suma contra os Gentios
Tomás inicia a Suma contra os Gentios descrevendo o ofício do sábio. A princípio
Tomás toma emprestado de Aristóteles a afirmação de que “o ofício do sábio é colocar
ordem nas coisas” (TOMÁS, SCG, I, 1). Ora, para ordenar as coisas o sábio deve visar um
objetivo, uma meta ao qual procure atingir e pelo qual se moldem suas ações. Esse fim
constitui o bem de todas as coisas. Mas que fim e que bem são estes?
Uma arte que seja detentora de um fim desempenha em relação à outra arte o papel
de reguladora, de princípio, sendo chamada por Tomás de artes arquitetônicas ou artes
principais; e aqueles que se dedicam a esta arte recebem de forma justa o nome de sábio.
Desta forma, sábio será, verdadeiramente, aquele que se dedica às artes superiores, artes
que almejem verdades primeiras, causas primeiras, portanto, mais altas. Como causa
5
primeira ao qual almejam as demais coisas, Tomás identifica como sendo uma inteligência;
e como fim último e supremo do universo sendo o bem da inteligência. Este bem consiste
na verdade. Desta forma, podemos responder à questão colocada acima. O fim ao qual
Tomás menciona é o bem de uma inteligência. Qual inteligência? O primeiro Autor e causa
motora do universo. E o bem que se refere ao fim último, a verdade. Podemos ver, pois,
aqui, um esboço daquilo que a tradição trazia consigo, como sendo o anseio da filosofia, a
busca pela verdade. Evidencia-se, mais uma vez, o que mencionamos anteriormente, o
cristianismo reivindicando o papel de verdadeira filosofia. Tomás utiliza-se da Metafísica
de Aristóteles para isso, ao afirmar que
“a Primeira Filosofia é a ciência da verdade: não de qualquer verdade, mas
daquela verdade que constitui a fonte de toda a verdade e propriedade do
princípio primário do ser de todas as coisas que existem.”(TOMÁS, SCG, I,
1)
Tomás não deixa claro ainda qual é exatamente esta verdade, e nem como podemos
alcançá-la; porém, podemos afirmar, sem possibilidade de erro, que esta verdade será
identificada com o conhecimento de Deus. Mas voltemos ao ofício do sábio.
Ainda sobre o sábio, Tomás afirmará que tal ofício deve ir além de simplesmente
meditar à procura da verdade, ele deve também refutar os erros contrários à verdade. É
interessante como Tomás realça aqui a importância do método dialético, amplamente
utilizado na escolástica medieval, para o ofício daquele que se dedica à sabedoria. Isso,
pois, além de se dedicar ao estudo e à busca da verdade, o sábio deve possuir meios
eloquentes para discutir e confrontar os erros daqueles que se mostram contrários à tal
verdade. Porém, o próprio Tomás admite que essa refutação dos erros contrários é de
difícil execução, isso, como afirma ele (TOMÁS, SCG, I, 2), por duas razões. A primeira
está no fato de não conhecermos profundamente as afirmações e teorias daqueles que
caíram no erro. Ora, é fato conhecido que só podemos refutar de forma satisfatória aquilo
que conhecemos bem, pois, caso contrário, poderíamos estar sujeitos à uma refutação frágil
e pobre de argumentos. E a segunda razão encontra-se no fato de que alguns autores desses
erros não concordarem com as Sagradas Escrituras, autoridade primeira quando se fala do
estudo da sabedoria. Desta forma, o estudioso da sabedoria deve recorrer ao uso da razão
natural para discutir seus temas afins. Razão natural esta que, nas palavras de Tomás,
“todos devem necessariamente aderir” (TOMÁS, SCG, I, 2). Vê-se aqui, então, a
6
necessidade de um campo neutro para a discussão, o campo da razão natural, que é uma
outra via de se chegar à verdade.
Ao estabelecer a necessidade do uso da razão natural, é reconhecido também a
existência de muitas maneiras de se descobrir a verdade. Com relação à verdade divina há
duas formas de se alcançar a verdade de Deus.
“Existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as
capacidades da razão humana. Uma delas é, por exemplo, que Deus é
trino e uno. Ao contrário, existem verdades que podem ser atingidas pela
razão: por exemplo, que Deus existe [...]” (TOMÁS, SCG, I, 3)
Ao fazer uma distinção entre esses dois modos de acesso à verdade divina, Tomás
distingue entre aquilo que a razão pode e aquilo que a razão não pode. Dando assim um
limite ao uso da razão no que se refere às coisas divinas. A razão pode entender e até
demonstrar as verdades que lhe são acessíveis, discutindo a existência de Deus, seus
atributos, entre outros. Esse conteúdo apreendido pela razão tem como ponto de partida o
sensível. Pois o conhecimento em Tomás, assim como em Aristóteles, parte daquilo que é
mais imediato ao homem, o sensível. Com isso Tomás afirma que o conhecimento humano
tem seu ponto de partida nos sentidos corporais, de tal forma que tudo o que não cai sob o
domínio dos sentidos não pode ser apreendido pela inteligência humana, a não ser que os
objetos sensíveis permitam deduzir a existência de tais coisas. E partindo do sensível,
fazendo uso do que a razão nos propicia, o homem pode alcançar certo conhecimento das
verdades sobre Deus que lhe são acessíveis. Em relação ao primeiro tipo de verdade,
àquelas que ultrapassam totalmente as capacidades da razão, essas verdades devem ser
aceitas pela fé, e o teólogo as toma como algo que não pode ser colocado em dúvida.
Tomás afirma que o primeiro objeto do conhecimento humano é a essência das coisas,
adquirido pela razão, de modo que, acerca de Deus, não podemos saber o que ele é, a sua
essência, mas apenas o que ele não é, um conhecimento negativo de Deus.
Em relação ao conhecimento de Deus, o autor distingue graus nessa forma de
conhecimento, assim como há graus no conhecimento das coisas em geral. Por exemplo,
“tomemos dois seres, dos quais um possui um conhecimento mais agudo
de uma coisa do que o outro: o que tem a inteligência mais aguda conhece
muitas coisas que o outro é incapaz de apreender. É o caso que se dá com
o camponês, que é incapaz de compreender as sutis considerações da
Filosofia.” (TOMÁS, SCG, I, 3)
7
Há, por assim dizer, uma ordem hierárquica e crescente. Nessa hierarquia encontra-se o
homem, os anjos e Deus. Isso, pois, o conhecimento inferior que possuímos de Deus devese ao nosso intelecto limitado. Já o conhecimento que os anjos possuem de Deus é mais
profundo e perfeito do que o conhecimento que os homens podem almejar de Deus. E, por
sua vez, o conhecimento que Deus possui de si próprio ultrapassa a inteligência dos anjos e
infinitamente a dos homens. Isso se dá porque a inteligência de Deus está no mesmo nível
de sua substância. Ora, conhecemos tanto melhor quando o objeto de nosso conhecimento
se encontra no mesmo nível de nossa substância. Por isso Deus conhece com perfeição o
que ele é, pois o que ele é encontra-se no mesmo nível de sua inteligência. Por isso
também Tomás considera tolice julgarmos como falso aquilo que foi revelado, aquilo que
nossa inteligência não compreende por si mesma. “Em consequência, tudo aquilo que é
dito acerca de Deus, e que a razão humana em si mesma é incapaz de descobrir, não deve
ser de imediato considerado como falso” (TOMÁS, SCG, I, 3). Tomás valida com isto o
conhecimento das verdades que ultrapassam a razão por meio da revelação divina. Desta
forma observa-se que tudo o quanto o autor considera como ultrapassando a razão humana
deve ser revelado a nós; revelado, não como coisa qualquer, mas como objeto de fé,
pertencente ao domínio da fé.
Está demarcado, então, de certa forma, os domínios que procurávamos elucidar, o
da razão e o da fé. Podemos dizer que ao domínio da razão está todo aquele conhecimento
que toma o sensível como ponto de partida, e que, portanto, pode ser demonstrado.
Conhecimento este que é limitado pela fraqueza do intelecto humano. A razão se
restringiria apenas ao campo do fenomenológico. Já o domínio da fé pertenceria tudo
quanto diz respeito ao transcendental, e seu conhecimento se daria por meio da revelação
divina, Tendo, pois, o que foi revelado, que ser aceito por um ato de fé. Tomás enfatiza
com isso que o conteúdo de fé (expresso pelos artigos de fé) não pode ficar à mercê da
razão, pois “verificar-se-iam três grandes inconvenientes, se tais verdades naturais acerca
de Deus estivessem abandonadas exclusivamente às forças da razão humana”(SCG, I, 4).
O primeiro inconveniente é que apenas poucos homens teriam acesso ao conhecimento de
Deus. Isso se dá pelo fato de que para chegar a tal conhecimento exige-se uma longa e
laboriosa busca, e essa trajetória ser algo ao qual nem todos os homens almejam. Alguns
homens não são voltados para o conhecimento. E, além disso, os homens estão muito
8
presos às necessidades materiais, por isso não tendo tempo para a reflexão filosófica, pois
para a contemplação é preciso o ócio. O segundo inconveniente se deve ao fato de que o
homem levaria muito tempo para alcançar tal conhecimento. Isso se deve à profundidade
da verdade divina e aos conhecimentos preliminares necessários para alcançar tal verdade.
E o terceiro inconveniente que surgiria caso Deus não tivesse se revelado é a presença
constante do erro. Neste caso, a fraqueza da razão humana se faz presente, tanto de quem
faz a demonstração de uma verdade divina quanto de quem ouve a demonstração, por
motivos que ficam explícitos na obra tomásica, a finitude da razão humana. Por esses
motivos a revelação divina e a fé se fazem necessárias. Além disso, a revelação divina faz
com que todos os homens tenham possibilidade de participar do conhecimento de Deus.
Sem perigo de dúvida ou de erro.
Mas se Tomás confere à fé a tarefa de possibilitar a todos os homens o
conhecimento de Deus, qual o papel destinado à razão? É possível reencontrar esta questão
na primeira parte da Suma de Teologia (questão 32), onde Tomás considera o
conhecimento humano da Trindade, conhecimento tal, que como vimos, é vedado à razão.
Nas palavras de Tomás:
“Deve-se dizer que há duas maneiras de se dar razão de alguma coisa. A
primeira consiste em provar de maneira suficiente a causa. Por exemplo,
nas ciências naturais, dá-se razão suficiente que prova que o movimento
do céu tem sempre uma velocidade uniforme. A segunda consiste não em
provar de maneira suficiente a causa, mas em mostrar a consequência
entre a causa, já admitida, e os seus efeitos. Por exemplo, em astronomia
é afirmada a razão dos círculos excêntricos e dos epiciclos pelo fato de
esta hipótese, uma vez admitida, pode salvar as aparências sensíveis
referentes aos movimentos celestes.”(TOMÁS, ST, Iª, q. 32, a. 1, ad 2)
Essa passagem parece outorgar dois usos da razão: um sentido próprio como é o
caso da física (busca de causas) e outro que garante certo tipo de conhecimento, ainda que
não probante, como é o caso da astronomia. Isso, pois, a física trata de coisas visíveis e
acessíveis aos olhos de qualquer um que se dedique a seus estudos, podendo utilizar-se,
pois, de argumentos demonstrativos certos. Já a astronomia, por estudar algo que se
encontra distante dos sentidos humanos, só pode, pelo menos à época de Tomás, fazer uso
de cálculos possíveis, alcançando apenas uma pequena parte do corpo celeste, mas nunca o
compreendendo por completo, com perfeição e sem sombras de erro. Estaria aqui
delineado aquilo que pertence propriamente à teologia e o que pertence à filosofia?
9
A fé, como mostra Joseph Rassam, ao falar de Tomás de Aquino, “é realmente
obediência e confiança na Palavra de Deus; mas não é impulso cego da sensibilidade, e
menos ainda um sacrificium intellectus.” (RASSAM, 1969, p. 20) A fé é a aceitação
daquilo que Deus, ser infinitamente perfeito, revelou a nós, seres imperfeitos. Através da fé
o homem consegue alcançar as verdades divinas que não são acessíveis à razão. Mas não
podemos entendê-la como aceitação ingênua e sem razão da palavra divina, pois assim
poderiam considerá-la fabulosa, fazendo da palavra divina um mero conto. A fé exige
também raciocínio, se não um raciocínio do tipo filosófico, pelo menos um raciocínio no
que concerne a entender os sinais de Deus, sua revelação. A fé, em sua essência, não
requer que se sacrifique o intelecto humano, apenas pede que este se volte para Deus e
compreenda sua limitação com relação ao ser perfeito. Pois, ainda segundo Joseph Rassam,
“não existe fé para um ser privado de razão, tal como não há conhecimento sobrenatural
sem a possibilidade dum conhecimento natural.” (RASSAM, 1969, p. 22) Torna-se válido
então que Deus se manifeste aos homens por meio de sua revelação. Mas é tão válido
também o uso da razão para entender o divino. Apesar da razão não conseguir atingir com
perfeição o ser de Deus, o pouco conhecimento que puder alcançar é melhor do que
nenhum. Pois, segundo Tomás, “por mais limitado que seja o nosso conhecimento acerca
das substâncias superiores, este pouco é mais desejado e mais amado que todo o
conhecimento que possamos adquirir das coisas superiores.” (TOMÁS, SCG, I, 5) Isso,
pois, o conhecimento das coisas mais nobres confere à alma certa perfeição.
Todavia, o conhecimento de Deus por meio da razão e o conhecimento de Deus
pela revelação divina não podem, segundo Tomás, estarem em contradição. Nas palavras
do autor: “se é verdade que a verdade da fé cristã ultrapassa as capacidades da razão
humana, nem por isso os princípios inatos naturalmente à razão podem estar em
contradição com esta verdade sobrenatural.” (TOMÁS, SCG, I, 7) Isso, pois, tais princípios
naturais estão incluídos também na sabedoria divina, como os efeitos participam também
da causa. Sendo assim, tudo aquilo que contradiz tais princípios estaria contradizendo
também a sabedoria divina; o que é impossível. Eles são assim chamados por não
necessitarem de demonstração, mas ainda assim, todos os homens concordam com eles.
Além disso, Tomás afirma ser impossível coexistirem simultaneamente em um mesmo
indivíduo opiniões ou juízos contrários entre si. Não sendo possível então que um mesmo
indivíduo através do uso da razão chegue a uma conclusão contrária àquilo que a fé
10
revelada lhe concedeu. Tal ocorre, pois, segundo Tomás, qualquer argumento que vá
contra a fé cristã não procede dos primeiros princípios inatos à natureza e conhecidos por
si mesmos.
Para Tomás, só podemos compreender as verdades divinas simplesmente de nossa
parte, mas nunca da parte de Deus. É óbvio que, em falando da dupla verdade, não a
entendemos da parte do próprio Deus, que constitui a Verdade única e simples, mas da
parte do nosso conhecimento. Sendo assim, no que concerne à primeira forma de verdade,
àquelas verdades que são acessíveis à razão, exige-se que procedamos por meio de razões
demonstrativas. Razões estas que se fazem entendidas a todos os que se dispõem à
discussão dos artigos de fé acessíveis à razão humana. Estas demonstrações visam também
ao convencimento daqueles que se mostram contrários às verdades divinas. Já no que
concerne à segunda forma de verdade, àquelas verdades que ultrapassam a razão humana,
essas verdades são propostas a nós como objetos de fé, não possuindo, pois, demonstrações
certas, mas apenas argumentos de probabilidade. Tais argumentos fazem apenas uma
aproximação, vislumbrando apenas uma parte de todo o conhecimento, como faz o
astrônomo em relação ao conhecimento do corpo celeste. Segundo Tomás, tais argumentos
não visam ao convencimento dos adversários, posto que a fé não é uma questão de
convencimento. Os argumentos de probabilidade, apesar de não darem demonstrações
exatas, dão soluções possíveis às objeções impostas por seus adversários. Além disso,
funcionam, para aqueles providos de fé, para aclarar as verdades que ultrapassam a razão.
Todavia não devemos insistir nessa forma de argumentação, dado que nem todos os
homens partilham da fé. Pois se insistíssemos nessa forma de argumentação não abriríamos
espaço à discussão comum. É realçada aqui, mais uma vez, a importância do uso da razão
enquanto campo neutro de discussão dos artigos de fé. Pois só a razão permite que se
façam questionamentos e que se construam demonstrações verdadeiras acerca de algo. Mas
é importante realçar que a razão e a fé, segundo Tomás, como dissemos, não são
contraditórias, são, de certa forma, dois pontos de vista separados, mas que, quando se
dedicam sobre um mesmo assunto, como é o caso do saber sobre o divino, elas convergem
em um ponto sem contradição.
Considerações Finais
11
Vimos, portanto, que na relação entre a fé e a razão há um equilíbrio entre ambos,
na medida em que aquela mostra o caminho no qual a razão irá se desenvolver, explicar o
não aparente por aquilo que a fé propõe. Desta forma, o uso da razão naquilo que pertence
propriamente à fé, não é contrário à própria fé, mas algo que lhe pertence.
De acordo com Gilson (GILSON, 2003, cap. V), há dois aspectos principais com
relação a distinção entre filosofia e teologia: a) a filosofia e a teologia diferem por sua
finalidade; e b) a filosofia e a teologia diferem por seus respectivos métodos. Com relação
à diferença por finalidade, diz-se que elas se diferem, uma vez que a teologia se refere às
coisas mais elevadas, realidades ontologicamente superiores a do mundo sensível, matéria
comum à filosofia. A filosofia estuda as coisas enquanto objetos em si mesmos. A teologia,
ao contrário, lida com as coisas enquanto elas se referem a Deus. Tomemos o exemplo do
estudo do fenômeno do fogo dado por Gilson. A filosofia encara o estudo do fogo
enquanto um fenômeno físico; já a teologia encara tal estudo enquanto manifestação da
grandeza de Deus. Ao falarmos da teologia, cabe realçar mais uma vez a questão das duas
teologias. Tomás distingue, como já mencionado anteriormente, duas formas de teologia:
uma pertencente ao âmbito da filosofia e outra pertencente ao âmbito da doutrina sagrada.
A teologia pertencente à doutrina sacra, que é a qual nos referimos, trata das coisas
enquanto conhecidas à luz da revelação divina. Ela trata de todas as coisas enquanto
ordenadas a Deus. Pois Deus é o bem supremo ao qual todas as coisas tendem. Enquanto a
filosofia trata das coisas enquanto elas mesmas. Eis aqui a diferença por meio do método.
Quando dizemos que filosofia e teologia se diferem pelos métodos utilizados
entendemos que mesmo que ambas se refiram a um mesmo assunto cada uma o faz de
forma específica. Isso, pois,
“tendo por objeto o estudo das criaturas em si mesmas, a filosofia não
chega ao conhecimento de Deus senão a partir delas. A teologia segue
caminho inverso, considerando as criaturas exclusivamente em sua
relação para com Deus.” (GILSON, 2003, p. 451)
Dizemos, portanto, que a filosofia visa o conhecimento das coisas enquanto elas
próprias, fazendo uso daquilo que nos afeta diretamente, os sentidos. O conhecimento
científico para Tomás tem início nos sentidos humanos. Isso,
12
“de tal modo que tudo o que não cai sob o domínio dos sentidos não pode
ser apreendido pela inteligência humana, a não ser na medida em que os
objetos sensíveis (acessíveis aos sentidos) permitem deduzir a existência
de tais coisas.” (TOMÁS, SCG, I, 3)
É dessa forma que a filosofia lida com os artigos de fé, demonstrando-os, tornandoos inteligíveis, tendo como fundamento as coisas mais próximas do homem, ou seja, aquilo
que nos afeta por meio dos sentidos. Vemos nessa distinção entre as áreas da filosofia e da
teologia certa noção, por assim dizer, de gradação hierárquica.
Essa gradação hierárquica fica evidente ao longo da obra tomásica. Pode-se
observar essa ordem, por exemplo, quando se considera as formas de saber, sobre o próprio
saber. Quando Tomás, por exemplo, na Suma Contra os Gentios (TOMÁS, SCG, I, 3)
afirma a existência de duas maneiras de se atingir a verdade, ou seja, o conhecimento sobre
Deus. Há aquelas verdades que ultrapassam a razão e aquelas verdades que podem ser
atingidas pela razão humana. Todavia, conhecemos com maior clareza as coisas quanto
mais elas se apresentam aos nossos sentidos. Desta forma, com relação às verdades,
podemos dizer que as verdades se encontram em um sentido crescente: primeiro
encontramos as coisas mais físicas, o conhecimento mais empírico, que depende dos
objetos mais vis que afetam nossos sentidos; depois, vai-se passando ao conhecimento das
coisas mais distantes do homem, adquirindo o conhecimento das realidades cada vez mais
ontologicamente sublime; por fim, alcança-se o conhecimento de Deus, a realidade
ontológica mais sublime que a razão pode cogitar em alcançar. Neste sentido, há também
uma ordem com relação ao intelecto que conhece. Há o intelecto dos homens, dos anjos e
de Deus. Entre essas diferentes ordens de intelecto o homem é o que o possui em menor
valor, sendo dentre eles o intelecto mais baixo. Em seguida encontra-se o intelectos dos
anjos, que é imensamente maior que o dos homens. E, por fim, há o intelecto de Deus,
infinitamente superior ao intelecto dos anjos e mais ainda ao intelecto dos homens, pois é o
único entre eles que possui o conhecimento integral de si próprio, tendo, pois, o
conhecimento do universo como um todo.
Ainda que se considere a imensa separação entre o intelecto humano e divino, o
homem, por meio de muito esforço e com a ajuda do próprio Deus, consegue alcançar
Deus fazendo uso do que para ele é mais natural, sua razão. De acordo com Gilson, “les
principes de la raison nous sont naturellement innés, car Dieu est l'auteur de notre nature.”
(GILSON, 1997, p. 39) Sendo, pois, esses princípios da razão criados por Deus, justifica-se
13
o uso tanto da razão quanto da fé para se entender o divino. Há, pois, certa harmonia entre
filosofia e teologia.
Embora aparentemente distintas a filosofia e a teologia não entram, como vimos,
em contradição. Isso, pois, se a razão, dada a nós por Deus, entrasse em contradição com a
fé, revelação de Deus, entraria em contradição com o próprio Deus, o que não pode
ocorrer. Ora, Deus não se contradiz. Ele não incutiria em nós algo que contradissesse a fé
divina. Para Tomás,
“no mesmo indivíduo é impossível coexistirem simultaneamente opiniões
ou juízos contrários entre si. Consequentemente, Deus não pode infundir
no homem opiniões ou uma fé que vão contra os dados do conhecimento
adquirido pela razão natural.” (TOMÁS, SCG, I, 7)
Vemos, portanto, que Tomás está longe de advogar uma separação completa entre
fé e razão. Pelo contrário, ele demanda uma colaboração íntima entre ambas. Isso, pois,
como já vimos, ambas procedem de Deus, tanto a razão quanto a fé. Há, pois, uma
necessidade de uma em relação à outra, de acordo com Tomás.
A fé propõe à filosofia um novo âmbito de discussão, novos problemas a serem
contemplados. Segundo Tomás, o estudo da teologia é propriamente um estudo, fruto de
um trabalho intelectual para se alcançar a realidade sublime de Deus. A fé que pertence à
teologia é verdadeiramente uma aceitação daquilo que Deus revelou a nós, um dom, mas,
por isso, não é uma aceitação cega, ela requer raciocínio. Há, pois, um valor da filosofia
para a teologia. Tomás afirma que se deve começar pela razão para se discutir o divino,
porquanto a ela todos tem acesso, e mais, a ela todos devem assentir. Nas palavras de
Tomás, “ somos obrigados a recorrer à razão natural, a qual todos devem necessariamente
aderir”(TOMÁS, SCG, I, 2) De fato, a razão é a única coisa que todos os homens têm em
comum absolutamente. Tanto os que crêem, quanto os que não crêem, vêm na razão um
campo neutro, um campo de acesso comum.
Mas mesmo afirmando a razão como ponto de partida de uma inteligibilidade do
divino, para o autor a fé possui todo o valor, sendo, propriamente, o plano de fundo da
discussão, anterior mesmo à própria razão. De acordo com Padovani,
“a ciência será superior à fé, como modo de conhecer, em relação ao
homem, pela evidência do seu conteúdo; a fé será superior à ciência em
virtude da sua divina infalibilidade e excelência do seu próprio conteúdo,
14
que amplia o horizonte do conhecimento humano.” (PADOVANI, 1968,
p. 83)
Há na obra tomásica duas vias de acesso a Deus: a via racional e a via espiritual. A
via racional, podemos dizer que é uma via indireta, pois dependerá do esforço intelectual
do indivíduo, que através do uso da razão poderá chegar a algumas verdades sobre Deus.
Todavia não alcançará nunca um conhecimento completo sobre tal. Já a via espiritual é
uma via, por assim dizer, de contato direto com Deus, pois acolhe pela fé tudo quanto Deus
nos revela. Todavia seu conhecimento não possuirá um fundamento totalmente inteligível,
posto que a fé outorga certo tipo de conhecimento, entendido como seu assentimento. Mas
é fato que ambas, quando querem, se dedicam ao mesmo assunto (subiectum), aquele que
diz respeito a Deus. Todavia, cada uma corresponderá a uma forma diferente de lidar com
o divino.
Podemos comparar essas duas formas de ver a Deus com o modo pelo qual as
imagens se formam por meio da visão. No caso dos seres humanos a visão se forma por
meio de uma sobreposição de imagens feita pelos nossos olhos. Cada um de nossos olhos
foca em um mesmo objeto de um ângulo diferente. No cérebro essas imagens são
sobrepostas nos dando assim a visão real do objeto, dele como um todo. Fenômeno este
chamado de visão binocular. Da mesma forma ocorre com a filosofia e a teologia. Cada
ciência foca o entendimento de Deus de seu próprio ângulo, todavia se sobrepormos a
imagem que cada uma obteve sobre Deus, teremos um conhecimento mais claro sobre o
ser divino. É fato que nunca chegaremos ao conhecimento completo de Deus, mas
podemos tornar o ser de Deus um pouco mais claro para a nós. Temos, pois, um
entendimento, por assim dizer, que se caracteriza por uma dupla vertente de um mesmo
cimo: na base encontram-se a fé e a razão, cada uma em um ponto diferente, que, ao
procurar entender o divino colocam Deus como foco central, como se fosse o ponto
elevado de uma montanha, que se torna inteligível ao sobrepormos ambos os
entendimentos, o da fé e o da razão. Essa dupla vertente é entendida, pois, como duas
linhas que se encontram na parte superior de um morro.
Vemos, portanto, que, a partir de Tomás de Aquino, tanto a filosofia quanto a
teologia encontram-se em campos de atuação separados, e que a partir dele, então, tornouse impróprio torná-las uma e a mesma coisa. Filosofia e teologia, assim como razão e fé,
sofrem, pois, uma separação ontológica drástica. É fato, entretanto, que ambas as áreas
15
podem debruçar-se sobre o ser de Deus, mas nunca mais elas serão apenas uma só coisa,
elas são, ao contrário, duas vias de acesso ao entendimento do divino, cada uma o vendo de
um determinado ângulo. Mas ao mesmo tempo em que promulga essa separação, Tomás
considera a necessidade da coexistência de ambas. Pois a fé dá novos parâmetros de
discussão para a filosofia; e a filosofia torna os artigos de fé inteligíveis a todos. Podemos
resumir essa relação ambígua nas palavras de Joseph Rassam, “não existe fé para um ser
privado de razão, tal como não há conhecimento sobrenatural sem a possibilidade dum
conhecimento natural.” (RASSAM, 1969, p. 22) Tanto a teologia possui valor para a
filosofia, quanto a filosofia possui valor para a teologia. De acordo com Mark Jordan, “no
Christian should be satisfield to speak only as a philosopher” (JORDAN, 1993, p. 233),
seguindo essa mesma ideia, o mesmo poderíamos dizer sobre o filósofo que, no
entendimento de Deus só se satisfará de forma plena ao repeitar o âmbito teológico como
uma ciência sacra. Há, pois, uma relação ambígua, de atração e de repulsão entre tal ordem
de conhecimento.
REFERÊNCIAS
AQUINO, Tomás. Suma Teológica. [colaboradores da edição brasileira, direção: Gabriel
C. Galache [e] Fidel García Rodríguez ; coordenação geral : Carlos-Josaphat Pinto de
Oliveira ; colaboraram nas traduções Aldo Vannuchi … [et al.]. Edições Loyola, São
Paulo, 2001.
AQUINO, sto. Tomás. Suma contra os Gentios. Trad. D. Edilão Moura. Edipucrs, Porto
Alegre.
BOEHNER, P.; GILSON, E. História da Filosofia Cristã. Trad. Raimundo Vier. Editora
Vozes. Petrópolis, 2003.
GILSON, E. A filosofia na Idade Média. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins
Fontes, 2007.
GILSON, E. Le Thomisme: introduction a la philosophie de Saint Thomas d’Aquin.
Paris: J. Vrin, 1997.
JORDAN, Mark. Theology and Philosophy. In The Cambridge Companion to Aquinas.
Edited by Normen Kretzmann; Eleonore Stump. Cambridge University Press,1993.
NOVAES, Moacyr. A Filosofia em exercício – Estudos sobre a filosofia de Agostinho.
Discurso Editorial, 2007.
PADOVANI, Umberto. Filosofia da Religião – o problema religioso no pensamento
ocidental. Trad. Diniz Mikosz. Melhoramentos e Editora da USP, 1968.
RASSAM, Joseph. Tomás de Aquino. Trad. Isabel Braga. Edições 70, Lisboa, 1969
SAVIAN, Juvenal. Fé e razão: uma questão atual. São Paulo: Edições Loyola, 2005.
16
TORREL, Jean Pierre. Iniciação a Santo Tomás de Aquino. Trad. Luiz Paulo Rouanet.
São Paulo: Loyola, 2004.
VAZ, Henrique C. De Lima. Escritos de Filosofia III – Filosofia e Cultura. Edições
Loyola, 2002.
VAZ, Henrique C. De Lima. Escritos de Filosofia I – Problemas de Fronteira. Edições
Loyola, 1986.
17