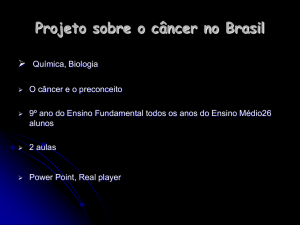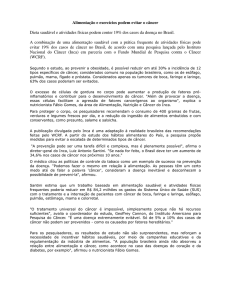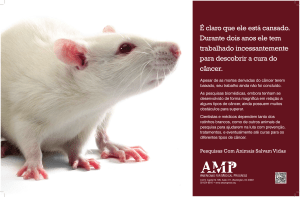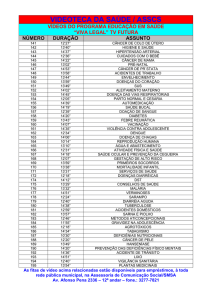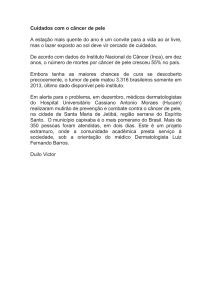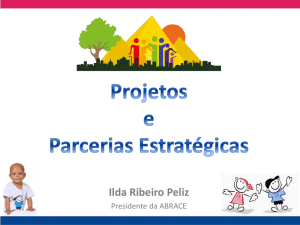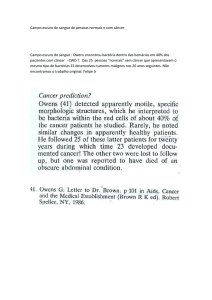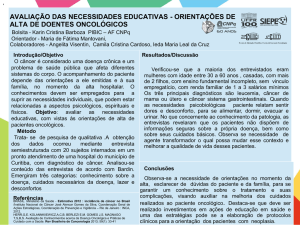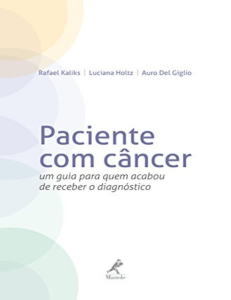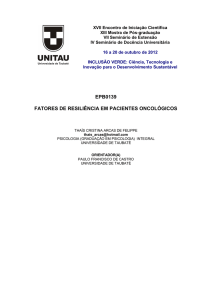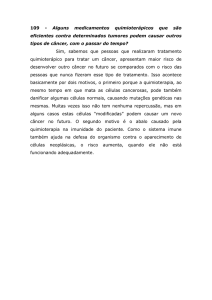REVISTA DA
SOCIEDADE DE PSICOLOGIA
DO RIO GRANDE DO SUL
Efeitos da transferência no atendimento
a pacientes oncológicos
Effects of transference in the treatment
of oncology patients
2
Andrea Theise a *, Marianne Montenegro Stolzmann Mendes Ribeiro b *
Resumo: Este artigo busca refletir sobre o efeito da relação transferencial que se estabelece com pacientes
oncológicos, bem como as questões que surgem diante da vulnerabilidade em que tais sujeitos se encontram.
Além de fragilidade orgânica e psíquica, os pacientes atendidos encontram-se em situação de vulnerabilidade
social. Assim sendo, nas primeiras sessões é feita uma escuta acolhedora a fim de dar suporte para que, no
decorrer dos atendimentos, estes pacientes possam se confrontar com o adoecimento, bem como com seus
conflitos psíquicos que podem estar relacionados com o câncer. Para isso, utiliza-se o entendimento
psicanalítico, tendo como base a prática realizada junto à Liga Feminina de Combate ao Câncer da cidade de
Novo Hamburgo. Ao fim dos atendimentos, o relato dos pacientes revela o quanto esta escuta contribui para a
melhoria da qualidade de vida, sendo que muitos superam momentos de medo, luto e depressão. Alguns
pacientes que antes se sentiam incapacitados em lidar com questões cotidianas, conseguiram, após certo
número de sessões, retomar algumas tarefas diárias, construindo planos a médio prazo, resgatando o desejo em
viver.
Palavras-chave: transferência; psicanálise; paciente oncológico.
Abstract: This article aims to reflect the transference relationship established with oncology patients, as well as
the issues that arise from the susceptibility of such individuals. Those cancer patients are not only under physical
and emotional distress, but also under social vulnerability. Thus, among the individual counseling session first
offered to the patients, the psychologist provides them with a receptive listening so that they can get support in
order to cope with the disease, as well as with the emotional conflicts, which might be related to cancer.
Therefore, the psychoanalytic approach is the method used in the praxis offered at the Liga Feminina de Combate
ao Câncer in Novo Hamburgo, Brazil. The feedback from the patients reveals how much those receptive listening
sessions contribute to the patients' well-being. Many of those patients overcome moments of fear, grief and
depression. Some patients who used to feel incapable of dealing with daily life activities could resume some of
their daily tasks after undergoing a certain number of sessions. They are able to set short - term goals, recovering
the desire to live.
Keywords: transference; psychoanalysis; oncology patients.
a Acadêmica do Curso de Psicologia da Universidade Feevale. Novo Hamburgo - RS - Brasil.
* E-mail: [email protected]
b Orientadora; Psicóloga; Psicanalista, membro da APPOA; Mestre em Psicologia Clínica PUCRS; Coordenadora do Centro Integrado de
psicologia da Universidade Feevale; Professora e Supervisora de Estágio no Curso de Psicologia da Universidade Feevale. Novo Hamburgo
- RS - Brasil.
* E-mail: [email protected]
Sistema de Avaliação: Double Blind Review
50
Diaphora | Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul 14(1) | Jan/Ago | 50-57
Este artigo é fruto de uma reflexão a respeito das
particularidades percebidas nos atendimentos psicológicos
realizados com pacientes oncológicos. Os atendimentos
ocorreram nas dependências da Liga Feminina de Combate ao
Câncer da cidade de Novo Hamburgo, semanalmente, com uma
hora de duração. O encaminhamento destes pacientes ao
atendimento é feito através de uma triagem. Desta forma, são
selecionados aqueles com maior urgência de atendimento,
avaliando se é o próprio paciente que irá se beneficiar desta
escuta, ou ainda se será mais benéfico o atendimento ao
cuidador, como um suporte a esta família, a qual, muitas vezes,
tem suas relações adoecidas juntamente com o paciente
oncológico.
A família funciona como um sistema vivo, de maneira que
tudo que acontece a um de seus membros repercute sobre os
demais; assim, os seus efeitos não se restringem apenas a uma
pessoa em particular, mas afetam normalmente todos os
demais membros (SILVA, 2000, p. 13).
Observou-se, então, que o paciente com câncer e sua família
sempre chegam aos atendimentos com uma grande carga de
angústia. Isto se dá devido ao entendimento inconsciente de que
há uma condenação à morte intrinsecamente ligada ao
momento de recebimento do diagnóstico. "O câncer pode
roubar-lhe aquela alegre ignorância que uma vez o levou a
acreditar que o amanhã se estenderia para sempre". (PICHETI;
DUARTE, 2008, p. 59). Esta carga emocional tem uma demanda
de urgência, que, depois de ser acolhida, abre espaço para que
tenham voz sentimentos e vivências relacionados ao
adoecimento.
A necessidade de uma escuta acolhedora, bem como a
fragilidade destes pacientes, será descrita a seguir, assim como o
manejo realizado nas sessões. Apesar de inicialmente os
atendimentos possuírem o enfoque da psicoterapia de apoio,
percebe-se que, no decorrer do tratamento, diante da aderência e
da transferência estabelecidas, há um aprofundamento desta
escuta, embarcando no campo da psicoterapia de orientação
analítica. Para ilustrar estas especificidades, será exposto, no
decorrer do artigo, o recorte de um caso de uma paciente que será
apresentada como G.
Quem é o paciente oncológico
Até o final do século XIX, o sujeito acometido pelo câncer não
tinha reais possibilidades de sobreviver, restando apenas esperar
pela morte. Em 1920, surgiu uma novidade – a radioterapia –
trazendo a esperança do prolongamento de vida do paciente,
mas esta era utilizada apenas nos casos em que a cirurgia não
havia sido bem sucedida. A partir de 1940, começaram a surgir as
drogas anticâncer e a quimioterapia, trazendo ainda mais
possibilidades com a combinação dos diferentes tratamentos,
mas nem sempre a cura.
A palavra câncer era ameaçadora de tal forma que o
médico só revelava o diagnóstico aos familiares, jamais ao
paciente. Câncer estava associado à dor, à tumoração
deformante, ao odor fétido e, inevitavelmente, à morte. Havia
desconfiança de que fosse doença transmissível, por isso o
paciente era previamente rejeitado (SILVA, 2000, p. 21).
Desta forma, o paciente oncológico, ao receber o diagnóstico,
recebe também esta carga histórica. Muitos avanços já foram
conquistados, mas de acordo com o Instituto Nacional do Câncer
– INCA (2011), o câncer ainda é o responsável por 13% (7
milhões de pessoas) de mortes no mundo, sendo registrados só
no Brasil cerca de 141 mil óbitos por câncer. Estes números
aumentam anualmente, e o paciente que chega para o
atendimento traz consigo, inconscientemente, estes estigmas.
O paciente oncológico percebe o diagnóstico como uma
ameaça e, a partir deste momento, sente-se como quem
caminha pelo corredor da morte, vendo o fim sem escapatória.
Depara-se com sentimentos de desesperança, angústia e medo.
Este vivencia a solidão de enfrentar a ameaça de morte, tão
iminente neste momento inicial.
A reação psicológica do paciente ao diagnóstico de câncer
começa com a suspeita. Apesar do carcinoma ser mais
tratável, atualmente ainda persiste o medo, que tem
repercussão nas atitudes e crenças em relação ao câncer
(SILVA, 2000, p.26).
Este paciente passa por momentos física e psicologicamente
dolorosos, tratamentos momentaneamente incapacitantes que,
além da dor, geram um mal estar total. Assim, o sujeito que
chega para atendimento psicológico vem muito fragilizado, na
maioria dos casos com as defesas psíquicas muito baixas,
necessitando uma escuta acolhedora. O psicólogo coloca-se
junto ao seu paciente, dá voz a alguns sentimentos e traz
esclarecimentos práticos sobre a doença, dando sentido à
angústia que toma conta do ser.
Esta é uma pessoa experiente que se torna ajuda
estrangeira, apoio que vem apaziguar essa excitação sendo
também o portador de uma outra excitação que cava, entre a
dor e o indivíduo, uma distância na qual poderá nascer uma
concepção interpretativa da experiência dolorosa: uma vida
psíquica nasce da experiência sensível ao desprender-se dela
por apoio sobre um outro humano. Pela experiência de
satisfação torna-se possível dar o passo qualitativo que,
51
Diaphora | Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul 14(1) | Jan/Ago | 50-57
certamente sem poder ser eximido do sofrimento, permite não
parar de gozar a vida cedo demais (VILLA, 2008, p. 334).
(VENÂNCIO, 2004). Ansiedade e depressão são os mais
frequentes, sendo o acompanhamento psíquico fundamental
para um bom andamento do tratamento deste sujeito.
Desta forma, este sujeito adoecido agora encontra uma
escuta, um apoio, um lugar para enfrentar seus conflitos. Assim,
surge um fortalecimento psíquico que é fundamental no
enfrentamento do câncer.
Vários estudos referentes ao câncer comprovam que
pacientes que participam de atendimento psicológico
possuem um melhor ajustamento à doença, redução dos
distúrbios emocionais (como ansiedade e depressão), melhor
adesão ao tratamento e diminuição dos sintomas adversos
associados ao câncer e aos tratamentos, podendo até obter
um aumento no tempo de sobrevida (VENÂNCIO, 2004, p.
55).
A liga feminina de combate ao câncer
Todos os atendimentos ocorreram nas dependências da Liga
Feminina de Combate ao Câncer, da cidade de Novo Hamburgo
(RS), que é uma entidade formada por mulheres
voluntariamente associadas, com o propósito de arrecadar
fundos em prol dos pacientes oncológicos. Sem fins lucrativos,
conta com o apoio de empresas e da comunidade para oferecer
ajuda a pessoas em situação de vulnerabilidade social e que
foram acometidas por qualquer tipo de câncer. Atende tanto
homens como mulheres, acima dos 18 anos de idade. Nas suas
dependências, há uma sala destinada aos atendimentos
psicológicos, garantindo o setting e valorizando a importância e
a necessidade da psicologia junto ao adoecimento.
A Liga atende a toda comunidade carente da cidade,
fornecendo materiais como fraldas, perucas, lenços, curativos e
cadeiras de rodas, entre outros, além dos atendimentos com
nutricionista, assistente social, arteterapia, advogados e o
atendimento psicológico. Os pacientes que demonstram
necessidade de psicoterapia são entrevistados por uma
psicóloga voluntária, que faz uma escuta prévia e os encaminha
às demais psicólogas e estagiárias que trabalham
voluntariamente na Liga.
Para elucidar as especificidades destes atendimentos, será
abordado o caso da paciente apresentada como G, a fim de
preservar sua identidade. G estava com 34 anos no momento dos
atendimentos e tinha descoberto o câncer de colo de útero havia
dois anos. Já tinha passado por todas as oito sessões de
quimioterapia recomendadas por seu médico, além de 25
sessões de radioterapia e sete de braquiterapia¹. Não precisou
fazer cirurgia. Casada, tinha dois filhos com quinze e sete anos de
idade. Chegou aos atendimentos bastante fragilizada,
declarando não encontrar mais sentido em sua vida.
Ao chegar para o atendimento psicológico, a paciente G
trouxe uma grande carga de medo e ansiedade. Ao fim do
tratamento médico, ela não fez os exames de controle, uma vez
que, inconscientemente, preferiu permanecer acreditando na
cura e no seu suposto poder de controlar a morte, ao invés de
enfrentar novamente a possibilidade de um novo e doloroso
tratamento, ou ainda uma cirurgia de histerectomia total².
Afligida pelo medo da morte, G negava o adoecimento e se
culpava por isso.
O conflito da paciente ilustra o de muitos outros, pois culpa e
negação estão associadas ao processo de adoecimento de
grande parte dos pacientes oncológicos, já que, historicamente,
o câncer estava associado à vida promíscua.
Sempre foi algo a ser escondido por vir acompanhado de
muitos estigmas, como a inevitabilidade da morte e as
explicações equivocadas a respeito de sua etiologia que
atribuíam sua origem à promiscuidade ou falta de higiene [...]
(VEIT; CARVALHO, 2008, p. 16).
Muitas pesquisas apontam que o paciente oncológico é
frequentemente acometido por problemas psicológicos
Ao negar o adoecimento, a paciente buscava mostrar-se
saudável. Calava seu medo e sua dor, fazendo com que seu corpo
manifestasse esta dor psíquica através do adoecimento.
Neste caso, o câncer representou a dor de seu sofrimento
desde criança. No decorrer dos atendimentos, G falou do
abandono sofrido por seu pai aos dois anos de idade, seguido dez
anos depois pelo abandono de sua mãe. Durante o tempo em
que permaneceu com a mãe, G foi vítima de muito sofrimento,
como a falta de alimentação, além de abusos, como ouvir que ela
não deveria ter nascido, e ter de presenciar as relações sexuais de
sua mãe com diversos parceiros.
Ao ser abandonada uma segunda vez, aos 12 anos de idade e
agora por sua mãe, G demonstra pela primeira vez o desejo de
¹
²
A psicologia entendendo o câncer
Braquiterapia é uma forma interna de radioterapia, onde uma
fonte de radiação é inserida no local do tumor. Este tem se
mostrado um tratamento muito eficaz, já que a radiação atinge
diretamente o tumor de forma precisa.
Histerectomia total é uma cirurgia para a retirada do útero,
ovários, colo do útero e trompas de falópio, quando há alguma
condição patológica, sem a possibilidade de outro tipo de
tratamento.
52
Diaphora | Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul 14(1) | Jan/Ago | 50-57
morrer, pensando em cometer suicídio, sem conseguir chegar ao
ato. Passa a morar com uma tia, irmã de sua mãe, que a trata
como empregada, sem garantir-lhe direitos básicos como a
educação. Aos 14 anos de idade é expulsa desta casa e, então,
acolhida por uma família que a conhecia e tinha uma filha da
mesma idade. Neste momento, G relata que foi surpreendida
pelo carinho e acolhimento, deparando-se pela primeira vez com
uma família. Novamente, surge o desejo de morrer porque,
inconscientemente, não se achava digna dos cuidados que passa
a receber.
Pode-se entender que o desejo de morte presente na
paciente não é dela, mas sim o que foi almejado para sua vida.
Corso (1996) refere a necessidade em fazer esta leitura sobre as
consequências psíquicas sofridas pela criança em ocupar o lugar
do desejo de Outro, uma vez que é neste desejo que ela se
constitui psiquicamente.
Ele pressupõe a existência de um estádio de amor objetal
passivo, no qual o adulto toma a criança como objeto de
satisfação e esta responde introjetando-o. A violação, o
trauma, a violência que ele detecta advém da condição objetal
que ele percebe no infantil, no assujeitamento ao que
chamaríamos de fantasma da mãe (CORSO, 1996, p. 70).
São estas as sequelas de constituição demonstradas por G: o
desejo de morte recebido de sua mãe e que agora, na clínica,
encontra um lugar onde pode ser visto e ressignificado. G foi
assujeitada a este desejo, tendo sido abandonada em três
momentos de sua vida. Em especial, o abandono sofrido por seus
progenitores foi por ela, inconscientemente, compreendido
como desejo de morte.
O ser humano adoece sempre como uma totalidade e
então o câncer tem um significado dentro da história pessoal
do paciente e, muitas vezes, se constitui na única maneira
suportável de viver por ser mais acessível às deficiências
adaptativas do indivíduo (ANGERAMI-CAMON, 2004, p.
79).
Assim, pode-se compreender o adoecimento de G através da
psicossomática, em que seu adoecimento físico mostra-se como
o reflexo de um adoecimento psíquico, emocional e afetivo. A
doença está além da desordem física, denotando uma
motivação profunda e secreta à paciente, que, ao longo do
atendimento, pode se confrontar aos poucos com a origem de
suas dores. Assim sendo, podemos supor que o surgimento do
câncer no útero expressa a dor da rejeição materna, estando o
tumor em um órgão diretamente ligado à geração, à
maternidade.
Acolhendo os ruídos do corpo, Freud (1914[1915], p. 99)
ressalta a organização hipocondríaca como a retirada do
'interesse da libido do mundo externo e dos objetos de amor,
concentrando-a no órgão que lhe prende atenção'. Histeria e
hipocondria aproximaram a psicanálise do fenômeno
psicossomático, defrontando-a com desafios que não eram
facilmente convocados à palavra, à expressão da vida onírica e
fantasmática, à elaboração dos trabalhos de luto; enfim, à
montagem de uma história nos moldes de um romance
familiar (TEIXEIRA, 2006, p.24).
Ao defrontar-se com o câncer, G vê concretamente a sua
condenação à morte. Revela que, ao descobrir a doença, pensa
em um primeiro momento em não tratar e simplesmente
esperar a morte. Mas encontra no apoio e carinho do esposo e
filhos a motivação para o enfrentamento necessário. Desvela a
ambiguidade de seu sentimento, a pulsão de vida e de morte, a
vontade de deixar-se morrer e a luta para viver. Enfrenta o
tratamento com muitas dores, buscando neste momento o
cuidado de sua mãe e de seu pai, tentando resgatar relações
arcaicas que foram abruptamente rompidas.
G sempre manteve contato com sua mãe, mesmo estando
distante e, neste momento de tamanho sofrimento, vai em busca
de seu pai. Encontra-o morando em uma cidade vizinha e
surpreende-se com o apoio e auxílio que passa a receber. A partir
deste momento, constituiu-se uma relação fundamental para o
tratamento de G.
Durante as sessões, é possível analisar que, ao deparar-se
com sua história passada, tão diretamente ligada ao desejo de
morte, G. consegue se desvencilhar destes elos doentios que a
mantinham presa. Passa a olhar para a vida que conseguiu
construir de forma muito resiliente. Através deste resgate, rompe
com estas relações adoecidas, percebendo de maneira única as
diferenças entre a sua forma de maternar seus filhos daquela que
observou em sua mãe.
Uma vez inscritas no corpo as trocas afetivas e linguísticas
vividas com o meio ambiente, torna-se possível ter acesso a
elas novamente desde que se saiba interrogar o corpo e
decifrar sua linguagem. Decifrar esta linguagem por meio dos
disfarces, dos sintomas e dos sonhos devidos ao recalcamento
permitiu a Freud compreender que o modo de expressão do
psiquismo no corpo é essencialmente metafórico e analógico e
que, para ser apreendido, ele exige, além de uma escuta
atenta, um trabalho de interpretação. [...] Por querer conter o
sofrimento psíquico, o corpo torna-se uma metáfora viva
desse sofrimento (DUMAS, 2004, p. 12).
Desta forma, entende-se que o corpo torna-se a fala do
sofrimento. No caso de G, essa fala comunica de forma especial a
53
Diaphora| Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul 14(1) | Jan/Ago | 50-57
dor do abandono desta mãe, e este mesmo adoecimento se faz
na busca pelo resgate desta relação através dos cuidados que a
paciente necessita.
Posteriormente, será elucidado que, quando a paciente
consegue distanciar-se da figura da mãe, é que ela pode ir
novamente em busca do atendimento médico, tendo a vontade
de fazer os exames necessários para avaliar suas condições
físicas. Descobre que o câncer estava em remissão, não
necessitando mais de nenhum tratamento adicional.
Desvelando transferência com o paciente oncológico
Foi com a descoberta da transferência que Freud inaugurou o
método psicanalítico. Ele percebeu que os pacientes
necessitavam de algo que iria além de simplesmente reviver seus
traumas, para que, então, surgisse a manifestação daquilo que
havia sido recalcado. Para que isso pudesse ocorrer, havia a
necessidade de viabilizar a estes sujeitos meios os quais, mais do
que reviver, possibilitariam ressignificar os traumas sofridos.
O fenômeno da transferência é a chave da invenção desse
novo método de tratamento. A Überträgung, termo alemão
que além de transferência significa também transmissão,
contágio, tradução, versão, e até audição, ganhará, enquanto
conceito psicanalítico, o sentido de estabelecimento de um laço
afetivo intenso, que se instaura de forma quase automática e
independente da realidade, na relação com o médico,
revelando o pivô em torno do qual gira a organização subjetiva
do paciente (MAURANO, 2006, p. 16).
Portanto, a transferência pode ser compreendida como o
campo onde se estabelece o tratamento, sendo o lugar que este
sujeito tem junto ao analista para confiar seus sentimentos,
desejos, fantasias e vivências. Já o terapeuta utiliza-se da
transferência para analisar as resistências e os demais
sentimentos ali investidos pelo paciente, indicando, assim, qual o
diagnóstico e as possibilidades de tratamento.
Para Lacan, a transferência consiste na imissão que o
paciente faz no terapeuta, que é compreendido como o grande
Outro, sendo percebido como aquele que detém um saber que
virá ao encontro do desejo posto nesta relação. O sujeito
inconsciente crê que este Outro possui o conhecimento que ele
precisa para libertar-se da experiência traumática.
Na clínica com pacientes oncológicos, a transferência se
constitui com o mesmo propósito, mas com algumas
particularidades que serão abordadas a seguir, sendo ilustrada
com o caso de G.
Como já foi anteriormente mencionado, o sujeito acometido
pelo câncer chega ao atendimento psicológico psíquica e
fisicamente muito fragilizado. Além do adoecimento, há outras
questões em volta deste sujeito que podem ser classificadas
como graves, tais como a falta de dinheiro, de alimentação
adequada, falta de moradia, fortes sintomas do tratamento,
entre outros sofrimentos que estes pacientes trazem consigo.
Desta forma, surge a necessidade de um trabalho investigativo
que busque compreender este adoecimento em meio a tantas
outras questões que o cercam. Para que isto seja possível, é
fundamental o estabelecimento de uma relação de confiança
entre o paciente oncológico e o psicólogo que o atende.
Portanto, para que esta relação com o terapeuta ocorra, é
feito um acolhimento da angústia com que este paciente chega
na clínica. A ele é oferecido o apoio que necessita neste
momento, buscando trazer a clareza que ele precisa para que
consiga sair da posição de condenado à morte e coloque-se
como um sujeito desejante pela vida. Abre-se a possibilidade
deste perceber-se como sujeito único, ao mesmo tempo em que
pode voltar a ver que todos temos nossas dores e males.
De fato viver é estar sob estresse. Ser humano é
experimentar humilhações, rejeições, mudanças, separações,
desapontamentos, fracassos, triunfos, vitórias, gratificações,
esperanças e êxitos. Os acontecimentos da vida repercutem na
mente, propagam-se pelo corpo, e acabam atingindo a saúde
do indivíduo como tal (SILVA, 2000, p. 16).
Podemos afirmar, ainda, que ao chegar para o tratamento
psicológico este sujeito torna-se a própria dor que necessita de
amparo. Isto posto, nesta relação que se estabelece, o psicólogo é
aquele que pode se colocar entre o sujeito e sua dor, oferecendo
um lugar no entre, que propicia, então, um novo significado
deste sofrimento e o surgimento da fonte geradora do
adoecimento. Neste sentido, Villa (2008) sugere que a
transferência pode também ser compreendida como a
apreensão do somático, já que é esta que possibilita o tratamento
psíquico.
Nos atendimentos com G, ficou claramente estabelecido
que, na relação transferencial, ela vivenciava a psicóloga como
sua figura materna. Em meio a sua dor, colocava-se como a filha,
a criança, trazendo sua necessidade de cuidados, ao mesmo
tempo em que fazia a negação faltando às sessões. De forma
saudável, G conseguiu depositar nesta transferência suas dores,
raivas e afetos, abrindo assim a possibilidade de elaborar suas
questões.
Cada ser humano precisa para bem de se apossar de suas
plenas faculdades mentais abandonar a morada do corpo da
mãe, perdê-la, tornando-se sábio de como se faz para
reencontrá-la. Assim, quando o psicanalista oferece seu
"saber de adulto" para livrar a criança do assujeitamento ao
inconsciente dos pais, não faz mais do que querer lhes acelerar
54
Diaphora | Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul 14(1) | Jan/Ago | 50-57
a morte da coisa-mãe, para que apareça a representação da
mãe, propiciar o saber que nasce da perda (CORSO, 1996, p.
72).
Houve um momento em que G abandonou o tratamento,
retomando-o posteriormente somente após um encontro com
sua mãe. Neste encontro, ela tentou expor a esta mãe um pouco
da aflição que emergiu no decorrer das sessões, mas não
encontrou ali o apoio que buscava. Ao deparar-se com esta
frustração, G consegue então retomar os atendimentos e é, neste
momento, que se abre a possibilidade de elaborar alguns de seus
traumas.
E, não obstante, é provavelmente no retorno de/para esse
sofrimento originário que se encontra o ponto onde pode se
produzir a mudança, onde a escolha entre permanecer o
mesmo e modificar-se modificando o mundo, por um instante
se torna possível de novo. Mais além de toda simpatia, de toda
a empatia e de toda antipatia, sobrevém uma exigência de
reconhecer essa dor e o saber que daí adveio ou não, saber do
sofrimento e pelo sofrimento (VILLA, 2008, p. 342).
É importante ressaltar que foi também neste momento de
sua vida que a paciente passou por uma nova bateria de exames,
a fim de avaliar a eficácia do tratamento médico que já havia
feito. A angústia e o medo permeavam os atendimentos,
demandaram uma compreensão e uma entrega da terapeuta
para que G conseguisse deparar-se com as dores psíquicas,
juntamente com toda sua fragilidade emocional.
Neste período do tratamento pelo qual G passava, a relação
transferencial tornou-se seu lugar de amparo e possibilidades.
Então, cabe ao profissional da psico-oncologia a
importante tarefa de resgatar vida nesses pacientes,
englobando os aspectos físicos e psíquicos para, assim,
permitir a eles revelarem seus medos, desejos, emoções e
sentimentos (CHRISTO; TRAESEL, 2009, p. 77).
Recebendo o investimento de desejo oferecido pela
terapeuta, a paciente conseguiu apresentar-se como sujeito em
busca de seu próprio desejo, sem ter que se submeter novamente
ao desejo do outro. Surge, então, a possibilidade de trilhar um
novo caminho, liberta do aprisionamento desejante de morte
proveniente de sua mãe.
Se a constituição está fora do território da escolha, não é
menos verdade que há certo grau de liberdade quanto à
escolha da posição que podemos adotar diante dela. O destino
que daremos às pulsões é aquele que a constituição vai
encontrar em nossa vida e que vai se manifestar nas formas
que a disposição à transferência vai engendrar (VILLA, 2008,
p. 339).
Assim, é oferecida a G a possibilidade de separação, mas
agora de forma saudável, permitindo a elaboração do abandono
sofrido. A paciente usufrui deste momento e, baseando-se na
segurança desta relação, consegue compreender a distância
existente entre ela e sua mãe, pondo em palavras o sofrimento
que durante tanto tempo a atormentou. "Sabe Andrea, eu vivi
correndo atrás da minha mãe, sempre eu, sempre eu. Eu queria o
amor que nem eu tenho pelo G e a I (filhos), meu deus, não posso
nem pensar em fazer com eles que nem ela fez comigo.(pausa)
Mas eu acho que ela não tem pra dar. Eu queria que ela me
amasse, mas como ela vai me dar uma coisa que ela não tem?"
(SIC).
Foi esta mesma relação que serviu como um lugar onde a
paciente pode lidar com a angústia dos inúmeros exames pelos
quais passou. As vésperas destas avaliações médicas, G sempre
era tomada de uma angústia que a colocava em estado de alerta,
não permitindo que ela descansasse. Este fator se observa nos
pacientes de uma forma geral, e falar sobre o receio dos
resultados traz o alívio de grande parte desta angústia. Isto revela
o quanto esta escuta contribuiu para a diminuição do sofrimento,
abrindo caminho para que novamente possa se dar continuidade
às elaborações necessárias para o tratamento psíquico.
Os atendimentos com pacientes oncológicos têm esta
especificidade: a necessidade em lidar sempre com uma
demanda urgente que pode surgir a qualquer momento. Esta
urgência não se dá sozinha, mas em conjunto com o medo da
morte, ou ainda, diante de uma cirurgia, o medo da mutilação, a
angústia frente ao desconhecido, mas que sempre é previamente
compreendido como um mau momento a ser enfrentado.
No decorrer dos atendimentos de G, houve ocasiões em que
seu oncologista apontou a possibilidade de se fazer mais
algumas sessões de braquiterapia, o que não foi necessário. Mas,
em meio à elaboração de seus sentimentos, especialmente
aqueles relacionados a sua mãe, e o medo de ter que enfrentar
novamente o doloroso tratamento, a paciente conseguiu
enfrentar e superar esta fase, tendo o suporte desta relação
transferencial.
É necessário considerar todos os aspectos, físico,
emocional, espiritual, social ou cultural, atingindo a qualidade
de vida de todas as pessoas envolvidas no processo de
adoecimento, independentemente da fase da doença, ou seja:
prevenção do câncer, diagnóstico, tratamento, cura ou a
terminalidade (CHRISTO; TRAESEL, 2009, p. 78).
Inúmeras vezes, G pontuou que não conseguia falar deste
sofrimento com outras pessoas, sendo a psicoterapia o suporte
fundamental neste momento. Nesta etapa dos atendimentos, as
55
Diaphora | Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul 14(1) | Jan/Ago | 50-57
sessões passavam do tempo previamente estabelecido, sendo
esta uma flexibilidade necessária para a evolução da paciente.
Diante deste suporte encontrado por G na terapia, ela
começou a trazer mais questões que marcaram sua vida e que
também podem ser relacionadas ao tumor desenvolvido. Se, por
um lado, foi extremamente benéfico, pois se abriu caminho para
que sua dor tivesse voz, por outro, houve uma precipitação de
seus sentimentos, que foram expostos no ímpeto da busca pela
cura de suas dores. Seu sentir estava fragilizado pelo momento
do tratamento médico e G tinha um medo real de morrer.
Foi necessária uma nova combinação com a paciente, na
qual, após estes atendimentos permeados pela profunda dor e
sofrimento, ela precisava de um tempo maior que uma semana,
sendo marcada nova sessão em quinze dias. Este rearranjo foi
fundamental para o bom andamento do tratamento de G, pois
ela encontrou amparo e segurança, sabendo que poderia ter o
seu tempo e a terapeuta estaria aguardando por ela. Não havia
perdas nem abandonos.
Portanto, houve a possibilidade de a paciente desenvolver
outras formas eficazes de enfrentamento da doença, permitindo
a expressão das suas emoções.
A partir disso, é necessário enfrentar, lidar, lutar diante do
diagnóstico de câncer e sabe-se que o enfrentamento vem
sendo um fator relevante para a qualidade de vida, como por
exemplo, a potencialização da esperança como estratégia
importante para a trajetória do câncer e que pode mudar o
transcorrer do tratamento (CHRISTO; TRAESEL, 2009, p. 78).
Deste modo, o adoecimento pode receber uma nova
significação, mudando a forma como ela se percebia frente ao
câncer. Se, antes, sentia-se fraca e incapaz de enfrentar o
tratamento, agora percebia a força que já possuía e que, por toda
sua vida, manteve-a lutando para sobreviver.
Considerações Finais
Compreendendo que o sofrimento físico pode ter sua causa
em um campo além do fisiológico, podendo ter sua procedência
em um local secreto e desconhecido, o fazer do psicólogo se dá na
busca desta incógnita que repousa no inconsciente. O trabalho
na clínica com pacientes oncológicos pode-se mostrar exaustivo
no que diz respeito a acolher o sofrimento tanto físico quanto
psíquico apresentado pelo paciente, tendo sempre em vista a
busca pela origem psíquica da doença organicamente manifesta.
Contudo, mostra-se extremante gratificante diante das
possibilidades apresentadas e, na maioria das vezes, muito bem
aproveitadas por estes sujeitos.
Com o entendimento de que as relações afetivas são inscritas
no corpo, pode-se pensar que, se estas se constituem de forma
adoecida, há a probabilidade deste corpo também adoecer. Cabe
ao psicólogo possibilitar o espaço de segurança que o paciente
necessita para compreender suas relações e ressignificá-las,
trazendo um novo entendimento sobre a doença. Assim, a clínica
com pacientes oncológicos torna-se o local que possibilita esta
ressignificação das inscrições subjetivas que levam ao
adoecimento.
Cada sujeito tem seu tempo para lidar com as questões que o
trazem à terapia, mas, no caso do paciente com câncer, este
tempo precisa ser muito bem compreendido, uma vez que a
possibilidade da morte é concreta, podendo ser esta a questão.
Muitas vezes, há a necessidade de avaliar qual a urgência
psíquica que deve ser trabalhada, havendo um foco muito bem
estabelecido com o paciente, sendo a transferência quem
anuncia e conduz este tratamento emergencial.
Desta forma, a relação transferencial com o paciente
oncológico surge permeada não apenas pelas fantasias, desejos
e crenças do paciente, como também pela dor física. No
estabelecimento desta relação é esta a dor que surge como a
primeira demanda. Aos poucos, abre-se espaço para que o
conflito psíquico possa surgir, convocando todos os medos e
fantasmas deste paciente a se apresentarem.
Referências:
ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. Tendências em
Psicologia Hospitalar. São Paulo: Pioneira-Thomson
Learning, 2004.
BRASIL, Ministério da Saúde. A situação do câncer no Brasil.
Instituto Nacional do Câncer - INCA, 2011.
CHRISTO, Zuriel Mello de. TRAESEL, Elisete Soares. Aspectos
psicológicos do paciente oncológico e a atuação da
psico-oncologia no hospital. Disc. Scientia. Série:
Ciências Humanas, S. Maria, v. 10, n. 1, p. 75-87, 2009.
CORSO, Diana. Os Caça-fantasmas. In: Revista da Associação
Psicanalítica de Porto Alegre, ano VII, 1996, p. 65-77.
DUMAS, Marc. A psicossomática - quando o corpo fala ao
espírito. São Paulo: Edições Loyola, 2004.
MAURANO, Denise. A transferência. Rio de Janeiro: Zahar,
2006.
PICHETI, Jeovana Scopel. DUARTE, Viviane Marcon. Câncer - a
influência dos aspectos psicológicos na adesão ao
tratamento. In: HART, Carla Fabiane Mayer [Org.]. Câncer
56
Diaphora | Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul 14(1) | Jan/Ago | 50-57
uma abordagem psicológica. Porto alegre: AGE, 2008.
SILVA, Célia Nunes. Como o câncer (des)estrutura a
família. São Paulo: Annablume, 2000.
TEIXEIRA, Leônia Cavalcante. Um corpo que dói:
considerações sobre a clínica psicanalítica dos
fenômenos psicossomáticos. Latin-American Journal of
Fundamental Psychopathology on Line, VI, 1, 21-42, 2006.
VEIT, Maria Teresa. CARVALHO, Augusto de. Psico-oncologia:
definições e área de atuação. In: CARVALHO, Augusto
de [Org.]. Temas em psico-oncologia. São Paulo: Summus,
2008.
VENÂNCIO, Juliana Lima. Importância da atuação do
psicólogo no tratamento de mulheres com câncer
de mama. Revista Brasileira de Cancerologia, 2004.
VILLA, François. Primeira transferência: afastar a
sugestão do somático. Rio de Janeiro: Revista Ágora,
2008, vol.11, n.2, pp. 333-347.
57