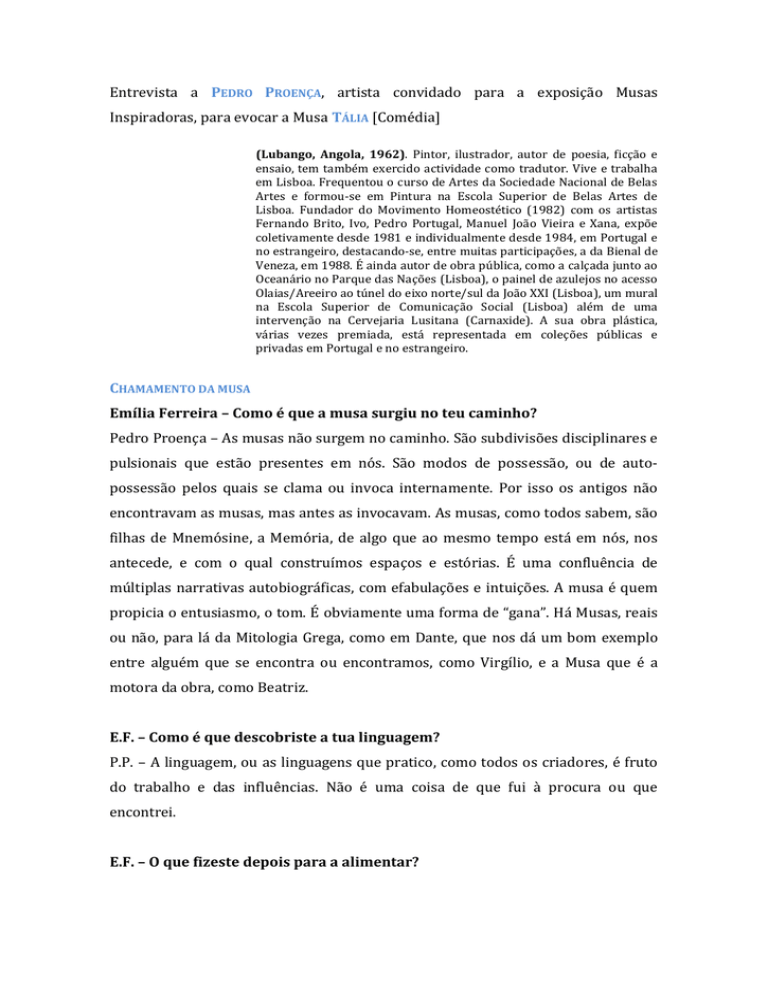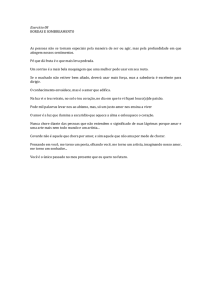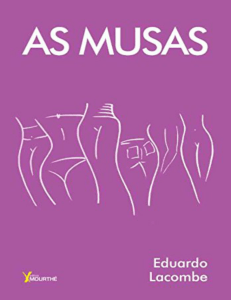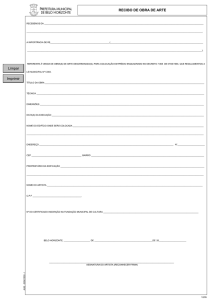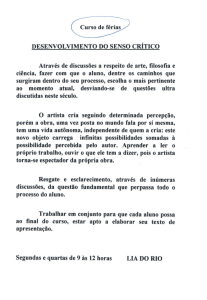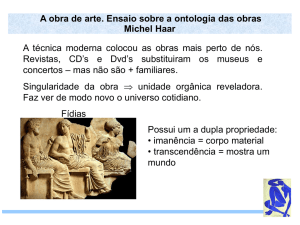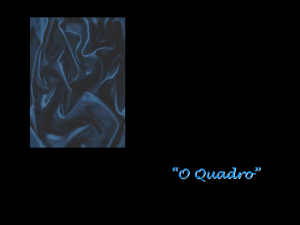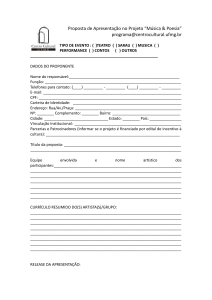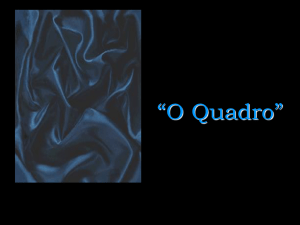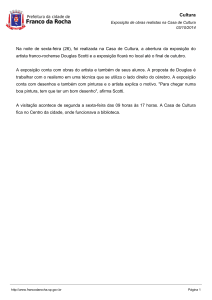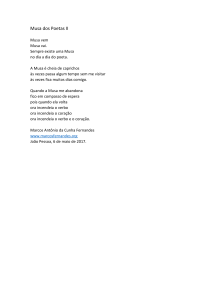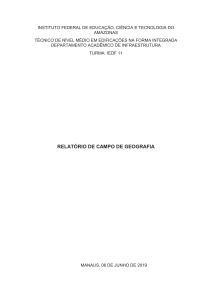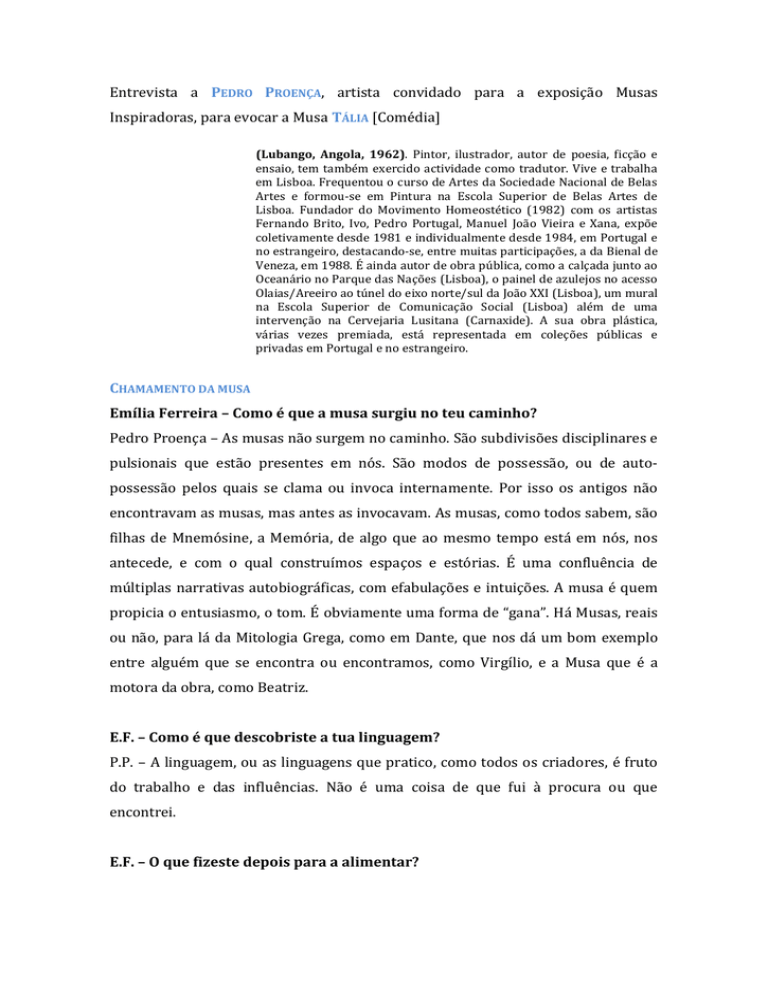
Entrevista a PEDRO PROENÇA, artista convidado para a exposição Musas
Inspiradoras, para evocar a Musa TÁLIA [Comédia]
(Lubango, Angola, 1962). Pintor, ilustrador, autor de poesia, ficção e
ensaio, tem também exercido actividade como tradutor. Vive e trabalha
em Lisboa. Frequentou o curso de Artes da Sociedade Nacional de Belas
Artes e formou-se em Pintura na Escola Superior de Belas Artes de
Lisboa. Fundador do Movimento Homeostético (1982) com os artistas
Fernando Brito, Ivo, Pedro Portugal, Manuel João Vieira e Xana, expõe
coletivamente desde 1981 e individualmente desde 1984, em Portugal e
no estrangeiro, destacando-se, entre muitas participações, a da Bienal de
Veneza, em 1988. É ainda autor de obra pública, como a calçada junto ao
Oceanário no Parque das Nações (Lisboa), o painel de azulejos no acesso
Olaias/Areeiro ao túnel do eixo norte/sul da João XXI (Lisboa), um mural
na Escola Superior de Comunicação Social (Lisboa) além de uma
intervenção na Cervejaria Lusitana (Carnaxide). A sua obra plástica,
várias vezes premiada, está representada em coleções públicas e
privadas em Portugal e no estrangeiro.
CHAMAMENTO DA MUSA
Emília Ferreira – Como é que a musa surgiu no teu caminho?
Pedro Proença – As musas não surgem no caminho. São subdivisões disciplinares e
pulsionais que estão presentes em nós. São modos de possessão, ou de autopossessão pelos quais se clama ou invoca internamente. Por isso os antigos não
encontravam as musas, mas antes as invocavam. As musas, como todos sabem, são
filhas de Mnemósine, a Memória, de algo que ao mesmo tempo está em nós, nos
antecede, e com o qual construímos espaços e estórias. É uma confluência de
múltiplas narrativas autobiográficas, com efabulações e intuições. A musa é quem
propicia o entusiasmo, o tom. É obviamente uma forma de “gana”. Há Musas, reais
ou não, para lá da Mitologia Grega, como em Dante, que nos dá um bom exemplo
entre alguém que se encontra ou encontramos, como Virgílio, e a Musa que é a
motora da obra, como Beatriz.
E.F. – Como é que descobriste a tua linguagem?
P.P. – A linguagem, ou as linguagens que pratico, como todos os criadores, é fruto
do trabalho e das influências. Não é uma coisa de que fui à procura ou que
encontrei.
E.F. – O que fizeste depois para a alimentar?
P.P. – O prazer que me dá fazer coisas e a curiosidade. Alguns alimentam as
linguagens copiando e outros desenvolvem-nas por ascetismo. O mais importante,
além disso, é o haver a possibilidade de partilhar experiências com outros
criadores, mais do que haver um grande público. Um desafio vindo de fora
estimula quase sempre, desde que não seja uma estopada.
E.F. – O que é que te inspira?
P.P. – O que vi antes (as influências), o desejo de experimentar, canibalizar,
achincalhar, amar. A musa. Alguém pelo qual estou apaixonado. Os amigos. Até os
“clientes”, o “galerista”, o organizador de um projeto, etc.
E.F. – E há artistas, escritores, músicos, cozinheiros ou criadores de jardins
que possas citar como autores que te apeteça “canibalizar, achincalhar,
amar”?
P.P. – A lista seria gigante, e a diversidade é cultivada cada dia – a base é antiga e
posso invocar entre os antigos Joyce, Picasso, Pessoa, Herberto, Monteverdi,
Plantin, etc.
E.F. – Como te surge a primeira ideia de um projeto?
P.P. – Não faço a mínima ideia, mas costumo ter brainstorms involuntários ao
acordar e depois é só passar à prática, com as inevitáveis dificuldades do costume.
Faço os possíveis por nunca adiar essa passagem.
E.F. – Como é que a trabalhas depois?
P.P. – Com o corpo. Sou mais de improvisar do que de projetar. O importante é
decidir duas ou três coisas processuais ou temáticas, e o resto é o que der e vier.
E.F. – No caso do trabalho patente nas “Musas Inspiradoras”, o que te
inspirou?
P.P. – Para ser sincero, já não me lembro. Se me lembrasse di-lo-ia. Posso no
entanto inventar histórias falsas a seu respeito e fábulas teóricas muito
persuasivas ou poéticas.
E.F. – O que procuras no tratamento pictórico de uma imagem?
P.P. – Não procuro nada em particular. Vou apenas confrontando sensações e
associando formas e ideias.
E.F. – Como começas um desenho?
P.P. – Começo com um risco qualquer. O importante é começar. O risco não é muito
grande, embora os artistas insistam, para parecer uma coisa extraordinária, que é
um caso de vida ou de morte.
PROCESSO
E.F. – Qual é o teu processo de trabalho habitual?
P.P. – Dispor o material, na mesa, no chão, na parede. Criar o espaço para que seja
possível fazer a coisa. Ou então agarrar num monte de telas e folhas e trabalhar
serialmente, sequencialmente ou por camadas.
E.F. – Que queres dizer com “por camadas”?
P.P. – Quero dizer que de acordo com o método de uma determinada série posso
começar com uma estrutura, uma mancha, um fundo, ao qual se vão, depois de
completada determinada fase, acrescentando ou sobrepondo elementos diversos,
até à pormenorização final.
E.F. – Tens uma rotina? Se sim, qual?
P.P. – Já tive, tipo todos os dias de manhãzinha. Agora não. Sou mais do género
sopeira, de fazer a lida da casa enquanto escrevo, componho, pinto. Sigo interesses
muito diferentes. Às vezes a comida queima-se.
E.F. – O que é que procuras com cada trabalho (ou série)?
P.P. – Procuro acabá-lo e passar a outro, ou fazer vários ao mesmo tempo. Há um
lado viciante e mágico em fazer coisas. No fundo estou a criar extensões do mundo
um pouco bizarras que gostava que se parecessem com um mundo maravilhoso.
Ao fim e ao cabo, procuro reproduzir o paradisíaco, amparado por dramaturgias
onde há obviamente coisas fabulosas, terríveis, cómicas, o banal, o absoluto e os
inevitáveis sexo e morte, perdoem-me as redundâncias.
E.F. – Como defines uma série? O que significa ela em termos de pesquisa e de
respostas?
P.P. – Uma série é apenas um modo quantitativo que dá a um conjunto de obras um
caráter menos fortuito. É uma propensão para a variação. Pode ser que se chegue,
com sorte, a outro sítio diferente. As linguagens são limitadas, como muito bem
definiu e sistematizou o Kubler, no Shape of Time1. É impossível um artista ser
extremamente diferente de um trabalho para outro. A inovação é raríssima mesmo
nos mais excepcionais, como o Picasso.
E.F. – A ideia surge de imediato como imagem?
P.P. – Quase nunca. Costuma surgir como processo ou programação.
E.F. – Como é a que trabalhas?
P.P. – Consoante o objetivo, caso o haja, ou o acaso. O essencial é o clima e uma
espécie de referências a influências (citação? alusão? pastiche?).
E.F. – Como é que surge o caminho a seguir?
P.P. – Naturalmente. Caminhando.
E.F. – Como é que escolhes o que fica e decides o que sai?
P.P. – Fica quase sempre tudo. Se algo sai é porque foi um passo em falso ou porque
não gostei.
E.F. – Rejeitas muito do que crias ou usas tudo?
P.P. – Aceito o que sucede, como na vida, mesmo com contrariedades. Não sou
perfecionista, nem tenho um super-ego que perca muito tempo em censuras ou
preocupações com a posteridade, embora tenha os meus momentos auto-críticos.
Já houve algumas coisas que pintei por cima. Por vezes arrependo-me. Aconteceme mais esse género de elisão e acrescento na escrita, mas é como se fosse uma
metamorfose natural do material ao longo dos tempos.
1
Em português, este livro está editado com o título A Forma do Tempo, Vega, reedição de 1991.
E.F. – Quando é que um trabalho está acabado?
P.P. – Não dramatizo o fim de um quadro. É como quando se cozinha um bife. Há
quem prefira bem passado ou mal passado. Acaba-se quando se desliga o lume e
chega à boca.
E.F. – Como escolhes um suporte?
P.P. – Vou à loja, vejo o que me pode vir a apetecer um dia, e compro. Tenho
saudades do papel bacalhau.
E.F. – Que tipo de riscador usas no desenho?
P.P. – Pincel chinês, lápis-de-cera, grafite e aparo.
E.F. – Investigas enquanto crias? Ou antes? Lês (ensaios, poemas,
romances…), vês imagens (filmes, exposições, fotografias), ouves música?
P.P. – É conforme. Pode-se dizer que há interesses e que há muitas coisas a
estimular às quais não sei ser insensível. Há exposições programáticas em que
tenho mesmo que investigar, em todas as artes. Faço isso tudo. Acho que sou
bastante curioso, o que me dispersa os interesses.
E.F. – Trabalhas em silêncio ou gostas de ruído à tua volta?
P.P. – Silêncio ou música. Tive anos e anos com muito ruído à volta, o que me
ensurdeceu um pouco. Há quem goste de ter ruído à volta?
E.F. – Como é o teu atelier? Organizado, caótico; grande, pequeno; luminoso,
de janelas tapadas?
P.P. – Neste momento não tenho atelier. Aceito ofertas em troca de géneros.
ENSINO E PROFISSÃO
E.F. – De que forma o ensino (quando foste estudante) foi formador?
P.P. – Na escola de Belas Artes, nos 5 anos que por lá andei, não aprendi
academicamente ponta de um corno. Antes, aos 15 anos fiz um curso de gravura, e
na Sociedade Nacional de Belas Artes, pelos 18, acho que assimilei alguma coisa de
história da pintura Modernista nas aulas com o Rui Mário Gonçalves, e de questões
formais com o Sá Nogueira. Nessa altura o João Vieira deu-me todo o estímulo que
poderia desejar, mas em termos técnicos relevantes, e na prática propriamente
dita acho que sou um autodidata.
E.F. – Algum(a) professor(a) especialmente inspirador(a)?
P.P. – Além do que referi? Não! Houve-os simpáticos e voluntariosos, mas em nada
acrescentaram.
E.F. – O que consideras mais relevante dos tempos da escola?
P.P. – Os outros alunos que davam ao litro, os meus colegas, sobretudo os
homeostéticos.
E.F. – Alguém te orientou no sentido do que evitar? E no sentido de correr
riscos? Alguém te preparou para o sucesso e/ou para o insucesso? Que ideia
tinhas do que seria este caminho profissional?
P.P. – Respondendo a estes 4 pontos: o risco é tomado para sempre no momento
em que se decide ser artista ou se constata que já se é artista, sabe-se lá porquê. O
sucesso depende da persistência, do entusiasmo e do acaso. Tive sorte, mas
trabalhei para isso, acho. Nunca pensei em nenhum caminho “profissional”, e não
vejo a arte como uma profissão, carreira, negócio, senão no sentido de que se pode
viver dela e se se é reconhecido como um “artista”, o que nem é mau. Mas hoje em
dia é normal um artista ser algo cada vez mais afim de um empresário, o que é uma
coisa de que não me sinto em nada afim. Com um poeta não se faz este tipo de
perguntas, embora seja a atividade mais parecida com a do artista. Os assistentes
de poetas não lhes escrevem os fundos dos poemas.
E.F. – Verdade, mas os poetas costumam trabalhar sozinhos. Os artistas nem
sempre. E alguns gostam de ter assistentes que lhe preparem telas, limpem
pincéis, organizem o atelier, façam contactos com o “mundo exterior”. Nunca
pensaste em ter um assistente? Não vês interesse nisso a nível
criativo/processual?
P.P. – É ótimo ter a vida organizada e ajudas técnicas para coisas que são um frete.
Há uma tradição de atelier com discípulos que é antiga. Mas gente à volta distrai e
tira intensidade. Além disso é preciso ter massa nestes tempos de mercado nulo, o
que é inviável. A prática da arte é uma ascese anti-ascética. Quando se torna
“empreendedorismo”, para além do salutar negócio, é porque o artista se enganou
na profissão. O trabalho com outros só faz sentido quando há interação mútua.
E.F. – Que aconselharias a um jovem estudante de arte?
P.P. – A ser artista, apesar de ser estudante.
E.F. – Qual o papel da crítica, de modo geral (professores, pares, críticos), na
evolução do teu trabalho?
P.P. – A crítica é quase sempre irrelevante para o desenvolvimento do trabalho,
exceto a dos colegas, que até pode ser desastrosa, mas sempre é um repto
acompanhado de um know-how mínimo. Quanto à crítica profissional, ou o
“escrever sobre”, considero-a mais um ato de generosidade bem-vindo, e como tal
como uma coisa do foro afetivo ou da legitimação. A função da crítica é a de abrir o
apetite dos outros e, coisa egoísta, dar umas pitadas de auto-estima ao artista, que
costuma precisar, coitado, uma vez que passa o tempo a olhar para umas coisas
que se pôs a fazer e cujo valor é estranho e questionável. O que lhe dá uma boa
dose de ansiedade. Como também faço crítica do alheio para fins pessoais, acho
que a crítica é uma forma de exercitar a atenção sobre os outros que pode trazer
algo de novo quer à vida, quer à atividade produtiva.
E.F. – O que é o mais difícil no teu trabalho?
P.P. – O mais difícil é conciliar as diversas produtividades e atividades criativas e o
tempo não chegar para tudo. Mas não me posso queixar. A diversidade no meu
trabalho e na vida já está assegurada, acho. É claro que gostava de fazer mais e
muito melhor. Vamos ver se a vida chega para tanto…
27 de abril de 2016.