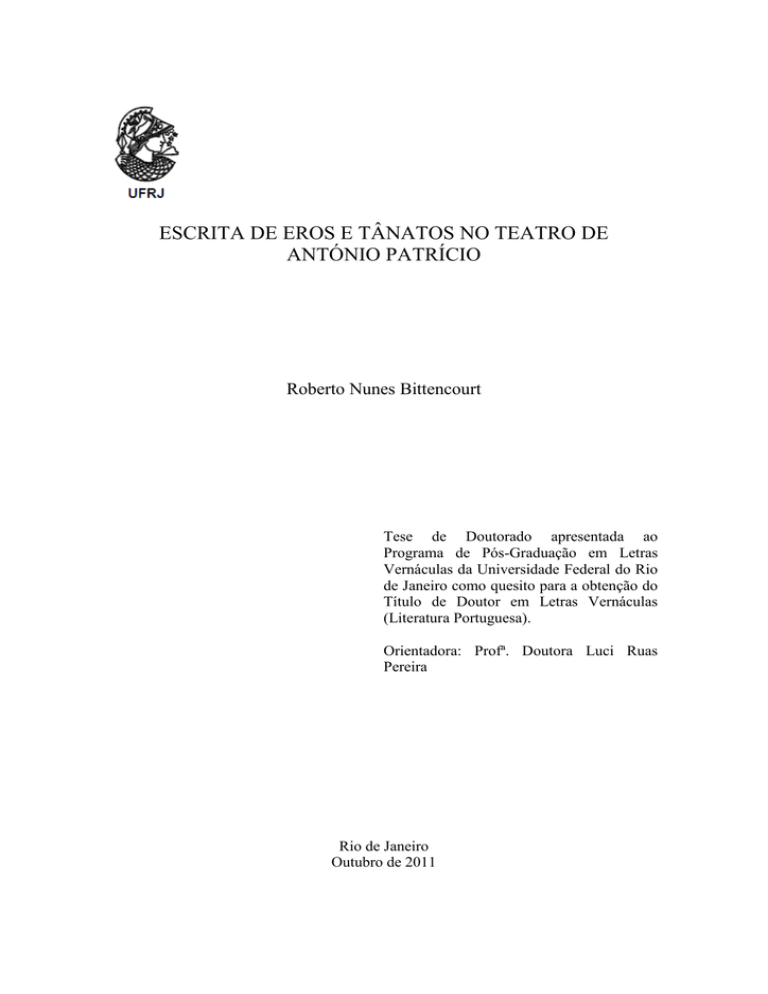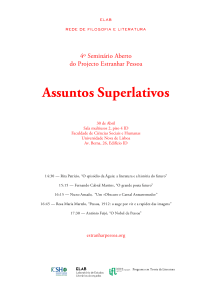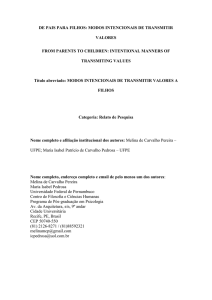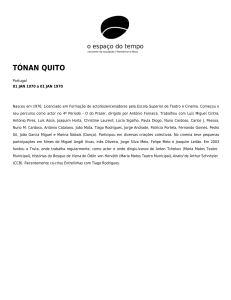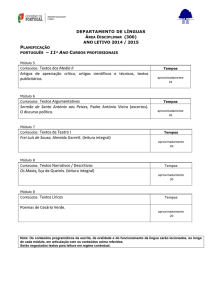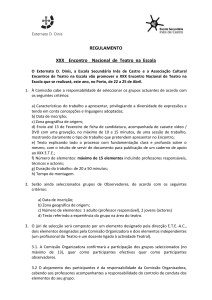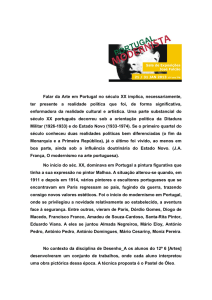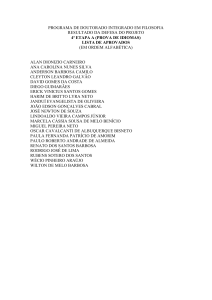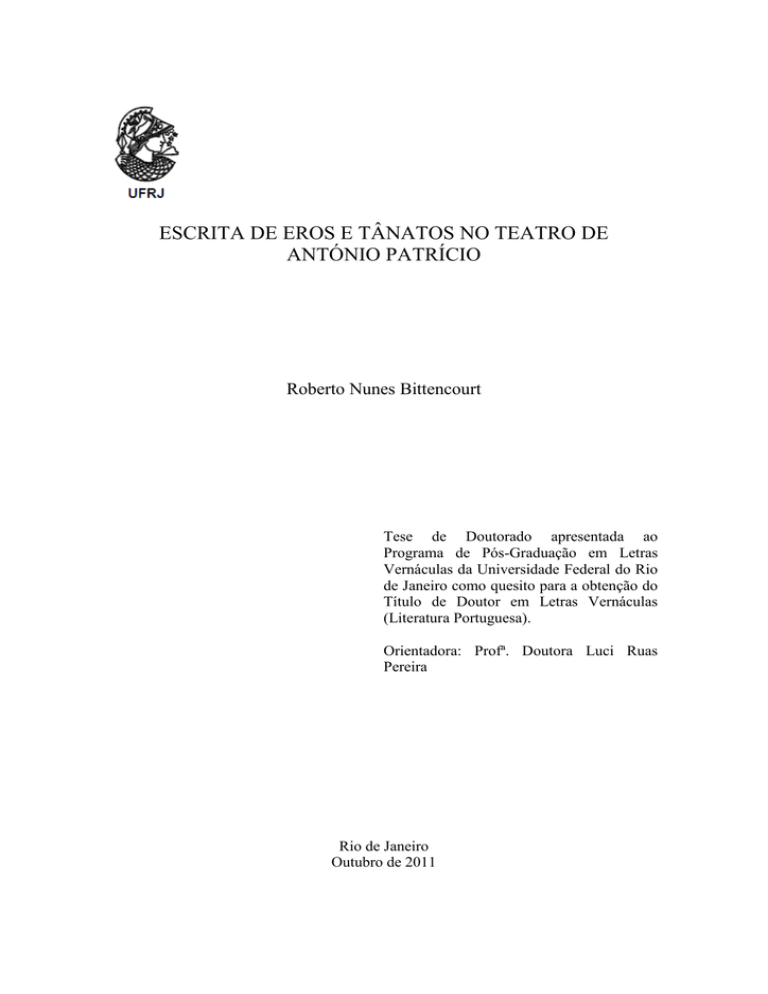
ESCRITA DE EROS E TÂNATOS NO TEATRO DE
ANTÓNIO PATRÍCIO
Roberto Nunes Bittencourt
Tese de Doutorado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Letras
Vernáculas da Universidade Federal do Rio
de Janeiro como quesito para a obtenção do
Título de Doutor em Letras Vernáculas
(Literatura Portuguesa).
Orientadora: Profª. Doutora Luci Ruas
Pereira
Rio de Janeiro
Outubro de 2011
Escrita de Eros e Tânatos no teatro de António Patrício
Roberto Nunes Bittencourt
Orientadora: Professora Doutora Luci Ruas Pereira
Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Letras
vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos
requisitos necessários para a obtenção do título de Doutor em Letras Vernáculas.
Examinada por:
_________________________________________________
Presidente, Profa. Doutora Luci Ruas Pereira – UFRJ
_________________________________________________
Prof. Doutor Jorge Fernandes da Silveira – UFRJ
_________________________________________________
Profa. Doutora Mônica Genelhu Fagundes – UFRJ
_________________________________________________
Prof. Doutor Jorge Vicente Valentim – UFSCar
_________________________________________________
Prof. Doutor Ronaldo Menegaz –PUC-Rio, ABL
_________________________________________________
Profa. Doutora Mônica Figueiredo – UFRJ – Suplente
_________________________________________________
Prof. Doutor Sílvio Renato Jorge – UFF – Suplente
Rio de Janeiro
Outubro de 2011
Bittencourt, Roberto Nunes.
Escrita de Eros e Tânatos no teatro de António Patrício/ Roberto
Nunes Bittencourt. – Rio de Janeiro: UFRJ/FL, 2011.
viii, 190 f. il.; 31 cm.
Orientadora: Luci Ruas Pereira
Tese (doutorado) – UFRJ/ Faculdade de Letras/ Programa de Pósgraduação em Letras Vernáculas, 2011.
Referências Bibliográficas: f. 173-185.
1. Literatura Portuguesa. 2. Simbolismo. 3. António Patrício. I.
Pereira, Luci Ruas. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
de Letras, Programa de Pós-graduação em Letras Vernáculas. III. Titulo.
Aos meus alunos e ex-alunos:
do Colégio Gama Filho, em 2006;
do Colégio Maria José Imperial, desde 2006;
do Instituto Braga Carneiro-Tijuca, desde 2010;
do Colégio Maria Imaculada, em 2009;
da Escola de Biblioteconomia da UNIRIO, entre 2008 e 2010;
do Colégio Pedro II – Realengo, em 2011.
Ofereço.
À minha avó, Gilma de Menezes Nunes; e à memória de meu avô,
José Nunes Filho.
Dedico.
Ao meu irmão, Renato Nunes Bittencourt; à minha mãe, Sandra
Maria Nunes Bittencourt; ao meu pai, Paulo Roberto Bittencourt.
Consagro.
AGRADECIMENTOS
À Faculdade de Letras da UFRJ, pelo fundamental apoio neste curso de pós-graduação.
Aos professores Jorge Fernandes da Silveira, Mônica Genelhu Fagundes, Jorge Vicente
Valentim, Ronaldo Menegaz, Mônica Figueiredo e Sílvio Renato Jorge, por aceitarem o
convite de integrar a banca que examinará este trabalho.
Aos amigos e professores do Departamento de Língua Portuguesa do Colégio Pedro II –
Jorge José Veríssimo da Costa, Mariana Thiengo, Raquel Cristina de Souza e Souza,
Heloisa Torres, Ednize Monteiro, Rafael Martins, Marcos Ponciano, Edson Carvalho,
Aline Fagundes de Oliveira, Bianca Corado – pelo companheirismo nos momentos de
angústia e pelas palavras de apoio e confiança.
Aos amigos e professores do Instituto Braga Carneiro de Ensino – Magdalena Nicotera
de Castro, Annye Siqueira, Gabriela Serpa, Gilberto Félix, Andreia Beatriz e Jheniffer
Damázzio – e do Colégio Maria José Imperial – Anita dos Santos Ferreira, Maria
Cristina Rosa, André Gustavo Oliveira, Rose Mary Lomba, Daniele Santos e Márcia
Denise Guedes – por todo o incentivo.
Aos amigos e professores da Escola de Biblioteconomia da UNIRIO, que tão
calorosamente me acolheram entre os anos de 2008 a 2010.
Aos meus coorientandos da Escola de Biblioteconomia da UNIRIO – Angélica Ribeiro,
Juliana Fontes dos Santos Souza, Lorena de Oliveira Cristiano, Márcio Miquelino,
Nathalia Caliman Ferreira da Silva, Rogério Ades e Shirleide Santos –, pela confiança.
À Raquel Cristina dos Santos Pereira, que esteve presente em todos os momentos, numa
generosa cumplicidade.
À Priscilla Costa Figueiredo, amiga com quem partilhei dúvidas, vitórias e sonhos.
À Ana Paula Castello Branco, Marina Schulz Mora, Renata Fernanda, Thaís Cristina
Golstorff, razões de muitos dos meus sorrisos, por todo o carinho.
Aos amigos de longa data – João Felipe Rito Cardoso, Célia Cohen, Diógenes Ivo
Fernandes de Sousa Silva, Flávio Henrique Barboza da Silva, Magna Costa, Antônio
Marcos Vieira de Oliveira, Fernanda Franco – porque, perto ou longe, sempre estão
comigo.
À Luciana Silva e ao Otávio Rios: amizades construídas durante a pós-graduação e
mantidas para além dela.
À Luci Ruas Pereira, orientadora e amiga, pela incansável orientação em todo esse
percurso que foi o Doutorado – e por acreditar que eu seria capaz de concluí-lo.
Ao meu irmão, Renato Nunes Bittencourt; à minha mãe, Sandra Maria Nunes
Bittencourt; ao meu pai, Paulo Roberto Bittencourt, meus baluartes.
RESUMO
ESCRITA DE EROS E TÂNATOS NO TEATRO DE ANTÓNIO PATRÍCIO
Roberto Nunes Bittencourt
Orientadora: Profª Drª Luci Ruas Pereira
Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em
Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos
requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras Vernáculas (Literatura
Portuguesa).
Este trabalho faz uma leitura de três textos dramáticos de António Patrício:
Pedro, o Cru (1918), Dinis e Isabel (1919) e D. João e a Máscara (1924). Nas três
obras, é analisado e discutido o processo de escrita do autor, sendo a relação tensa e
densa entre morte e vida o fio condutor da leitura. O que se escreve no teatro de António
Patrício é o tema da morte, numa confluência erótica com a própria vida, sendo aquela,
sobretudo, uma afirmação desta. A escolha deste fio condutor deve-se ao fato de que nas
três obras em análise se condensa uma problemática que ecoa no conjunto da obra do
autor.
Adota-se a metodologia mitocrítica como princípio de leitura dos textos
dramáticos de António Patrício, observando como determinadas metáforas obsessivas
(grupos de imagens que se repetem) convergem para a ideia de que a tensão entre a vida
e a morte surge como unidade entre o sensual e o espiritual. Desta maneira, António
Patrício registra a experiência de criar uma escrita capaz de abarcar de modo pleno a dor
e a morte, interpretando a vida como um exercício existencial de criação contínua, na
valorização de todas as circunstâncias vitais.
Palavras-chave:
António Patrício; Simbolismo; Erotismo; Morte; Mito
ABSTRACT
ESCRITA DE EROS E TÂNATOS NO TEATRO DE ANTÓNIO PATRÍCIO
Roberto Nunes Bittencourt
Orientadora: Profª Drª Luci Ruas Pereira
Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em
Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos
requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras Vernáculas (Literatura
Portuguesa).
This work makes a Recital of three António Patricio's dramatic texts: Pedro, o
Cru (1918), Dinis e Isabel (1919) and D. João e a Máscara (1924). In this three lirerary
compositions, it's analyzed and discussed the author's writing process, being a tense
relation and dense between life and death, the conducor wire of the reading. The Death
it's the dramatic reading of António Patricio, in a erotic confluence with the life itself,
being that's, after all, an affirmation of this. The Choice of this conductor wire it's based
on the fact that in the three literary in analisys condenses itself in a problematic that
echoes in the context of the literary.
The crithical methodology adopted like principle of recital of the dramatic texts
of António Patricio, watching like certain obssessives metafores (Group of images that
repeat itselves) converge to an idea that the tension between the life and death arises
like unit betwen sexy and spiritual. Thus, António Patricio records the experience of
criate a writing capable of cover in a way plenty of pain and death, interpreating the
Life like an existential exercises of continuos criation, in valorization of all vitals
circumstances.
Keywords:
António Patrício; Simbolism; Erotism; Death; Myth
SUMÁRIO
Introdução
1
1. Mitos, traumas e utopias: dinamismos da história portuguesa e
recepção no universo literário
11
1.1. Imaginário português: ateliê de mitos
1.2. Cultura portuguesa e crise finissecular: reflorescer de mitos
16
37
2. António Patrício: escrita e experiência literária
2.1. A estética Simbolista em texto e contexto
2.2. Beleza apolínea, júbilo dionisíaco: a escrita mítica de Eros e
Tânatos
57
62
92
3. Dos mitos e suas máscaras: escritas do Amor e da Morte
113
3.1. O canto de Orfeu, a voz da Saudade: Pedro, o Cru
3.2. Mística erótica em Dinis e Isabel
3.3. D. João e a Máscara: a predestinação da morte
116
137
149
Conclusão
169
Referências
173
Anexos
186
1
Introdução
– Morte! És pra mim o sal da vida...
O teu silêncio grita: – andem depressa! Deita mais lenha na
ambição, ambicioso; decifrador de enigmas, parte a esfinge; corpo a
corpo, amorosos, sonho em sonho; e tu, maníaco de teorias, bom
filósofo, cose depressa o teu sistema – anda depressa!...
O teu silêncio excita como uma dança de baiaderas: dá
vertigem...
Pra exasperar em nós a sagrada loucura de viver, para que os
homens não percam um instante e ergam-te estátuas nos jardins, nas
praças, na cimadilha das academias e dos templos, Musageta da Vida,
grande Morte, com a lira de Apolo e olhos vazios...
(PATRÍCIO, 1995, p. 128)
A epígrafe que abre esta tese aponta, desde o início, para uma proposta de leitura
de Pedro, o Cru (1918), Dinis e Isabel (1919) e D. João e a Máscara (1924), obras do
escritor português António Patrício. Em cada um dos textos dramáticos, o que se discute
é a relação tensa e densa entre morte e vida. No processo de enunciação, na
materialidade do texto literário, constrói-se uma tessitura erótico-verbal em que a cena
amorosa passa, invariavelmente, pela morte. A tensão
entre Eros e Tânatos é
encontrada no choque entre a paixão de viver e a busca pela transcendência, que
condena esta mesma paixão. A escolha destes três textos deu-se, justamente, pela
coesão temática entre eles: António Patrício trabalha em cada um a relação tensa e
densa entre o amor e a morte.
Seja em Pedro, o Cru, em Dinis e Isabel ou mesmo em D. João e a Máscara,
cada texto dramático funciona por si só e em si só, explicando-se no interior do tecido
textual. O que se quer dizer com isso é que, ainda que o referencial sejam figuras
históricas, como Pedro, Inês de Castro, D. Dinis, Isabel de Aragão ou D. João, o que se
inscreve nos textos dramáticos é aquilo que pode haver de mais universal: a relação
tensa e densa numa forma de perceber os laços tênues entre vida e morte. Aliás, como
2
será uma das linhas de leitura desta tese para os textos de Patrício, a cena de morte está
intrinsecamente relacionada a uma cena erótica.
Tal perspectiva leva ao pensamento de Denis de Rougemont que, em seu célebre
estudo a respeito do amor no Ocidente, categoricamente afirma que ―Eros se escraviza à
morte porque quer exaltar a vida acima de nossa condição finita e limitada de criaturas‖
(ROUGEMENONT, 1988, p. 256). O que se percebe na obra de Patrício em questão é
que a vida humana, mesmo que marcada pelo processo de transformação inerente ao
devir e pela condição de finitude, ela assim mesmo é plenamente digna de ser vivida na
sua máxima intensidade. Patrìcio realizou uma ―tragédia ìntima‖ cuja efabulação afastase do real, porque se centra no mito e integra personagens que perseguem sombras.
Como destaca Armando Nascimento Rosa:
Em Pedro, o Cru, Inês morta é a Eurídice que Orfeu Pedro pretende
impossivelmente trazer de volta do Hades. Em Dinis e Isabel, a morte
de Isabel [...] faz de Dinis um revoltado Orfeu que entrevê o rosto do
plutônico usurpador na figura invisível do Deus judaico-cristão. [...]
Em D. João e a Máscara, o protagonista descortina que sempre dentro
de si esteve aquela que ele ama fundamente: a Morte.
(ROSA, 2003, p. 173)
Como obra literária, os textos dramáticos de António Patrício eternizam no
presente textual perdas irremediáveis: Pedro não pode ter Inês, porque é morta; o
milagre das rosas, que inscreve Isabel na santidade, revela-lhe, e também ao seu amado
Dinis, que viver não é mais possível; D. João, para quem o prazer dos corpos femininos
já não é bastante, encontra na Morte a sua realização. A garantia após a morte é a vida
como texto. E o que o texto garante, para além dessa presença, é morrer outra vez.
Escreve-se sobre a vida ao se falar da morte; e vice-versa. António Patrício deixa todos
3
os outros temas de lado e trata obsessivamente o confronto do ideal de vida do homem
com potências superiores, da qual a morte é maior antagonista.1
Nos textos dramáticos de António Patrício, há uma conjugação de Eros e Tânatos,
de explosão vital e de presciência da morte, que vem escrever a impossibilidade de
consumação do amor no espaço da vida, marcada pelo conflito entre o amor terrestre,
sensual e o amor puro, celeste. Só na morte, portanto, seria possível a plenitude. A
morte deixa de ser termo último e passa à primeira condição, como fica patente em
Pedro, o Cru, na fala de Pedro à amada morta: ―O nosso amor, amor, ainda era pouco.
Só abraçado à morte ele inicia‖ (PATRÍCIO, 2002, p. 138) ou, também, em D. João e a
Máscara, na fala de D. João, quando afirma ―O meu reino é para além da carne‖
(PATRÍCIO, 1972, p. 75).
É possível perceber, portanto, a presença da Morte como leitmotiv nos textos
dramáticos de António Patrício, configurando-se como figura de repetição, no decurso
de sua obra dramática, como tema que envolve significação especial. Aliás, para dizer
como Bataille, para quem o erotismo abre-se à exuberância, ao excesso, à vivência
dionisíaca, ―o erotismo e a morte se encadeiam como peças de um mesmo instrumento‖
(BATAILLE, 1988, p. 7).
De todo o referencial bibliográfico que se pôde levantar, há poucos estudos
importantes sobre a vida e a obra de António Patrício, sobretudo mais modernamente,
dos quais dois merecem destaque: o primeiro deles, de autoria de Jorge Carvalho
Martins (2000), em que o autor, documentadamente, acompanha a carreira diplomática
de António Patrício; o segundo estudo é o que realiza Armando Nascimento Rosa
(2003), em que o autor abrange vários níveis de abordagem, procurando dilucidar os
1
A respeito do drama simbolista, escreve Anna Balakian (2007, p. 99-100): ―Por que haveria um desejo
de superar obstáculos na vida quando a morte, o maior obstáculo, é invencìvel?‖
4
textos dramáticos de Patrício. Há, ainda, como resultados de pesquisas acadêmicas,
algumas dissertações e teses que, num menor ou maior grau, abordam os textos de
Patrício: Patrícia da Silva Cardoso (2002) faz uma leitura do episódio histórico
protagonizado por Inês de Castro e D. Pedro, discutindo a permanência do tema
inesiano no imaginário português a partir de oito versões literárias sobre esse episódio,
das quais uma delas é Pedro, o Cru. Delfim Correia da Silva (2007), a partindo de uma
perspectiva histórica, aponta as marcas comuns ou constantes na evolução do mito de D.
Juan, e destaca em sua pesquisa o texto dramático de Patrício, D. João e a Máscara.
Pesquisas que, se não são as únicas, foram aquelas possíveis de se alcançar.
O estudo do texto dramático de António Patrício torna-se importante a partir do
que afirma Anna Balakian, ao atentar para o fato de que ―nas histórias do Movimento
Simbolista não se deu muita atenção ao teatro que se originou dele‖ (BALAKIAN,
2007, p. 97) e que, no entanto, ele é ―um dos sucessos mais verdadeiros e duradouros
que o Movimento Simbolista criou para a poesia‖ (BALAKIAN, 2007, p. 98). Aqui
reside, portanto, a originalidade desta pesquisa. António Patrício tem sido, até então,
pouco lido pela crítica. Seabra Pereira, em seu Decadentismo e Simbolismo na Poesia
Portuguesa, ou Maria da Graça Carpinteiro no ensaio ―A prosa poética do Simbolismo:
do fim do século XIX à geração de Orpheu‖, por exemplo, não tratam da obra que
António Patrício produziu. Ou a postura irônica de Jorge de Sena em artigo intitulado
―António Patrìcio e Camilo Pessanha‖, na revista Estrada Larga. Para Sena, Camilo
Pessanha é um poeta maior da Literatura Portuguesa e Patrício, apenas uma figura
notável, mas um poeta menor. Diz categoricamente não julgar elegante aproximá-los
por não ser capaz de ―universitariamente, letradamente, aproximar um ovo de um espeto
5
(SENA, s/d, p.136). Se é pertinente tal pensamento, por outro lado, e no contraponto da
crítica seniana, deve-se levar em conta o que afirma Jacinto do Prado Coelho:
a História da Literatura não devia contemplar apenas as obras primas,
porque havia um segundo critério de selecção de textos (o da
representatividade em termos de ―história da cultura literária‖ – isto é,
história das ideias, das formas, das técnicas, do gosto, da
sensibilidade) e não raro deste ponto de vista, as obras menores são as
mais sintomáticas, as mais significativas.
(COELHO, 1985, p. 210)
Do ponto de vista teórico, vale a pena considerar as observações de Mukarovsky,
quando ressalta aquilo que o historiador da literatura deve ter em conta, ao avaliar obras
de arte: ―Aceitamos a definição teleológica do valor como capacidade de urna coisa
para alcançar um determinado objetivo; é natural que a determinação do objetivo e do
caminho a ele conducente seja dependente do sujeito concreto, e então a valoracão
contém um momento de subjetividade‖ (MUKAROVSKY, 1993, p. 39). Mukarovsky
elaborou sua teoria estética fundamentada numa concepção da obra artística como
unidade significativa, em que o objeto físico é o significante de um signo, cuja análise
formal revela o significado da obra numa comunidade. Os fatores sociais e extraestéticos, em sua teoria, adquiriam importância porque eram portadores de significação,
e, portanto, formavam parte do conteúdo.
Tal percepção pode ser entendida na obra de António Patrício. Poeta, contista e
dramaturgo, sua atividade literária se inicia com a publicação de Oceano (1905). Após
este trabalho dedicado à poesia, publicou o texto dramático O Fim, ―história dramática‖
em 2 quadros (1909), e o livro de contos Serão Inquieto (1910). Escreveu, ainda, os
textos dramáticos Pedro, o Cru, drama em 4 atos (1918), Dinis e Isabel, ―conto de
Primavera‖ em 5 atos (1919), D. João e a máscara, ―uma fábula trágica‖ em 3 atos
(1924) e Judas, ato único (1924), além da edição póstuma de suas Poesias (1942) e a
edição da Poesia Completa (1980), e de ter colaborado em publicações como A Águia e
6
Atlântida. Deixou incompletos os textos dramáticos Teodora, o sonho duma noite de
Bisâncio, A Paixão de Mestre Afonso Domingues, drama histórico em 3 atos, Auto dos
Reis ou da Estrela e Rei de Sempre, ―tragédia nossa‖ em 5 atos.
Pode-se dizer que António Patrício foi eminentemente poeta, ainda que grande
parte da sua obra neste campo só tenha vindo à luz postumamente (Poesias, 1942; e a
edição da Poesia Completa, 1980). E foi poeta de singular valor, mesmo quando
enveredou pela prosa, como observa Duarte Ivo Cruz (1983, p.145) ao destacar que ―a
evolução do Simbolismo encontra em António Patrício um dos melhores momentos e
no teatro a mais completa e caracterìstica expressão‖.
Sobre isso, António José Saraiva e Óscar Lopes (1997, p.980) destacam que
Patrício, em seus textos dramáticos, escreve ―trechos poéticos pelo seu próprio ritmo de
verso, pois só graficamente são prosa‖. Assim, não se pode pensar a obra de António
Patrício esquecendo-se de considerar, sobretudo, o seu teatro, forma em que,
justamente, o autor conseguiu realizar o melhor de si como poeta. Manuel Tânger
Corrêa escreveu para a Revista Ocidente que ―a impressão que se tem perante uma peça
de António Patrício é equivalente à que se sente perante um grande poema, tal a
intensidade da mensagem, aliada ao poder estilístico de expressão extraordinariamente
original‖ (CORRÊA, 1960, p. 6).
As obras dramáticas de António Patrício são, sobretudo, textos poéticos. Mais que
ação dramática, seus ―poemas dramáticos‖ se fundamentam não somente nas ações, mas
também propõem reflexões metafísicas, cuja progressão dramática, por menor que seja,
se dá de acordo com duas instâncias: a do enunciado, que traz a ideia de uma ação mais
sonhada que vivida e a do movimento, invisível, mas contínuo (REBELLO, 1979, p.
43). José Régio, por exemplo, já aludia ao fato de que muitas vezes se falava do teatro
7
português desconsiderando-se, completamente, os textos dramáticos de António
Patrício. E, ao pensar na singularidade de sua obra, pensa, também, na própria
singularidade artística de António Patrício:
escreveu António Patrício versos, contos e dramas cujos motivos se
comprazem no doentio, no anormal ou raro, no mortuário. E escreveuos numa linguagem quase sempre elevada ao poético (são, até,
estrofes versificadas muitos dos seus períodos transcritos na maneira
corrente da prosa), linguagem apuradíssima em ritmos, imagens,
efeitos sônicos, fantasia – exaustiva pela sua própria consciência e
excessiva riqueza, não obstante, sedutora e convincente no seu mesmo
excesso.
(RÉGIO, s/d, p. 417-418)
Estudar os textos de António Patrício, portanto, é ir além de Oceano ou das
Poesias. Ou, mesmo, de sua prosa. Há que se pensar, também, nos seus textos
dramáticos para, aí sim, perceber toda a força de criação poética do autor e, desta forma,
não será difícil a intelecção de que António Patrício é um escritor de destaque na
Literatura Portuguesa. Este lugar é reconhecido por críticos como Haquira Osakabe, ao
perceber que, sobre o valor da obra de António Patrício, ―poucos seriam os críticos que
hoje em dia ousariam contestá-lo, embora raros tenham sido os trabalhos que se
debruçaram mais rigorosa e exclusivamente sobre ela‖ (OSAKABE, 2007, p. 67).
Assim, numa possível resposta à postura de Jorge de Sena, como não considerar
como parte da criação poética de António Patrício seus textos dramáticos, tão repletos
de um sentimento vívido de sobrevivência eterna, em um apego à vida e negando tudo o
que é exterior a ela? Como não considerar como parte de sua poesia a sensibilidade, o
rigor estético e formal que imprime às suas obras teatrais?
Nesse contexto, convergem para a obra de António Patrício tendências
simbolistas, decadentistas e saudosistas, aliadas à influência do pensamento de Friedrich
Nietzsche, sobretudo na recusa de uma finalidade da vida exterior a ela própria, numa
confluência de ideias que se realizam na expressão dum misticismo panteísta que
8
percorre seus textos dramáticos, em que se pode observar a ideia de uma possível
―eternidade‖ da vida, que se encontraria no próprio instante no qual Pedro, Isabel e D.
João são tomados pelo júbilo de existir.
No teatro de António Patrício, é através da aliança entre Apolo e Dionísio que o
autor trará ao seu texto as figuras mitificadas de Pedro e Inês, Dinis e Isabel e D. João.
O que se lê não é mais do que uma representação, uma encenação do mito, ou seja, o
que se escreve no teatro de Patrício é o mito – experiência viva no ritual – tornado
ilusão na tragédia. Assim, realizar uma leitura dos textos dramáticos de Patrício
aproximando-os da estética simbolista e num profícuo diálogo com o pensamento
filosófico de Friedrich Nietzsche justifica-se na medida em que permite delinear a
própria inscrição de figuras arquetípicas na escrita do autor.
No percorrer das leituras, salienta-se que Eros e Tânatos denotam palavras-chave
de uma forma de expressar o elixir místico da compreensão e criação da condição
humana. É numa ambivalência criativa que rodam os 'sentidos' da tragicidade que
envolvem, em Patrício, as figuras de Inês e Pedro, Dinis e Isabel e D. João e a Morte.
Se há ao menos duas possibilidades de se trabalhar textualmente o mito – numa
dimensão cultural e histórica visando à gnose nacional e noutra dimensão metafísica e
trans-histórica, visando à gnose do homem como ser universal – parece ser a essa
segunda tendência que António Patrício se aferra. Nos textos em estudo, o paradigma é
constituído a partir de figuras históricas, mas o que se escreve é, mais que isso, o mito.
As personagens de seus textos dramáticos, numa esteira simbolista, circunscrevem-se
no ideal universal, trans-histórico.
Seja ao ler Pedro, o Cru, Dinis e Isabel ou mesmo D. João e a Máscara,
percebe-se que cada texto dramático funciona por si só e em si só, explicando-se no
9
interior do tecido textual. O que se quer dizer com isso é que, ainda que o referencial
sejam figuras históricas, o que motiva os textos é aquilo que pode haver de mais
universal: a relação tensa e densa numa forma de perceber os laços tênues entre vida e
morte. Aliás, como será uma das linhas de leitura para os textos de Patrício, a cena de
morte está intrinsecamente relacionada a uma cena erótica.
António Patrício cultivou um teatro poético, desenvolvendo em seus textos
teatrais materiais arquetípicos, pressupondo que as imagens e os enredos míticos
possuem o poder de estabelecer conexões entre o inconsciente individual e o
inconsciente coletivo, assumindo uma função transformativa, pois não visa
exclusivamente a proporcionar fruição ou maravilhamento sensitivo, mas, mais que
isso, pretende despertar uma centelha interior através da imaginação simbólica. A
contribuição seminal de seus textos está no ato de revalorizar a imaginação mítica no
contexto do teatro novecentista.
Assim, espiritualidade e apego à vida terrena revelam-se, no fazer poético de
António Patrício, como partes indissociáveis de uma mesma essência. Suas personagens
são animadas por uma paixão no momento em que esta é tocada pela morte, por um
desejo que a nada satisfaz e, ao querer abraçar o todo, é introduzido pela dialética de
Eros:
Eros é o desejo total, é a aspiração luminosa, o impulso religioso
original levado ao seu mais alto poder, à extrema exigência de pureza
que é a extrema exigência de Unidade. Mas a unidade última é a
negação do ser atual, na sua sofredora multiplicidade. Assim, o
arrebatamento supremo do desejo conduz ao que é não desejo.
(ROUGEMONT, 1988, p. 50)
Para concretizar aquilo que se anuncia, esta tese se estrutura em três capítulos. No
primeiro, desenvolve-se, à luz do pensamento de teóricos como António de Macedo,
Dalila Pereira da Costa, Gilbert Durand, Lima de Freitas, Eduardo Lourenço e Sérgio
10
Franclim, o estudo dos principais vetores da mitologia portuguesa. Além disso, discutese, também, dentro da perspectiva finissecular em Portugal, a revisitação de certos mitos
culturais nos textos dramáticos de António Patrício, a saber, em Pedro, o Cru, Dinis e
Isabel e D. João e a Máscara. Problematizando a relação entre História e Mito,
compreende-se, mais profundamente, o processo de formação do imaginário2 mítico
português, seus traumas, mitos e utopias.
A partir daí, discute-se o papel que desempenha a produção dramática de António
Patrício no contexto finissecular português e qual a relação que sua escrita dramática
mantém com o teatro simbolista, questões que serão discutidas no segundo capítulo,
permitindo lançar luz para as diretrizes que norteiam a cosmovisão do autor, sobretudo
na escrita dramática de Pedro, o Cru, Dinis e Isabel e D. João e a Máscara.
Por fim, no terceiro capítulo, discute-se a escrita de Eros e Tânatos no teatro de
António Patrício, percebendo como o autor constrói as metáforas, os símbolos e as
alegorias textuais, de Pedro, o Cru, de Dinis e Isabel e de D. João e a Máscara, que
convergem para a relação morte/vida e, mais ainda, de que maneira tal dicotomia
mantém relação com a cena erótica, apontando para uma importante questão: como o
signo Morte redimensiona o sentido do signo Vida, apontando para o sentido de que a
escrita de Eros e Tânatos é, sobretudo, a escrita de mitos.
2
Pensa-se na ideia de imaginário como reconstrutor ou transformador do real, o museu e os processos de
todas as imagens possíveis, como define Gilbert Durand (2004, p. 117), sendo, portanto, ―a faculdade da
simbolização de onde todos os medos, todas as esperanças e seus frutos culturais jorram continuamente
desde os cerca de um milhão e meio de anos que o homo erectus ficou em pé na face da Terra‖.
11
1. Mitos, traumas e utopias: dinamismos da história portuguesa
e recepção no universo literário
Seria por demasiado simples dizer que a História trata do passado humano. É isso,
mas não somente. Para o estudo que hora se realiza, toma-se como referência o
pensamento de Lima de Freitas, quando diz que ―aquilo a que se chama ‗história‘ vai
entendido como figuração ou actualização do ‗imaginário‘, e, portanto, como o efêmero
e o circunstancial de um permanente, semper et ubique, que nenhuma história de meros
factos e acontecimentos poderá jamais circunscrever‖ (FREITAS, 2006, p. 32-34).
Cada momento cultural tem certa densidade mítica em que se combinam e se
embatem diferentes mitos. Pensa-se, assim, na relação biunívoca que a Literatura
mantém com o imaginário de um povo através dos motivos literários que muitas vezes
estão entre os grandes ícones por meio dos quais uma nação se auto-representa. Nesta
perspectiva, pensa-se como Octavio Paz, para quem ―a História é o lugar de encarnação
da palavra poética‖ (PAZ, 1982, p. 227), numa alusão ao fecundo encontro entre a obra
literária e o seu tempo. É algo semelhante ao que postula Mircea Eliade ao pensar nas
relações entre História e Mito, quando diz que o mito é sempre fortalecido pelo campo
histórico e não por ele aniquilado ou vencido:
Só com a descoberta da História [...], só através da assimilação radical
deste novo modo de ser representado pela existência humana no
mundo foi possível ultrapassar o mito. Mas não é certo que o
pensamento mítico tenha sido abolido [...] Ele conseguiu sobreviver,
embora radicalmente modificado [...] e o mais curioso é que ele
sobrevive, sobretudo na historiografia.
(ELIADE, 1989, p. 27)
Para Eliade, também, é justamente a presença de Imagens e de Símbolos que
conserva as culturas ‗abertas‘, para, então, concluir que:
as situações-limite do homem são perfeitamente reveladas graças aos
símbolos que sustentam estas culturas. Se se negligenciar este
fundamento espiritual único dos diversos estilos culturais, a filosofia
12
da cultura será condenada a ficar como um estudo morfológico e
histórico, sem nenhuma validade para a condição humana em si.
(ELIADE, 1989, p. 173)
O ano de 1139 marca o início fundacional de Portugal. O verdadeiro significado
histórico deste momento, porém, vai muito além do que pensar na data de um país que
está para celebrar novecentos anos de independência nacional. Pensar no Portugal de
hoje é voltar, sobretudo, à sua pré-História, e é justamente a esses tempos imemoriais
que muitos estudiosos têm devotado suas leituras, indo às origens da Lusitânia e,
partindo delas, compreendendo o todo nacional, encontrando a essência de Portugal e de
seu povo3. Conforme constata António Quadros:
A historiografia moderna portuguesa, desde Alexandre Herculano e
Oliveira Martins a António Sérgio, Magalhães Godinho ou Oliveira
Marques, com a excepção de Jaime Cortesão e de uns poucos
pensadores mais novos, passou ao lado do que se nos afigura ser o
essencial da história de um povo: a sua fenomenologia espiritual,
anterior à exterioridade política, social e econômica, porque fonte
primeira de todos os actos humanos.
(QUADROS, 1989, p. 20)
José Mattoso acentua que:
a importância do estudo dos símbolos, das insígnias e dos rituais para
compreender as conexões, as ideias e as representações mentais dos
homens da Idade Média. Estes elementos, incompreendidos e até
desprezados pela historiografia positivista dos séculos XIX e XX,
revelam-se, afinal, altamente significativos.
(MATTOSO, 1993, p. 229)
O apontamento do historiador José Mattoso, tendo em vista as historiografias
modernas, por demais críticas e apegadas às fontes escritas, é muito significativo; é
nesse contexto que o autor faz uma crítica à mentalidade de que só é científico o fazer
histórico que se pauta em documentos escritos.
3
É complexo – e mesmo bastante difícil – conceituar povo, como atestam os próprios antropólogos. Neste
trabalho, tomamos a palavra com o sentido de identidade coletiva.
13
Quanto a isso, já apontava Ernst Cassirer, no seu Ensaio sobre o Homem, ao dizer
que:
Na sua busca da verdade, o historiador está sujeito às mesmas estritas
regras que o cientista. Tem de utilizar os métodos de investigação
empírica. Tem de coligir todos os testemunhos disponíveis e comparar
e criticar as suas fontes. Não lhe é permitido esquecer ou desprezar
qualquer fato importante. Não obstante, o ato último e decisivo é
sempre um ato de imaginação produtora.
(CASSIRER, 1994, p. 171)
Imaginação não adquire, para Cassirer, o sentido de fantasia, mas é um motor
psicológico capaz de animar o percurso histórico da humanidade. E é por meio desse
conceito que se estabelece uma perspectiva de captação semântica dos símbolos, das
insígnias e dos rituais do Portugal Mítico. Assim, há que se pensar para além de um
materialismo histórico e pensar no lado oculto e simbólico da História de Portugal,
através das diversas ordens iniciáticas que por lá se instalaram, além das interpretações
da mitologia, do misticismo e das doutrinas religiosas que influenciaram a Península
Ibérica. Isso sem contar no rol de nomes que, por vezes, transcendem a esfera histórica e
incorporam uma aura mítica, como Viriato e o mito da antemanhã, o herói libertador; D.
Afonso Henriques e o Milagre de Ourique, como mito fundador, apontando para o
providencialismo, que se consolidando com os descobrimentos, nos séculos XV e XVI;
e, mais ainda, com o sebastianismo e a União Ibérica, advindo, daí, a construção do
mito do Quinto Império.
Por isso é que se constata a necessidade de um estudo para além dos dados
cronológicos e interpretações simplistas, mas buscar a realidade viva e simbólica da
História e dos fatos que dela se originaram, compreendendo que uma análise histórica se
dá mais do que pela leitura de documentos coevos, estudos fósseis ou interpretações de
artefatos, mas pela leitura do pensamento mágico ancestral.
14
Ao longo do tempo, o espaço físico de Portugal sofreu a influência externa de
várias culturas, desde épocas mais remotas. Assim, há que se compreender os iberos
originais e a sua tradição mágica, bem como o nascimento, apoteose e decadência de
povos posteriores, como os celtas, os cartageneses, os fenícios e os romanos, além da
tradição cultural árabe, como povos de grande contributo para aquilo que Portugal é e
que pode, muito ainda, ser notado, sobretudo, nas regiões mais interiores, em que as
tradições populares sobrevivem e teimam em não desaparecer, resistindo à força do
tempo e cuja preservação é fundamental para a própria noção de Portugal.
Para dizer com – e como – Nietzsche:
um povo – como de resto também um homem – vale precisamente
tanto quanto é capaz de imprimir em suas vivências o selo do eterno:
pois com isso fica como que desmundanizado e mostra a sua
convicção íntima e inconsciente acerca da relatividade do tempo e do
significado verdadeiro, isto é, metafísico, da vida
(NIETZSCHE, 1993, p. 137)
Por isso à História, normalmente dividida em quatro pilares – religioso, militar,
econômico e social – deve-se acrescer, também, o mítico, como narrativa dos ciclos da
existência humana. No que diz respeito a Portugal, ler sua História Oculta é uma forma
de compreender o passado, entender o presente e pressentir o futuro de um povo que
está situado a sudoeste da Europa, na zona Ocidental da Península Ibérica, possui uma
área total de 92 090 km², e é a nação mais ocidental do continente europeu, sendo
delimitado a norte e a leste por Espanha e a sul e oeste pelo Oceano Atlântico, mas que
é mais que tudo isso.
Deve-se, portanto, percorrer Portugal ao encontro dos seus símbolos, suas
tradições e seus lugares mágicos, considerados verdadeiros tesouros nacionais, que
certamente merecem ser estudados, interpretados e sentidos, seja à luz da antropologia
15
ou mesmo da tradição esotérica, para desvendar a ―Alma Secreta de Portugal‖, como o
diz Paulo Alexandre Loução (2002).
A História pode ser entendida como uma atualidade permanente – em que o
passado é grande espelho no qual se reflete a imagem do futuro – e, portanto, há que se
saber consultar o passado para que as experiências postas diante dos olhos sirvam como
exemplos para que se projete o novo quadro histórico que se quer reproduzir. Quanto a
isso, um salutar diálogo pode ser estabelecido entre o campo histórico e o literário.
O que se quer dizer com isso é que cabe, também à literatura, a leitura,
interpretação e propagação de muitas ―células mitológicas‖ (LÉVI-STRAUSS, 1987)
que persistem no imaginário coletivo. Para Eduardo Lourenço, a Literatura é ―antes o
espelho infinitamente reflectido do sentimento de nós mesmos, dos outros e do mundo
como ávido de maior realidade e verdade que só imaginá-las inventa para que possamos
suportar a existência na sua opacidade e fulgurância absoluta‖ (LOURENÇO, 2003, p.
5), o que corrobora a ideia de que o texto literário é um veículo de conhecimento de
uma dada época.
Na Literatura Portuguesa dos fins de oitocentos e das décadas iniciais de
novecentos, conforme se salientará, a escrita mostra-se comprometida com um certo
modo de ler os grandes símbolos nacionais; ou, mais precisamente, a forma portuguesa
de ler o imaginário ibérico, num profundo trabalho sobre a linguagem, desviando-se do
comum, da linha reta, como será o caso de António Patrício, sobretudo em Pedro, o
Cru, Dinis e Isabel e D. João e a Máscara, em que se assiste à subversão da história e
do mito.
16
1.1. Imaginário português: ateliê de mitos
Portugal é um navio naufragado em que a tripulação espera há
séculos...
(PATRÍCIO, 1995, p. 124)
O imaginário mítico dos portugueses encontra profundas raízes nos tempos prénacionais e pré-cristãos, de tal maneira que se pode perceber uma série de marcas
culturais tais como a celta-lusitana, a indo-europeia, a megalítica e a greco-latina,
culturas ancestrais cujos traços marcam o homem primordial português. É o que leva
Gilbert Durand, numa entrevista a Paulo Alexandre Loução, a sentenciar que ―Portugal
possui em abundância todos os mitos da Europa‖ (DURAND, 2008, p. 14). Neste
sentido é que o antropólogo do imaginário percebe Portugal como uma ―reserva‖ do
universo mìtico europeu, constituindo ―o paradigma da identidade criada e mantida por
um povo ao longo do processo de desenvolvimento das suas imagens fundadoras‖
(DURAND, 2008, p. 133).
Ainda, para Durand:
A história não explica o conteúdo mental arquetípico, pertencendo a
própria história ao domínio do imaginário. E sobretudo em cada fase
histórica a imaginação encontra-se presente inteira, numa dupla e
antagonista motivação: pedagogia da imitação, do imperialismo das
imagens e dos arquétipos tolerados pela ambiência social, mas
também fantasias adversas da revolta devidas ao recalcamento deste
ou daquele regime de imagem pelo meio e o momento histórico.
(DURAND, 2002, p. 390)
A ―linguagem‖ do imaginário, nesse contexto, revelará, interpretará e manipulará
as modalidades de atuação e compreensão do ser no mundo. Pode-se, assim, dizer que o
imaginário é o principal instaurador das diferentes formas de pensar, sentir e agir. Para
Gilbert Durand, portanto, é através da troca incessante entre as pulsões subjetivas (biopsíquicas) e as intimações objetivas (cósmico-sócio-culturais) que se processa o ―trajeto
antropológico‖. Ou seja, o dinamismo equilibrador que possibilita ao homem enfrentar
17
ou eufemizar a angústia relacionada à consciência do tempo que passa e da morte. Dirá,
então, que ―uma sociedade caracteriza-se pelas variações sofridas pelas grandes
imagens tradicionais e míticas. [...] Conhecer esses mitos é de uma importância capital
para penetrar nas orientações mais profundas duma sociedade‖ (DURAND, 2002, p.
13).
E é verdade se, ao considerar a imagem primordial, o modelo das origens do
homem arcaico português, pensar-se nos traços presentes, sobretudo nos meios rurais,
da sacralidade da Natureza, onde se manifesta o numinoso4. Ou, outro traço marcante, a
influência da divindade celta Lug, o Mercúrio gaulês, como lhe chamou Júlio César.5
No medievo, as Saturnais Paracléticas – como síntese das tradições pré-cristãs e do
cristianismo espiritual – renascem através do Culto Português do Espírito Santo.
O culto do Espírito Santo foi instituído em Portugal pelo rei D. Dinis, cuja decisão
contou com a decisiva influência da rainha Isabel, sua esposa. Ligado ao culto do
Espírito Santo, há a ideia profética e joaquimita do Império Universal e à esperança
escatológica, tão cara ao padre António Vieira, da proximidade do Quinto Império ou
Terceira Idade do Mundo, a Idade do Espírito Santo. Conforme destaca Jaime Cortesão
(1990), o culto ao Espírito Santo foi, durante os séculos XIV e XV e primeira metade do
XVI, uma das mais fervorosas devoções da família real, além de ser o culto popular
mais difundido em Portugal.
4
Termo cunhado por Rudolf Otto (1985), significando – por derivação do termo latino numem – deidade
ou influxo divino. Para Jung, ―Qualquer que seja a sua causa, o numinoso constitui uma condição do
sujeito, e é independente de sua vontade. De qualquer modo, tal como o consensus gentium, a doutrina
religiosa mostra-nos invariavelmente e em toda a parte que esta condição deve estar ligada a uma causa
externa ao indivíduo. O numinoso pode ser a propriedade de um objeto visível, ou o influxo de uma
presença invisível, que produzem uma modificação especial na consciência. Tal é, pelo menos, a regra
universal‖ (JUNG, 1978, par. 6).
5
Para um estudo mais aprofundado da assimilação do culto de Lug/Mercúrio na Gália romana,
recomenda-se o estudo realizado por Olivieri (2004, p.102-108)
18
Especialista na investigação e no estudo das religiões comparadas, de
esoterologia, de História da Filosofia, António de Macedo, em entrevista à revista
Lusophia, aponta que todo o problema da portugalidade está num reencontrar das
origens:
[...] estou totalmente de acordo com a ideia do Franclim da
―verticalização da Lusitânia‖. Tudo ocorreu naturalmente. As pessoas
começaram a chamar Lusitânia a Portugal… Portugal tem uma missão
espiritual, mas sobretudo mistérica. E há bastante gente que está em
Portugal a encontrar os mitologemas portugueses e a linha tradicional
própria da portugalidade, que, a partir do século XVII, se distanciou
bastante da europeia, até, então, existia uma linha esoterológica
comum. Com a Inquisição, com o surgimento do rosacrucianismo, a
nossa linha iniciática quebrou-se da corrente iniciática. Depois do
culto do Império e do Divino Espírito Santo veio o Bandarra; no
século XVII, tivemos o gigantesco Vieira, que acompanhou o século
XVII todo. Ele foi buscar o mito do Quinto Império ao profeta Daniel
e a Frei Gil de Santarém. Então, ficámos com os mitos diferentes: o
bandarrismo, o Quinto Império, o Sebastianismo e as festas do
Espírito Santo.
(MACEDO, 2003)
A leitura de Macedo em muito se aproxima do pensamento de Teixeira de
Pacoaes, quando, numa perspectiva mìtica de interpretação da ―História Oculta‖ de
Portugal, afirma que:
É preciso que o povo encontre o culto religioso dos seus Avós –
daquela alma primitiva que, dentre a confusão das raças da Ibéria,
ergueu bem alto a sua presença livre e inconfundível – primeiro na
figura homérica de Viriato e depois em D. Afonso Henriques, esse
rude estatuário de uma Pátria que as últimas gerações têm mutilado.
(PASCOAES, 1997, p. 83)
De grande contributo para os estudos do fundo mítico-espiritual que se mantém
vivo na cultura portuguesa foi o Colóquio Internacional Imaginário Cavaleiresco e
Conquista do Mundo, realizado em Tomar, de 16 a 23 de abril de 1983. Uma série de
investigações científicas abordou a riqueza espiritual lusitana, como, por exemplo, as
comunicações de Durand e Lima de Freitas. Ambos, inclusive, com profícua amizade,
debatendo as mais diversas imagens recorrentes do imaginário português. Os trabalhos
19
apresentados durante o Colóquio discorreram, portanto, sobre temas que tocam fundo a
consciência nacional: a cavalaria espiritual, o ciclo arturiano, os Templários, a Demanda
do Preste João, o mito do Quinto Império e os mitos femininos.
Em seu texto intitulado ―A demanda portuguesa do Preste João e o Graal‖, Lima
de Freitas, ao abordar o mais rico tema da cavalaria espiritual6 e de sua importância para
a história portuguesa, destaca, justamente, que ―o tema pertence ao número daqueles em
que inúmeros fios se cruzam num novelo labiríntico em que o ‗imaginário‘ prevalece
sobre o que os historiadores designam por ‗real‘, como a seiva determina a casca‖
(FREITAS, 2006, p. 27).
Assim, com os vazios históricos, com fatos imprecisos, documentos escassos – a
casca de que fala Lima de Freitas –, assume maior importância o sentido profundo em
que os fatos se organizam – a seiva, o mito – e o significado que trazem em si. É neste
contexto que o estudioso das tradições imaginais em Portugal pensa a história para além
de um tecido de relações de produção. Aponta, ainda, para um ―estranho silêncio que
pesa sobre as coisas portuguesas‖ (FREITAS, 2006, p. 28).
A riqueza da tradição mítica em Portugal parece estar guardada como um tesouro
oculto. Afinal, há uma ausência quase total de referências aos mitos mais relevantes da
mitogenia portuguesa ou, ainda, aos Templários portugueses e aos seus continuadores,
os cavaleiros da Ordem de Cristo, que partiram na demanda do reino de Preste João.
Nem René Guénon – cujos estudos abordaram, por exemplo, os Templários, além de
6
A lenda a respeito de um Reino fantástico governado por um Imperador Cristão surgiu
por volta de 1144. Segundo relata Otto Von Freising na sua Chronica, que se encontrara
em Roma, com o Bispo sírio, Hugo Von Gabala, enviado ao papa pelas igrejas
armênias, que lhe falara de um padre e rei que vivia em terras além da Pérsia. Esse
mesmo Rei teria feito guerra à Pérsia e, após o seu término, com grande sacrifício havia
saído em socorro de Jerusalém, o que não ocorreu devido às inúmeras dificuldades. Este
a quem chamavam de Presbítero João, se dizia descendente dos Reis Magos, pertencia à
seita dos nestorianos.
20
um livro inteiro dedicado ao Rei do Mundo, sequer se refere aos cavaleiros portugueses
da Ordem de Cristo7 – ou Evola – que, em seu O mistério do Graal, sequer se refere à
cavalaria portuguesa nas várias páginas dedicadas ao Preste João e ao seu reino
lendário. E mesmo Mircea Eliade, que viveu em Lisboa parte de sua vida, lecionando
por lá, em seu Aspectos do mito dedica algumas páginas do capìtulo ―Sobrevivências do
mito‖ à crença num Imperador que há de regressar de seu repouso em um paìs distante.
Cita, por exemplo, o mito do Encoberto, a demanda do Preste João, sem, sequer, citar
Portugal.
Para Lima de Freitas, ―Tudo se passa como se Portugal fosse invisìvel, escapando
permanentemente à atenção dos pensadores e pesquisadores europeus. Mais do que o
fruto de um acaso ou a consequência de circunstâncias políticas recentes, queremos ver
em tudo isso um sinal‖ (FREITAS, 2006, 123). Fica, porém, ainda a – persistente –
pergunta: Que intencionalidade se esconde por trás deste silêncio?
Rejeitando o materialismo histórico em favor de uma História Invisível, Lima de
Freitas (2006, p.78) entende que o que provoca a História é ―fundamentalmente a
produção e troca de mitos, de idéias‖. É de Lima de Freitas um neologismo – o
―Mitolusismo‖ – cunhado em 1987. Sobre o tema, o mestre pintou um bom número de
7
Escreve Guénon (1995, p. 15): ―Na Europa, toda ligação estabelecida conscientemente
com o centro, por intermédio de organizações regulares, está atualmente rompida, a isso
está assim já há muitos séculos; aliás, esse rompimento não foi realizado de um só
golpe, mas em muitas fases sucessivas. A primeira. delas remonta ao início do século
XIV; o que dissemos em outra parte sobre as Ordens de cavalaria pode fazer
compreender que uma de suas principais atribuições era assegurar uma comunicação
entre o Oriente e o Ocidente, comunicação cujo verdadeiro alcance é possível
compreender se se observa que o centro do que aqui falamos tem sido sempre descrito,
pelo menos no que se refere aos tempos ―históricos‖, como situado do lado do Oriente.
Entretanto, depois da destruição da Ordem do Templo, o Rosacrucianismo, ou aquilo a
que se devia dar esse nome em seguida, continuou a assegurar a mesma ligação, se bem
que de maneira dissimulada. A Renascença e a Reforma marcaram nova fase crítica, e,
enfim, após o que parece indicar Saint-Yves, o rompimento completo teria coincidido
com os tratados de Westfália que, em 1648, puseram fim à guerra dos Trinta Anos.‖
21
quadros, que ficaram expostos na Galeria Gilde, em Guimarães, de 31 de outubro a fins
de dezembro de 1987. Ali estavam presentes, para citar alguns, o reino mítico de Preste
João, o mito sebastianista com o ―Encoberto‖, a Rainha Santa Isabel com ―O milagre
das rosas‖, a paixão de Inês e Pedro com ―Até a fim do mundo‖. Imagens que marcaram
– e marcam ainda profundamente – o imaginário português. Os mitos encerram,
portanto, uma simbologia essencial, a partir da qual cada povo escolherá o seu modelo,
vestido de acordo com a raiz cultural em que se assenta. Por isso, ao atestar a
universalidade dos mitos, dirá Lima de Freitas (2006, p.76) que estes são ―arquétipos
que governam os homens‖, constatando que:
A Península é o resultado de camadas de subconscientes muito
variadas: nórdicos, celtas, árabes, com todas essas moiras
encantadas... tem, por isso, um fundo mítico muito grande; e quando
afirmo que não existem mitos portugueses faço-o, evidentemente, em
sentido estrito, porque existem formas tipicamente portuguesas de
mitos e é através do estudo dessas formas que podemos alcançar uma
possibilidade séria de autoconhecimento.
(FREITAS, 2006, p.77)8
Para Lima de Freitas, portanto, o conhecimento da mitografia é a chave de velhas
interrogações como ―Quem somos? De onde vimos? Para onde vamos?‖. Neste sentido
que o imaginário português se fundamenta nos mais sólidos e sagrados princípios, tendo
sido constituído a partir da Ibéria como plano de realização dos mais altos desígnios.
Visão também ressaltada pelo que diz Paulo Alexandre Loução quando afirma que:
8
Se pensarmos na tradição ibérica, é curioso o que acontece, por exemplo, com Inês de
Castro: enquanto a tradição literária portuguesa mantinha certa fidelidade ao fator
histórico, a maior lenda em torno de seus amores com Pedro – a póstuma cerimônia da
coroação e do beija-mão aparece, pela primeira vez, no teatro espanhol (SOUSA, 1984,
p. 97). E, também, o próprio mito de D. Juan traz a imagem do viajante, de um homem
que busca incessantemente em cada mulher o seu objeto amado. Importante ressaltar
que D. Juan vem de uma tradição ibérica, a partir de Tirso de Molina. Assim, em D.
João e a Máscara, de António Patrício, um dos textos estudados nesta tese, para além
de uma leitura dos mitos portugueses está uma proposta de releitura de um mito ibérico.
Ou, mais ainda, a forma portuguesa de interpretar/ incorporar, na tradição literária, o
mito de D. Juan. O mesmo será observado no mito isabelino que apenas no século XX
se torna mais visível literariamente.
22
os mitos não se aniquilam: ou se concretizam, fazendo emergir uma
nova realidade mítica, ou são recalcados à força para o inconsciente
colectivo de um povo, tendo isto acontecido com o caso português.
Quer dizer, os mitos recalcados no século XVI continuam vivos no
inconsciente colectivo da população portuguesa e a dar sinais de sua
presença.
Uma característica do povo português é o seu universalismo, existindo
nele uma apetência natural para se fundir com outros povos.
(LOUÇÃO, 2007, p. 217)
É a partir dessa portugalidade de certas imagens arquetípicas que Gilbert Durand,
em seu trabalho de mitodologia – uma orientação epistemológica com a perspectiva de
se desenvolver uma abordagem científica que leva em conta o elemento espiritual e
coletivo na concretude da realidade imediata –, desenvolve uma minuciosa mitoanálise
da psique portuguesa, ao enunciar quatro mitologemas – estruturas quase formais de um
mito ou de uma sequência de mitos –, todos eles convergindo para o ―absoluto exotismo do imaginário‖ (DURAND, 2008, p.34). Referindo-se às imagens recorrentes da
tradição mítica portuguesa, Durand classifica os mitologemas em quatro grupos; o
―Fundador vindo de fora‖, a ―Nostalgia do impossìvel‖, o ―Salvador oculto‖ e a
―Transmutação dos atos‖.
O primeiro, sobretudo, é marcado pela navegação: o fundador pré-cristão Luso;
Ulisses, fundador de Lisboa, a Ulissipona; ou a lenda de São Vicente mártir, trazido
pelo mar até ao Algarve, guardado por dois corvos gigantes, em uma navegação
fúnebre. Sobre este aspecto, destaca Lima de Freitas:
S. Vicente, ao chegar por mar ao Algarve e depois a Lisboa, marca
bem a vocação mortal do Ocidente, da extrema ocidental onde a terra
acaba (o sólido, o manifestado, o consciente, o diurno) e o mar
começa (o líquido, o latente, o inconsciente, o nocturno). Caso
restassem dúvidas aí estão os corvos, a ave negra da nigredo
alquìmica, os ‗vicentes‘ da gìria lisboeta, o cor-beau da ‗langue verte‘
dos argóticos (os da arte ‗gótica‘) que tão belamente exprime o corpo
tisnado pelo fogo, reduzido a uma espécie de pura antractite cujas
escórias estão já consumidas e que é tudo o que resta do ‗velho Adão‘
após a primeira morte ou consumação pelo fogo alquímico, resíduo
negro do volátil, matéria prima ou caroço da quadratura ou corpo belo
de que poderá partir-se para a ulterior sucessão de sublimações,
23
precipitações e operações conducentes à obra branca e à rubificação.
O corvo é ainda, por cabalística fonética, o coração que é o vaso
purificado pela renúncia aos pensamentos mundanais e pela morte
iniciática.
(FREITAS, 2006, p. 175, grifos do autor)
Também sobre o mar, diz o Dicionário de Símbolos, de Jean Chevalier e Alain
Gheerbrant:
Tudo sai do mar e tudo regressa a ele: lugar dos nascimentos,
das transformações e dos renascimentos. Águas em movimento,
o mar simboliza um estado transitório entre os possíveis ainda
informais e as realidades formais, uma situação de
ambivalência, que é a da incerteza, da dúvida, da indecisão e
que pode terminar bem ou mal. Daí vem que o mar é ao mesmo
tempo a imagem da vida e da morte.
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1994, p. 592)
Sobre a simbologia do mar, é o que diz, em outras palavras, um texto gravado em
uma placa de pedra, exposta no Museu de Ouro de Bogotá, proveniente dos Índios
Kogui das costas da Colômbia, perto de Cartagena: ―No começo era o mar. Todo o resto
era negro e vazio. O mar era o pensamento e a memória. Ele era a respiração do futuro‖
(FREITAS, 2006, p. 187). Evocar o mar é, também, pensar no simbolismo da barca e da
navegação, na viagem. E, por isso, dirá Vergílio Ferreira:
Penso num dos mitos mais antigos da cultura ocidental e que Homero
nos fixou. A viagem. Ele não é naturalmente só nosso. Mas foi
sobretudo em nós que ele respondeu ao que lhe é consubstancial, ou
seja, à inquietação. E uma inquietação que se não sabe
verdadeiramente que existe senão depois de se ter cumprido no
impossível repouso da chegada. [...] O percurso dos descobrimentos
teve um ponto de partida, mas não poderia jamais ter um ponto de
chegada. Porque a própria viagem de circum-navegação não fechou o
termo da procura, mas foi apenas o início da que fosse além da Terra
para atingir o seu limite no sem-limite de espaços.
(FERREIRA, 1995, p. 35)
Na dinâmica de imagens que evoca, como a do abismo e a do nascimento-morte –
e pensando no mitologema de Durand –, a travessia e o barco assumem uma função
iniciática. Daí emergir Saturno das profundezas do mar, como seu berço; é pela
24
construção da arca que Noé se salva da fúria divina manifesta no dilúvio; Pedro,
pescador e apóstolo, erige a igreja de Cristo como a barca salvadora.
O segundo mitologema traz à luz lendas ligadas ao nostálgico desejo do
impossível. No amor, é ilustrado por Sóror Mariana Alcoforado que, no convento de
Beja, teria escrito as apaixonadas Lettres ao seu amado Chamilly; e, história ímpar na
cultura portuguesa, as páginas dos trágicos amores de Inês de Castro e o Infante
Pedro de Portugal.
Como destaca Lima de Freitas:
A Nostalgia do Impossível marca, certamente, o ciclo tão
português dos amores de Pedro e Inês, a mísera e mesquinha
que depois de morta foi rainha cantada por Camões, paixão que
tem inspirado tantos escritores, poetas e dramaturgos dentro e
fora de Portugal, de Resende, António Ferreira e Houdar de la
Motte, a Bocage, Bowyer, António Patrício, Lopes Vieira,
Henry de Montherlant; paixão que erremete contra a lei da
morte e, sem se deixar paralisar pelo delírio do macabro, leva a
saudade apunhalante do ser amado e do bem perdido até à
loucura ressurrecional que a transforma em união mística e
transcendente.
(FREITAS, 2006, p. 89)
Neste sentido, a desilusão amorosa de Sóror Mariana e os amores de Inês e
Pedro encarnam a força simbólica de um dos mitos eternos da humanidade: o amor
que resiste ao tempo e recusa a morte. Na empreitada guerreira, destaca-se o nome
do jovem condestável de 24 anos Nuno Álvares Pereira que na proporção de um para
dez, arrebatou, decisivamente, a vitória de Aljubarrota – onde ainda hoje se eleva a
Igreja de Santa Maria da Vitória, ou da Batalha.
Lima de Freitas ainda acrescenta:
o milagre da ressurreição que nimba a figura do Mestre
Roseacruz da Fama Fraternitatis, que Fernando Pessoa exalta,
25
calmo na falsa morte e a nós exposto, o Livro ocluso contra o
peito posto, assim portugalizando pela via poética um mito
iniciático que Valentim Andreae articulara no século XVII em
língua alemã.
(FREITAS, 2006, p. 90-91)
O mitologema do ―Salvador oculto‖, do rei que espera a hora do regresso é, para
Durand (2008, p.28), ―cenário quase universal‖. É Paraçu-Rama dos hindus escondido
no Mahendra; Holger, mítico rei dos dinamarqueses, adormecido em uma câmara
subterrânea debaixo do castelo de Kronborg; na tradição celta, o rei Artur, encoberto na
Ilha de Avalon. Na tradição portuguesa, ocupa este lugar arquetípico D. Sebastião, o
Encoberto, rei que desaparece a 4 de agosto de 1578, em Alcácer-Quibir, na cruzada
contra os mouros9.
Por trás do Herói prometido, no Restaurado das nações e dos mundos,
perfila-se o mito de Saturno, na perdida Idade do Ouro que voltará no
fim dos tempos, do Milénio profetizado por João em Patmos e pelo
abade Joaquim, que tanto ecoou em Portugal. E temos aí a emergência
lusa e universal (tão lusa na sua universalidade, tão universal no seu
lusitanismo) do fascinante Preste João das Índias, Rei do Mundo até a
vinda do Paracleto, oculto algures na confluência dos mares, no
palácio fabuloso do Graal guardado pelo Sol e pela Lua...
(FREITAS, 2006, p. 90)
Dalila Pereira da Costa aponta para um sentido alquímico da presença sebástica
no imaginário cultural português ao dizer que:
O Sebastianismo é sempre inseparável dos Descobrimentos: como
segundo ato dum drama ou ritual nacional.
Porque, após o descobrimento do caminho para as Índias, como
aquelas que em si detinham o prestígio do centro, este posteriormente
ter-se-ia deslocado e encarnado na Ilha do Encoberto. Ela será desde
então, miticamente, como o umbigo do mundo, a realidade suprema e
supremamente desejada. A que flutua nas águas primordiais — tal
outro lótus sagrado de onde nasce Brama. Receptáculo de vida.
Porque aqui, para a alma portuguesa, será acaso a realidade da ilha, a
que em si detém todo o valor e função e prestígio do centro, tal como
foi a rosa para o Ocidente e o lótus para o Oriente: será ela a flor
9
Interessante destacar uma entrevista de Lima de Freitas (2006, p. 75) ao Jornal de Letras, com um título
bastante significativo: ―D. Sebastião não é um mito português‖, apontando, justamente, para a
universalidade dos mitos e para a maneira segundo a qual os incorpora.
26
secreta. A que no seu interior, no mais profundo das suas pétalas,
concebe, encobre e protege o Salvador do mundo. Ela, a Rosa
Mística.
(COSTA, 1978, 140-141)
O quarto e último mitologema, o da ―Transmutação dos atos‖ – ou transmutação
paraclética do mundo, como também lhe chama Durand –, refere-se ao milagre da
transformação da água em vinho ou do pão dos pobres em rosas. No imaginário
português, destaca-se a taumaturgia da Rainha Santa Isabel, mulher de D. Dinis. Ela
que, à semelhança de Isabel da Hungria e de Rosa Viterbo – duas santas, ambas da
Ordem Terceira de São Francisco –, transmuta, milagrosamente, pão em rosas e rosas
em pão para os pobres.10 Para Gilbert Durand:
O cenário mítico estava, assim, pronto para que os Franciscanos
pudessem integrar as taumaturgias da transmutação da rainha de
Portugal, filha do rei de Aragão, Isabel, a ―rainha Santa‖, que nasceu
em 1271 e morreu, simples Clarissa, em 1337: milagre do pão
transformado em rosas, e também o milagre inverso, das rosas
transformadas em pão para os pobres; e, ainda, o milagre quase
crístico – tendo-lhe o seu confessor aconselhado a temperar a sua
penitência bebendo um pouco de vinho – da água milagrosamente
convertida em vinho. Mas acima de tudo interessa sublinhar que se
trata da Rainha de Portugal e igualmente uma santa de grande
devoção do país. Qual o sentido que podemos dar a esta insistência
franciscana em fixar a taumaturgia das rosas e do vinho, e em atribuíla à Rainha Santa, Rainha de Portugal?
Penso que é necessário dar a estas transformações o sentido que o
hagiógrafo dava à lenda de Isabel da Hungria e da Tarúngia: ver rosas
em lugar do pão, ver o sangue de Cristo em lugar do vinho, é ver
―com os olhos da alma‖ – ―per interiores óculos‖.
(DURAND, 2008, p. 33)
É o mitologema inspirador de todas as descobertas, cujo objetivo era encontrar o
reino do Preste João, influenciado, sobretudo, pela instauração em Portugal por D. Dinis
e pela Rainha Santa do culto do Espírito Santo.
10
Interessante, também, é o estudo biográfico realizado pelo Conde de Moucheron. Numa das passagens
da obra, o biógrafo relata um outro milagre de Isabel: ―Foi ainda em Alenquer que teve lugar um
comovente episódio: a Rainha, querendo assinalar sua estada, tinha feito construir junto da sua residência
uma igreja dedicada ao Espírito Santo. Mas já não tendo acesso aos seus rendimentos, pois que o rei disso
a tinha privado, ficou muito aflita na hora de ter de pagar aos operários. tendo estes se apresentado para
receber o salário, ela teve uma súbita inspiração e pagou-lhes em rosas. Mas quando chegaram às suas
casas, em vez dessas flores encontraram moedas de ouro‖ (MOUCHERON, 2008, p. 85)
27
No seu primeiro de três volumes acerca dos descobrimentos portugueses, Jaime
Cortesão (1990), ao analisar as navegações para além de fatores geográficos, políticos e
econômico-sociais sugere que os Descobrimentos participam de um longo processo
espiritual que visa, tanto ao conhecimento científico do planeta quanto ao seu
enquadramento no Universo, o que, de fato, se percebe no projeto dos Alcobacenses, na
figura de Frei Bernardo de Brito, que se propunham à redação da História de Portugal
desde a sua gênese: a criação do mundo.
Nos quatro mitologemas, Gilbert Durand destaca a paixão do além como traço
marcante do imaginário português. Seja nos mitologemas do ―Fundador vindo de fora‖
ou do ―Salvador oculto‖ – este um eco daquele –, seja nos outros dois, o que há é uma
fé em um além absoluto, apontando, justamente, para a possibilidade do impossível.
Assim, diz o antropólogo que:
[...] todos os sonhos com asas de caravelas levantam voo na alma
portuguesa: apostolado franciscano e mais tarde jesuíta, sonho
grandioso do joaquimismo, cavalgada de cavaleiros em perseguição
dos mouros (primeiro no solo ibérico), depois os cavaleiros que se
tornaram marinheiros, passando para lá de Gibraltar, de Cabo Verde e
da Boa Esperança, dando ao mundo todos os inesgotáveis mundos de
aventura e de sonho, oferecendo – ―até ao fim do mundo‖ de terra e de
pedra – a esperança dos mundos e o eterno convite à viagem.
(DURAND, 2008, p.34)
Sérgio Franclim (2009, p. 13) – para quem os ―mistérios de uma nação são por
vezes demasiado densos para que possam ser dissecados e compreendidos à luz de
questões materiais‖ – desenvolve um interessante estudo a respeito da mitologia
portuguesa, dos mistérios e das figuras ímpares da História de Portugal, ressaltando,
sobretudo, o destino divino que a pátria portuguesa sempre reclamou para si, como povo
eleito, desde a aurora da nacionalidade. Diante de um processo a que chama
verticalização da Lusitânia – caracterizada como a aglomeração de uma experiência
28
coletiva – Franclim (2009, p. 11) destaca que Portugal é ―o ressurgimento daquilo que
foi a Lusitânia‖.
Adotando uma perspectiva espiritual, Franclim divide a história de Portugal em
cinco ciclos, ressaltando que se vive hoje o quarto, sendo o quinto, ainda, uma
promessa. Mas, como destaca:
Tal divisão é meramente simbólica e está intimamente ligada aos
acontecimentos que consideramos mais significativos para que se
possa compreender a importância de Portugal perante o Mundo e
perante o destino da humanidade. No final de cada um dos quatro
primeiros ciclos, domina a ideia de destruição da pátria. Além disso,
cada um dos ciclos está intimamente ligado á ideia de iniciação. [...]
Cada fase da história portuguesa, simbolicamente dividida, tem um
período em que a nacionalidade portuguesa é posta em causa.
(FRANCLIM, 2009, p. 11)
Desta maneira, o primeiro ciclo iniciático – em que o poder ideológico dominante
é o dos reis – inicia-se em 1140, ano em que D. Afonso Henriques passa a assinar seus
documentos como rei, perdurando por 245 anos, sendo que a prova iniciática se dá com
a morte de D. Fernando I, em 1383 – a simbólica descida aos infernos, de qua falam
René Guénon11 e Sérgio Franclim12 – para, em 1385, com a Batalha de Aljubarrota,
iniciar-se a ascensão de Portugal no início de um novo ciclo. Este, com o poder
ideológico do clero, que durou cerca de 255 anos – de 1385 a 1640 – e cuja descida aos
infernos e a ascensão são marcadas pelo desaparecimento de D. Sebastião em AlcácerQuibir e a restauração da independência (1578-1640). Durando cerca de 250 anos, de
1640 a 1890, e tendo como poder ideológico dominante o do povo, o terceiro Ciclo se
consolida – com o segundo – como cerne do messianismo português, sobretudo ao se
11
Como aponta René Guénon (1995, p. 54): ―Sendo a verdadeira iniciação uma tomada de posse
consciente dos estados superiores, é fácil compreender que ela seja simbolicamente descrita como uma
ascensão ou uma ‗viagem celeste‘; mas poder-se-ia perguntar porque é que essa ascensão deve ser
antecedida por uma descida aos infernos. [...] essa descida é como uma recapitulação dos estados que
precedem logicamente o estado humano, que determinaram as suas condições particulares e que devem,
assim, participar na ‗transformação que se vai efectuar.‖
12
Para Franclim (2009, p. 13), sendo a história de Portugal cíclica e cada Ciclo uma recapitulação dos
anteriores, a descida aos Infernos constitui ―a contìnua purificação da nação‖.
29
pensar no sebastianismo que florescia cada vez mais diante de um Império então em
ruínas. Portugal perde, afinal, sua autonomia em Alcácer-Quibir e, por longos sessenta
anos, põe-se à sombra da coroa espanhola, com a geração filipina13. Trata-se, aliás, do
primeiro de um conjunto de atos que culminam, no final do século XIX, com o
Ultimato, conforme destaca Sérgio Franclim:
A escuridão que envolve Portugal é enorme. Nessa escuridão, mesclase o nevoeiro sebástico. Nesse nevoeiro, vagueiam portugueses de
outrora, mantendo viva a chama da Mitologia Portuguesa. A escuridão
é enorme, mas já renascem verdadeiros portugueses, espiritualmente
superiores, aptos a erigir a portugalidade no verdadeiro caminho.
Hoje, o Tejo está coberto de nevoeiro e os sonhos estão sustidos sobre
o império mais perfeito de Deus: aquele que será o Quinto e perfeito
por ser contrário a todos os outros, pois terá o espírito de Deus a
torná-lo eterno na imensidão do universo. Este é o sonho do Quinto
Império: português e universal; português e espiritual.
(FRANCLIM, 2009, p. 187)
Com as invasões francesas em 1807, Portugal prova uma nova descida aos
infernos, tendo início a destruição da monarquia e a incapacidade de ser independente
diante do estrangeiro. Com o poder ideológico dominante dos poetas14, em 1890
Portugal tem sua quarta Iniciação que, seguindo a média dos anteriores, durará cerca de
250 anos. Será, então, o ano de 2140 – com o poder espiritual – o da implantação do
Quinto Império após 1000 anos de Portugal?
13
Formulado pela primeira vez nas Trovas do sapateiro Gonçalo Anes, o Bandarra, em
meados do século XVI, o mito de um rei Encoberto e salvador reapareceu durante o
período filipino na sua forma sebástica. Após a Restauração, o padre António Vieira
continuou a divulgação dos textos de Bandarra, ampliando a profecia à ideia de um
Quinto Império português, em que se cruzavam temas históricos e bíblicos. Depois de
D. João IV, o rei Encoberto foi sucessivamente identificado com D. Afonso VI, D.
Pedro II e D. João
V, reaparecendo no contexto das invasões francesas e no miguelismo. O sebastianismo
assumiu importância ímpar, expressando o desejo persistente de libertação da miséria e
opressão cotidianas.
14
Diz Franclim (2009, p. 152): ―A 4ª Iniciação de Portugal começou a se definir com o Ultimato Inglês e
com a implantação da República; é um ciclo impreciso, em que se confundem, em certa medida os três
estados sociais: a nobreza, o clero e o povo e em que há uma certa dispersão, principalmente porque ainda
nos situamos nele. o poder dominante da portugalidade é, contudo, dos poetas‖. O autor destaca,
sobretudo, o recrudescimento do sebastianismo: mais que D. Sebastião histórico, o que prevalece é o D.
Sebastião metafísico.
30
Assim, os principais mitos culturais de Portugal procuram justificar a aventura
portuguesa, no âmbito de uma aventura maior, a humana, movida por uma missão
universalista. Desta maneira, tem-se o sebastianismo, o Quinto Império – tão
preconizado pelo Padre António Vieira e por Fernando Pessoa, e a Idade do Espírito
Santo, nas ideias Agostinho da Silva, que enfatizam o papel de Portugal como líder na
construção de uma sociedade de nações messiânica e providencial.
Esta vocação plasmou-se em tempos na revista A Águia, que retomava as
reflexões dessas e de outras figuras importantes da cultura portuguesa sobre o tema e
que veio encontrar eco na primeira década do século XXI com a Nova Águia, que
ressurge com a proposta de se ―repensar desde a raiz o sentido de Portugal e da cultura
portuguesa lusófona […] para propiciar a emergência de uma nova consciência das
possibilidades da nação, da lusofonia e da humanidade‖ (BORGES, 2008, p. 5). Fala-se,
novamente, no destino grandioso de Portugal e da comunidade lusófona; dos mitos e
das profecias como indicadores de uma vocação portuguesa como nação que se autoelege para as cumprir.
Eduardo Lourenço, ao refletir sobre a alma nacional, o sentimento português, e a
identidade cultural, mostra que tais questões constituem uma preocupação dos grandes
escritores portugueses, quando, ao escrever, indagam-se o que é Portugal e o que
significa ser português. Em dois de seus livros – Nós como futuro (1997) e Mitologia da
Saudade (1999) –, põe em questão o culto da nação portuguesa ao passado. Para o
autor, ―nenhum povo vive no passado como Portugal‖ (LOURENÇO, 1997, p. 19). A
memória coletiva e a sua constante revisitação do passado coletivo é, conforme ressalta
Eduardo Lourenço, uma das peças importantes que encaixam no processo de autognose
nacional, como a forma segundo a qual a pátria constrói os seus modelos identitários a
31
partir do difícil equilíbrio entre o passado/memória e o futuro/destino, quando entre elas
há um presente de crise. Percebe-se, assim, nos contextos históricos, tentativas
frustradas de superação de um déficit de identidade nacional através de uma identidade
projetada e fantasiosa. É o que Eduardo Lourenço chamaria de hiperidentidade mítica.
A característica insatisfação é resultado de um sentimento de ainda não ter
cumprido plenamente algo a que Portugal crê estar destinado provocando um forte
desânimo que não é mais do que o estado de alma experimentado nos momentos de
crise anímica profunda, pela ausência de ideais, de motivações, tendo em conta, ainda,
um descontentamento em relação a si mesmo julgando-se, no momento, incapaz de
aferrar-se ao destino para o qual foi forjado. Sendo o passado essencial ao sentido de
identidade individual e coletiva, em vez do desejo de subverter as memórias
traumáticas, devia se verificar a vontade de as integrar harmoniosamente no conjunto
das dores de crescimento. Depois do passado nacional e de um presente de crise, tem-se
a ideia de destino como terceiro aspecto deste paradigma identitário português.
É por isso que Eduardo Lourenço crê que o universo cultural português arrasta,
há mais de quatro séculos, uma existência crepuscular. Após uma era gloriosa de
descobrimentos e expansão, reserva-se para esse passado um sentimento de saudade,
decorrente da incerteza de que os tempos egrégios talvez nunca mais vão se repetir.
Pela saudade projeta-se no futuro o resgate das glórias do passado. É justamente este
sentimento que cria uma identidade portuguesa a partir das figuras mitificadas. Para
Eduardo Lourenço (1999, p. 13), ―a saudade não foi mais que a expressão do excesso
de amor em relação a tudo o que merece ser amado‖. E, então, conclui que:
Com a saudade não recuperamos o passado como paraíso; inventamolo. O nosso povo, imemorialmente rural, absorvido por fora em
afazeres desprovidos de transcendência, mas levados a cabo como
uma epopeia, com seu talento do detalhe de miniatura é um povo
32
sonhador. Não especialmente por ter cumprido sonhos maiores do que
ele, mas porque, no fundo de si, ele recusa o que se chama a realidade.
(LOURENÇO, 1999, p. 14)
A saudade é um sentimento de letargia decorrente da contemplação do passado
belo, que geralmente motiva o abatimento das disposições ativas da vitalidade de um
homem, podendo levá-lo inclusive a sofrer terríveis tormentos morais na condução de
sua vida prática, como decorrência do anseio de se reviver novamente as experiências
do passado tais como o foram feitas, desconsiderando, assim, o avanço do tempo e dos
acontecimentos na sua própria vida.
Dessa forma, a saudade é um afeto que direciona o enfoque de um indivíduo para
o passado radiante e idealizado, sem que, contudo, o instigue a viver criativamente no
presente, pois o indivíduo saudoso tende a considerar como valoroso, sobretudo aquilo
que faz parte do passado longínquo15. Para António Cândido Franco, ―é uma saudade
quase gnóstica, uma saudade luminosa doutra matéria qualquer que não sabemos qual é.
Uma ânsia, uma aspiração, um desejo de infinito‖ (FRANCO, 2002, p. 140).
Dalila Pereira da Costa vê na saudade uma condição dramática da existência e,
ao mesmo tempo, redentora. É um conhecimento ―de experiência feito‖, um
―conhecimento-vivência‖, nas palavras da autora:
No conhecimento, um povo rebentará nos limites dum século da
sua história (e cada um dos seus homens nos limites da sua vida
própria) os limites postos ao mundo conhecido, como Terra,
abraçando-a circularmente, desvendando-a e possuindo-a num
enlace e súbita iluminação, total. Na sua história, mas nela
carnalmente, dramaticamente, por cada vida dum desses homens
15
Nesse aspecto, pode-se considerar como propiciador do declínio da vitalidade e da
potência criadora de um homem qualquer tipo de discurso que conceda demasiada
importância para o sentimento de nostalgia, da saudade, como, por exemplo, a poesia
que porventura verse efetivamente sobre esse estado de ânimo, enfatizando as dolorosas
recordações do homem saudoso, o qual, incapaz de se desvencilhar das suas
lembranças, não consegue desenvolver ações valorosas e criativas no momento
presente.
33
e todos juntos e unidamente, então rebentando o que surge como
o possível concedido à força humana.
Será essa exigência última, a um tempo existencial e cognitiva,
porque sempre do saber como vivência, o impossível sendo a
dimensão da tensão que se põe no arco para o desfecho da seta –
, o que informa a história pátria: como existência terrestre dum
ser coletivo.
Um caminhante em passagem aqui sobre a terra, ser finito e em
trânsito, mas que para ela, sobre ela, trouxe uma medida do céu,
como medida sem medida – a que humanamente se chama o
impossível.
(COSTA; GOMES, 1976, p. 97)
Para Friedrich Nietzsche (2003), a arte que não está comprometida com a
afirmação da vida, com o aumento de potência criadora de ação, é extremamente
prejudicial para o homem, pois somente serve de instrumento para o declínio das suas
forças vitais. Há que se pensar, também, na criação artística que se utiliza da lembrança,
da nostalgia do passado, como impulso para o presente e para a atividade. Essa
peculiaridade, na interpretação nietzschiana, se serve da recordação saudosa como meio
de desenvolvimento de sua própria força produtiva, favorecendo a continuidade da vida,
da criatividade. Nessa concepção, compreende-se que o passado foi deveras marcante,
mas, se compreende também, que ele deve ser superado, posto que a vida é uma
constante transformação de forças.
Que os grandes momentos na luta dos indivíduos formem uma
corrente, que como uma cadeia de montanhas liguem a espécie
humana através dos milênios, que, para mim, o fato de o ápice de um
momento já há muito passado ainda esteja vivo, claro e grandioso –
este é o pensamento fundamental da crença em uma humanidade,
pensamento que se expressa pela exigência de uma história
monumental.
(NIETZSCHE, 2003, p. 19)
De acordo com a interpretação de Nietzsche, o gênero da História Monumental
expressaria o anseio, por parte dos membros de uma determinada sociedade, de se
conceder uma aura de mitificação aos feitos passados realizados por meio das obras dos
34
homens criativos e valorosos, enfatizando, sobretudo, os caracteres que os seus
antepassados produziram de grandioso, extraordinário e glorioso, que possam servir de
inspiração para a tentativa de se repetir os mesmos feitos posteriormente, no decorrer
das novas gerações. Desta maneira, portanto, “uma coisa irá viver, o monograma de
sua essência mais íntima, uma obra, um feito, uma rara iluminação, uma criação: ela
viverá porque a posteridade não poderá prescindir dela” (NIETZSCHE, 2003, p. 20).
No contexto português, as promessas não realizadas do Império – o passado
heroico e o futuro desejado – tornam-se elementos-chave para a explicação de uma
existência carente e uma fraqueza nacional. Além disso, Eduardo Lourenço ressalta que
a saudade revela o sentimento de fragilidade nacional, que se converte num dom, numa
espécie de ―providência divina‖, fazendo de Portugal ―expressão da vontade de Deus‖ e
configurando sua existência mìtica, de predestinação messiânica, como ―povo eleito‖ de
―barões assinalados‖, como cantou Camões16.
É o que leva Eduardo Lourenço a dizer que:
[...] a nossa razão de ser, a raiz de toda a esperança, era termos sido.
E dessa ex-vida são Os Lusíadas a prova de fogo. O viver nacional
que fora quase sempre viver sobressaltado, inquieto, mas confiado e
confiante na sua estrela, fiando a sua teia da força do presente,
orienta-se nessa época para um futuro de antemão utópico pela
mediação primordial, obsessiva do passado. Descontentes com o
presente, mortos como existência nacional imediata, nós começamos
a sonhar simultaneamente o futuro e o passado.
(LOURENÇO, 2007, p. 22, itálicos do autor)
Tal projeção do passado no futuro é recorrente no imaginário português,
refletindo, principalmente, na constante ressignificação dos mitos fundadores, como a
crença no ―destino imperial‖, além de toda a esperança em torno da mitologia do Quinto
16
Vale ressaltar que essa perspectiva não está presente nos textos que compõem o corpus escolhido para a
Tese, mas integra, certamente, um paradigma da cultura portuguesa.
35
Império e do ―Desejado‖, além, também, do ―Milagre de Ourique‖.17 A ideia de ―povo
eleito‖ seria confirmada através do papel desempenhado por Portugal nos séculos XV e
XVI, no período das navegações: o de descobridor de novas terras e de novos céus,
desempenhando papel fundamental na formação da identidade nacional, resultando, daí,
a crença num ―destino nacional‖.
Para Dalila Pereira da Costa:
Quando Portugal iniciar este trabalho de exegese simbólica de sua
cultura, descendo ao mais fundo da sua alma, desvendando e
possuindo seus arquétipos, como suas forças criadoras, as mais
interiores, primevas e irredutivelmente nacionais, ele possuirá desde
então também sua capacidade de se abrir ao mais exterior, actual e
universal. Exterior e interior, passado e futuro, fazendo parte desde
então para ele de uma unidade indivisa. [...]
Será esse o segundo ciclo da Descoberta, agora proposto, a si aberto,
como descida, entrada e desvendamento do Mar Tenebroso. Agora,
tudo se fazendo na interioridade, os monstros a vencer estarão na sua
alma, ‗num mar sem tempo nem espaço‘: não mais projectados num
mar exterior.[...]
(COSTA, 1989, p. 287-288)
É a constante reelaboração dos mitos que os faz permanecerem no imaginário
português, assumindo diferentes roupagens de acordo com condicionamentos históricopolítico-culturais. A língua e a literatura, principalmente, revisitam certas figuras que,
sendo históricas, transcendem a própria historicidade, retornando na Literatura já como
parte da própria identidade cultural portuguesa. Quanto a isso, merece atenção a
seguinte reflexão de António Quadros:
O homem português, ou melhor, o arquétipo do homem português é o
que emerge e se revela em determinados períodos históricos
favoráveis, mas é também o que se oculta ou é ocultado, o que se
reduz a uma vida estagnada e recalcada, nos períodos em que se
desfaz a sua païdeia. Uma païdeia, ao modo grego, é a solidariedade e
a univocidade entre a estrutura cultural e o sistema educativo de um
povo, ambos se ordenando a um telos ou a um fim superior, que todos
então sentem como seu, pelo qual vivem, lutam e se sacrificam se
necessário for. Sem a restauração de uma païdeia essencialmente
portuguesa, não deixado de ser universal, será difícil, se não for
17
Para estudo mais aprofundado das fontes históricas, recomenda-se a leitura de SILVA (2010),
ADRIÃO (2002), DUARTE (2004) e QUADROS (1988; 1999).
36
impossível, que o homem português se reencontre, numa reinvenção
que ou começa pelas elites, pelas classes letradas, ou nunca mais será
possível. Sem uma païdeia portuguesa renovada jamais poderemos ter
uma pátria portuguesa dinâmica, criadora de valores, voltada para o
futuro a partir das suas raízes de das suas linhas genéticas
fundamentais, sem as quais a nossa identidade se perderia num
progressismo vazio e superficial.
(QUADROS, 1999, p. 61)
Não se pode descurar o fato que é pelo imaginário – esse museu de imagens – que
se atinge não só a mente de um povo, mas também o seu coração, os medos e as
esperanças. Trata-se, em suma, de um processo de definição da própria identidade
nacional. No caso específico de Portugal, inscrever, no texto literário, figuras como
Viriato, Afonso Henriques, D. Sebastião, Isabel de Aragão e Inês de Castro, só para
citar alguns, é uma forma de escrever o ser português. Assim, pela fecundação de
figuras míticas, Portugal revê seu passado, faz o presente, projeta o futuro, procura
escrever seu destino.
É o que leva Eduardo Lourenço a concluir que:
o imaginário e a sua função na arquitectura global do que
chamamos o nosso destino, não se situa no simples
prolongamento do real, como sublimação dele ou compensação
da sua ausência. Se o nosso rei Sebastião faz realmente parte do
imaginário português, como Joana d'Arc do francês, não é como
figura da perda ou do sacrifício que num dado momento foram
derrota ou martírio históricos, mas como figuras que
transfiguraram já no mero plano histórico esse real, e, mais
importante do que isso, condicionaram na sua ordem as
manifestações decisivas dessa realidade, impondo-lhe uma
necessidade e uma energia que nada têm que ver com a da lei
que rege os fenómenos ou a energia que os suscita. É esse tipo
de realidade que, literalmente, se define por não ser real, que
constitui o campo do imaginário.
(LOURENÇO, 1999b, p. 14)
A partir de tal perspectiva, Eduardo Lourenço pensa Portugal como uma nação
que se volta à sua História no sentido de buscar um sustento ontológico, capaz de
suportar esse desconhecimento. Pela literatura reescreve-se a história, inventa-se a
37
pátria. Assim, o povo busca no passado – talvez bastante distante – uma segurança,
uma estabilidade simbólica. E esse passado português, visto pelos próprios
portugueses, chega a ser mítico. Por isso, há que se pensar à luz do que diz Lima de
Freitas, quando afirma que: ―Cada poeta, cada nação, cada modo de sentir terá de
traduzir o mito sem tempo para a inteligência do seu tempo. Sob pena de perder a
identidade de nação e de perder o sentido‖ (FREITAS, 2006, p. 91).
Nesse contexto, portanto, é que diversos autores aventuraram-se no espaço
denso dos símbolos e dos mitos nacionais. Poetas, romancistas e dramaturgos que,
pelas vias da memória, buscavam as mais profundas raízes dum lusitanismo
intimista, que do passado fizeram emergir vultos heroicos, e pelo sentimento saudoso
– ou, mesmo fatalista – quiseram fazer renascer a energia e a alma da nação. Vê-se,
assim, que a produção literária portuguesa vai, a cada época e em diversos estilos
literários, afirmando seus próprios mitos – ou, para dizer como Lima de Freitas, mais
exatamente – a forma portuguesa de perceber, de interpretar os mitos.
38
1.2. Mitocrítica portuguesa: na crise finissecular, o reflorescer de mitos
No silêncio, nascem em nós sentidos: os sentidos prà vida do
mistério...
(PATRÍCIO, 1995, p. 118)
O estudo do imaginário, para Gilbert Durand, se constitui em uma apreciação
arquetípica da imaginação criadora. Em suas reflexões, destaca que o homem é dotado
de uma potencial faculdade simbolizadora no meio sócio-cultural. Pensando na
possibilidade de interpretação desses símbolos e das imagens que se configuram no
inconsciente coletivo18 – as projeções inconscientes dos arquétipos em interação com as
solicitações do meio –, o antropólogo do imaginário propôs uma classificação
taxionômica das imagens do sistema antropológico, propondo-se, por exemplo, a
diferenciar arquétipo, símbolo, signo e, por fim, mito.
Para Durand, o arquétipo possui um caráter universal e nunca poderá ser
ambivalente; quanto ao símbolo, este possui uma polivalência que, perdida, pode
transformá-lo num simples sinal arbitrário, conforme Durand elucida, ao dizer que:
enquanto o arquétipo está no caminho da idéia e da substantificação,o
símbolo está simplesmente no caminho do substantivo, do nome, e
mesmo algumas vezes do nome próprio. [...] Enquanto o schème
ascencional e o arquétipo do céu permanecem imutáveis, o
simbolismo que os demarca transforma-se de escada em flecha
voadora, em avião supersônico ou em campeão de salto. Pode-se
mesmo dizer que perdendo polivalência, despojando-se, o símbolo
tende a tornar-se um simples signo, tendo a emigrar do semantismo
para o semiologismo: o arquétipo da roda dá o simbolismo da cruz
que, ele próprio, se transforma no simples sinal da cruz utilizado na
adição e na multiplicação, simples sigla ou simples algoritmo perdido
entre os signos arbitrários dos alfabetos.
(DURAND, 2002, p. 62)
18
Jung (1991) propõe a existência de uma camada profunda do psiquismo, o
inconsciente coletivo. Com isto, desenvolve o conceito de arquétipos (estruturas das
imagens primordiais da fantasia inconsciente coletiva), evidenciando elementos
estruturais da psique inconsciente formadores de mitos.
39
No que se refere ao mito, Gilbert Durand, diz que este, como um sistema
dinâmico (de símbolos, arquétipos e schèmes19) ―já é um esboço de racionalização, dado
que utiliza o fio do discurso, no qual os símbolos se resolvem em palavras e os
arquétipos em ideias. O mito explicita um schème ou um grupo de schèmes‖
(DURAND, 2002, p. 63), sendo, portanto um arranjamento de símbolos e arquétipos
que se apresenta através de mitemas – uma narrativa puramente ficcional, envolvendo
pessoas, ações ou eventos super-naturais e incorporando ideias populares referentes a
um fenômeno natural ou histórico. Durand percebe que há certos mitos diretivos que se
manifestam através da redundância, como os mitemas obsessivos, repetindo-se
recorrentemente, através da organização dos símbolos. Assim, dirá este antropólogo do
imaginário que, em todas as épocas e em todas as sociedades, existem mitos que
orientam e modelam a vida dos homens.
Assim, os mitemas que constituem a narrativa mítica permitem a análise
sincrônica, enquanto leitmotiv da narrativa, tornando-se mais significativos – pois
tendem a se intensificar, a se precisar – na medida em que se repetem. De acordo com a
visão de Durand, portanto, um mitema pode ser um motivo, um emblema, um objeto,
um cenário mítico ou uma situação dramática, apenas para citar alguns exemplos.
Visando à identificação dos mitemas e do mito diretivo do ―texto cultural‖, Gilbert
Durand estabelece três momentos, dos quais o primeiro caracteriza-se pelo
levantamento dos ―elementos‖ que se repetem de forma obsessiva e significativa na
narrativa, constituintes das sincronias míticas da obra; propõe, em seguida, um exame
do contexto em que aparecem, além da combinatória das situações, as personagens, os
cenários, etc; e, por fim, pensa a apreensão das diferentes lições do mito e das
19
O schème é, de acordo com Durand ―a generalização dinâmica e afetiva da imagem‖
(2002, p.60).
40
correlações da mensagem de um determinado mito com as de outros mitos de uma
época ou um espaço cultural determinados.
Ao longo dos seus estudos, sistematizando uma classificação dinâmica e estrutural
das imagens, Gilbert Durand propôs uma teoria que se preocupasse com as estruturas
antropológicas do imaginário, ou seja, que tivesse como interesse as configurações de
imagens simbólicas, a partir de símbolos universais – os arquétipos. Sua metodologia
pauta-se no ―método crìtico do mito‖ (DURAND, 1996, p. 159) – a mitodologia ou a
manifestação discursiva do imaginário – que supõe duas formas de análise: a mitocrítica
e a mitanálise. Conforme destaca o próprio Durand:
Assim, a descrição, a classificação e o estudo daquilo a que chamei o
aparelho mítico pode constituir um auxílio precioso para o
antropólogo na detecção de ideologias, de Weltanschauungen, de
terminologias de uma sociedade e de uma época, aquilo que designei
de mitanálise quando se trata de antropologia e de mitocrítica quando
se trata de textos literários.
(DURAND, 1996, p. 116)
A mitocrítica, portanto, refere-se a um método de crítica de discurso que centra o
processo de compreensão no relato de caráter mítico para significar o emprego de um
método de crítica literária, de crítica do discurso. Percebe-se, por exemplo, a
proximidade entre o discurso literário e o ―texto cultural‖ do mito, destacando suas
metáforas obsessivas e interpretando-as mediante o mito pessoal do autor. A mitanálise,
por sua vez, é um método de análise científica dos mitos diretores, patentes e latentes,
configurados nos fenômenos socioculturais. Trata-se, pois, do desvelamento dos
movimentos míticos nas sociedades, considerando o contexto social, buscando pensar
os mitos diretivos de uma dada sociedade, em um período de tempo.
41
Numa perspectiva mitocrítica, tal como postula Gilbert Durand, é possível uma
crítica do discurso do texto da Literatura Portuguesa finissecular20, que se configura
como espaço de reinvenção de um passado coletivo, cujas utopias e traumas têm
povoado abundantemente a cultura portuguesa desde as origens da nacionalidade.
Frutos de contextos históricos e da fermentação das mentalidades, os traumas, os mitos
e as utopias são elementos estruturantes do imaginário português que permitam
compreender melhor e mais profundamente muitos elementos da história política e
cultural portuguesa.
O contexto histórico do Portugal de fim-de-século foi marcado por uma
profunda crise do pensamento, sobretudo pelo desalento, ao perceber que, mesmo com
os avanços científicos, não melhorou diante do choque de uma sociedade que
experimentava um intenso progresso técnico e científico, ainda que numa escala mais
reduzida, e que se beneficiava da inauguração da estrada de ferro que ligava Coimbra a
Paris – acelerando o trânsito de livros e ideias entre Portugal e França –, o que propiciou
o florescimento de uma literatura decadentista, dando ao final do século XIX o senso de
decadência21.
A propósito do clima finessecular português, Maria de Lourdes Belchior aponta
que ―São anos de encruzilhada, de confusão e de naufrágio os anos de 1890 a 19101915. A literatura denuncia e revela as situações, os problemas e as angústias daqueles
20
Contexto no qual, como será abordado mais profundamente no Capítulo 2, insere-se a obra de António
Patrício.
21
Há que se destacar que, no contexto cultural português, entende-se o sentido de
decadência como ―o de categoria de análise histórico-cultural, de estádio moral, social,
polìtico, que serve para definir a trajectória de uma nação e de uma cultura‖ (PIRES,
1980, p. 29), conforme destaca António Machado Pires n‘A Ideia da Decadência na
Geração 70. Assim, no caso específico português, uma trajetória de retrogradação no
sentido que Richard Gilman lhe confere, ao dizer que ―centrally, and beyond moral
categories, decadence has been thought of as a type of regression, a falling away from
others in their advance toward the future‖ (GILMAN, 1979, p. 159).
42
anos de viragem do século XIX para o século XX‖ (BELCHIOR, 1980, p. 121). A
discussão da fragilidade orgânica de Portugal foi denunciada e contestada, marcada pelo
cenário de um definhamento rácico que conduzia a nação a um sentimento de catástrofe
irreversível.
A essa altura, a juventude – descrente da ideologia monárquica – aderia cada vez
mais aos ideais republicanos e socialistas. Além disso, todo o descontentamento
cristalizava-se, também, num profundo anticlericalismo. O desencanto generalizava-se
frente às possibilidades de contato, cada vez mais intensas, com o resto da Europa, que
permitiam uma comparação, num agudo olhar, entre a realidade nacional e o que se passava
além de Portugal.
É a partir de tal perspectiva que se pensa – diante de um panorama específico da
Literatura Portuguesa de finais do século XIX e nas décadas iniciais do século XX – a
presença sempre persistente de heróis e mitos nacionais. É importante ressaltar que se
trata do período de transição, de acordo com os estudos de Sérgio Franclim (2009) entre
o 3º Ciclo Iniciático de Portugal (1640-1890) e o 4º Ciclo (1890-2140?). Da descida aos
infernos à ascensão, destacam-se dois fatos marcantes que feriram duramente a alma
portuguesa: as invasões francesas e o Ultimato inglês, que deu início à destruição da
monarquia, incapaz de se manter independente face ao estrangeiro22.
Ressalte-se, porém, que a recuperação da pátria, à época de Almeida Garrett e
Alexandre Herculano, por exemplo, já era um tema que se impunha pela sua
importância. A partir deles é que as gerações seguintes retomariam a consciência de
nação decadente e, em reação aos acontecimentos históricos do seu tempo, apenas
tornariam mais intensa a dolorosa diferença entre passado e presente nacionais. Garrett,
22
O que está em jogo é o poder estrangeiro sobre o des-poder de Portugal para manter-se na África, já
retalhada pela colonização europeia.
43
num texto intitulado Portugal na balança da Europa, sintomaticamente já apontava que
―Somos chegados a uma grande crise da Europa, de todo o mundo civilizado; crise que
ha tantos annos se prepara, que tantos symptomas annunciavam proxima‖ (GARRETT,
1867, p. 17) para, então, concluir que:
Praza a Deus que todos, de um impulso, de um accôrdo, de simultaneo
e unido esfôrço todos os Portuguezes, sacrificadas opiniões,
esquecidos odios, perdoadas injúrias, ponhamos peito e mettamos
hombros á difícil mas não impossivel tarefa de salvar, de reconstituir a
nossa perdida e desconjunctada pátria, de re-equilibrar emfim Portugal
na balança da Europa.23
(GARRETT, 1866, p. 322)
Em Portugal, desde os românticos, portanto, até a geração finissecular, os heróis
nacionais são alvo de reinvestimento mítico com intuitos patrióticos. O texto literário
passa a refletir, assim, uma atividade transfiguradora do passado, levando Eduardo
Lourenço a concluir que:
O fim do século XIX, por reacção ao criticismo devastador e
impotente da década de 70, mas também como resposta à agressão do
monstro civilizado (Inglaterra), verá eclodir a mais nefasta flor do
amor pátrio, a do misticismo nacionalista, fuga estelar a um encontro
com a nossa autêntica realidade, mas, ao mesmo tempo, expressão
profunda sob a sua forma invertida de uma carência absoluta que é
necessário compreender desse modo.
(LOURENÇO, 2007, p. 31)
Nos cruzamentos entre a memória histórica e a efabulação, o texto literário
configura-se, sobretudo, como o espaço de reinvenção de um passado coletivo, cujas
utopias e traumas têm marcado abundantemente a cultura portuguesa desde as origens
da nacionalidade. O mito, com a sua função ―simultaneamente […] explicativa,
unificadora e mobilizadora‖ (VIÇOSO, 2002, p. 125), assume-se como diretor do
destino histórico da nação, que se socorre justamente do mito perante um presente que
23
A grafia obedece à segunda edição da obra, que veio à luz em1866, conforme se pode conferir nas
Referências.
44
se afigura decadente, fugindo então ―da terra para a região aérea da poesia e dos mitos‖
(MARTINS, 1964, p. 360-361).
Como diz António Quadros, ―a mitogenia portuguesa contém uma energia
própria, transcende os eventos históricos, se é que não os provoca, estimula, alimenta‖
(QUADROS, 1989, p. 50). Os mitos assumem, portanto, a função de garantir a
segurança e a auto-estima nacionais, recuando ao seu passado para nele revisitar figuras
proeminentes e fatos gloriosos que novamente se prestem à reprodução de uma memória
nacional, contrastante com o estado de crise atual. Aliás, Claude Lévi-Strauss, a respeito
da mitificação de fatos históricos, diz que ―o caráter aberto da História está assegurado
pelas inumeráveis maneiras de compor e recompor as células mitológicas ou as células
explicativas que eram originariamente mitológicas‖ (LÉVI-STRAUSS, 1987, p. 60).
Assim, o caráter explicativo ou simbólico do mito, relacionado com uma dada cultura,
constitui-se na primeira tentativa de explicar a realidade, procurando interpretá-la sem a
necessidade de pautar-se em argumentos racionais para suportar essa interpretação. Os
acontecimentos históricos, portanto, podem transformar-se em mitos, na medida em que
adquirem uma determinada carga simbólica para uma dada cultura.
Da Geração de 70 à de 90, e chegando ao tempo de Orpheu, por exemplo,
avança-se por períodos de múltiplas tendências, que se entrecruzam e são
frequentemente coexistentes, seja no decadentismo-simbolismo ou num neoromantismo de pendor neo-garrettista ou vitalista, passando, ainda, pela progressiva
elaboração da vertente saudosista do neo-romantismo e o modernismo.
Herdeiros do positivismo de Comte, do idealismo de Hegel e do socialismo
utópico de Proudhon e Saint-Simon, a mesma Geração de 70 viria a constituir,
posteriormente – diante de todos os desânimos e frustrações que acabam por refletir
45
fracassos anteriores – os Vencidos da Vida (1887), que, no dizer de António Cândido
Franco:
são a geração de 70 apanhada no cruzamento da geração de 90. E, ante
ela, o Antero, o Eça e o Oliveira Martins sentem-se vencidos pela
vida; vencidos pelas ideias da geração do Sampaio Bruno e do
António Nobre e porque nunca conseguiram, no fundo, realizar aquilo
a que se tinham proposto nas Conferências do Casino.
(FRANCO, 2007, p. 122)
Há, certamente, que se discutir e ponderar sobre o que diz António Cândido
Franco. É nesse contexto de uma geração educada pelo pessimismo social – resultante,
sobretudo, da política constitucional finissecular – que a geração de 90 irá assistir ao
fracasso e à desistência de mentalidades como Antero de Quental e Oliveira Martins,
sofrendo, ainda, o malogro psicológico provocado pelo Ultimato, que já parecia predizer
a agonia da Pátria.
As reações desencadeadas por este evento revelam, emblematicamente, o clima
que então se vivia, como, por exemplo, a criação, no Porto, da Liga Patriótica do Norte,
cuja presidência foi confiada a Antero de Quental, além da Liga Liberal, em Lisboa;
destaque, também, para a publicação de Finis Patriae e Marcha do Ódio, de Guerra
Junqueiro; o aparecimento de A Portuguesa, canção de tom patriótico, com texto de
Henrique Lopes de Mendonça e música de Alfred Keil, utilizada desde cedo como
símbolo patriótico, mas também republicano. Como ressaltam António José Saraiva e
Óscar Lopes, ―com o Ultimato de 1890, a sensibilidade literária portuguesa foi
deflectida por um sentimento de catástrofe nacional‖ (SARAIVA; LOPES; 1997, p.
941).
Muitos intelectuais assumem, portanto, uma atitude derrotista e pessimista quanto
à maneira de encarar a realidade nacional. É o sentimento que, como diz Basílio Teles,
consiste ―em crer que a nação não tem futuro; que toda a esperança de uma
46
revivescência pátria deve ser abandonada; que, portanto, nada valem esforços, ideias,
planos, para salvar o que o destino condenou‖ (TELES, 1905, p. 220).
Todo este clima, inclusive, viria a se incluir noutro ainda mais vasto, o
descrédito na latinidade – o finis latinorum – de que os povos ibéricos se deixaram
invadir, convencidos da superioridade das raças e das culturas nórdicas. Vai assim
nascer e crescer o pessimismo nacional do fim do século XIX e início do XX.
Sentimento derrotista presente, por exemplo, em Alberto de Oliveira – a quem Costa
Dias chama o ―doutrinador da escolástica do pessimismo‖ (DIAS, 1964, p. 36) –, nas
suas Palavras Loucas, de 1894, em que ressoa todo o desencanto e pessimismo de uma
geração diante do destino nacional. Conforme escreve o autor: ―Na minha voz fala um
povo a morrer [...] pois se acaba o seu fim na história‖ (OLIVEIRA, 1894, p.2) e mais
adiante diz que ―Todos agonizamos em inércia desesperada e temos quase terror de vir a
ter filhos por não sabermos que destino lhes traçar na terra‖ (OLIVEIRA, 1894, p.5).
Antero de Quental, sensìvel à ―improcrastinável decadência‖ portuguesa, como
diz nas suas Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos Últimos Três Séculos
(QUENTAL, 2005, p. 8). Neste opúsculo, a segunda das Conferências do Casino,
proferida em 27 de Maio de 1871, fala da fatalidade da História de Portugal. Mais
recentemente, Eduardo Lourenço reafirmaria a importância desta obra de Antero ―para a
história da nossa autognose de que a ‗Conferência‘ é a primeira expressão mítica
estruturada, ainda hoje actuante‖ (LOURENÇO, 1991, p. 149); uma leitura da História
que «não é apenas objectivo e neutro instrumento de conhecimento do passado, mas
auto-consciência de um presente que lê nele a profecia do seu triunfo‖ (LOURENÇO,
1991, p. 149). Antero, nas Tendências Gerais da Filosofia na Segunda Metade do
Século XIX revela uma das linhas mestras do pensamento peninsular, ao observar que:
47
Será pois com segurança da mais bem fundada indução e na região
mais alta em que o processo indutivo pode ser empregado, que a
síntese do pensamento moderno partirá do conhecimento do espírito
para o conhecimento do verdadeiro ser dessa aparência fenomenal,
que a concepção científica apenas deixa ver seu lado exterior e
mecânico.
(QUENTAL, 1991, p. 96)
N‘As Farpas, Ramalho Ortigão, ao tecer críticas à decadência nacional,
reconhece na educação a aposta urgente que se impunha ―para a regeneração intelectual
e moral da raça nacional profundamente abatida, apática, enfraquecida, indiferente‖
(ORTIGÃO, 2007, p. 228), exortanto aos os jovens para que, no futuro, deixassem de
ser ―uma geração de inúteis, incapazes de trabalho, de perseverança, de ordem, de
economia‖ (ORTIGÃO, 2007, p. 228). Quanto a Oliveira Martins, num tom mais
pessimista, diz que:
chegámos todos á depressão da vontade, ao amesquinhamento do
caracter, e ao tedio morno da existencia passiva […] e assim como se
nos apagou a vontade, assim se nos entenebreceu a intelligencia, e se
perverteu o divino sentimento do bello […] Nunca o desapego à vida
foi maior.
(MARTINS, 1993, p. 65-66)
Eça de Queirós, ao discorrer a respeito de dois de seus confrades – Antero de
Quental e Ramalho Ortigão – traça uma breve biografia intelectual na qual alude à
Geração de 70.
Há quase doze anos apareceu, vinda parte de Coimbra, parte daqui,
parte de acolá, uma extraordinária geração, educada já fora do
catolicismo e do romantismo, ou tendo-se emancipado deles,
reclamando-se exclusivamente da Revolução e para a Revolução. Que
tem feito ela? […] Esta geração tem o aspecto de ter falhado.
(QUEIRÓS, 2000, p. 31).
O Portugal de Oitocentos é marcado por contingências que lhe abriram lacunas na
idealização do seu percurso histórico e do seu passado imperial. Dizer, entretanto, que
as Conferências do Casino fracassaram de todo, que nada se conseguiu realizar, soa um
tanto exagerado. É verdade que as ideias da Geração de 70 não se aplicam à situação de
48
Portugal em 1890, como bem observa Eduardo Lourenço ao dizer que Portugal dos fins
do século XIX e princípios do XX ―assistirá estupefato e incrédulo a uma operação de
magia poética incomparável destinada a subtraí-lo para sempre àquele complexo de
inferioridade que a Geração de 70 ilustra com tão negra e fulgurante verve‖
(LOURENÇO, 2007, p. 100). Para Lourenço, a grande marca da sociedade finissecular
é o sentimento de cansaço, de frustração, de desilusão.
É também desta postura face à vida que leva Oliveira Martins a escrever sobre o
mal do século que ―É o suicìdio, que nunca foi tão frequente. Nunca o desapego à vida
foi maior‖ (MARTINS, 1896, p. 96). E, também, Fialho de Almeida, ao dizer que ―A
vida é uma peça, e quem a acha má tem dois recursos: pateá-la, é o meu caso, ou ir-se
embora, o que é o caso dos suicidas. Suportar a farsa toda, lá porque a maioria gosta
dela, um disparate! [...] o suicìdio entrou de vez nos hábitos lisboetas‖ (ALMEIDA,
1935, p. 207-208). Basílio Teles comunga de semelhantes pontos de vista:
No programa da existência dos mais eminentes desses homems
vemos, com a mais sincera mágoa, a inspiração dum desespero que
chega já a formular-se em sistema filosófico. Uns suicidam-se; outros
sequestram--se em tebaidas, onde não possam ir afligi-los os surdos
rumores da catástrofe que se avizinha; alguns desinteressam-se
propositadamente das questões políticas e sociais, para se votarem a
trabalhos restritos e miúdos de erudição ou de ciência; [...] Estoicismo,
resignação honesta, epicurismo desbragado e odioso - eis o triplo
aspecto que revesje o convencimento comum de que estamos a assistir
ao Finis Patriae.
(TELES, 1905, p. 220-221)
Eduardo Lourenço chama essa atmosfera finissecular de ―natural ressaca de um
século de prodigiosas mutações‖, que contrastava com a ―crença universal do século, o
seu grande mito popular concretizado pela confiança nos poderes da Ciência e nos seus
efeitos para a melhoria material e moral da Humanidade‖ (LOURENÇO, 1992, p. 32).
Eduardo Lourenço evidencia, assim, o sentimento de desalento, a desistência que
49
caracterizaram uma geração que, antes tão ativa,
tão combativa, que tentava
revolucionar a sociedade no meio da qual foi criada, agora se sentia fracassada.
Eça de Queirós, em ―A decadência do riso‖ – ensaio publicado nas Notas
Contemporâneas –, sintomaticamente analisa o comportamento típico da sociedade
europeia, apontando o sentimento de decadência de seu tempo: ―Decerto, folheando os
nossos livros, cruzando as nossas multidões, vivendo o nosso viver, o bom Rabelais
diria que ―chorar é próprio do homem” – porque o largo e puro riso do seu tempo não o
encontraria em face alguma.‖ (QUEIRÓS, 2000, p. 164). Então, dirá mais adiante que
sobre as razões dessa decadência:
Eu penso que o riso acabou – porque a humanidade entristeceu – por
causa da sua imensa civilização. [...] Quanto mais uma sociedade é
culta – mais a sua face é triste. Foi a enorme civilização que nós
criamos nestes derradeiros oitenta anos, a civilização material, a
política, a económica, a social, a literária, a artística que matou o
nosso riso, como o desejo de reinar e os trabalhos sangrentos em que
se envolveu para o satisfazer mataram o sono de Lady MacBeth.
Tanto complicámos a nossa existência social, que a Acção, no meio
dela, pelo esforço prodigioso que reclama, se tornou uma dor grande: e tanto complicámos a nossa vida moral, para a fazer mais consciente,
que o pensamento, no meio dela, pela confusão em que se debate, se
tornou uma dor maior. O homem de acção e de pensamento, hoje, está
implacavelmente votado à melancolia.
(QUEIRÓS, 2000, p. 165)
Eça dirá, também, que ―a crise é a condição quase regular da Europa‖ (QUEIRÓS,
2000, p. 149) apontando para o fato de que o declínio da sociedade é comparável às
quatro estações da natureza, fenecendo no Inverno porque tal ―é a vida; é a ordem‖ e
que a ―marcha dolorosa‖ da decadência não é mais do que um duro Inverno;
de sorte que os males presentes, as crises, as misérias, não são mais
que o natural deperecimento de Dezembro na floresta humana, donde
surgirá uma mais viva, mais rica vegetação de liberdades e de noções
[…] E assim, aos tombos e aos socos, ora destroçado, ora reflorido, o
mundo avança irresistivelmente.
(QUEIRÓS, 2000, p. 151-152)
50
Num conto seu, significativamente intitulado ―A Catástrofe‖, Eça de Queirós
relata, na voz do narrador, a experiência do fim da pátria em virtude da invasão
estrangeira, apontando que a rendição portuguesa é o resultado de um estado de
avançada decadência nacional, tendo contribuído, para este estado, fatores diversos.
Será depois do Ultimato que muitos autores veriam nessa hora extrema –
simbolicamente a morte da Pátria – o esgotamento das forças da nação.
Em 1909, no texto dramático O Fim, António Patrício dramatiza o tema, glosando
o motivo da invasão estrangeira, em que alegoricamente lê-se o ―fim da Monarquia‖ ou,
mais apocalipticamente, o luto perpétuo de uma nação sempre ameaçada pela
possibilidade de extinção. Ao trazer em epígrafe24 um fragmento de Crepúsculo dos
Ídolos, de Nietzsche, Patrício dá ao seu texto dramático justamente a ideia – por meio
da tragédia de uma Rainha enlouquecida pelo sofrimento e que depois do Regicídio
vagueia pelo Palácio, rodeada apenas por dois aristocratas – do crepúsculo dos ídolos e
dos deuses. Oscilando entre a memória obsessiva dum passado heroico, que parece não
encontrar expressão na nova realidade, e um olhar ensombrado pelo presságio e pelo
medo, as personagens da peça exprimem a enorme solidão dos deslocados de qualquer
realidade. O texto dramático O Fim consubstancia a visão mística da queda da
monarquia, prevendo-se a sua iminente queda. Numa das passagens do texto, no Paço, à
espera do inevitável apocalipse, em ambiente de loucura coletiva, uma criada
sentenciou: ―É o dia do juìzo‖ (PATRÍCIO, 2010, p. 21). Um Desconhecido, que tinha
24
―L‘affirmation de la vie même dans ses problèmes les plus étranges et plus ardus; la
volonté de vivre se réjouissant de faire le sacrifice de ses types les plus élevés, au
bénéfice de son propre caractere inépuisable – c‘est ce que j'ai appelé dyonisien, c‘est
en cela que j‘ai cru reconnaître le fil conducteur que même à la psychologie du poète
tragique.‖ – ―A afirmação da vida, também nos seus problemas mais estranhos e mais
árduos; a vontade de viver, regozijando-se no sacrifício de seus tipos mais elevados, por
seu próprio caráter inesgotável – é o que chamei dionisíaco, é nisso que acreditei
reconhecer o fio condutor para a psicologia do poeta trágico (NIETZSCHE, 2006, 106)
51
assistido à catástrofe, dirigiu-se ao Paço e relatou o sucedido: ―Foi a Primavera trágica
de um povo que hibernava há séculos, marasmado. Mais vermelha talvez por ser a
última...‖ (PATRÍCIO, 2010, p. 23). O povo, certo do fim próximo, ao avistar as
esquadras estrangeiras levou farnéis para assistir ao evento. Na fala do Desconhecido:
―com uma certeza vaga de sonâmbulos, uma esperança de superstição puerilíssima,
espécie de sebastianismo tacteante...‖ (PATRÍCIO, 2010, p.23), que, com a entrada das
esquadras estrangeiras prosseguia no seu relato, assinalando que o sino da Basílica, que
saudara a chegada dos galeões das descobertas:
mudo há séculos como a Raça, despertou com uma voz de maldição,
rugindo, uivando, vingador, povoando a noite de avejões, fauna em
delírio, superstições da Índia, lendas mortas... Pouco a pouco, em cada
torre, nas centenas de igrejas que existiam, descendo as sete colinas da
cidade, os sinos iam acordando ao chamamento do avoengo
fulminador que da Basílica cortava o ar como um profeta em fúria...
[...]Dir-se-ia o Requiem de assombro por um povo, reboando em
versículos de vertigem de mil torres de granito, alucinadas!...
(PATRÍCIO, 2010, p. 24)
Com o toque dos sinos, homens e mulheres se armaram. O embate chegou e, com
o tiroteio frenético, ―membros de cadáveres voavam como num ciclone de asas
partidas!...‖ (PATRÍCIO, 2010, p. 25). O pânico toma conta da multidão, que foge
desenfreadamente. Mais uma vez toca o sino da Basílica e a multidão se deteve,
entregando-se voluntariamente ao sacrifício. O efeito foi tal que o inimigo, vendo que a
defesa se calara, sequer se atrevera ao desembarque, e a metralha proveniente das
esquadras durou horas, após o que procederam ao desembarque, abrindo uma rua entre
os incontáveis cadáveres. Numa figuração bastante simbólica, a Basílica se autodestrói,
causando temor nos invasores, que debandam ―desta terra de loucura‖, em cuja capital
―os mortos reinam‖. O Desconhecido acreditava ter chagado a hora de renascer das
cinzas: ―Agora... Morreu a capital: há mais país. Triunfar pela vida ou pela morte, mas
triunfar. Fomos iniciados‖ (PATRÍCIO, 2010, p. 26).
52
O Desconhecido concita o povo a lutar para evitar o ―suicìdio colectivo‖ e
contrapõe ―aos últimos dias de um povo‖ o heroìsmo desse povo levantado em armas
contra o invasor. Ao toque insistente dos sinos, a ―Raça‖ desperta numa vitória
conseguida sobre os escombros:
A AIA, com desespero.
Ouviu bem? Ouviu?... Isto é de endoidecer. De um lado uma
esperança absurda, do outro uma visão de manicómio... (Pondo-se em
frente dele) Não é evidente para si, não é evidente para que ainda
mesmo que se realizasse o impossível de evitar o desembarque das
esquadras, outras viriam, mais, até esmagar-nos?... Quem exige um
suicídio colectivo, um heroísmo monstruoso e inútil?
O DESCONHECIDO
A lógica da Raça. É inevitável.
(PATRÍCIO, 2010, p. 27)
Insistindo a falar com a Rainha-Mãe para que conseguisse o impossível, o
Desconhecido a vê indiferente ao Apocalipse que exterminara a capital do seu Reino,
preparando-se para um banquete ilusório, proferindo apenas ―Tenho fome‖. O
Desconhecido, então, que procurava fazer renascer a Nação, percebe não haver mais
nada a fazer. Era o fim da monarquia que já nem tinha alento para lutar pela sua própria
sobrevivência, resignando-se à queda inevitável.
Desta maneira, tanto o conto de Eça de Queirós quanto a peça de António
Patrício, para além da ideia de fim da pátria, registram uma aguda crítica às causas da
decadência nacional, de que, dentre todas elas – políticas, econômicas, diplomáticas e
culturais –, talvez a mais contundente e que mais foi um contributo para o contágio do
mal-estar coletivo, tenha sido a decadência moral. Alfredo da Cunha e Trindade Coelho,
por exemplo, ao assinarem a ―Apresentação‖ do primeiro número da Revista Nova, após
lembrarem que se vive justamente num período de crise moral, intelectual, econômica e
mental, afirmam a necessidade de se reagir contra a onda de estrangeirismo, e afirmam
que ―nenhum outro perìodo da nossa história literária poderia servir-nos de melhor
53
modelo do que aquele em que um Frei Luis de Sousa bordava e rendava a palavra‖
(CUNHA; COELHO, 1893, p. 1).
Novamente Eça, num artigo intitulado ―Positivismo e Idealismo‖, publicado em
1893, aponta que o Positivismo de Augusto Comte, que tanta escola fez em Portugal,
tornava-se saturado, gerando, inclusive, um sentimento de revolta, conforme explica:
Quais são as causas, quais as consequências desta revolta? A causa é
patente, está toda no modo brutal e rigoroso com que o positivismo
científico tratou a imaginação, que é uma tão inseparável e legítima
companheira do homem como a razão. O homem desde todos os
tempos tem tido (se me permitem renovar esta alegoria neo-platónica)
duas esposas, a razão e a imaginação, que são ambas ciumentas e
exigentes, o arrastam cada uma com lutas por vezes trágicas e por
vezes cómicas, para o seu leito particular - mas entre as quais ele até
agora viveu, ora cedendo a uma, ora cedendo a outra, sem as poder
dispensar, e encontrando nesta coabitação bigâmica alguma felicidade
e paz. Assim Arquimedes tinha por emblemas na sua porta um
compasso e uma lira. O positivismo científico, porém, considerou a
imaginação como uma concubina comprometedora, de que urgia
separar o homem; e, apenas se apossou dela, expulsou duramente a
pobre e gentil imaginação, fechou o homem num laboratório a sós
com a sua esposa clara e fria, a razão. O resultado foi que o homem
recomeçou a aborrecer-se monumentalmente e a suspirar por aquela
outra companheira tão alegre, tão inventiva, tão cheia de graça e de
luminosos ímpetos, que de longe lhe acenava ainda, lhe apontava para
os céus da poesja e da metafísica, onde ambos tinham tentado voos tão
deslumbrantes.
(QUEIRÓS, 2000, p. 264-265)
A decadência da pátria desgastou toda uma geração que, porém, antevia, na
mocidade a esperança, depositando uma forte esperança em Portugal, como no final d‘A
Catástrofe, em que as famílias portuguesas praticam em segredo o culto da pátria, e
cujo amor se manterá aceso nos seus filhos; também no desfecho de Finis Patriae e de
Pátria, ambos de Guerra Junqueiro, apontando a confiança de que é dessa mocidade que
depende a regeneração nacional; na ―Autópsia Final‖, Gomes Leal escreve:
Melhorai os vossos corpos e os vossos espìritos […] Sede naturais e
sinceros. Deixai cair as máscaras. Buscai o aplauso de vós mesmos, no
trabalho, na oficina, ou no gabinete […] Mas o que é essencial é que
torneis – moralmente – vossos filhos melhores que vós!... Equilibraios física e moralmente, formai-lhes bons músculos e bom coração.
(LEAL, 1899, p. 396-398)
54
O que acontece, afinal, é que se a Geração de 70 – com escritores como Eça,
Antero e Oliveira Martins – nasceu sob o signo de um humanismo realista e crítico, os
artistas que os sucederam, já no cenário de crise finissecular – dos quais se destacam
Eugénio de Castro, Raul Brandão, António Nobre e Alberto de Oliveira – nasceu sob o
signo dum idealismo subjetivista. Coube ao primeiro grupo, portanto, as expressões dos
ideais e problemas de seu tempo, procurando funcionar, pelas expressões das letras,
como uma pedagogia social; ao segundo, coube obliterar a noção de tempo,
privilegiando a expressão de uma arte atemporal, marcada por certa efervescência
mítica.
Nesse período de fermentação das imagens míticas do imaginário português, a
literatura de fim-de-século estabelece com o campo histórico, pelas vias do simbólico,
reflexos do desejo de o escritor repensar esteticamente o ser português, para tentar
encontrar o seu lugar no mundo. No contexto político e social, Portugal encontrava-se
profundamente marcado pela instabilidade, fazendo emergir uma forte atmosfera de
pessimismo e desalento. A escrita literária revela um renascido patriotismo, reerguendo
vultos históricos como figuras mitificadas e, também, exemplares de um povo letárgico.
Como ressalta José Mattoso, ―a sobreposição da História e do mito agravou o
sentimento de ‗decadência‘ nacional, mas o seu carácter heróico constitui um forte
apoio para fortalecer os sentimentos patrióticos, e consequentemente a consciência de
identidade nacional‖ (MATTOSO, 2008, p. 103-104).
As figuras mitificadas resgatam um passado saudoso e glorioso, ou extremamente
trágico, retomando, assim, um fato histórico de importância moral e afetiva para a
nação, que busca no passado uma forma de reviver as imagens que guardam a
identidade da cultura nacional. É por isso que se pode afirmar que ―determinadas
55
realidades humanas que sentimos ou pressentimos como fundamentais estão fora do
alcance da crítica. O mito exprime essas realidades, na medida em que nosso instinto o
exige‖ (ROUGEMONT, 1988, p. 20).
As décadas finais do século XIX são fortemente marcadas pelo Simbolismo
francês, o que provocará uma viragem decisiva nas concepções estéticas e estilísticas
que até então vigoravam. Quanto a isso, em artigo publicado em A Águia, Jaime
Cortesão sustentava:
O materialismo e o positivismo, que durante tanto tempo reinaram no
mundo das ideias, tentando secar as fontes eternas do sentimento, já lá
vão... Para substituir os dogmas antigos, tinham os sábios criado
dogmas tanto, ou mais antipáticos e esterilizantes que aqueles. A
corrente predominante no pensamento moderno é a do idealismo, da
livre metafísica e a duma vasta e individualizada religiosidade.
Antero, o divino Antero, previu-a e anunciou-a. Pois bem aí estão os
Poetas portugueses a dar-lhe razão e à frente desse profundo
movimento, que já abraça todo o mundo.
(CORTESÃO, 1988, p. 276)
Veiga Simões n‘A Nova Geração aponta para os rumos da nova literatura
portuguesa, mostrando os esforços da cultura nacional e europeia, no sentido de trilhar
novos caminhos, alguns deles de inspiração do pensamento de Friedrich Nietzsche e de
Arthur Schopenhauer, nomeadamente as correntes simbolistas:
É nesta contínua efervescência de novos remédios, de salutares
remédios, que vemos, ora o anarquismo dominando objectivamente na
literatura, [...], ora o completo refugio em si mesmo, ora vistas e
aspectos inteiramente novos, com as bizarras criações dos simbolistas
e estetas franceses, entroncadas em Nietzsche e Schopenhauer...
(SIMÕES, 1911, p. 103)
Então, se referindo ao idealismo contemporâneo enquanto reação ao realismo,
escreve:
A reacção começada na literatura corria paralelamente à reacção
filosófica. E o subjectivismo de Nietzsche, desconcertando o seu
tempo, levantando protestos da filosofia oficial e da literatura oficial,
é a ponte de passagem do realismo caído para o idealismo
contemporâneo.[...] ainda perto do realismo, e com tendências mais
próximas do realismo que do movimento idealista, Nietzsche,
56
circunscrevendo-se na existência imediata do homem, lançou as bases
do seu subjectivismo que veio a dominar alguns dos seus maiores
artistas, D'Annunzio à frente.
(SIMÕES, 1911, p. 215-216)
As produções literárias dos escritores portugueses do século XIX e da transição
para o século XX ultrapassam, portanto, a fronteira demarcada pelas correntes e
estéticas literárias, para vez ou outra revisitarem o tema da decadência nacional, e, a
partir daí, formular e reformular ideias e teorias. Assim, parece bem verdadeiro o que
diz Joaquim Manso, ao afirmar que ―cada civilização se organiza em torno de certas
presenças que nos acompanham, suscitadas pelas nossas febris interrogações‖ (MANSO,
1936, p. 22). As figuras históricas, portanto, que à categoria de mitos ascenderam –
sendo-lhes anuladas as referências espaço-temporais –, alcançam uma dimensão
universal em sua capacidade de dizer.
É neste contexto que se pode pensar a produção literária de António Patrício, que,
apesar de sempre ter rejeitado integrar qualquer grupo ou movimento literário, escreveu,
enquanto dramaturgo, os textos mais significativos da literatura teatral de tendência
simbolista em Portugal. Numa hermenêutica ancorada na mitocrítica, permite-se
entender que há, sobretudo, nos três textos dramáticos de António Patrício a vocação
nostálgica do impossível, para dizer de acordo com Gilbert Durand, ao afirmar que:
toda a narrativa […] possui um estreito parentesco com o sermo
mythicus, o mito […] porque uma obra, um autor, uma época […] está
obcecada de forma explícita ou implícita por um (ou mais do que um)
mito que dá conta de modo paradigmático das suas aspirações, dos
seus desejos, dos seus receios, dos seus temores.
(DURAND, 1996, p. 246)
Através da mitocrítica, Durand centra o processo compreensivo no relato mítico
inerente à significação do relato, dirigindo-se para o descobrimento do mito pessoal do
autor, de seu fantasma dominante. Com isso, crê que as grandes obras não falam de um
57
homem e de sua vida, mas do homem em sua universalidade, atravessando, portanto,
barreiras de ordem vária, como as culturais, as históricas e as sociais.
O que há é um número limitado de mitos que definem as mitologias das grandes
civilizações. Aplicando o método de crítica literária aos textos dramáticos de António
Patrício, observa-se que o escritor português centra o processo compreensivo no relato
mítico inerente à significação do relato histórico. Ou seja, o que António Patrício faz é
dar voz a personagens que saltam da História e atingem a dimensão de mitos
paradigmáticos, pois, como Durand (1996, p. 234) mesmo diz, todo personagem
histórico tem bases míticas e todo texto contém, de forma subjacente, um mito.
58
2. António Patrício: escrita e experiência literária
Numa perspectiva mitocrítica, o que se observa no campo da literatura dramática
produzida entre os fins de oitocentos e o primeiro quartel de novecentos é a grande voga
– a par do drama naturalista e da comédia de atualidade – de um teatro histórico de
recorte romântico e de pendor nacionalista. Em muitos dos textos, percebe-se uma
tendência pedagógica fundamentada, sobretudo, no sentimento de crise nacional e na
urgência de socorrer a pátria doente, seja numa linha tradicionalista e saudosa do
passado – como são exemplares os textos de Henrique Lopes de Mendonça e Marcelino
Mesquita –, seja numa linha revolucionária, projetada para o futuro – como, por
exemplo, acontece em António Patrício.
Conforme destaca Túlio R. Ferro, ―Influenciados pelos simbolistas e decadentistas
franceses, é sob o signo duma modernidade irreverente, intencionalmente extravagante e
aristocratizante, que os jovens letrados portugueses de 1890 vão tentar impor uma nova
estética‖ (FERRO, s/d, p. 103). Os simbolistas portugueses vivenciam um momento
múltiplo e vário, de intensa agitação social, política, cultural e artística. Será com o
episódio do Ultimato inglês que se aceleram as manifestações nacionalistas e
republicanas, que culminarão com a proclamação da República, em 1910. Os principais
autores desse estilo em Portugal seguem, portanto, linhas diversas, que vão do
esteticismo de Eugênio de Castro ao nacionalismo de Antônio Nobre.
Assim, tomando a publicação de Oaristos (1890), de Eugênio de Castro, como o
marco inicial do simbolismo em Portugal, ou, ainda, 1889, ano do primeiro número da
Boémia Nova e Os Insubmissos, revistas de manifestações decadentistas-simbolistas;
considerando Palavras Loucas (1894), de Alberto de Oliveira, como paradigma neo-
59
garrettista25 e Terra Florida (1909), de João de Barros, como reação do neo-romantismo
vitalista26, além, nos últimos decênios do século, dos textos de índole panfletária de
Guerra Junqueiro ou de Gomes Leal, observa-se que, lançar olhar para a literatura
portuguesa finissecular traz importantes questões a respeito de periodização literária.
Há que se destacar que o Simbolismo não vem depois do Naturalismo, os dois
movimentos são, em vez disso, praticamente contemporâneos. Entre 1857, ano de
publicação de Madame Bovary e de Les Fleurs du Mal, e 1893, ano de finalização de
Les Rougon-Macquart e da estréia de Pelléas y Mélisande, tem-se um pouco mais de
trinta anos em que se encontram as obras de ambos os movimentos: obras de Flaubert,
Madame Bovary, Salammbô (1862), L’Éducation sentimentale (1869), La Tentation de
Saint Antoine (1874); de Zola, toda a série de Les Rougon-Maquart (1871-1892); de
Baudelaire, Les Fleurs du mal, Les Paradis artificiels (1861); de Mallarmé, Hérodiade
(1871), L’Après-midi d’un faune (1876), Vers et prose (1893), Un coup de dés (1897);
de Verlaine, La bonne chanson (1870), Romances sans paroles (1874); de Rimbaud
Une saison en enfer (1873), Les Illuminations (1886), por exemplo. Em outras palavras,
Germinal é publicado no mesmo ano da Prose pour des Esseintes, de Mallarmé, da
mesma maneira que suas Poésies coincidem com a publicação de La Terre, de Zola.
25
Também denominado neolusitanismo. Foi um movimento de retorno às fontes da lusitanidade e da
defesa da personalidade coletiva. No campo literário destacam-se os nomes de Teófilo Braga, Ramalho
Ortigão e Alberto de Oliveira. Este nacionalismo literário encontrou também forte expressão no âmbito da
pintura com Columbano e com Silva Porto; da arquitetura, com Raul Lino e, na música, com Antero da
Veiga. Todos pretendiam acordar a emoção da pátria através da imaginação popular e do misticismo.
26
Em linhas gerais, o neo-romantismo vitalista opõe-se às manifestações literárias
decadentistas de fim-de-século por sua filiação naturalista e de feição libertária,
assumindo atitude mental emancipalista que ―recusa a inquietação metafísica; deixa de
se angustiar perante o esvair do tempo, para cuidar de fruir com euforia a existência;
ignora o tédio exige aceitação originária da vida toda, enquanto dado irrecusável da
condição humana, da situação do Homem que se descobre apenas vivente; [...] encara
como dado natural que a vida se configure como luta, mas transforma esse dado em
atitude consciente e voluntária, dando-lhe a dimensão de acção transformadora do
mundo, sob o signo do optimismo‖ (PEREIRA, 2003, p. 211).
60
Neste sentido, estudar a obra de um autor – ou grupo de autores – é de grande
contributo para uma maior intelecção da complexidade de doutrinas estéticas que
atravessam as décadas finais do século XIX e os primeiros anos do século XX. Se ―o
sistema literário se manifesta como um polissistema, comportando, por conseguinte,
mais do que um policódigo literário‖ (AGUIAR E SILVA, 1983, p. 102), como afirma
Vítor Manuel de Aguiar e Silva, percebe-se, na literatura de fim-de-século em Portugal,
justamente, a reverberação de sistemas literários hegemônicos – ―estilos de época‖ –
mas cujas linhas de demarcação são tênues. José Carlos Seabra Pereira (1979) já aludia
ao fato de que uma obra pode, mais ou menos harmonicamente, articular aspectos que
penetram ou tangem diversas vertentes literárias.
É este o caso de António Patrício, em que tal questão coloca-se com particular
acuidade. Ao situá-lo no contexto finissecular, cabe ressaltar que seu primeiro texto
dramático – O Fim – data de 1909 e o último – D. João e a Máscara – de 1924, para se
verificar que os textos se desenvolvem numa época marcada por múltiplas tendências, o
que poderia fazer supor que António Patrício é um simbolista tardio ou simbolista
extemporâneo. Entretanto, seriam enquadramentos insuficientes para um escritor que,
como simbolista, foi, sobretudo, heterodoxo. Sua obra que se situa numa convergência do
Simbolismo e do Saudosismo, revela uma vivência ―expressa em permanente tensão
dionisíaca, de inspiração nietzschiana, na fronteira da morte a todo o instante apreendida‖,
no dizer de Jacinto Prado Coelho (1989, p. 802).
Tendo em vista, portanto, que uma obra literária nunca é autônoma em relação ao
contexto sociocultural em que é produzida – antes, guardando com ele estreitas relações,
– faz-se necessário um confronto com o teatro simbolista que se produzia na época e
com os ideais saudosistas, preconizados por Teixeira de Pascoais. O que se propõe neste
61
capítulo, portanto, é – através de uma breve análise das origens do Simbolismo e suas
reverberações no teatro – estudar a produção teatral de António Patrício em seus
aspectos mais ortodoxos quanto à estética simbolista, mas, também, em suas
heterodoxias. Como será analisado, se Patrício soube, de fato assimilar, a herança teatral
simbolista – seguindo os modelos presentes no Théâtre D’Art e do Théâtre de L’Oeuvre
franceses, que se opunham ao Teatro Livre ou Moderno do racionalismo naturalista –,
soube, também, acompanhar toda a sua evolução da estética simbolista, construindo
uma obra original. Além disso, será observada a influência da filosofia de Friedrich
Nietzsche nos textos dramáticos de Patrício, sobretudo no que diz respeito aos conceitos
de apolíneo e dionisíaco, possibilitando, assim, a mitocrítica dos textos Pedro, o Cru,
Dinis e Isabel e D. João e a Máscara.
Pedro e Inês, Dinis e Isabel e D. João, presentes na memória coletiva, preenchem
o grande espaço que a saudade – também mitificada –, a vocação nostálgica do
Absoluto, para utilizar a expressão de Durand, ocupa nas manifestações artísticas de
Portugal. Consciente da importância das imagens com que se ocupa em seus textos
dramáticos, António Patrício interessa-se, mais do que pela história canonizada nos
livros, pelos mitos e representações que povoam o imaginário coletivo. A mitocrítica,
para a análise dos seus textos dramáticos, tem como propósito revelar um núcleo
mitológico, um padrão mìtico. Isso porque, conforme ressalta Gilbet Durand, ―qualquer
texto revela, em suas profundidades, um ‗ser pregnante‘ a olhar o significado‖
(DURAND, 2003, p. 158).
Quanto a isso, é importante o que diz Claude Lévi-Strauss, na sua Antropologia
Estrutural, ao estudar a estrutura dos mitos, esclarecendo que o mito está destinado a
conciliar antinomias inconciliáveis (LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 243)
e, que o
62
pensamento mìtico ―procede de tomada de consciência de certas oposições, e tende à
sua mediação progressiva‖ (LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 48). E, no confronto de diversas
versões de um mito, esclarece não haver ―versão ‗verdadeira‘ da qual outras seriam
cópias ou ecos deformados. Todas as versões pertencem ao mito‖ (LÉVI-SATRAUSS,
2008, p. 242).
63
2.1. A estética simbolista em texto e contexto
Ao morrer, cada um de nós deve dizer à Morte: ―Deixe-me estar ainda
um bocadinho. Esquecia-me por completo de viver...‖
(PATRÍCIO, 1995, p. 117)
Os primeiros sopros simbolistas surgem em meio às novas teorias filosóficas que,
gradativamente, faziam perder força todo o entusiasmo materialista que dominou,
sobretudo, a segunda metade do século XIX, marcado historicamente pelo apogeu da
revolução Industrial que se iniciara nos finais do século XVIII, o que proporcionou um
acelerado crescimento econômico e, no nível cultural, a busca das explicações para os
fenômenos do mundo sob um olhar cientificista. Era, afinal, o século da luz elétrica, do
gás, das grandes engenharias do ferro, da máquina a vapor aplicada às grandes fábricas,
do trem, do operariado, das grandes interrogações da ciência diante do conhecimento
positivo e objetivo da realidade.
Desta maneira, com o crescimento da produção e o consumo dos bens
manufaturados, a era moderna tem as suas primeiras forças. As cidades crescem num
ritmo frenético, e os camponeses abandonam o campo em busca de melhores salários
nos grandes centros urbanos. A intensa euforia resultante da obsessão com o progresso
– além de uma crença na onipotência do homem – conduz o pensamento científico.
O processo industrial evoluía em larga escala, gerando a luta das grandes
potências por mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. As unificações
da Alemanha, em 1870, e da Itália, em 1871, por exemplo, alavancam o processo de
industrialização desses países e os colocam na disputa por novos mercados. Por esses
motivos, fragmenta-se a África e ampliam-se as influências sobre os territórios
asiáticos; desenvolve-se, assim, a política do neocolonialismo e toma corpo o fantasma
de uma guerra envolvendo os países europeus.
64
O ser humano assistia às incessantes e velozes mudanças convicto do triunfo da
ciência como fonte de explicação para a vida e para o universo. O desenvolvimento do
pensamento materialista trazia consigo uma nova maneira de entender o homem e seu
lugar no mundo. O indivíduo volta-se exclusivamente para fora de si, extasiado pelo
ruído constante da produtividade, pelas vozes da multidão e pelo ritmo frenético de
trabalho.
Neste contexto estão o Positivismo de Augusto Comte, o Determinismo de Taine
e as teorias evolucionistas de Lamarck e Darwin. Não havia, portanto, lugar para a
metafísica: para cada fenômeno, uma teoria científica que fosse capaz de explicá-lo à
luz da razão. Iniciou-se uma modernidade mercantilizada, em que tanto a ciência quanto
a tecnologia foram as medidas de todas as coisas.
Arnold Hauser aponta, contudo, que havia um certo ceticismo escondido por trás
de toda euforia de um mundo em constante mutação, pois, segundo o autor, ―o rápido
progresso tecnológico não só acelera a mudança de moda, mas também a variação de
ênfase nos critérios de gosto estético‖ (HAUSER, 2010, p. 896). A imanência material
conquistada pelo cientificismo foi desvanecendo, sem ser, porém, completamente
substituído pela transcendência religiosa do passado, o que criou um novo sentido de
perda e abandono para o indivíduo do século XIX, que já havia sofrido tais sentimentos
de decepção, de desgosto, nos princípios do século. De fato, o homem já não estava
mais tão convicto do triunfo científico sobre a metafísica, instaurando, portanto, uma
atmosfera de crise. O homem que, até então, pela razão e pelo progresso, julgava-se
conhecedor dos segredos do Universo, vê suas certezas serem abaladas. Desta maneira,
as correntes racionalistas e materialistas da segunda metade do século XIX não
respondiam mais às exigências da realidade.
65
Descrente diante de um mundo regido por forças que lhe são inacessíveis, a
mutabilidade das modas provoca no homem a sensação de que tudo se esgota, de que
nada permanece. Segundo José Carlos Seabra Pereira, ―o que mais se acentua é um
sentimento aflitivo de crise que, na década de oitenta, levará à idéia de ‗o fim de
mundo‘‖ (PEREIRA, 1975, p. 24). Assim, o que se observa é que tal sentimento
decadentista que se instaura na crise de fim-de-século envolve a consciência de uma
sociedade que envelheceu antes da hora, de um século que logo se cansou das
conquistas.
Começava a se instaurar, de fato, uma atmosfera de crise. Arthur Schopenhauer,
no seu O mundo como vontade e representação, concebe o mundo como
―representação‖, sendo a ―vontade‖ a força que impulsiona o homem. Abalando as
certezas positivistas, o filósofo alemão pensa o procedimento científico como método
inútil, já que está sempre aquém de seu objetivo, visto o mundo ser, tão platonicamente
concebido, uma mera ilusão.
À medida que o conhecimento se torna mais claro e que a consciência
aumenta, o sofrimento cresce, chegando no homem ao grau supremo;
e é neste ponto tanto mais violento quanto melhor é o homem dotado
de lucidez do conhecimento, quanto mais excelsa a sua inteligência:
aquele em que está o gênio, é sempre aquele que maiormente sofre.
(SCHOPENHAUER, 2005, p. 77)
Querer conhecer o mundo através de experimentos que busquem abarcar o real
conduz o homem ao sofrimento, pois tudo é ―representação‖, e a vontade humana nada
mais é que um desejo nunca satisfeito. Eduard von Hartmann, contemporâneo de
Schopenhauer, na sua Filosofia do Inconsciente, explica que o princípio do Inconsciente
dá aos fenômenos observados sua única explicação verdadeira (HARTMANN, 1877).
Não é possível, assim, o conhecimento último do Universo, a sua origem e as suas
motivações. O que é aparente é mera ilusão, e explicações científicas para o
66
conhecimento do Universo são vazias. Para o ―filósofo do inconsciente‖, caberia à
humanidade empenhar-se numa gradual evolução social, e não lutar pela mera ilusão de
uma felicidade impossível em futuro próximo.
Também Henri Bergson, posicionando-se radicalmente contra a atitude
cientificista, preconizava a intuição em detrimento da inteligência, sendo aquela vista
como o ―instinto que se tornou desprendido, consciente de si mesmo, capaz de refletir
seu objeto e de o ampliar infinitamente‖ (BERGSON, 1979, p. 159). Assim, Bergson,
concebe o misticismo como contraposição ao cientificismo, ao evolucionismo, ao
materialismo e ao pragmatismo. Vê na metafísica uma forma que leva ao conhecimento
interior da realidade – é o conhecimento do espírito pelo espírito, mas é também da
matéria e da vida, por ser o homem também vida e matéria.
Com o florescer dessas teorias, a ciência, então, tornava-se incapaz de explicar o
homem, e as questões filosóficas e metafísicas se apresentavam diante de um avanço
alucinado do mundo. Desta maneira, as correntes materialistas e racionalistas da
segunda metade do século XIX não conseguem mais responder às exigências da
realidade, sobretudo porque o processo burguês industrial evoluía de maneira
incontrolada, gerando a luta das grandes potências por mercados consumidores e
fornecedores de matéria-prima.
Descrença e desalento passam a marcar o espírito humano, gerando um momento
de grande ―mal-estar da cultura‖, cujos ecos chegaram, também, no campo das artes,
gerando uma oposição fundamental entre Simbolismo e Decadentismo. Explica Guy
Michaud (1947) que ambos não são duas escolas, mas duas fases sucessivas de um
mesmo movimento, duas etapas da revolução poética.
67
Assim também entende Álvaro Cardoso Gomes, ao afirmar que Decadentismo e
Simbolismo que são ―duas tendências diretamente relacionadas entre si, uma, mais
propriamente existencial, o Decadentismo; outra, especificamente literária, o
Simbolismo‖ (GOMES, 1985, p. 14). O Decadentismo, assim, enquanto expressão de
um estado de espírito, impõe-se mais como uma atitude do que como uma doutrina, em
que, desiludidos, jovens leitores das filosofias do antimaterialismo assumem uma
atitude de revolta e de resistência, manifestada, sobretudo, assumindo uma concepção
pessimista da vida, interessando-se pelo universo interior e secreto, e a fuga do tédio,
encarnados, sobretudo, nas extravagâncias do dandismo27.
Nesse contexto em que o pessimismo se punha em cena, abria-se espaço para o
denominado ―espìrito decadente‖ em arte, demonstrando um desencanto pelo mundo e
pela matéria. Segundo Fulvia M. L. Moretto:
O estilo de decadência não é outra coisa senão a arte em seu ponto de
extrema maturidade a que as civilizações, ao envelhecerem, conduzem
seus sóis oblíquos: estilo engenhoso, complicado, erudito, cheio de
nuanças e rebuscado, recuando sempre os limites da língua, tomando
suas palavras a todos os vocábulos técnicos, tomando cores a todas as
paletas, notas a todos os teclados, esforçando-se por exprimir o
pensamento no que ele tem de mais inefável e a forma em seus mais
vagos e mais fugidios contornos, ouvindo, para as traduzir, as
confidências subtis da neurose, as confissões da paixão que envelhece
e se deprava e as alucinações estranhas da idéia fixa ao tornar-se
loucura.
(MORETTO, 1989, p. 42)
Segundo Ernst Fischer, ―é certamente verdade que o mundo burguês é um
mundo em declìnio e que, portanto, por sua própria natureza, é decadente‖ (FISCHER,
27
Charles Baudelaire diz que o dândi é: ―O homem rico, ocioso e que, mesmo entediado de tudo, não tem
outra preocupação senão correr ao encalço da felicidade; o homem criado no luxo e acostumado a ser
obedecido desde a juventude; aquele, enfim, cuja única profissão é a elegância, sempre exibirá, em todos
os tempos, uma fisionomia distinta, completamente à parte‖ (BAUDELAIRE, 1996. p. 51). Ainda para
Baudelaire, a paixão que move o dândi é a ―necessidade ardente de alcançar uma originalidade dentro dos
limites exteriores das conveniências. É uma espécie de culto de si mesmo, que pode sobreviver à busca da
felicidade a ser encontrada em outrem, na mulher, por exemplo‖ (BAUDELAIRE)
68
1979, p. 241). Para o autor, a estranheza do homem e a sua fragmentação frente ao
mundo objetificado:
está intimamente ligado à tremenda mecanização e especialização do
mundo moderno, com a força opressora de suas máquinas anônimas,
com o fato de a maior parte de nós ser forçada a se empenhar na
execução de tarefas que constituem apenas a pequena parte de
processos cujo significado e desenvolvimento global permanecem fora
do alcance da nossa posição.
[...]
O mundo burguês [...], industrializado, objetificado, tornou-se tão
estranho aos seus habitantes, a realidade social tornou-se tão
problemática, a sua trivialidade assumiu proporções tão gigantescas
que os escritores e artistas são levados a se agarrar a qualquer coisa
que lhes pareça um meio de romper a rígida casca que envolve as
coisas.
(FISCHER, 1979, p. 108-109)
A sensação de viver numa época agonizante corre por todo o século XIX, indo do
romântico mal-do-século à dolorosa consciência da vacuidade da vida, descrita por A.
de Musset (1810-1857) em La confession d’un enfant du siècle (1836), passando, ainda,
pelo baudelairiano spleen até ao decadente fin-de-siècle. As impressões crepusculares
de Nordau (1849-1923), de Nietzsche (1844-1900) e de Valéry (1871-1945) são
sintomaticamente finisseculares. As considerações de tais autores sobre o declínio
civilizacional, porém, só aparentemente podem ser lidas como catastróficas: para eles, o
sentimento de decadência que parecia ser irremediável encerrava em si as energias
vitais, então necessárias ao futuro restabelecimento da confiança no progresso e na
regeneração nacionais.
Fruto da crise finissecular, uma onda de ocultismo e misticismo traduzia uma
profunda necessidade de interpretação da realidade, que conduziria à busca de sentidos
ocultos e misteriosos, preparava terreno para uma nova arte. De fato, nas duas últimas
décadas do século XIX, já se percebia, em boa parte dos autores, uma postura de
desilusão, e mesmo de frustração, em consequência das infrutíferas tentativas de
69
transformar a sociedade burguesa industrial. Sendo difícil analisar o mundo exterior e
entendê-lo racionalmente, a tendência natural era negá-lo, voltando-se para uma
realidade subjetiva e fazendo com que as tendências espiritualistas renascessem. Como
aponta Gilbert Durand (1996), para quem depois da onda de 'desmitologização' do
pensamento realçada pelos ―dogmas totalitários” do progresso técnico, a reação para o
fortalecimento da credibilidade na dimensão mítica ocorrerá por meio de uma
cumplicidade entre poesia e mito.
Entretanto, há que se ressaltar que o tema da fuga da realidade – a imagem da
torre de marfim é basilar – e o misticismo que surgia como alternativa às inquietações
não eram novidades. A obra do místico sueco Emmanuel Swedenborg desempenhara,
no período romântico, quanto a isso, papel de relevância. Para o místico, tudo o que há
na natureza são correspondências, pois ―o mundo natural, com tudo o que contém,
existe e subsiste graças ao mundo espiritual e ambos os mundos graças à Divindade‖
(SWEDENBORG, 1968, p. 48). Então, conclui que o homem é uma espécie de
Universo e que há ―uma correspondência de suas emoções e, portanto, de seus
pensamentos com todas as coisas do reino animal; de sua vontade e, portanto, de seu
entendimento, com todas as coisas do reino vegetal; e de sua vida final com todas as
coisas do reino mineral‖ (SWEDENBORG, 1968, p. 96). Para Swedenborg, portanto,
havia uma correspondência entre as coisas sensuais e as coisas naturais; as coisas
naturais e as espirituais; e as espirituais e as celestes. E é sobre tais ideais que Charles
Baudelaire (2006, p. 595) dirá de Swedenborg ―que possuìa uma alma bem maior, já
nos ensinara que o céu é um homem muito grande; que tudo, forma, movimento,
número, cor, perfume, no espiritual como no natural, é significativo, recíproco,
converso, correspondente‖ (BAUDELAIRE, 2006, p. 595).
70
O pensamento do místico sueco encontrou ressonância em autores como William
Blake e Honoré de Balzac. Quanto a este último, Anna Balakian ressalta, sobretudo, a
obra Livre Mystique:
um volume que contém uma trilogia de romances nos quais as
personagens, fascinadas pelos ensinamentos de Swedenborg, buscam
comunicação com o Mestre aqui na terra e finalmente transcendem o
estado que Swedenborg dissera estar perdido para o homem que se
tornou espiritualmente mutilado na sociedade evoluída.
(BALAKIAN, 2007, p. 21).
É justamente tal interpretação que revelará um traço distintivo entre românticos e
simbolistas: se para os primeiros a ascensão se dava com a morte, para os segundos é na
terra que ocorre a fusão do homem com a divindade. O desejo de transcendência e de
integração com o cosmos, a temática da morte, o mistério e a rejeição da razão
aproximam
o
Simbolismo
do
Romantismo,
entretanto,
sem
todo
aquele
sentimentalismo. Para Hauser, há uma superação, por parte do Simbolismo, em relação
ao Romantismo, em virtude da valorização da arte como justificativa para a existência:
não só renuncia à vida por amor à arte mas busca na própria arte a
justificação da vida. Considera o mundo da arte a única compensação
verdadeira para os desapontamentos da vida, a genuína realização e
consumação de uma existência intrinsecamente incompleta e
inarticulada.
(HAUSER, 2010, p. 910)
Leitor de Swedenborg e poeta de ascendência romântica, Charles Baudelaire é um
dos
grandes
precursores
do
Simbolismo,
principalmente
na
interpretação
swedenborguiana de seu soneto ―Correspondências‖, em que enuncia a proposta de
união entre o homem e a Natureza, por meio das sinestesias – o que há na terra não tem
existência por si; mais que isso, subsiste em relação ao mundo espiritual.
Cada objeto pode encerrar em si toda a profundeza da vida. Este princípio pode
ser relacionado à sua Teoria das Correspondências, baseadas nas ―Correspondências‖.
Sobre isso, Helène Sabbah escreveu que:
71
La notion de correspondances (ou synesthèsies) apparâit d‘abord chez
les mystiques. Selon eux, les éléments du monde matériel
correspondent à des éléments du monde spirituel. Il existe également
des correspondances entre les perceptions: se révèle ainsi un monde
symbolique dont le poète est, selon Charles Baudelaire, un traducteur,
un déchiffreur. 28
(SABBAH, 1994, p.227)
Não há um liame entre céu e terra, mas se estabelece uma conexão entre as
experiências sensoriais aqui na terra, pois, para Baudelaire, a Natureza é entendida
como templo, é o espaço que possibilita, num misticismo panteísta, integração com o
Cosmo. Em vez da transcendência, pois esta se revela impossível, prega a imanência,
evitando o idealismo cristão dos românticos. Daí Anna Balakian afirmar que a
influência de Baudelaire para o movimento simbolista ―se baseia em muito mais do que
no uso da terminologia de Swedenborg em um termo isolado e na sua reiteração aos
descrever os poetas românticos franceses‖ (BALAKIAN, 2007, p. 30). A poética
baudelaireana funda-se, portanto, numa transcendência que se revela impossível e numa
busca frustrada de superação, conduzindo a uma idealidade que é lugar vazio. Há em
Baudelaire uma viagem marcada pela náusea e pelo tédio, resultando numa quase
caminhada para a morte, vista não como alívio, mas acompanhada de angústia e
desassossego, como mostra Ernst Fischer ao pensar a imagem do nada em Baudelaire:
―O anseio pelo nada, uma das caracterìsticas do romantismo da morte e da embriaguez,
foi transformado por Baudelaire em um anseio de algo novo: não mais a paz eterna e
sim um desassossego inextinguìvel‖ (FISCHER, 1979, p. 203).
A dialética presente na vida moderna, com a qual Baudelaire se confrontava ,
daria como resultado o seu conhecido spleen, ou tédio fatal da vida. Segundo Walter
28
Tradução: A noção de correspondências (ou sinestesias) aparece primeiramente entre os místicos.
Segundo eles, os elementos do mundo material correspondem àqueles do mundo espiritual. Há,
igualmente, correspondências entre as percepções: revela-se, assim, um mundo simbólico onde o poeta
é, segundo Charles Baudelaire, um tradutor, um decifrador.
72
Benjamin, o taedium vitae29 transforma-se na melancolia do spleen em decorrência da
alienação do sujeito consigo mesmo:
O fermento novo e decisivo que, ao penetrar o taedium vitae, o
transforma em spleen, é a auto-alienação. Da infinita regressão da
reflexão que, no romantismo, ludicamente dilatava o espaço vital em
círculos cada vez mais soltos e, ao mesmo tempo, o reduzia em
estruturas cada vez mais limitadas, a tristeza em Baudelaire
permaneceu apenas o tête-àtête claro e sombrio do sujeito consigo
mesmo.
(BENJAMIN, 1989, p. 153)
A ―expressão de um sentimento de náusea em face da monotonia da vida‖
(HAUSER, 2010, p. 914), traço constante na obra de Baudelaire, confere à sua obra um
tom melancólico e decadente, como afirma Hauser ao dizer que ―Para o decadente [...]
―tudo é um abismo‖, tudo está impregnado de temor da vida, de insegurança: ‗Tout
plein de vague horreur, menant on ne sait où’30, como diz Baudelaire‖ (HAUSER,
2010, p. 915).
Fulvia Moretto (1989), além do nome de Baudelaire, ressalta, como precursores
do Simbolismo, escritores como Stéphane Mallarmé, com a sua busca de uma
―linguagem autônoma‖ e Arthur Rimbaud, com a proposta de uma poesia
revolucionária, que seria capaz de mudar o mundo e a própria vida. A esses nomes, Ana
Balakian (2007) soma o de Paul Verlaine, apontando sua Art Poétique como também
precursora do movimento simbolista.
Quanto a Stépahne Mallarmé, herdeiro da poesia sugestiva e musical de
Baudelaire – e seu grande admirador –, buscou a autonomia da palavra, preconizando
que as palavras possuem um significado próprio, à parte o mundo exterior. Caberia,
29
O referido desassossego associado à melancolia diante da vida – o taedium vitae, no
dizer de Benjamin (1989) –, é a tônica de um dos poemas de Baudelaire, intitulado,
justamente, ―Spleen‖. Ressalte-se que a presença desse spleen é tão marcante na obra do
poeta francês que vários de seus poemas recebem o mesmo título.
30
Tradução: Tudo cheio de um horror impreciso, conduzindo não se sabe onde.
73
assim, ao poeta explorar as possibilidades de combinação das palavras de maneira que
se criasse um mundo único, sugerido. Assim, o que Mallarmé propunha era um
procedimento estético que não visasse mais encontrar o mundo real por trás dos
símbolos, mas que anulasse a realidade em nome do reinado absoluto da palavra pura.
Sua poética é marcada por uma depuração do real em linguagem, como se pode
perceber quando o poeta afirma que a poesia deve ter ―enigma‖ ou ―mistério‖,
reafirmando o caráter esotérico da arte:
Creio que [...] quanto ao fundo, os jovens estão mais próximos do
ideal poético que os Parnasianos que tratam ainda seus assuntos à
maneira de velhos filósofos e velhos retóricos, apresentando os
objetos diretamente. Penso que é necessário, ao contrário, que não
haja mais que alusão. A contemplação dos objetos, a imagem
levantando voos de devaneios suscitados por eles, é o canto: os
Parnasianos, eles, pegam a coisa inteira e a mostram: por aí retiram o
mistério; retiram aos espíritos esta alegria deliciosa de crer que criam.
Nomear um objeto é suprimir três quartos da potência do poema que é
feito de adivinhar pouco a pouco: sugerir, eis o sonho. É o perfeito uso
deste mistério que constitui o símbolo: evocar pouco a pouco um
objeto para mostrar um estado d‘alma, ou, inversamente, escolher um
objeto e nele desimpedir um estado d‘alma, por uma série de
descerramentos.
(MALLARMÉ, 2010, p. 221)
Rimbaud procurava através de ―um longo, imenso e refletido desregramento de
todos os sentidos‖ (RIMBAUD, 2003, p. 80) reinventar, pelo ―verbo poético‖, o mundo
em sua unidade original. O poeta – um ―vidente‖ no seu dizer, porque intui a relação
que há entre as coisas, penetra num espaço desconhecido – tem missão quase oracular.
Conforme ressaltam Wimsatt Jr. e Brooks (1971, p. 705) o ―vidente apreende aquelas
imagens que o inconsciente apenas revela caprichosa e acidentalmente aos outros
homens. A poesia de Rimbaud viria a ser a exploração sistemática dessas visões‖. Para
Rimbaud, afinal, a atividade poética afastava-se das concepções platônica e romântica
da inspiração: o poeta não era mais dominado pela divindade – Deus ou as Musas –
mas pelo Inconsciente. Senhor absoluto de sua loucura, esta somente lhe domina a razão
74
ao fim do processo criador: ―quando, enlouquecido, ele acabaria por perder a
inteligência de suas visões, ele as viu!‖ (RIMBAUD, 2003, p. 80).
Paul Verlaine, com seu célebre poema ―Arte Poética‖, enuncia categoricamente
que a ambição da poesia é tornar-se música. O primeiro verso do poema – ―A Música
antes de tudo‖ – neste sentido, é lapidar. Ainda que sigam diferentes caminhos, também
Baudelaire e Mallarmé tratam da relação existente entre poesia e música. Para o poeta
d‘As flores do mal, a música é o meio de o artista sugerir impressões no ouvinte, afinal,
―a verdadeira música sugere ideias análogas em cérebros diferentes‖ (BAUDELAIRE,
2006, p. 917). Quanto a Mallarmé, ao destacar o caráter musical do verbo, busca a
linguagem depurada ao máximo, fazendo do poeta um ―musicista do silêncio‖: a
linguagem, como a música, acaba por nada dizer, pois o significado do texto não pode
ser dito, mas sugerido.
Entretanto, a poesia para Verlaine não visa às ―correspondências‖, como em
Baudelaire, ou à busca do ―Ideal‖ e/ou do ―Obscuro‖, na perspectiva de Mallarmé. Sua
poesia apega-se ao indefinido, torna-se objeto sonoro. Desta maneira, o vago e o
musical associam-se aos inefáveis e intraduzíveis estados de alma.
Com tal elenco de nomes, de tendências poéticas, formavam-se as primeiras vozes
do movimento simbolista – que, se nasce na França, não tarda a ganhar a Europa e, daí,
o mundo. Como analisa Balakian, o simbolismo aconteceu em Paris, por seu aspecto
cosmopolita:
Todos foram a Paris: Arthur Symons, Yeats e George Moore da
Inglaterra; Stefan George, Hofmannsthal e Hawptmann do mundo de
língua alemã; Azorin e os irmãos da Itália; Maeterlinck e Verhaeren
da Bélgica; Moréas da Grécia; Viélé-Griffin e Stuart Merrill dos
Estados Unidos. Paris serviu de neutralizador de diferentes formações
culturais e foi, ao mesmo tempo, o solo fértil em que germinou uma
filosofia da arte aceita por todos, ainda que sujeita às variações
individuais.
75
(BALAKIAN, 2007, p. 16)
Ao lado da Literatura, da Música e da Filosofia, Fulvia Moretto (1989) destaca a
pintura do universo decadentista: surgem, nesse contexto, os pré-rafaelitas, que,
buscando inspiração no Quattrocento italiano, seguiam um caminho idealista, além de
nomes como o do francês Paul Gauguin, que começa a pintar influenciado pelo pósimpressionismo, além de Gustave Moreau, Odilon Redon, Maurice Denis e Paul
Serusier. Para além das fronteiras francesas, na Áustira destaca-se Gustave Klint. O
norueguês Edvard Munch concilia aos princípios simbolistas uma forte expressão
trágica da vida, que fez dele o representante máximo do Expressionismo.
A arte simbolista buscava o mundo onírico, fonte de misteriosas revelações do
Cosmos, em que o eu é considerado como um centro interior e, inspirado pelo princípio
da analogia universal – as correspondências de Baudelaire –, visa alcançar o
conhecimento de uma realidade absoluta. No dizer de Jean Moréas ―à vêtir l‘idee d‘une
forme sensible quei, néanmoins, ne sarait pas son but à elle-même, mais qui, tout em
servant à exprimer l‘idee, demeurerait sujette‖ (MORÉAS, 1947, p. 24). Tal
pensamento encontra consonância em Hauser, ao afirmar que:
O Simbolismo baseia-se na suposição de que a tarefa da poesia é
expressar algo que não possa ser moldado numa forma definida nem
abordado por um caminho direto. Como é impossível pronunciar algo
pertinente a respeito de coisas através do veículo claro da consciência,
ao passo que a linguagem desvenda, por assim dizer,
automaticamente, as relações secretas entre elas, o poeta deve, como
sugere Mallarmé, ―dar lugar à iniciativa das palavras‖.
(HAUSER, 2010, p. 925)
Assim, o Simbolismo, estética ―Ennemi de l‘enseignement, la déclamation, la
fausse sensibilité‖31 (MORÉAS, 1947) fará com que o homem volte-se para uma
realidade subjetiva, retomando um importante aspecto que havia sido abandonado desde
31
Tradução: inimiga do ensino, da declamação, da falsa sensibilidade.
76
o Romantismo. O eu passa a ser o universo, numa busca da essência do ser humano,
daquilo que tem de mais profundo e universal: a alma. Daí a sublimação – oposição
entre matéria e espírito, a purificação, por meio da qual o espírito atinge as regiões
etéreas, o espaço infinito. Trata-se, portanto, de uma oposição entre corpo e alma em
que esta só se liberta quando se rompem as correntes que a aprisionam ao corpo, ou
seja, com a morte. Fruto desse subjetivismo, dessa valorização do inconsciente, dos
estados de alma, da busca do vago, do diáfano, do sonho e da loucura, o Simbolismo
desenvolve uma linguagem carregada de símbolos, necessários para exprimir o fugidio e
vago, em uma sucessão de palavras, de imagens, que pudessem, assim, sugeri-lo ao
leitor.
Conforme ressalta José Carlos Seabra Pereira:
O modo lírico é promovido pelo Simbolismo a presidir à movência
discursiva dos textos na surpreendente diluição das fronteiras entre os
géneros e subgéneros literários. Declara-se então uma crise da
narrativa (e do drama, aliás) enquanto forma natural da literatura, refl
ectida nas tentativas de reelaboração dos seus géneros ou de
descoberta de alternativas segundo as injunções do paradigma lírico.
(PEREIRA, 2004, p. 48)
Tal tendência encontrará lugar, também, na cena teatral. Ainda que tenha surgido
em meio ao pessimismo fin-de-siécle, o teatro simbolista bebeu de fontes românticas,
sobretudo na busca de evasão isolamento e conquista do Ideal. Giséle Marie (1973), em
seu Le Théatre symboliste, aponta a obra de Victor Hugo e Gérard de Nerval – ambos
alicerces do Romantismo francês – como primeiros sopros contra o materialismo,
buscando, sobretudo, uma arte do etéreo. Neste sentido, a estética simbolista abre
espaço, portanto, para uma nova cena, preenchida por questões existenciais, em que as
personagens emergem, muitas vezes, como representações de ideias e de sentimentos.
Fortemente ligados aos impressionistas, som, luz, cor e movimento ganham destaque
nas encenações. A estética simbolista traz como uma de suas marcas poéticas a obsessão
77
pela Morte, dramatizando-se com uma sensibilidade extremamente afinada a angústia
do ser humano diante desta força aniquiladora.
O próprio termo símbolo encerra o caráter da sugestão, da ambiguidade, da
multiplicidade de sentidos, tão caros ao teatro poético simbolista. Conforme a definição
de Octávio Paz para o termo imagem, no seu O arco e a lira, o escritor diz:
[...] designamos com a palavra imagem toda forma verbal, frase ou
conjunto de frases, que o poeta diz e que, unidas, compõem um
poema. Essas expressões verbais foram classificadas pela retórica e se
chamam comparações, símiles, metáforas, jogos de palavras,
paronomásias, símbolos, alegorias, mitos, fábulas, etc. Quaisquer que
sejam as diferenças que as separam, todas têm em comum a
preservação da pluralidade de significados da palavra sem quebrar a
unidade sintática da frase ou do conjunto de frases. Cada imagem – ou
cada poema composto de imagens – contém muitos significados
contrários ou díspares, aos quais abarca ou reconcilia sem suprimi-los.
(PAZ, 1982, p. 119)
No drama simbolista, as imagens e símbolos são responsáveis pelas relações de
múltiplos sentidos que são sugeridos à imaginação do leitor/expectador. Encenada ou
lida, a linguagem incorporara elementos poéticos que a tornam atemporal. Como
ressalta Anna Balakian, o palco seria o melhor lugar para representar a sinestesia no
teatro simbolista: ―forma, a cor, o gosto, o acompanhamento musical, mesmo os
perfumes [...] anunciavam as correspondências feitas pelo homem que deveriam
substituir o casamento entre o céu e a terra‖ (BALAKIAN, 2007, p. 98). Assim, o texto
teatral simbolista procura, no momento da atualização, ―a projeção gráfica da paisagem
interior sobre a realidade exterior do mundo dos objetos e dos seres animados, e
nenhum deles teria qualquer caráter autônomo, mas representaria os vários tons e
flutuações do estado de espírito do autor. (BALAKIAN, 2007, p.98).
No drama simbolista é nítida a recorrência à mistura de gêneros, ultrapassando a
fronteira que separa os gêneros literários. Tal confluência de estilos e recursos estéticos
dá suporte ao propósito artístico simbolista, que é o de representar, por meio de uma
78
estética híbrida, a diversidade e os múltiplos estados de alma. Dessa maneira, o teatro
simbolista, também, pode ser definido pelo que disse Edmund Wilson, quando diz que:
―[...] uma tentativa, através de meios cuidadosamente estudados – uma complicada
associação de idéias, representada por uma miscelânea de metáforas –, de comunicar
percepções únicas e pessoais‖ (WILSON, 2004, p.45).
O caráter estático do drama será uma tônica simbolista, somado à imprecisão do
tempo e do espaço, que criam uma atmosfera, em detrimento da ação, das
circunstancialidades nas quais se baseavam o teatro tradicional. Assim, a lenda vem
preencher o tempo e o espaço da história e sem pressupostos ou demarcações espaçotemporais, os mitos são renovados. Tudo isto a serviço da revelação das almas,
tendendo para um forte lirismo, como assim dizia Fernando Pessoa
Chamo teatro estático àquele cujo enredo dramático não constitui ação
– isto é, onde as figuras não só não agem, porque nem se deslocam
nem dialogam sobre deslocarem-se, mas nem sequer têm sentidos
capazes de produzir uma ação; onde não há conflito nem perfeito
enredo. Dir-se-á que isto não é teatro. Creio que o é porque creio que
o teatro tende a teatro meramente lírico e que o enredo do teatro é, não
a ação nem a progressão e conseqüência da ação – mas, mais
abrangentemente, a revelação das almas através das palavras trocadas
e a criação de situações [...] Pode haver revelação de almas sem ação,
e pode haver criação de situações de inércia, momentos de alma sem
janelas ou portas para a realidade.
(PESSOA, 1998, p. 283).
A coerência entre a concepção de teatro estático de Pessoa incorpora e traduz uma
estética alinhada, na época, com o teatro de Maeterlinck que pressupunha uma total
imobilidade do drama, mas que não viria a se concretizar de todo em sua obra, à
exceção de algumas curtas peças, como ―L’Intruse e Les Aveugles, conforme ressalta
Teresa Rita Lopes ao dizer que ―lls ne sont parvenus [...], qu‘à imaginer des suìtes de
moments statiques, des tableaux vivants d‗idées allégorisées‖ 32 (LOPES, 1985, p.17).
32
Tradução: Eles não são oportunos [...], senão a imaginar sequências de momentos estáticos, quadros
vivos de idéias alegóricas.
79
Conforme ressalta Haquira Osakabe a respeito da elaboração de uma trama sem
drama e nem tensão, ressalta que:
[...] Pessoa é particularmente sensível à discussão sobre a natureza
desse novo tipo de teatro que se inventa à revelia do próprio teatro. As
anotações sobre o teatro estático não serão sem conseqüências quando
exatamente o poeta irá pensar numa forma teatral em que a ação se
substitui pela palavra e o tempo externo dá lugar à indefinição da
introspecção e os cenários estarão sugeridos e nunca suficientemente
descritos pelas instruções cenográficas.
(OSAKABE, 2007, p. 70)
Segundo Jeannine Paque (1989), no teatro simbolista, a ação é subordinada a
forças ocultas. A progressão dramática, portanto, ainda que mínima, realiza-se conforme
a conjugação de dois movimentos distintos: o do enunciado, pressupondo uma ação
―mais sonhada que vivida‖ (REBELLO, 1979, p. 43) – verbalizada, portanto – e o do
movimento, que, embora invisível, é contínuo, permanece subentendido. Neste sentido,
o teatro simbolista recorre continuamente ao poder do símbolo, abolindo as categoriais
tradicionais de ―tempo‖ e ―espaço‖, enveredando por percursos mìticos e lendários,
repletos de mistério.
Os simbolistas, interessados pelo oculto, pelo desconhecido, propõem-se a dar ao
teatro uma dimensão litúrgica, na tentativa de restaurar o sagrado ao domínio das artes –
o que o teatro naturalista havia fadado ao esquecimento. Há, portanto, um regresso ao
espiritualismo, em que os mistérios que envolvem a existência são sugeridos através do
silêncio. Afirma Teresa Rita Lopes que, no teatro: ―le silence ne se réduit pas forcément
à l‘absence de la parole: Il peut y avoir une place active, y devenir présence de
l‘absence‖33 (LOPES, 1985, p. 14).
O silêncio, portanto, está a serviço da criação de uma atmosfera onírica, criando
uma densidade no palco, tecendo uma trama invisível, assinalando assim tanto o limite
33
Tradução: o silêncio não se reduz necessariamente à ausência da fala: ele ai pode ter um lugar ativo,
tornar-se presença da ausência.
80
da linguagem como a condição essencial para a sua renovação. Assume-se como um eco
que prolonga as palavras – as pausas, as repetições, as quebras de sintaxe – e seus
múltiplos sentidos. Será, portanto, o elemento natural em que se desenvolvem e
espalham as palavras. Para Albert Mockel ―La réalisation complète pourrait être une
grave pantomine jouée dans le plus subtil silence – le rythme des gestes traçant le dessin
de cette musique nécessaire dont le silence même serait la couleur et l´harmonie‖34
(MOCKEL, 1962, p. 240).
Também Fernando Pessoa defende claramente esta concepção de teatro quando
afirma que ―Há duas formas de dizer – falar e estar calado. As artes que não são a
literatura são as projecções de um silêncio expressivo. Há que procurar em toda a arte
que não é a literatura a frase silenciosa que ela contém, ou o poema ou o romance, ou o
drama (PESSOA, 1998, p. 289).
No dizer de Maeterlinck: ―À côté indispensable Il y a presque toujours um autre
dialogue qui semble superflu. Examinez attentivement et vous verrez que c‘est le seul
que l‘âme écoute profondément‖35 (MAETERLINCK, 1978, p. 101). A palavra,
dissolvida, exerce a paradoxal função de assegurar, justamente, a entrada e a
permanência do silêncio, que, este sim, reina absoluto: o não-dito adquire força
poderosa, evadindo-se por trás de diálogos e, sobretudo, de longos monólogos.
Desta maneira, com uma linguagem repleta de relações simbólicas, baseada na
alusão e na ambiguidade, o teatro simbolista preconizava alcançar a poesia absoluta, a
própria substância da palavra: sua finalidade não era a de descrever todo o esforço do
34
Tradução: A completa realização poderia ser uma grave pantomima representada no mais sutil silêncio
– o ritmo dos gestos traçando o desenho dessa música necessária cujo silêncio seria em si mesmo a cor e a
harmonia.
35
Tradução: Do lado indispensável, há quase sempre um outro diálogo que parece supérfluo. Examine-o
atentamente e verá que é o único que a alma ouve profundamente.
81
herói para escapar da fatalidade do destino; em vez disso, mostrava, justamente, sua
incapacidade para decifrar o mistério do destino.
Tomando por princípio a união do mito, da arte e da religião, os simbolistas
viram-se extremamente influenciados pela teoria de Richard Wagner – herdeiro das
filosofias idealistas –, em sua concepção de ―drama musical‖, além da prática cênica
desenvolvida ao longo de décadas (WAGNER, 1990). Wagner propunha uma ―obra de
arte total‖36 – gesamtkunstwerk – reunindo, portanto, dança. música, literatura e artes
plásticas. De maneira geral, o que os simbolistas franceses interpretaram da
gesamtkunstwerk foi sua aplicação ao drama, o que daria origem ao sonho de um
espetáculo total, como observa Sophie Lucet:
L‘héritage wagnérien est pour beaucoup das la réflexion des
symbolists sur le theater, et dans La Revue Wagnérienne s‘exprime le
désir d‘inventer, en echo au drame musical, un theater véritablement
poétique: dans ces pages, on peut lire aussi toute l‘ambiguïté de
l‘attitude des symbolists à l‘égard du théâtre et leur méfiance pour
36
Uma caracterìstica peculiar das óperas ―pré-wagnerianas‖ consistia no fato de que tais
obras eram compostas de acordo com uma estrutura estilística que impossibilitava ao
seu corpo musical possuir um caráter de uniformidade, assemelhando-se, por
conseguinte, a uma espécie de ―costura musical‖, em que os recitativos e as árias
interligavam-se por uma qualidade de música composta com o objetivo de associar
diversos segmentos dramáticos – geralmente heterogêneos – em uma dada peça musical.
Conforme comentam Yara Caznók e Alfredo Naffah Neto: ―Não se ouvia a obra em sua
duração total para depois percebê-la como uma. Tratava-se da vivência de pequenas e
inúmeras unidades propiciadas pelos números isolados que não sem razão eram também
chamados de números isolados‖ (CAZNÓK; NAFFAH NETO, 2000, p. 24). Dando
continuidade em suas reformas estéticas, Wagner desenvolve nas suas óperas um
projeto sonoro distinto do mero acompanhamento orquestral tão utilizado pelos
compositores, elaborando ousadas combinações harmônicas, de modo a tornar a
estrutura musical das partituras de suas óperas uma espécie de ―sinfonia dramática‖,
bastante distinta das tendências que estavam até então em voga. Tais inovações
acompanham o processo de instauração da postulada ―obra de arte total‖, sìntese
artística que englobaria todos os recursos e meios de expressão possíveis para o
desenvolvimento de uma ópera, caracterizando-se pelo fato de que a estrutura musical, a
cenografia, o libreto, a arquitetura do teatro e os seus demais recursos técnicos
somariam para o engrandecimento da mesma. Essa circunstância se reflete inclusive na
disposição wagneriana de realizar pessoalmente todos os processos de elaboração do
drama musical, criando assim uma obra artística genuinamente orgânica, na qual todas
as etapas de sua produção se encontravam sob sua direção.
82
toute réalisation scénique susceptible d‘amoindrir la puissance
suggestive du poème. 37
(LUCET, 1992, p. 39)
Seguindo os moldes da obra wagneriana, os simbolistas buscavam exatamente um
teatro que pudesse concretizar o sonho da projeção verbal e visual, além da
comunicação não racional, da excitação da imaginação e da condução à visão subjetiva.
Assim, a necessidade ontológica de superar as fronteiras materiais fez com que os
simbolistas se voltassem naturalmente para a música, numa perfeita conjunção entre
som e silêncio, servindo de modelo para a construção de sua poética, afinal, como na
poesia, a música transcende a lógica e seria capaz, segundo acreditavam os simbolistas,
de penetrar na essência das coisas.
Mallarmé, no seu artigo ―Richard Wagner, rêverie d‘un poète français‖, publicado
em 1885, já em plena efervescência simbolista, ressalta que Wagner:
surgiu no tempo de um teatro, o único que se pode chamar caduco,
tanto sua Ficção é fabricada de um elemento grosseiro: pois que ela se
impõe diretamente de um só golpe, exigindo que se creia,
simplesmente, nada mais. Como se essa fé exigida do espectador não
devesse ser precisamente a resultante por ele tirada do concurso de
todas as artes, suscitando o milagre, de outra forma inerte e nulo, da
cena!
(MALLARMÉ, 2010, 102-103)
Percebe-se, portanto, francos testemunhos da influência do misticismo
wagneriano nas concepções do drama simbolista francês, como é o caso de Édouard
Dujardin – que fundou em 1885, com Teodor Wyzewa, La Revue wagnérienne,
publicação mensal (1885-1887), tendo saído um último número em julho de 1888 – ou
de Édouard Schuré, que, em 1912, publicou Richard Wagner, son ouevre et son idée,
obra dedicada ao compositor alemão, em que defende a união de todas as artes, que
37
Tradução: A herança wagneriana é para muitos a reflexão dos simbolistas sobre o teatro, e n‘A Revue
Wagnérienne expressa-se o desejo de imaginar consoante ao drama musical, um teatro verdadeiramente
poético: em suas páginas, pode-se ler também toda a ambigüidade de atitude dos simbolistas concernente
ao teatro e sua desconfiança nas realizações cênicas suscetíveis à diminuição do poder sugestivo do
poema.
83
simbolizaria a ―régénération intime dl‘homme [...] qui cherche à se ressaisir dans
l‘harmonie de son corps, de son ame et de as pensée‖38 (SCHURÉ, 1912, p. 315). Ainda
segundo o autor, este novo conceito de arte seria capaz de atingir ―ce sentiment profond,
Sûr et irréfragable de l‘âme qui nous revele au-dessus de notre raison même une
harmonie divine du monde‖39 (SCHURÉ, 1912, p. 316). Desta maneira, somente o
teatro – enquanto ―arte total‖ – seria capaz de elevar o homem em direção ao divino.
O cenário teatral encontrado pelos simbolistas será marcado, nos primeiros anos
da década de 1890, pela arte de entretenimento burguês (vaudeville, bouffoneries,
comédia de costumes), como destaca Sophie Lucet:
le théatre de l‘époque este une instituiton verrouillée socialement et
institutionnellement, où triomphe le theater du divertissement burgeois
(vaudeville, fresques historiques, théatre de boulevard, comédie de
noueurs, etc...). Le jeunes et le exclus de la scène ne peuvent que
s‘exaspérer de cet immobilisme qui va de pair avec l‘extrême
médiocrité de ce qui est represente; lorqu‘on lit la chronique théatrale
de ‗petit revues‘, le diagnostic apparait unaniment comme celui d‘une
crise et le ton est à la polemique aigüe, au pamphet souvent; de ce
mécontentement, de ce mépris de choses existantes mais l‘idée de
croisade en faveur du renouvellement des scénes. 40
(LUCET, 1992, p. 36)
Nomes como os de Villiers de L‘Isle Adam, Jarry, William B. Yeats, Claudel,
Gabriele D‘Annunzio e Maurice Maeterlinck dão-nos a tônica de quão difícil é
sistematizar o que foi o teatro simbolista, diante de tão complexos aspectos que
assumiu. Anna Balakian ressalta que se esperaria de um poeta a criação do teatro
simbolista e não de um dramaturgo. Baudelaire já havia iniciado alguns dispersos
38
Tradução: reconstrução íntima do homem [...] que procura tornar-se mestre de si mesmo na harmonia
do seu corpo, de sua alma, de seu pensamento.
39
Tradução: esse sentimento profundo,certo e irrecusável da alma, que nos revela, mesmo acima da nossa
razão, a divina harmonia do mundo.
40
Tradução: o teatro de época é uma instituição proibida, fechada social e institucionalmente, onde
triunfa o divertimento burguês (vaudeville, fatos históricos, teatro de rua, comédia de costumes, etc...). O
jovem e o excluído de cena não podem senão se exasperar com esse imobilismo que acompanha a
extrema mediocridade do que é representado; quando se lê a crônica teatral de ‗pequenas revistas‘, o
diagnóstico aparece unanimemente como aquele de uma crise e o tom está na aguda polêmica, no panfleto
freqüente desse descontentamento, desse desprezo pelas coisas existentes mais a ideia de cruzada a favor
da renovação da cena teatral.
84
projetos teatrais, como Ideolus, La fin de Don Juan, Le Marquis Du ler Houzards e
L’Ivrogne, mas, como projetos dramáticos inacabados, terminaram por receber menor
importância no conjunto de sua obra. Conforme destaca Balakian, portanto, ―todos os
olhos se voltaram para Mallarmé, que já nos anos de 1860 anunciara a gênese de
Hérodiade como uma tragédia de três atos‖ (BALAKIAN, 2007, p. 100), mas que
terminaria por não se realizar, já que Mallarmé não se consolidou como o tão aguardado
poeta do teatro simbolista.
Os Simbolistas, guiados pelas reflexões críticas de Mallarmé, começavam a se
manifestar por um teatro ideal, aspirando ao drama indizível, numa postura contrária
àquela em que ainda trazia ao palco uma interpretação melodramática, preenchida por
uma estética obcecada pelo realismo cênico, o naturalismo. Sarrazac observa que ―À
rebours de l‘espirit analytique cher au positivisme, le théâtre symboliste pretende capter
sur la scène, grâce au jeu de la suggestion et des correspondances, um univers – mental
plus que physique – dans tout son extension41 (SARRAZAC, 1992, p. 722). Repudiando
a obrigação de agradar a um público cujos valores desprezavam, os simbolistas
rejeitavam a encenação de forma quase dogmática, privilegiando o ato da leitura, que
seria infinitamente superior à encenação, já que a peça que se concretizaria no palco
estaria sempre aquém do poder de imaginação do leitor. Alfred Jarry, por exemplo, já
sintetizava esse espírito simbolista ao dizer que:
Je crois que la question est définitivement tranchée de savoir si le
théâtre doit s'adapter à la foule ou la folule au théâtre. [...] Maintenir
une tradition même valable est atrophier la pensée qui se transforme
dans la durée; et insensé de vouloir exprimer des sentiments nouveaux
dans une forme ‗conservée‘.42
41
Tradução: Ao contrário do espírito analítico próprio ao Positivismo, o teatro simbolista pretende ganhar
em cena, graças ao jogo da sugestão e das correspondências, um universo – mental mais do que físico –
em toda a sua extensão.
42
Tradução: Eu creio que a questão definitiva é distinguir se o teatro deve se adaptar à multidão ou se a
multidão ao teatro. [...] Manter uma tradição ainda válida é atrofiar o pensamento que se transforma no
processo; insensato é querer expressar sentimentos novos num formato conservador‘.
85
(JARRY, 1962, p. 139-150)
O desejo dos simbolistas, portanto, era resgatar o teatro daquilo que entendiam
como uma vulgarização causada pelo gosto burguês. Quanto a Mallarmé, se não
conseguiu concretizar este drama, foi no campo da crítica teatral, porém, com sua
contribuição à Revue Indépendante nos anos de 1886 e 1887, que expressou seu
descontentamento com os espetáculos aos quais assistia. Suas reflexões influenciaram
jovens escritores, num período em que o teatro era visto como arte em declínio. Para o
poeta francês, o teatro não é senão um projeto que não pode ser aperfeiçoado na ―peça
escrita no fólio do céu e mimetizada com o gesto de suas paixões pelo Homem‖
(MALLARMÉ, 2010, p. 17). Mallarmé também afirma que basta apenas uma folha de
papel para evocar o prazer de um espetáculo teatral, ao dizer que ―A rigor um papel
basta para evocar qualquer peça: com a ajuda de sua personalidade múltipla cada um é
capaz de representá-la para si no interior‖ (MALLARMÉ, 2010, p. 65)43. Os próprios
simbolistas, inclusive, defendiam a superioridade da leitura à mise en scène, ou seja, a
ideia de que a imaginação do leitor sempre seria superior a qualquer encenação material
de um texto. O teatro simbolista é sobretudo uma manifestação literária mais orientada
para a leitura e a recitação do que propriamente para a interação entre os protagonistas.
Como assinala Haquira Osakabe:
É desse modo que se pode dizer que o grande personagem do teatro
simbolista é o próprio discurso colocado no meio da cena e conduzido
ao leitor-ouvinte como um evento verbo-sensorial. E aqui entra um
forte ponto de interseção entre a prosa dramática ou o texto dramático
e a poesia simbolista: a eloqüência musical, incluindo nessa
eloqüência não apenas a organização sonora, mas também a imagética
ou sensorial.
(OSAKABE, 2007, p. 69)
43
Importante ressaltar que esta prevalescência do texto em detrimento da cena não se trata de uma
inovação da estética teatral simbolista. Quanto a isso, destaca-se, por exemplo, Alfred Musset com as
infindas trocas de cenário, com setenta personagens, o que inviabilizava a concretização cênica de seu
Spectacle dans un fauteuil, ou, ainda, seu drama romântico Lorenzaccio, considerado irrepresentável
durante anos.
86
Ao propor uma síntese entre poesia e drama, a partir do princípio de que a busca
poética residiria nas profundezas da palavra, sendo, portanto, o resultado da pura
relação entre elas, livres de sua relação com a realidade externa que, de fato, importaria,
Mallarmé terminou por não desenvolver uma obra formalmente dramática, mas três
fragmentos poéticos que foram, inicialmente, concebidos como dramas: Hérodiade,
L’Après-Midi d’um Faune e Igitur. Ainda assim, por mais que os fragmentos de peças
não tenham se concretizado como teatro, essa ―obra dramática‖ de Mallarmé não deixou
de influenciar a produção simbolista de que Les Flaireus, de Van Lerberghe e La
Princesse Maleiene, de Maeterlinck são exemplos.
Em 17 de maio de 1893, Pelléas et Mélisande foi encenada, em Paris, no teatro
Bouffes-Parisiens. A montagem da peça de Maeterlinck inaugurava o Théâtre de
L’Oeuvre, de Lugné-Poe e Paul Fort, ainda em sede provisória. Pelléas et Mélisande44
é um dos principais textos teatrais da estética simbolista. Os personagens materializam
expressões poéticas sobre a brevidade e a falta de sentido da vida. Como observa
Edmund Wilson, o universo dramático criado por Maeterlinck é ―penumbroso‖, é ―[...]
um mundo no qual os caracteres são, amiúde, menos personalidades dramáticas que
cismas e anseios desencarnados‖ (WILSON, 2004, p. 66). Rejeitando a denominação
―dramaturgos‖ e assumindo a de ―poetas dramáticos‖ em oposição à de ―poetas lìricos‖,
para Maeterlinck os poetas dramáticos deveriam se voltar para a representação da alma
do homem, das relações que essa tem com o desconhecido, com as inúmeras
possibilidades de ser do sujeito, como observa Edmund Wilson (2004). Nota-se,
44
Baseado no texto de Marterlinck, Pelléas et Mélisande foi a única ópera completa deixada por
Debussy, que conhecera o drama de Maeterlinck quando de sua estreia no Théatre des BouffesParisiennes, em 1893. No mesmo ano, cativado pela peça do autor belga, após obter autorização para
escrever uma ópera baseada nela, Debussy inicia seu trabalho de composição, que durou oito anos. Em
maio de 1901, o próprio compositor apresentou sua obra ao direor da Ópera Comique de Paris, Albert
Carré. Iniciados os ensaios, a ópera estreou em 30 de abril de 1902.
87
portanto, a preocupação em dispor novos elementos e características para o drama,
então responsáveis pela ruptura dos modelos do teatro naturalista, que até então
vigorava.
Outro importante nome é o de Villiers de L‘Isle Adam, em quem se pode observar
um teatro de transição, de conteúdo metafísico – ora acolhido por uma tradição
romântica, ora pela simbolista – com seu Axël, que sobe aos palcos em 1894, obtendo
relativo êxito no que diz respeito ao teatro simbolista, ainda que seu texto não seja, de
todo, simbolista, como observa Anna Balakian, demonstrando que a estrutura de Axël
―parece mais com o teatro romântico de Goethe, Musset e Hugo‖ (BALAKIAN, 2007,
p. 101), concentrando seu aspecto simbolista no que há de ―espìrito decadente‖.
Francisco Rebello destaca que esta peça de L‘Isle Adam é dos mais
representativos dramas do teatro simbolista, sendo aquele que ―exemplarmente
dramatiza esta perpétua demanda de uma ‗beleza que floresce num céu interior‘, aludida
por Mallarmé‖ (REBELLO, 1979, p.11). É, portanto, uma obra em que há a
representação da atitude decadentista levada à cena Não parece à toa que críticos como
Edmund Wilson (2004) ou Anna Balakian (2007) identificam o personagem de L‘Isle
Adam como a imagem do herói simbolista. Frantisek Deak (1993) ressalta o caráter
místico e idealista de Axël, de forma que já seria possìvel sentir em Villier de L‘Isle
Adam o espírito simbolista no teatro, ao qual Maeterlinck será, no dizer de Guy
Michaud, representante oficial:
En dépit de leurs mérites divers, aucune de ces piéces ne réalisait le
chéf-d‘ouevre attendu, et le théâtre symboliste aurait pu sembler
l‘expression maladroite d‘une idée puremmente intellectuelle, née de
prìncipes contradictoires, et vouée par avance à l‘éche, s‘il n‘y avait
Maeterlinck.45
45
Tradução: Apesar de seus méritos diversos, algumas dessas peças não se tornaram as obras-primas
esperadas, e o teatro simbolista poderia ter se tornado a expressão desastrosa de uma ideia puramente
88
(MICHAUD, p. 1947, 445)
A. M. Schimidt também compartilha da mesma opinião, apontando que
Maeterlinck acrescentará as técnicas do novo teatro, que será gerado, portanto, por um
―poeta dramático‖:
par incapacite de trouver une forme dramatique analogue à leur ideal
[...] lês sybmbolistes encoureront ils définitivement le reproche de
n‘avoir pas renouvelé comme toutes lês autres écoles littéraires l‘art
dramatique? Maurice Maeterlinck lês em sauve de justesse.46
(SCHIMIDT, 1947, p. 103)
Maurice Maeterlinck privilegiará, em seus dramas, as dimensões trágica, ritual e
sagrada, propondo um novo conceito de trágico – íntimo e silencioso – denominado por
ele de tragique quotidien: ―Il s‘agirait plutôt de faire entendre, par-dessus lês dialogues
ordinaires de la raison et des sentiments, le dialogue plus soínneí et ininterrompu de
l‘être et de as destinée. Il s‘agirait plutôt de nous faire suivre lês pas hesitantes et
douloreux d‘um être qui s‘approche ou s‘éloigne de as vérité, de as beauté ou de son
Dieu‖47 (MAETERLINCK, 1978, p. 290-291). O autor belga também, assim como
Stéphane Mallarmé, sonha com um drama ideal, pois, afirma Jean-Jacques Roubine, ―o
palco simbolista visa a promover o sonho‖ (ROUBINE, 2003, p. 135).
Maurice Maeterlinck, ao afirmar que ―nous sommes inférieurs aux poetes de
l‘antiquité qui mêlaient à leurs fictions um souci métaphysique et qui mettaient à la
scène la lutte de l‘homme contre lês dieux, c‘est-à-dire le problème de la destinée
intelectual, nascida de princípios contraditórios e lançada antecipadamente à isca, se não houvesse
Maeterlinck.
46
Tradução: por incapacidade de encontrar uma forma dramática análoga ao seu ideal [...] os simbolistas
incorreram definitivamente na reprovação de não terem renovado, como todas as outras escolas literárias,
a arte dramática? Maurice Maeterlinck salvou-os por pouco.
47
Tradução: Trata-se mais de nos fazer ouvir, acima dos diálogos comuns da razão e dos sentimentos, o
diálogo ininterrupto do ser e do seu destino. Trata-se mais de nos fazer seguir os passos dolorosos de um
ser que se aproxima e se distancia da sua verdade, da sua beleza, do seu Deus.
89
terrestre. ces nobles inquietudes ont disparu‖48 (MAETERLINCK, 1985, p. 165). O
autor de Pelléas et Mélisande mostra-se, portanto, insatisfeito com o teatro de sua
época, lamentando a perda do elemento metafísico da arte. No seu drama simbolista, o
autor busca um teatro que ponha em cena um ator desumanizado, sujeito às forças do
destino e da fatalidade. O que sobressai, no universo de Maeterlinck é o enigma do
invisível e do inexplicável, não o mundo visível.
Os simbolistas compreenderam que existia uma quase inviabilidade cênica dos
grandes poemas dramáticos da humanidade, como por exemplo Rei Lear, MacBeth ou
Hamlet. E por isso mesmo Maeterlink preconizava a criação de um teatro em que não
tivessem atores, que seriam substituídos por figuras de cera ou estátuas esculpidas, ou,
em outros casos, por uma sombra, um reflexo, ou projeção de formas simbólicas.
Mallarmé foi um dos primeiros críticos da Princesse Maleine, de Maeterlinck, sua
primeira incursão no gênero dramático, apresentando um teatro de dimensão latente,
moldado numa linguagem depurada, de sugestiva brevidade, emergindo como rumor do
trágico interior da vida humana. De acordo com Stéphane Mallarmé a respeito de suas
primeiras impressões sobre a primeira peça de Maeterlinck:
Lear, Hamlet, ele mesmo e Cordélia, Ofélia, cito heróis recuados
muito adiante na lenda ou seu longínquo especial, agem em toda vida,
tangíveis, intensos: lidos, eles amassam a página, para surgirem,
corporais. Diferente considerei a Princesse Maleine, uma tarde de
leitura permanecia a ingênua e estranha que eu saiba; em que dominou
o abandono, ao contrário, de um meio ao qual, por uma causa, nada de
simplesmente humano convinha. As paredes, uma maciça cessação de
toda realidade, trevas, basalto [...] para que seus hóspedes desbotados
antes de aí tornarem-se buracos, estirando, uma trágica vez, algum
membro de dor habitual, e mesmo sorrindo, balbuciassem ou
tresvariassem, sós, a frase de seu destino.
(MALLARMÉ, 2010, p. 149).
48
Tradução: somos inferiores aos poetas da antiguidade, que juntavam às suas ficções uma inquietação
metafísica e que colocavam em cena a luta do homem contra os deuses, ou seja, o problema do destino
terrestre, essas nobres inquietudes desapareceram.
90
Anna Balakian ressalta os ―ingredientes do teatro simbolista que germinaram na
mente de Mallarmé e se realizaram nas peças de Maeterlinck‖ (BALAKIAN, 2007, p.
117), operando uma ―descida‖ ao domìnio interior e secreto do ser humano, afinal, ――si
superficiel et si matériel, du sang, des larmes extérieures et de la mort‖49, conforme
escreve Maeterlinck (1999, p. 489) no seu Tragique Quotidien, em que o poeta belga
assimila e ultrapassa o teatro utópico de Mallarmé. Atento às vicissitudes de seu tempo,
Maeterlinck fez do despertar da alma humana o principal pilar de seu teatro simbolista,
de tal maneira que, atribui-lhe Edouard Schuré (1923), o papel de precursor do ―Teatro
da alma‖, mais do que pelo despojamento formal do drama, mas, sobretudo, pela
maneira como constrói os diálogos, fragmentados, balbuciantes, refletindo o vazio do
sentido perante o absoluto da morte. Jacques Robichez ressalta que, do ponto de vista da
encenação, a originalidade do autor residia no fato de que ―non seulement il supprimait
radicalemente tout décor détaillé, tout trai des moeurs , tout élément descriptif, mais
encore il renonçait à l‘analyse psychologique et négligeait la volonté, ressort dramatique
essentiel pour un Brunetière‖50 (ROBICHEZ, 1972, p. 83).
Será justamente o nome de Maurice Maeterlinck o mais venerado pelos
simbolistas portugueses, conforme destacam António José Saraiva e Óscar Lopes, ao
nomearem D. João da Câmara como introdutor do teatro simbolista em Portugal,
apontando-lhe influências maeterlinckianas: ―D. João da Câmara foi o introdutor da
dramaturgia simbolista, segundo a evolução que Maeterlinck imprimira a certas facetas
metafísicas de Ibsen, como O Pântano (1834) e Meia Noite (1900), peças dominadas
por uma sugestão de mistério indeterminado‖ (SARAIVA; LOPES, 1997, p. 959).
49
Tradução: tão superficial e tão material, do sangue, das lágrimas exteriores e da morte.
Tradução: ele não somente suprimia radicalmente todo cenário detalhado, todo traço dos costumes,
todo elemento descritivo, mas renunciava ainda à análise psicológica e negligenciava a vontade, mola
dramática essencial para um Brunetière.
50
91
Em 1904, subiram ao palco quatro peças de Maeterlinck, no Teatro D. Amélia.
Monna Vianna, Aglavaine e Selisette, Joyzelle e A Intrusa, o que faz corroborar a
possível influência de Maeterlinck. De fato, as duas últimas décadas são marcadas, em
Portugal, pelo Simbolismo francês, e, ainda que houvesse predomínio da estética
naturalista, muitos poetas, defensores de uma arte idealista e intuitiva, encontraram na
literatura dramática o lugar de expressão para os novos valores poéticos.
A respeito da literatura dramática finissecular, F. J. Vieira Pimentel destaca que há
três vetores que a sistematizam:
O primeiro representa o esforço para que o teatro acompanhe a ruptura
estética finissecular e oscila entre duas possibilidades: o poema
dramático de reduzidíssimas potencialidades cênicas e o drama
maeterlinckiano representável mas altamente abstrato e rebarbativo. o
segundo, neo-romântico, recupera e/ou continua tradições anteriores,
sendo sua via privilegiada o drama histórico [...] O terceiro é o que
procura incrementar e renovar o ―velho‖ realismo dramático [...], só
que agora à luz da doutrina e dos métodos que já haviam, entretanto,
chegado em força ao romance.
(PIMENTEL, 2001, p. 145)
As figuras dos heróis fundadores, conquistadores e navegantes, mulheres
sedutoras, figuras trágicas perseguidas pelo destino, vultos de poetas encontram lugar
no teatro português. Figuras, enfim, que emergem da própria História e são apresentadas
à luz de um sentimento nacionalista, voltando-se para os tempos mais mitificados da
História de Portugal: Viriato, Afonso Henriques, Pedro o Cru, Vasco da Gama, Rainha
Santa Isabel, Luís de Camões, Gil Vicente, Bocage. E, mais do que todos os outros, D.
Sebastião e Inês de Castro.
Se é com Henrique Lopes de Mendonça, em O Duque de Viseu (1886), que o
teatro de tema histórico conhece um novo surto em Portugal, é bastante extensa a lista
de autores que fazem do texto literário uma maneira de recuperar vultos da história e
das lendas. Destacam-se, por exemplo, A Morta (1890) e Afonso de Albuquerque
92
(1907), do próprio Lopes Mendonça; Leonor Teles (1889), O Regente (cuja primeira
representação se deu representação em 1897), Pedro o Cruel (1915), de Marcelino
Mesquita; D. Pedro (1890), de José M. de Sousa Monteiro;
Aljubarrota (1912),
Nun’Álvares (1918) e Santa Isabel (1933), de Rui Chianca;
Afonso VI (1890) e
Alcácer-Kibir (1891) de D. João da Câmara; Febo Moniz (1918), de Bento Faria; Vasco
da Gama (1922), de Silva Tavares; Viriato Trágico (1900) e a nova versão da Castro de
Ferreira (1920 ), de Júlio Dantas; O Pasteleiro do Madrigal (1924), de Augusto de
Lacerda; O Infante de Sagres (1916) e Egas Moniz (1918), Jaime Cortesão; Viriato
(1923) e O Infante Santo (1928), de Luna de Oliveira; Gomes Freire de Andrade (1907)
e um projeto inacabado de trilogia: Linda Ignez, A Vingança do Justiceiro e Morta e
Rainha, de Teófilo Braga; e, subvertendo história e mito, lugar de destaque tem o teatro
de António Patrício com O Fim (1909), Pedro, o Cru (1918), Dinis e Isabel (1919) e D.
João e a Máscara (1924).
93
2.2. Beleza apolínea, júbilo dionisíaco: a escrita mítica de Eros e Tânatos
Viver é só fundir a nossa alma
em toda a vida imensa e misteriosa
como o pólen cai fecundando uma rosa...
[...]
É odiar a dor e tanto e tanto
ter os olhos de febre no futuro,
que a pedra de tortura que eu levanto,
seja dentro de mim um ser que eu transfiguro.
(PATRÍCIO, 1989, p. 68)
No contexto do teatro simbolista, Luiz Francisco Rebello destaca que ―Raros
foram os poetas simbolistas que resistiram à solicitação do teatro‖ (REBELLO, 1979, p.
15). Os principais nomes do teatro simbolista português – ou que, não necessariamente
simbolistas, mas que escreveram dramas com base nesta estética – foram,
essencialmente, poetas. São os casos de Eugênio de Castro, Fernando Pessoa e António
Patrício. Como destaca Vieira Pimentel, somente ―com O marinheiro (1913) de
Fernando Pessoa e a obra de António Patrício, o simbolismo se poderá considerar
consagrado e razoavelmente aclimatado à nossa latitude‖ (PIMENTEL, 2001, p. 152).
Ou, mesmo, ainda mais categoricamente, como dirá Francisco Rebello:
Hoje, do teatro simbolista, à parte algumas exceções – toda a obra de
Claudel, a caricatura genial do Rei Ubu de Jarry, as peças num ato de
Maeterlinck (A Intrusa, Interior, Os Cegos), as ―fairy-plays‖ e os
―folk-dramas‖ do irlandês Yeats, os contos dramáticos de António
Patrício entre nós – o que resta é a música de Debussy para Pélléas e
Mélisande de Maeterlinck [...] ou de Ricardo Strauss para os libretos
de Hugo von Hofmannstahl e a Salomé de Wilde [...] E tudo o mais é
literatura.
(REBELLO, 1979, p. 14)
Ainda segundo Francisco Rebello, é possível encontrar no teatro de António
Patrício as formas mais ortodoxas da dramaturgia simbolista, como o repúdio da
―anedota‖, já explicitada pelo próprio Patrìcio em Dinis e Isabel, ao dizer que seu
―conto de Primavera‖ é ―uma tragédia, toda ìntima, sem indicações de costumes ou
cenários mais que as estritamente indispensáveis para situar um drama de consciências‖
94
(PATRÍCIO, 1989, p. 7) e, explicando a ―fábula trágica‖ de D. João e a Máscara, diz
que reduziu ao mínimo a anedota, fixando o que há de essencial no destino das
personagens (PATRÍCIO, 1972, p. 10). Como ressalta Maria do Carmo Pinheiro e
Silva:
A classificação patriciana de D. João e a Máscara como ―fábula
trágica‖ manifesta no dramaturgo português algumas das inquietações
mais profundamente sentidas por poetas como Baudelaire, Villier de
L‘Isle-Adam, Banville, Mallarmé ou Maeterlinck (mas não só estes,
pois, como poderíamos ver, a obra patriciana, embora não
manifestando grande proximidade às de um Strindberg ou de um
Tchekhov, não anda longe da Dramaturgia do Eu).
A sensibilidade artística de Patrício parece ter procurado reter a
essência da estética simbolista, onde o predomínio do poema
dramático sobre o teatro de acção era um dos elementos fulcrais. E,
enquanto moderno, o Autor recusa a classificação de ―tragédia‖ para
D. João e a Máscara, preferindo a de ―fábula trágicaa‖.
(SILVA, 1998, p. 18)
Nisto, António Patrício, tal como os simbolistas, afasta-se dum teatro tradicional –
o teatro naturalista e da anedota burguesa –, reformulando seus textos dramáticos de
acordo com um diferente gênero literário, o que se explica justamente pelos subtítulos
―contos de Primavera‖, ―história dramática em dois quadros‖ e ―fábula trágica‖
atribuídos respectivamente aos textos dramáticos Dinis e Isabel, O Fim e D.João e a
Máscara.
Para Luiz Francisco Rebello, embora na sua criação dramática:
sejam evidentes as aproximações com os grandes nomes do
simbolismo – a conceção do ‗drama estático‘ de Maeterlinck, o
preciosismo verbal de D'Annunzio, a carga poética de Yeats – há no
teatro de Patrício uma ressonância humana a que a presença, latente
ou manifesta, mas sempre obsidiante, da morte confere uma
verdadeira dimensão trágica.
(REBELLO, 1984, p. 108)
José Régio enaltece a ―linguagem quase sempre elevada ao poético‖ das ―estáticas
e como sonambúlicas composições‖ de António Patrìcio, tomando-o como exemplo,
quase paradoxal, dum teatro que é ―verbalmente espectacular‖. Para Régio, esse
95
verbalismo de ―rara qualidade literária‖ e ―superiormente musical‖ surge ―da autêntica
necessidade de expressão duma autêntica personalidade humano-artìstica‖ (RÉGIO, s/d,
p. 417-419). Desta maneira, o simbolismo legaria ao teatro português, com António
Patrício, uma das mais coerentes expressões de fidelidade à escola num plano de
qualidade literária, poética, mas também cênica e espetacular. Ainda no mesmo artigo
para a Estrada Larga, José Régio diz:
Por aí se tornou corrente uma noção de Teatro que limita esta grande
Arte, de origem litúrgica, a uma trivial habilidade no mexer
cordelinhos que provocam a atenção do mais inculto público. A tal
degradação chegou o tetro justa ou imprecisamente chamado burguês.
Para os convictos defensores de tal noção, tudo será o teatro de
António Patrício menos Teatro. De fato, onde os cordelinhos de suas
criações dramáticas? E não se vê claro que muito difícil seria
interessar-se por elas qualquer grande público de bilheteria? Acima
desta degradada noção de Teatro, uma outra se afirma, sustentada por
inteligências de melhor calibre, segundo a qual Teatro é sobretudo
acção. Também para os representantes destoutra opinião não há Teatro
no Teatro de António Patrício. Com efeito, a que se reduz a acção das
suas peças poéticas? Qual o movimento dessas estáticas e como
sonambúlicas composições? Ainda outra opinião, porém, se tem
recentemente generalizado até entre nós, para qual Teatro é sobretudo
espetáculo. [...] Ora se o espetáculo é coisa muito importante no
teatro, uma saída se oferece ao António Patrício, que é espetacular.
Mas sobretudo verbalmente espetacular – o que não simplifica muito
a questão. Antes me convida a explicar que, por exemplo, na oratória,
no canto, na pura declamação, tem a palavra um prestígio, um valor de
comunicabilidade, uma acção (sim, uma acção, porque nem só no
sentido folhetinesco pode ser tomada esta palavra!) que, por exemplo,
eu tento expressar classificando, então, de espetacular a palavra na
oratória, no canto, na declamação. por outros termos: Quero dizer que
muitas vezes tem a palavra o poder de reduzir os auditores a
espectadores. À palavra assim poderosa chamo espetacular ou teatral.
(RÉGIO, s/d, p. 418-419)
Nos textos dramáticos de António Patrício, a história ficcional move-se pelos
personagens, cujas falas são atos e decisões, de tal maneira que a intriga se desenvolve
dialeticamente para um desfecho que virá resolver o embate entre as forças antagônicas
postas em confronto. De fato, tudo é linguagem, tudo é discurso em Patrício, que busca
conferir muita força à escrita; é a força da palavra, a referida ―espectacularidade verbal‖
96
de que fala Régio, como se observa mesmo nas difíceis, mas espetaculares, didascálias.
É o caso de Judas:
[...] Súbito, como um perfume se faz corpo, a Sombra de Jesus aflora
o chão [...] a Face ainda envolta em bandeletas, donde filtra o olhar,
amorosíssimo, caindo com um eco de soluço; os pés, – de luar ferido,
mal pisando.
(PATRÍCIO, 1972, p. 147)
Ou, também, em D. João e a Máscara:
A Morte desce os degraus. Começa a caminhar pela alameda. Há um
ranger de folhas secas: rodopiam à roda d‘Ela, turbilhonam; são por
fim uma espiral louca que sibila.
(PATRÍCIO, 1972, p. 46)
Frantisek Deak, em seu Symbolist theater: the formation of an avant-garde,
observa que a separação entre o espetáculo e o texto inscreve-se numa prática textual
iniciada no século XVIII até seu pleno desenvolvimento no século XX. Será a partir do
século XIX que a própria noção de teatralidade vai receber maior atenção, a ponto de
muitos textos serem escritos de modo a privilegiar os impulsos visuais, como cenários e
efeitos de cena. Deak ressalta que a distinção central que se formou em torno do teatro
simbolista foi justamente a que se estabeleceu entre teatro e poesia, cujos autores
―would have to transcend the seemingly mutual exclusion of theater and poetry‖51
(DEAK, 1993, p. 22). De fato, no século XIX, a oposição entre teatro e poesia será um
tema constante para os simbolistas, sobretudo para aqueles que buscavam transcender a
exclusão que teatro e poesia pressupõem. Parece ser esta a tônica dos textos dramáticos
de António Patrício.
Como observa Maria do Carmo Pinheiro e Silva, ao estudar os textos dramáticos
de Patrício:
(i) a linguagem não tem como função essencial (nem sequer como
simples função) pôr o leitor ou o espectador a par dos
―acontecimentos‖, aliás bastante reduzidos; (ii) a ausência de
51
Tradução: teriam de transcender aparentemente a mútua exclusão de teatro e poesia.
97
articulação lógica nas intervenções das personagens não só
impossibilita a materialização do diálogo, como sugere ou faz
pressentir um protagonismo ausente, e (iii) as personagens que dão
título a cada uma destas tragédias «tragédias íntimas» - a velha rainha,
D.Pedro, D.Dinis, D.Isabel ou D.João – vivem permanentes conflitos
espirituais com uma desconhecida invisível mas omnipresente.
(SILVA, 1998, p. 110)
Há, também, um repúdio às categorias convencionais de personagens e de um
tempo e um espaço imediatos. As personagens de Patrício são arrebatadas por uma
paixão, como Pedro que, sem restrições, entrega-se à Saudade que o move, como se
percebe numa fala sua à Abadessa do Mosteiro de Santa Clara: ―Erguei-vos, Madre.
Não sou eu que vos venho perturbar. É a Saudade que me traz, é ela só‖ (PATRÍCIO,
2002, p. 74). Além das personagens, o tempo e o espaço ganham dimensão simbólica.
Pedro se proclama o ―Rei-Saudade‖; três dias Pedro viverá com sua amada para – como
Cristo ressurrecto após três dias – erguê-la para a vida, como ele diz no diálogo com
Afonso, seu escudeiro: ―imagina tu que justiça foi feita. [...] Então, a paz de Deus virá
sobre a minha alma... três dias viverei com ela o meu amor... [...] Logo... logo depois de
os justiçar, vou erguê-la da cova... à minha Inês‖ (PATRÍCIO, 2002, p. 30); ainda em
Pedro, o Cru, Portugal (espaço geográfico) torna-se ―uma provìncia apenas‖ diante de
um reino maior – o Reino da Saudade, erigido por Pedro: ―o meu reino de segredo, sem
fronteiras, o meu reino de amor abrange a Morte, a sua natureza de mistério...‖
(PATRÍCIO, 2002, p. 24).
A atmosfera de sonho que Patrício cria para Dinis e Isabel, conforme o próprio
autor sugere no prólogo da obra, ao dizer que a intenção lìrica do conto é dramatizar ―o
sonho de alguém que numa manhã de Primavera entrasse numa igreja e adormecesse
sob influição fulgurante dos vitrais‖ (PATRÍCIO, 1989, p. 7). Assim, a ação, mais
sonhada que vivida, é posta a serviço da revelação das almas.
98
Em D. João e a Máscara, as didascálias e indicações de cena são breves tanto na
caracterização do espaço quanto na das personagens que ―agem‖, como, também, as
referências ao momento em que a ―ação‖ ocorre, sobretudo o tempo da sedução. Os
acontecimentos passam-se em Sevilha, e circunscrevem-se, no espaço, aos palácios de
D. João e do Duque de Silvares, à casa de D. Ana e, no final, ao Convento de La
Caridad. Aliás, nas primeiras indicações de cena algumas características próprias do
teatro simbolista são bem perceptíveis: para além da animização de imagens, uma
madrugada úmida de outono que ―vai descerrando devagar as pálpebras‖, uma porta de
ferro, ―solene e alta, armoriada‖ (PATRÍCIO, 1972, p. 15).
A musicalidade tem um caráter marcante na escrita de António Patrício, para
quem ―A música é o médium do Mistério‖ (PATRÍCIO, 1995, p. 123). Subjaz a escrita
teatral de Patrício uma forte corrente musical, num engenhoso cuidado rítmico e sonoro,
com uma imagística extremamente elaborada: sinestesias, repetição de sons, de
palavras, de metros – como se fossem fragmentos poéticos postos em prosa – como nos
decassílabos de Judas:
A SOMBRA DE JESUS
Dos doze és para mim o mais amado.
JUDAS, com desespero
Não posso ouvir, Senhor, não devo ouvir
(PATRÍCIO, 1972, p. 148)
ou, mais fortemente marcado, nas frases que são construídas como versos decassílabos,
em Pedro, o Cru, em que o rei fala de sua noite da Saudade:
A noite em que a saudade se fez carne... A noite em que o passado
está presente, mas presente adivinho com futuro, abrindo os olhos
sobre um fundo eterno.
(PATRÍCIO, 2002, p. 98)
Observa-se, portanto, que a musicalidade confere um tom às falas poéticas das
personagens, não são adornos, mas complementos daquilo que têm a dizer, passando
99
pela justificativa de que a Palavra deixa para Música a criação de uma atmosfera em que
o Verbo irá adquirir o seu pleno sentido.
Em D. João e a Máscara, os diálogos que correspondem aos momentos mais
solenes são, em geral, tratados como fragmentos musicais, como ocorre no final da
―fábula trágica‖, em que se opera a passagem do recitativo para a ária, ou, também, no
primeiro encontro entre D. João e a Morte, cuja voz é detentora de um poder de
encantamento:
D.JOÃO:
A tua voz, que tem?... Parece que desperta
uma alameda de visões, entreaberta...
E depois, ao calar-se, é a quintessência, a causa
- como entre acordes de órgão, numa pausa de tudo o que na vida, e sem saber, procuro,
e vai enfim abrir como uma flor no escuro.
Ó Máscara sem sono,
se tu vens, se tu vens nesta manhã de Outono,
p´ra me dizer enfim o sentido da vida,
numa casa sem luz, há a Manhã escondida.
Doces, doces as mãos – como de folhas mortas,
acordando a matilha e descerrando as portas...
(Silêncio breve)
Onde foi que eu Te vi? – Foi em mim? Foi em mim?...
(PATRÍCIO, 1972, p. 36-37)
A musicalidade que ressoa da voz e – numa outra instância – do corpo do D.
João de António Patrìcio também o situa na linha da ―genialidade erótica‖ – à qual
Kierkegaard atribuiu ao Don Giovanni de Mozart – e que só poderia se manifestar pela
música, por ser a mais abstrata expressão artística.
Outra forte herança simbolista presente no texto dramático de António Patrício é a
presença imaterial de forças sobrenaturais. Dinis e D. João, por exemplo, lutam contra
uma potência invisível. Em Dinis e Isabel ela se apresenta na forma do perfume exalado
pelas rosas:
ISABEL
Oh! Oh!... Guiai-me. Tende pena, amigo. Socorrei-me. (Pára um
instante: olhando em si) Deixai-me relembrar junto de vós. Quando
100
deixei cair a arregaçada, pus a minha alma em Deus e nem olhei.
Tinha medo por vós, por vossa dor, não por o que de dor a mim
viesse.Passaram-se uns instantes. mal vivia. Depois esta pergunta sem
sentido, em que havia terror, que me gelava: - ―eram pães... dizei...
trazìeis pães?...‖ Olhei então, e vi maravilhada, a cabeça nas mãos
desse perfume, nas invisíveis mãos que ma tomavam...
(PATRÍCIO, 1989, p. 64)
Em D. João e a máscara, ela está presente em todas as mulheres e, por fim, na
Soror Morte:
SOROR MORTE
Desce ao claustro, de noite, sem ruído:
o mistério p‘ra ti, é um novo sentido;
[...]
O silêncio da noite é um turbilhão de gemas
sofrendo como tu, em órbitas sem nome,
do mal, do grande mal que te consome.
(PATRÍCIO, 1972, p. 137)
Pode-se, assim, observar nos textos dramáticos de António Patrício os principais
pressupostos do teatro simbolista, manifestando-se em temas como a vida, a morte, as
contradições e dualismos do ser humano – carne e espírito, finitude e infinitude – como
apego, como vocação nostálgica do Absoluto. A fronteira entre morte e vida
dificilmente pode ser detalhadamente delimitada pela compreensão humana. Há, porém,
que se atentar ao que diz Teresa Rita Lopes, ao aludir a um caráter bastante peculiar do
teatro simbolista de António Patrício:
Chargé de missions diplomatiques à l‘éntranger, il été em contact avec
lês mouvements littéraires em Europe, et notamment em France. Mais,
contrairement à E. de Castro, qui s‘est plié aux modes symbolistes
pour lês abandonner ensuite, Patrício a realize, tout au long de as vie,
une ouvre [...] originale. On peut certes déceler dans cette aouevre
l‘influence Du Symbolisme, mais Il n‘em a conserve que ce qui
servait se façon três personelle de s‘exprimer.52
(LOPES, 1985, p. 71)
52
Tradução: Encarregado de missões diplomáticas no estrangeiro, ele esteve em contato com os
movimentos literários europeus, particularmente na França. Mas, contrariamente a E. de Castro, que se
dobrou aos moldes simbolistas para abandoná-los em seguida, Patrício realizou, ao longo de sua vida,
uma obra [...] original. Certamente, pode-se perceber nessa obra a influência do Simbolismo, mas ele não
conservou senão aquilo que servisse à sua maneira pessoal de se expressar.
101
Assim, se Patrício soube ser um simbolista bastante ortodoxo, soube, também,
acompanhar a própria evolução que o movimento Simbolista incutiu em sua própria
poética, conforme já destacara Guy Michaud ao dizer que:
Il faudrait étudier comment tout comme les idées ells-mêmes ces
thémes se commandent et s‘enchâinent, despuis l‘inquietude, le
pessimism, le sens du mystére, la nostalgie des paradis perdus ou la
revolte, jusqu‘au mysticisme, à l‘éla ver l‘absolu, puis á la inuition
d‘um ordre cachê, à lamour de la vie et de la nature à l‘enthousiasme
et à la joie.53
(MICHAUD, 1947, p. 711)
Francisco Rebello considera que foi com António Patrício que o Simbolismo
encontrou sua melhor expressão, ao afirmar que ―Alheio a todo e qualquer espìrito de
escola, António Patrício foi o grande, para não dizer o único, autor dramático que em
Portugal a estética Simbolista produziu‖ (REBELLO, 1979, p. 35), destacando-se,
portanto, como um dos consolidadores da estética teatral simbolista em Portugal.
Em seus textos dramáticos, realizou uma ―tragédia ìntima‖, em cuja efabulação
afasta-se do real, porque se centra no mito e integra personagens que perseguem
sombras. Os simbolistas, por exemplo, para atenuar a materialização das personagens,
fizeram muitas vezes das personagens espectros e figuras sonâmbulas. Nos textos
dramáticos de Patrício, porém, e citando Teresa Rita Lopes:
Patrício n´a pas eu besoin de recourir à ces artifices pour rendre
sensible ce tragique jeu d´ombres, ce colin-maillard où l´homme, les
yeux bandés, essaie de trouver à tâtons ―quelques chose ou
quelqu´un‖, selon l´exclamation anxieuse de D.João. C´est lui qui
s´arrête, hagard, au milieu du jeu, pour observer: ―comme il est
difficile de reconnaître quelqu´un…Nous sommes des ombres folles
parmi des ombres‖.54
53
Tradução: Seria preciso estudar como as idéias, elas mesmas, e esses temas se comunicam e se
encadeiam, a partir da inquietude, do pessimismo, do senso de mistério, da nostalgia dos paraísos
perdidos ou da revolta até ao misticismo, no ímpeto ao Absoluto, à intuição de ordem dissimulada, ao
amor à vida e à natureza, ao entusiasmo e à alegria.
54
Tradução: Patrício não teve necessidade de recorrer a esses artifícios para tornar sensível esse trágico
jogo de sombras, esse cabra-cegas onde o homem, de olhos vendados, procura encontrar, tateando,
alguma coisa ou alguém; segundo a exclamação ansiosa de D.João. É ele quem para, alucinado, no meio
do jogo, para observar: ―como é difìcil reconhecer alguém… Somos sombras loucas entre outras
sombras‖.
102
(LOPES, 1985, p. 84)
Não existe nos personagens de António Patrício a apatia, a ausência de vontade,
marcas, aliás, tão caras à estética teatral simbolista, como aponta Anna Balakian ao
dizer que ―As personagens atuam de modo tão igual, falam tão pouco, esperam
infinitamente que alguma coisa aconteça em lugar de lutarem contra o destino‖
(BALAKIAN, 2007, p. 99). Aceitam os eventos vivenciados, denotando uma entrega
plena ao jogo de forças do devir. A passividade de tais personagens decorre de uma falta
de potência vital, fazendo com que aceitem vulgarmente os eventos com os quais se
deparam, resignam-se, acreditam que se algo é ruim para a vida, de modo algum é
pertinente interceder para que se modifique o que é ruim, pois é melhor sofrer, mas
sobreviver, do que lutar para não mais sofrer e exaurir, assim, rapidamente o exíguo fio
de energia vital que ainda anima o corpo.
As personagens de Patrício se aproximam mais, portanto, de um Axël55, de
Villiers de L‘Isle Adam, do que das personagens extremamente apáticas do teatro de
Maeterlinck, frente aos acontecimentos, marcados de silêncios e hesitações. Em vez
disso, as falas e ações das personagens de Patrício demonstram uma paixão, denotam
uma ação diante das vicissitudes da morte. São videntes, vivenciam o desregramento
dos sentidos. As personagens de Patrício, na verdade, mesmo convivendo com as
55
Axël realiza uma escolha: ao optar pela morte, opta pela vida interior, pela preservação de seu sonho,
como a como se pode observar na sua fala à amada Sara: ―Viver? Não. Nossa existência está completa, e
sua taça transborda! Que ampulheta contará as horas desta noite! O futuro?... Será, crê nestas palavras:
nós acabamos de esgotá-lo. Todas as realidades, amanhã que serão elas em comparação às miragens que
acabamos de viver? [...] A qualidade de nosso espìrito não nos dá direito à terra.‖ (L‘ISLE-ADAM, 2005,
p. 198). O mesmo se pode observar justamente na didascália que encerra a obra: ―Axël leva aos lábios a
taça mortal, bebe, estremece e vacila; Sara pega a taça, termina de beber o resto do veneno, depois fecha
os olhos. Axël cai; Sara se inclina para ele, arrepia-se, e eis que estão jazendo, entrelaçados, sobre a areia
do corredor funerário trocando sobre os lábios o suspiro supremo. [...] ouvem-se, de fora, os mumúrios
distanciados do vento na vastidão das florestas, as vibrações do acordar do espaço, a agitação das
planìcies, o alarido da Vida‖ (L‘ISLE-ADAM, 2005, p. 206).
103
sombras, mantêm-se despertas e detentoras de todos os seus sentidos, assumindo a
violência e os seus instintos.
Há, nisto, a compreensão trágica da vida, que partilha da ideia de que há um
caráter aniquilador e efêmero na existência, mas que não se deixa conspurcar pelo
desgosto ou pelo temor diante do devir. Ao contrário, a experiência trágica é força de
ação: as personagens de Patrício, mesmo diante das vicissitudes do mundo, não se
abismam no nada, no vazio. De acordo com Teresa Rita Lopes:
Dans chaque personnage il y a deux abimes que grodent: celui
des instincts, éclatant de seve souterraine, et celui de l‘âme,
avide de démesure [...] Il s‘agit toujours d‘une soif à Double
sens, de nuages et racines. La vitalité tragique des personnages
de Patrício vient de ce que chair et spirit, intintcs et ame
tourbillonnent ensemble dans um meme corps, sans parvenir à
une synchronization, à un equilibre.56
(LOPES, 1985, p. 78-79)
Fernando Guimarães aponta dois importantes nomes para situar o Simbolismo
português: Antero de Quental e Teixeira de Pascoaes, poetas que, segundo ele, ―ocupam
a cena literária imediatamente antes e depois do Simbolismo em Portugal‖
(GUIMARÃES, 1990, p. 90). O primeiro, um dos principais integrantes da chamada
Geração de 70, grupo de intelectuais e artistas que seu início ao realismo português; o
segundo, diretor de A Águia (1912) e figura central como mentor e doutrinador de uma
nova filosofia em Portugal, o Saudosismo.
Leitor e admirador de ambos, de Antero, António Patrício aprendeu – e exorcizou
– a visão pessimista de que tudo é ilusão e que não há um sentido, uma redenção para a
vida humana, nem mesmo para além dela. Há, por exemplo, em Oceano, ecos
56
Tradução: Em cada personagem há dois abismos ameaçantes: o dos instintos, expondo a seiva secreta,
e o da alma, ávido de sentimentos violentos [...] Trata-se sempre de uma sede de duplo sentido, de nuvens
e de raízes. A vitalidade trágica das personagens de Patrício origina-se da carne do espírito, dos instintos e
da alma que turbilhonam juntos num mesmo corpo, sem chegar a uma sincronia, a um equilíbrio.
104
anterianos que, posteriormente seriam superados. Conforme escreve António Patrício no
prólogo de D. João e a máscara: ―Sabia-o bem Antero, que o sentido da vida é o
sentido da morte. E os que, como nós, rezavam os Sonetos no colégio, souberam-no de
cor, como os simples dizem orações, bem antes de em desespero as aprenderem‖
(PATRÍCIO, 1972, p. 11).
Respaldado pelo modo peculiar com que lê e interpreta o Saudosismo preconizado
por Teixeira de Pascoaes, António Patrício passa da torrente ou carga elétrica que é a
poesia de Antero a uma profunda sensibilidade encantada pela vida. A sua poética passa
a perceber o mundo de forma a revelar a grandeza da vida, sobretudo, nos seus textos
teatrais, ainda que, invariavelmente, toquem na ideia dominante da morte que é,
segundo António José Saraiva e Óscar Lopes, ―como que o recorte, a consciência plena
e definida, neste escritor, do valor insubstituìvel de cada momento da vida tensa‖
(SARAIVA; LOPES, 1997, p. 980).
Quanto a Nascimento Rosa, destaca que:
Se Pedro, o Cru e Dinis e Isabel nos reflectem hoje os mais notáveis
exemplos de poesia em drama inspirados por elementos da chamada
estética saudosista, é porque aquela não se limita aos pressupostos
mais estreitamente provinciais nesta contidos, dotando-a de elementos
universalizantes, na busca pela teatralização de arquétipos, ou seja, a
captação transpessoal de valor universal transmitido pela interpretação
de mitos afectos à história e à cultura portuguesas; falamos de Pedro,
o Cru, mas igualmente de Dinis e Isabel, onde a dramatização da
vivência saudosa se verificará, se bem que de modo mais conciso e
críptico, menos enfatizado embora substancialmente lírico na sua
revisitação do catarismo trovadoresco (uma saudade que na Terra é a
marca de nostalgia gnóstica de um Paraíso transmundano ansiado).
(ROSA, 2003, p. 168)
Nisto, talvez a mais profunda influência intelectual presente na obra de António
Patrício tenha sido a exercida pelo filósofo Friedrich Nietzsche. Como aponta Armando
Nascimento Rosa, ―A sensibilidade e a intuição criadoras de Patrício ficarão
indelevelmente ligadas a essa embriaguez contagiada pelas leituras deste filósofo
105
diferente, anti-platónico ao conceder uma superior sageza ao poeta dramático, em
detrimento do abstracto raciocinador‖ (ROSA, 2003, p. 54). É importante assinalar que
o próprio António Patrício, numa entrevista a João Ameal, para o Diário de Notícias
(PATRÍCIO, 1929, p. 1), confessa-se, enquanto escritor dramático, herdeiro daquilo
que, para Nietzsche, é a origem da criação estética: o apolíneo e o dionisíaco, aliás,
como fica patente pelas próprias citações nietzschianas, que se encontram esparsas por
toda a obra do escritor português. Ressalta Urbano Tavares Rodrigues que ―em António
Patrício, o culto de Nietzsche anda envolto na bruma do saudosismo, que lhe esfuma as
arestas. Patrício escreve adrede enormidades para as contestar, aquém da acção, num
jogo subtil do fazer e desfazer do real, na sua projecção‖ (RODRIGUES, 1981, p.1).
De acordo com a perspectiva helenística que se desenvolveu na Europa a partir de
meados do século XVIII, através das pesquisas pioneiras de Winckelmann, da qual
diversos pensadores receberiam marcante influência, dentre os quais Richard Wagner e
Friedrich Nietzsche, o ―princìpio apolìneo‖ estava associado o estado de sonho, em
decorrência da capacidade de a mente humana representar, através das imagens oníricas,
as belas aparências como simulacros da dimensão harmônica do divino. Na estética, o
impulso apolíneo se manifesta através do enaltecimento da beleza, justamente pelo fato
de que o belo mantém estreito vínculo com a harmonia, com a proporção, posto que
tudo aquilo que pertence ao plano do belo deve necessariamente respeitar as regras da
proporção. O ―dionisìaco‖ refere-se ao impulso natural que, de acordo com Nietzsche,
propunha a total inversão dos valores apolíneos de moderação e equilíbrio
(NIETZSCHE, 1993, § 1).
Ao promover enfaticamente a superação dos limites da individualidade, a visão de
mundo dionisíaca afirma como seu estado psíquico essencial não o aprazível e suave
106
estado de sonho apolíneo, gerador das ilusórias belas formas da aparência, mas o êxtase,
decorrente do anseio de o indivíduo retornar ao estado de natureza, através da
integração incondicional entre todos os seres humanos, de todas as condições sociais,
idades e classes.
Assim, a beleza apolínea serve de baluarte para a harmonia das formas diante do
caos inerente ao mundo. Entretanto, há que se ressaltar que, segundo a perspectiva de
Nietzsche, seria na poesia épica que o impulso apolíneo alcançaria a sua maior
dignidade e reconhecimento (1993, § 3). Essa magnitude se manifestaria nas célebres
epopeias de Homero – que, nas suas obras, enaltece a beleza singular dos deuses
olímpicos, a excelência de heróis e a glória imortal dos grandes feitos dos nobres
guerreiros – e nas narrativas cosmogônicas de Hesíodo, quando este se propõe a
declamar a vitória da harmonia e da ordem cósmica dos deuses olímpicos sobre o estado
de caos imposto ao mundo primordial, através da ação aniquiladora dos terríveis Titãs.
O júbilo dionisíaco concede ao homem a possibilidade de se elevar acima de
suas próprias limitações, fazendo assim nascerem obras que expressam não mais a
beleza do mundo dos fenômenos, mas o próprio mundo interior da intensidade, cuja
expressão exterior se encontra no universo através da harmonia do devir. Os contrastes
da realidade, ainda que aparentemente demonstrem a instabilidade da existência, a
morte e a destruição, em sua potência vital, que se desvela através da intuição
originária, expressa uma beleza harmoniosa.
Para Nietzsche, é Apolo quem confere forma, aparência à vida – experiência
essencialmente dionisíaca – transformando-a em arte trágica. Ao conferir forma ao
mito, ao transformá-lo em arte trágica, Apolo lhe confere uma ―bela forma‖. Assim, o
deus da experiência onírica transforma a vida – que, em Dionísio, deseja mostrar-se
107
como experiência de autenticidade – em ―sonho‖. Nascimento Rosa observa que ―o
palco patriciano é um discípulo desse onirismo dramático, enviando as personagens
para o limbo irreal do sonho, ou melhor, para as realidades translúcidas da expressão de
conteúdos inconscientes teatralizados‖ (ROSA, 2003, p. 68). E, mais adiante, ainda
observando a influência nietzschiana em Patrício, acentua que:
Subvertido, treslido e assimilado na personalizada e caprichosa óptica
de um esteta, Nietzsche representará na escrita de Patrício o papel de
sábio transgressor que reúne, em congenialidade, na forma e no
conteúdo, a chama filosófica e o fulgor poético ardendo em tocha
única: a filosofia apta a dançar com Dioniso e seus sátiros e a fruir o
corpo orgástico; a poesia que pensa e gravemente empurra o
raciocínio para mais longe do que os freios conceptuais o
autorizariam.
O drama patriciano será, pois, um teatro filosófico; e só ao afastarmonos do tablado da caverna em sombras para o radioso sol da platônica
alegoria, perceberemos que os seus esfumados enredos são tramas de
arquétipos em demanda do conhecimento. Do conhecimento de si
mesmo, que torna possível contemplar o teatro externo do outro, da
alteridade do mundo, com uma renovada sageza provinda da nascente
em devir do rio que somos, por vezes sem sabê-lo.
(ROSA, 2003, p. 73)
A morte e a destruição da vida seriam parte do próprio ciclo vital, refletindo assim
a percepção global da epifania dionisíaca de que existe uma grande unidade entre todas
as expressões da natureza, mesmo que biologicamente ―mortas‖. Será este o tom que
Patrício dará a Pedro, o Cru, ―tragédia da saudade‖ em que a vida e a morte se não
opõem nem competem, mas coexistem rodeadas pela Natureza e pelo Amor. Após a
trasladação do corpo de Inês do Mosteiro de Santa Clara para o de Alcobaça, é o vento
que abre a porta, apaga as luzes e ―arrasta pelas lajes folhas secas‖ (PATRÍCIO, 2002,
p. 131). Apenas Pedro, porém, compreende o que se passa: é o primeiro beija-mão – o
da Natureza – que antecede o dos homens:
PEDRO
Oh! Oh!... O vento! O vento!... ei-lo connosco. Despertou ao chegar,
desceu das nuvens, e vestido de noite, entrou também. (Apanha folhas
secas no lajedo) E as folhas – olhai – as folhas secas!... E o beija-mão
das árvores do Outono!... Os choupos de Coimbra sonham asas...
108
Vinde!... vinde!... vinde!... E bem assim. As amigas de Inês antes da
corte...
Põe sobre as mãos da Morta folhas secas.
(PATRÍCIO, 2002, p. 132)
A referida passagem de Pedro, o Cru estabelece um profícuo diálogo com a
fábula poética ―O amor e a morte‖, também de Patrìcio, em que o autor revela, de
acordo com sua perspectiva dionisìaca, não haver a ―morte‖ propriamente dita, pois que
todo tipo de forma de vida, ao perder as suas funções orgânicas, é apropriada pela
natureza, que então transforma essa matéria em energia dinâmica a ser assimilada por
outros corpos:
O Amor encontrou num jardim encantado
a Morte a soluçar perdidamente
Tinha nas mãos um rouxinol inanimado
e falava a uma fonte docemente:
[...]
Eu nem sei o que faço, vou sem tino
e cada passo meu, cai morto um coração
[...]
Às vezes morrem astros pela altura
só porque ergui o meu pressago olhar...
A minha dor, ó fonte, não tem cura...
Quem fora como tu sempre alegre a chorar!
Curvado de piedade,
o Amor beijou então perdidamente a Morte...
Vê tu que és para mim já quase uma saudade,
como brotou desse jardim a nossa sorte!
(PATRÍCIO, 1989, p. 35-36)
No teatro de António Patrício, não é o ideal de beleza apolínea que se representa,
mas, antes, a experiência dionisíaca da necessidade de se vivenciar uma nova
compreensão da existência, em que se atesta a certeza da eternidade da vida, para além
da existência individualizada. A visão de mundo trágica mostra-se capaz de promover
uma nova compreensão da existência e da condição individual humana, na qual vida e
morte se encontram intimamente entrelaçadas. A tragédia não lida apenas com a
aparência, mas une os dois impulsos estéticos, para transpor em imagens apolíneas os
109
estados dionisìacos e possibilitar uma experiência trágica da essência do mundo. ―O
mito trágico só deve ser entendido como uma figuração da sabedoria dionisíaca através
de meios artìsticos apolìneos‘ (NIETZSCHE, 1993, §22).
Pensar a experiência dionisíaca é pensar a ideia de trágico, e, mesmo nos seus
elementos mais violentos, havia já tal ideia manifestada, seja em suas ações ou
concepções valorativas. Haquira Osakabe, por exemplo, já apontava para o fato de que:
o drama Pedro o cru (1918), de António Patrício, realiza de modo
exemplar essa dissolução que resulta na disposição ambivalente dos
personagens, reais e imaginados, ideais e reais, históricos e aistóricos.
O Portugal fundado por Inês de Castro fundiria a história a um
conteúdo etéreo, país de névoas e de saudades, porém real e palpável
como qualquer sentimento. Da mesma forma, em Dinis e Isabel
(1919), do mesmo autor, personagens que a história portuguesa tanto
homenageou transitariam pela história e pela lenda, ou pelo território
material e imaterial do amor, como se tais instâncias não contassem
para as motivações de seus impulsos vitais. Com esse tipo de
dissolução, António Patrício parece lograr subverter a relação das duas
ordens canônicas sobre as quais o pensamento ocidental se construiu e
cria concretamente para os portugueses um desafio que até hoje parece
ser questão para seus intérpretes: a decifração de seu próprio mito.
(OSAKABE, 2007, p. 71)
A existência, na poética teatral de António Patrício, é uma surpreendente
confluência entre a vida e a morte, e tal percepção torna-se uma glorificação
incondicional da existência. Morte e vida são instâncias indissociáveis, e, ao se
compreender intrinsecamente essa dinâmica existencial, alcança-se uma jubilosa
compreensão do valor da vida e da própria morte. É o caso de D. João e a Máscara:
D. JOÃO
O silêncio não uiva... a matilha calou-se...
a vida, em mim, ergueu as mãos: ajoelhou-se
A MORTE
Não é o instante ainda do meu beijo.
D. JOÃO, embainhando a espada lentamente
Sinto que te amo já para além do desejo.
(Fixando-A)
(PATRÍCIO, 1972, p. 35)
110
Assim, a dor, a perda, a morte, enfim, são partes de um processo vital. O cerne da
poética de António Patrício está, justamente, na espiritualidade e apego à vida na terra,
em que, muitas vezes, a Natureza surge como manifestação da própria divindade e, de
tal maneira, que o divino é, sobretudo, uma força imanente à própria vida.
Em Dinis e Isabel, há um violento embate entre o poder divino e a vontade
humana, em que a cena do milagre das rosas é exemplar. É o chamado de Deus da vida
terrena para a vida espiritual, renegado, porém, por Isabel: ―Eu adoro Dinis: quero ser
dele. Com todo o amor e com remorso: pensa!... Eu sou da dor como era. Sou a mesma‖
(PATRÍCIO, 1989, p. 76). Ou, também, numa outra fala sua:
ISABEL
[...] O perfume das rosas esvaiu-me. Estou esvaída, estou deserta em
mim... Devagarinho. Ouvi. Tende piedade... (Quase em soluços)
(PATRÍCIO, 1989, p. 63)
O aniquilamento do indivíduo, na prática dionisíaca, não representaria, portanto, a
sombria extinção da vida, mas a possibilidade de que as suas partes extensivas se
reconfigurassem em novos modos de expressão através do processo de contínua
transformação dos elementos da natureza. Como destaca Walter Friedrich Otto acerca
do culto dionisìaco, ―Quando ele irrompe com o seu selvagem cortejo, volve o mundo
primordial que desdenha todo limite e toda norma, pois lhes é anterior; mundo que não
conhece hierarquia nem distinção dos sexos, pois, sendo vida entrelaçada com a morte,
envolve e reúne a todos os seres, indiferentemente‖ (OTTO, 2006, p. 162). A matéria
constituinte das coisas, portanto, é viva, dotada de um poder divino imanente que lhe
permite doar a energia criadora que proporciona o desenvolvimento e florescimento
criativo de todos os seres.
Em Pedro, o Cru não há conflito. Pedro não duvida de sua crença, está
impregnado por uma certeza mística: através de seu empenho em todo um ritual de
111
desenterro da amada, de sua coroação e da cerimônia do beija-mão, a Saudade será a
força que o fará comungar com Inês num reino imaterial. Numa cena durante o
traslado de Inês, Pedro desdenha do conhecimento racional, simbolizado pela figura
do astrólogo, que zomba de sua fé em fazer reviver Inês:
PEDRO:
Tu mandas o teu olhar até às estrelas, – olhar perscrutador e tão
agudo, que lhes põe em sangue as penas de oiro... És sábio. Acho bem
que me desprezes. (Pausa. Outro tom) Pra entender estrêlas, o melhor
é viver com elas e arder sempre. O resto é pouco. (Mais perto dele) É
nada. O olhar que mais vê é o olhar da vida – são um espelho em face
de outro espelho. Querer saber é um impossível triste.
O ASTRÓLOGO;
E querer amar?
PEDRO:
Querer amar, mesmo quando, à míngua de alma, o não consigas, seria
ainda um impossível bom.
(PATRÍCIO, 2002, p. 112-113)
Em D. João e a Máscara, o ―burlador de Sevilha‖, na interpretação que lhe dá
António Patrício, é um homem que se vê prisioneiro das formas transitórias do mundo.
Tudo para ele é, portanto, martírio, pois que sob a máscara da luxúria percebe que seu
desejo jamais encontraria saciedade nos corpos que amou. Há em D. João a procura
obsessiva, no corpo de todas as mulheres seduzidas, do objeto do seu desejo, da sua
saudade que é a morte em figura feminina, como fica patente num diálogo entre D. João
e D. Elvira:
D. JOÃO
Que queres tu? Deixa-me em paz... Mais beijos?... Queres que te tenha
nos meus braços, toda?... [...] é tudo cenário? Tudo? Tudo? Nada
existe? [...] E sou eu o burlador – todos o dizem – eu que te minto tão
sinceramente, que caio em mim de cimos de vertigem... É como as
mulheres a natureza? Vazio lúgubre a mimar divino?...
(PATRÍCIO, 1972, p. 27-28)
E, em outra passagem da ―fábula trágica‖, num diálogo com a própria Morte:
D. JOÃO
112
Não partas mais, Amor... – Não sei bem o que digo.
O Outono adormeceu. Queda-te Tu comigo.
Queria ficar assim, como um mármore, louco,
bebendo o teu além aos goles, pouco a pouco...
A MORTE
Em ti, busca-me em ti: é uma divina rota
que na alma se faz, sem vela e sem escota.
Fico contigo. Adeus. Sou tão fiel
que nenhum me pediu para enfiar-me o anel.
Na alameda há um silêncio pânico. As árvores, as folhagens
verde- cúprico e oiro-velho, estão imóveis como imensos
lustres. Parece, a olhá-las, que uma lufada as faria tilintar. No
primeiro degrau, a Morte pára.
(PATRÍCIO, 1972, p. 45)
Uma vez que a natureza se desenvolve e se cria através de um eterno choque de
contrários, o mundo dependeria desse conflito fundamental para que pudesse se efetivar
na existência. É o que Nietzsche chama de ―vontade de vida‖ (NIETZSCHE, 2006, §4).
É, afinal, nessa identificação de vida e vontade de poder que este vitalismo toma-se
critério e motivação de criação estética. Como observa Veiga Simões:
A arte apoiada nos critérios nietzschianos toma assim um cunho
subjectivista que a aproxima sensivelmente do realismo. Entregando
tudo - a potência de viver, a dominação - ao próprio indivíduo, leva-o
à natural produção duma realidade que vive em estados do artista.
Uma arte que representa a exteriorização de disposições sentimentais
de determinado sujeito, e que de outro lado é gerada no conceito de
que mais vive quem mais vontade de viver manifestarem vez de
atender primariamente ao objecto, atende sobretudo ao sujeito. Por
isso mesmo, tais produções trazem consigo um estranho calor que
provém do subjectivismo excessivo que as enche todas, da intensa
excitação do espírito produtor. O resultado é certo: como só esse
Nietzsche final do Ecce Homo poderia ver em si a vida inteira, o
artista não vê de alto e de conjunto e resume-se a dar aspectos
pessoais, onde naturalmente é a cor que prevalece à concepção, e em
vez da dramatização resultante da compreensão de elementos vitais,
consegue apenas exprimir a dramatização individual - que se chama
lirismo.
113
(SIMÕES, 1911, p. 178-179)
Para Veiga Simões, portanto, a obra de Patrício situa-se num ponto intermédio
entre o realismo e o idealismo, sendo marcada por ―um realismo da decadência‖ e por
isso ―a sua arte (porque não pode vir ainda de além do bem e do mal, onde já não há
belo nem verdadeiro, mas apenas instinto e a própria vida afirmando-se) está
naturalmente condenada a viver com o próprio indivíduo – a morrer com o próprio
indivìduo‖ (SIMÕES, 1911, p. 180), o que leva à ideia de que tanto a obra de Friedrich
Nietzsche quanto a de António Patrício no mesmo espaço literário, o do subjetivismo.
114
3. Dos mitos e suas máscaras: escritas do Amor e da Morte
Como afirma Georges Bataille (1988) o que diferencia a atividade sexual humana
– o erotismo – da dos animais, é a consciência da morte, através da qual a vida do
homem passa a ser um intervalo entre o nascimento e a morte. É a partir do momento
em que se toma consciência disso que a vida se torna uma espera angustiada. Bataille
ainda aprofunda a temática erótica como um dos aspectos da vida interior do homem,
que busca incessantemente fora de si um objeto de desejo. Para Bataille, portanto,
―Entre um ser e outros seres, há um abismo, há uma descontinuidade [...]. Se o abismo é
profundo e não há modo algum de o suprimir, podemos, em comum, todos nós, sentir a
vertigem desse abismo‖ (BATAILLE, 1988, p. 12). Observa-se, com isso, que o ser
humano é marcado por uma descontinuidade, uma separação, em que a vida se
apresenta como única, pessoal e intransferível para cada indivíduo que busca uma
continuidade através da experiência do erotismo.
O erotismo ultrapassa os limites da sexualidade uma vez que há uma busca de
autoconhecimento da condição humana. Nessa perspectiva, o indivíduo se desvincula de
sua animalidade através desse comportamento perante o sexo, adquirindo, portanto, uma
nova visão de consciência da morte. Aliás, a sua relação com a morte advém do fato de
que o erotismo apresenta um significado de violação dos seres que nele participam, ou
seja, é uma violação que confina com a morte.
Parece ser essa justamente a tônica que conduz os textos dramáticos de António
Patrício. Iluminados pela dinâmica paradoxal de Eros e Tânatos, seus personagens são
construídos a partir da falta, da perda, lidam com o vazio, experimentam, cada um a sua
maneira, os laços da vida e da morte. Os longos monólogos de Pedro, ou mesmo os
diálogos entre Dinis e Isabel e as falas de D. João encontram a força de seus discursos
115
não na fala em si, mas na intimidade apaixonada que os liga, como uma fatalidade, ao
erotismo e à morte. Assim, Pedro, o Cru. Dinis e Isabel e D. João e a Máscara trazem a
marca da obsessão pelo tema da morte, numa sensibilidade afinada para sentir e
expressar a angústia frente a esta força aniquiladora, que, no texto de Patrício, é
presença enigmática.
O trabalho de António Patrício para auscultar a vida buscando decifrar qual é o
seu sentido diante da morte, projetará, em sua obra, um ideal metafísico que desvela a
essência da vida como a unidade entre o sensual e o espiritual. Suas personagens se
sentem, assim, constantemente incompletos em virtude da ausência do outro, que
subverte o seu equilíbrio. É o caso de Pedro que, animado por uma obsessiva saudade,
quer comungar com Inês as bodas eternas, trazendo-a do mundo dos mortos; também, é
o de Isabel, que sente a impotência de sua vontade diante do desejo de renegar a
santidade em favor de uma vida terrena; ou, ainda, exemplarmente em D. João, que
marcado pelo tédio, anseia fervorosamente uma união erótica com a Morte,
transfigurada numa figura feminina.
E será justamente nessa fusão que as personagens de Patrício experimentarão –
retomando o pensamento de Gilbert Durand – a vocação nostálgica do impossível.
Como ressalta o antropólogo, ―É talvez essa nostalgia, exprimindo uma esperança
desesperada, o significado da famosa ‗saudade‘ portuguesa [...] cuja tenaz tradição
literária se prolonga no século XX com o ‗saudosismo‘ de Teixeira de Pascoaes ou de
António Patrìcio‖ (DURAND, 2008, p. 27).
António Patrício, na sua obra, cria personagens que não admitem limitações ao
poder de viver, e a arte, ainda que expressão estética da vida – tal como Nietzsche a
concebera –, sorvendo os seus dinamismos dessa mesma vida, se identifica com o
116
indivíduo. Sendo assim, é todo o domínio que a arte possa exercer necessariamente
transitório. Da mesma forma como o é o próprio indivíduo.
O que se desenvolve, neste capítulo, portanto, é, conforme Gilbert Durand propõe
na perspectiva mitocrítica, ler as metáforas obsessivas (grupos de imagens que se
repetem) interpretando-as para a compreensão dos textos dramáticos de António
Patrício, apontando para a maneira segundo a qual suas personagens buscam uma
decifração da divindade da vida, privilegiando as loucuras, as paixões, os sonhos.
Através de sua afirmação, a vida torna-se justificada. Assim, o que Pedro, Dinis, Isabel
e D. João, na criação do texto de Patrício, buscam, é, a partir dessa paixão, não pela vida
comum, mas a verdadeira vida, desvelada em plenitude, a vida sublime, é superar a
morte. Assim, o desejo erótico é a principal mola impulsionadora das personagens de
António Patrìcio, esta ―aprovação da vida até na própria morte‖ (BATAILLE, 1988, p.
11), em que se fundem vida e morte.
117
3.1. O canto de Orfeu, a voz da Saudade: Pedro, o Cru
Fecho os olhos ao sol para estar contigo.
É de noite este corpo que me assombra...
Vês?! A saudade é um escultor antigo!
(PATRÍCIO, 1989, p. 157)
Carolina Michaëlis de Vasconcelos, n‘A saudade portuguesa, ao discutir
alguns aspectos segundo perspectivas histórico-culturais que envolvem a tradição
inesiana, estabelece, no seu texto, uma distinção entre o que chamou tradição
histórica com ―fundamento sobre a verdade‖ e a ―fábula‖ ou ―fantasia‖, ressaltando
que neste trágico episódio ambos tendem a se confundir. Com respeito ao episódio,
considera ―como tradição histórica não só o amor de perdição do herdeiro da coroa e
o seu desenlace sangrento; mas também os seus reflexos de além-tumba‖
(VASCONCELOS, 1996, p. 13).
Dessa imbricada relação entre os planos do real e do mitológico, certo é o
desenlace sangrento dos amores de Inês e Pedro e todo o eco de além-tumba; toma-se
como fato o grande desvario do Infante, que levantou um exército contra o próprio
pai, e viu-se apenas satisfeito quando, já rei de Portugal, saciou sua sede de vingança
ao ordenar a execução dos assassinos de sua amada, a um mandando arrancar o
coração pelo peito, ao outro pelas espáduas; evento histórico e ímpar é a trasladação
do corpo de Inês de Castro do mosteiro de Santa Clara, em Coimbra, até ao de
Alcobaça, em um cortejo fúnebre como igual nunca mais houve em Portugal.
A par dos fatos, surgiram lendas nas quais pormenores infundados foram
incluídos. Diz-se que D. Pedro teria coroado a amada e feito com que todos os nobres
se ajoelhassem e lhe beijassem a mão, seis anos após a sua morte. Lenda demasiado
romântica para se crer como verdade. Além do mais, as crônicas não deixariam
passar despercebida uma cerimônia tão espantosa. Outra lenda, em tudo bela: a de
118
que D. Pedro mandara pôr o seu túmulo não ao lado do de Inês, no cruzeiro de
Alcobaça, mas pés contra pés, para que, ao soarem as trombetas do Juízo Final, seus
olhos se pudessem, mais uma vez, encontrar.
Desde o surgimento de Tristão e Isolda, no século XII, a impossibilidade
amorosa tem sido a marca do amor-paixão no Ocidente. Sacralizada e mitificada pelo
imaginário português, a relação de Inês e Pedro retrata essa impossibilidade, conferindo
um caráter trágico à história daquela que depois de morta teria sido rainha. Viva, ela
subjugou o corpo e a alma de um futuro rei; morta, submeteu sua mente e seu arbítrio ao
fanatismo sanguinário. Tornando-se rei, D. Pedro quebra o juramento feito ao pai e
manda executar os assassinos de Inês. Em seguida, ordena que Inês seja desenterrada,
sete anos depois de morta.
Maria Leonor Machado de Sousa, no seu estudo a respeito da propagação do
tema inesiano na Europa, observa que sendo ―a história de Inês de Castro […] um caso
invulgar de interpenetração da crónica e da literatura‖, ao tratá-la, ―os historiadores mais
objectivos tornam-se poetas‖ e que, como tema literário, ―todas as épocas lhe viram
interesse, cada inovação fez a sua escola, as obras de maior êxito encontraram
repetidamente tradutores e adaptadores. O carácter excepcional de certos aspectos e a
liberdade que a fluidez da personagem dava à imaginação do artista são por certo as
razões mais claras do sucesso internacional‖ (SOUSA, 1987, p. 12).
Quanto a Pedro, o Cru, portanto, o enredo referencia-se num acontecimento
histórico, mas de contornos lendários. Motivado pela história dos amores de Pedro e
Inês, o texto dramático de António Patrício, porém, desvia a atenção do elemento
feminino, concentrando-se inteiramente no comportamento de Pedro, posto que tudo se
119
passa depois da morte de D. Afonso IV, quando, então, Pedro decide reabilitar a
memória da sua amada.
Como observa António Braz Teixeira:
O romantismo português [...] deslocou o centro da acção da morte
sacrificial de Inês de Castro para a sua sobrevivência saudosa na
pessoa de D. Pedro e para a sua ressurreição e coroação como rainha.
Deste modo, da tragédia clássica de Ferreira e dos árcades
setecentistas para o drama romântico, no tratamento e interpretação do
mito, a uma visão fatalista, que se conclui com a morte e em que o
elemento ou factor político assume particular relevo, substitui-se uma
concepção com evidentes conotações cristãs – se bem que nem sempre
inteiramente ortodoxas – em que à Paixão (representada pela morte de
Inês) se sucede a Ressurreição, quando não também, como em
António Patrício, a santificação de Inês.
(TEIXEIRA, 1982, p. 9)
Mais do que aos fatos históricos, interessa a António Patrício justamente o
material poético. Desta maneira, em Pedro, o Cru, dissolve-se a fronteira entre o
mito e a história, legitimando-se no texto o amor pelas vias da mitificação e da
eternização: Pedro surge como a personagem central, buscando uma realização
suprema, que pode ser conseguida somente pela identificação com as forças mais
essenciais do mundo: o apolíneo e o dionisíaco, que em Pedro desperta uma chama
de lúcida loucura, sendo marcado por certa genialidade adivinhante e que assim se
torna um vidente ao tentar penetrar no fundo secreto das coisas. Pedro é essência
dionisíaca e aparência apolínea.
Os acontecimentos são dispostos em função da tragicidade – e dramaticidade –
do material mítico. A exposição dos acontecimentos é inserida no movimento dramático
da peça e vai se construindo com a materialidade do texto. António Patrício abandona a
preocupação de reconstituir a história, mas mantém determinados fatos indiciais, porque
premonitórios: o rei açoitando o Bispo do Porto e castigando os assassinos, a exumação
de Inês, o cortejo fúnebre, a coroação do cadáver. Este último ato, inclusive,
120
representaria a assunção, levada às últimas consequências, do estatuto de representante
do ―povo saudoso [...] que apercebe em tudo quanto toca a sombra da ilusão e da morte,
mas a uma e outra exige a promessa de vida‖ (LOURENÇO, 2007, p. 110)
Uma das mais belas passagens das leituras do episódio inesiano é justamente
aquela em que Pedro, tendo em seus braços o corpo da amada morta, tenta-lhe encontrar
qualquer resquício de vida. Neste sentido, os ecos de além-tumba – a trasladação do
cadáver de Inês do mosteiro de Santa Clara até ao de Alcobaça e a sua configuração
como rainha na estátua sepulcral jacente – são exemplos ímpares da ação de Pedro para
reverter a morte de Inês. É o seu esforço – fadado ao fracasso – na tentativa de burlar as
próprias condições da vida. Haquira Osakabe destaca que tais atos do rei D. Pedro
serviram para ―dar matéria à saudade‖, posto que:
[...] a consagração de Inês, pelos funerais reais, não foi apenas a
superação simbólica da sua morte por parte de seu amante. Foi
muito mais. Consagrá-la rainha correspondeu à unção (e
criação) definitiva de Portugal como reino do Amor e do
sentimento que permite eternizá-lo: a Saudade.
(OSAKABE, 1998, p. 110)
Lima de Freitas, em duas de suas composições plásticas, ilustra bem tal leitura,
ambas se aproximando da noção de ―nostalgia do impossìvel‖, proposta por Gilbert
Durand. Em uma delas – Ate a fim do mundo57 – o artista retrata uma Inês que é, ao
mesmo tempo, vida e morte. Uma possível interpretação é justamente a da
efemeridade e transitoriedade da aparência pela ação da morte e do tempo. Pedro e
Inês estão a se olhar na linguagem do silêncio, a única que, comenta Walter
Benjamin, corresponde à do herói trágico:
Ao ficar em silêncio, o herói quebra as pontes que o ligam ao
deus e ao mundo, ergue-se e sai do domínio da personalidade
57
Anexo 1
121
que se define e se individualiza no discurso intersubjectivo, para
entrar na gélida solidão de Si-mesmo. Este nada conhece fora de
si, é a pura solidão. Como há-de ele dar expressão a esta solidão,
a esta intransigente obstinação consigo próprio, a não ser
calando-se?
(BENJAMIN, 2004. p. 286.)
Observando atentamente os elementos da pintura, Pedro fixa seu olhar apenas
no rosto de Inês, a única parte de seu corpo que traduz vitalidade. Até a fim do mundo
é, também, uma possível tradução para a inscrição da arca tumular de D. Pedro – A:
E. AFIN DO MVDO – significando, por este ponto de vista, não exclusivamente
uma metáfora espacial, mas também temporal, podendo ser traduzida como um ―para
sempre‖.
Em outra obra – A que depois de morta foi Rainha58 –, Lima de Freitas
reproduz a imagem de uma Inês morta, entronada e coroada. Há uma luz a iluminarlhe a face, e é justamente essa luminosidade que atrai os olhos do rei D. Pedro, que,
na penumbra, está a contemplar Inês de Castro, na ânsia de encontrar no rosto
iluminado da amada qualquer sinal de vida. Parece um olhar incrédulo, mas, ao
mesmo tempo, cheio de esperança. O corpo mal coberto de Inês, entretanto, o seu
cadáver, longe da luz de sua face, é a denúncia de outra forma de olhar:
ambiguamente, ao mesmo tempo em que se quer a reversibilidade, parece-se sabê-la
irreversível: nada tem o poder de parar ou mesmo reverter o tempo.
Revelam-se nas obras de Lima de Freitas um processo de enunciação que
testemunha o vazio da linguagem e da morte. As imagens do corpo morto de Inês e a
maneira como Pedro a ele se apega, querendo enxergar não um corpo em
decomposição, mas a própria amada em vida, representam o início de todo um
58
Anexo 2.
122
processo poético e simbólico. D. Pedro se recusa a viver sem a presença do
sentimento que lhe animava a vida, fazendo assim com que a morte de Inês não
tivesse um significado de fim. Vê-la viva, ainda que na morte, é tê-la sem medida, no
reino da Saudade, como ponte para a ressurreição da própria carne. Desta maneira, o
olhar de Pedro encontra eco no que diz Pascoaes ao afirmar que:
O homem só vê nitidamente o que perdeu; só possui em
absoluto o que perdeu. E por isso, as trevas da morte revelam
melhor a pessoa amada que todo o sol que a iluminou durante a
vida! A morte roubou-lhe o que é efémero e transitório, a
aparência, mas a Saudade revelou-lhe a eterna aparição, a sua
pessoa integral e essencial. A sombra da Morte que nos esconde,
esvai-se ante a Saudade que nos mostra.
(PASCOAES, 1987, p. 75)
Cria-se, assim, uma tensão entre amor e morte, presença e ausência, encontro e
separação, construindo-se um universo erótico-textual. É ―a aprovação da vida até na
própria morte‖ (BATAILLE, 1988, p. 13). O que marca Pedro na Leitura de Lima de
Freitas é a nostalgia da continuidade do ser, conforme conceitua Bataille, ao trazer à
luz a questão da vida descontínua. O que Pedro quer é encontrar na amada, ainda que
morta, esta aprovação da vida. Assim, ―o tormento do amor desencarnado é tanto
mais simbólico da verdade última do amor quanto a morte daqueles que ele uniu os
aproxima e os enternece‖ (BATAILLE, 1988, p. 13).
Poderia bem ser esse um mote de Pedro, o Cru, em que transparece o embate
entre Eros e Tânatos. O desejo desencadeia a luta contra a morte, ao mesmo tempo
em que a busca, anelando o trágico e todo o poder que coloca a vida em xeque. O
desenvolvimento dramático do texto centra-se em três momentos históricos da vida
de D. Pedro, correspondendo a três núcleos principais de toda a ação: a condenação e
a execução dos assassinos de Inês, o traslado do corpo, de Coimbra para o Mosteiro
123
de Alcobaça, denotando, assim, uma opção em que o leitor vê-se diante dos maiores
atos de um rei, tido por uns como de justiça, por outros como de vingança, mas
sempre fundado amor por Inês. A memória de Inês é a promessa da vida na
transcendência, mas Pedro quer, além dessa vida, aquela que apenas o milagre da
ressurreição do corpo pode permitir. A perseguição desse milagre é o mote do texto
dramático de Patrício.
Quando resolve coroar a amada morta, Pedro diz a Afonso, seu escudeiro, que
até então os súditos foram governados pelo rei que vive para a Justiça – que,
portanto, se ocupa da vida –, mas que, a partir daquele momento, agora seria a vez do
rei que vive ―pró Amor e prá Justiça‖ (PATRÍCIO, 2002, p. 17). O reino escapa aos
condicionamentos a que está sujeita a vida humana, que não tem acesso a sua
natureza de mistério:
PEDRO
[...] O meu povo... a corte...mesmo tu, só conhecem de mim o
justiceiro. Mas para além da Justiça e bem mais alto há um rei que te
fala e não conheces, que é rei de Portugal e anda na Morte, porque é
nela que vive o seu amor... O meu Paço Real, o verdadeiro, é uma
cova num claustro, em Santa Clara. [...] O meu reino é maior do que
tu pensas. Portugal é uma província apenas. O meu reino de segredo,
sem fronteiras, o meu reino de amor abrange a Morte, a sua natureza
de mistério.
(PATRÍCIO, 2002, p. 17)
A Saudade como força suficientemente poderosa para reverter o irreversível,
impregna Pedro de uma certeza mística: empenhado num ritual – a vingança contra
os assassinos de Inês; o desenterro da morta; a coroação e o beija-mão do cadáver –,
só a partir desse ritual terá novamente Inês, como a teve em vida. Movido pela
saudade obsessiva, o rei se organiza com a finalidade de cumprir seus planos de
ressurreição da amada, como vida na transcendência. O que tão ansiosamente busca é
o milagre da ressurreição do corpo, sem o qual a alma não se basta. Como aponta
124
Armando Nascimento Rosa, Pedro quer ressuscitar Inês ―e atingir através dela a
clarividência do futuro comum aos dois. O ímpeto saudoso deste Orfeu é também a
saudade por um futuro utópico em que o reencontro de ambos se verificará‖ (ROSA,
2003, p. 185).
Aliás, Pedro vai ser o protagonista de toda a ação, tudo se desenrola à sua
volta. António Patrício explora a figura de Pedro enquanto um homem que a tudo se
sujeita em nome do amor a uma mulher. Cria-se um ambiente fantástico e, de certo
modo, fantasmagórico, que envolve numa bruma misteriosa a relação morte-vida dos
dois amantes, votando-os ao sofrimento e à saudade eternas.
Em uma das passagens do texto, ansiando por entrar em contato com a amada,
em vê-la, tocá-la, senti-la, enfim, para desenterrá-la do esquecimento e coroá-la
Rainha de Portugal, D. Pedro penetra no mosteiro de Santa Clara e dirige-se à
abadessa:
PEDRO:
Erguei-vos, Madre. Não sou eu que vos venho perturbar. É a Saudade
que me traz, é ela só. Estáveis em sossego... Mas ela veio: bateu-vos à
porta, e entrou em lufada, um rei e uma corte. (Quase gritando)
Madre! A minha saudade é uma hiena: vem desenterrar o meu amor...
Onde está ele? (Dominando-se) Onde me espera a que será vossa
Rainha!??
(PATRÍCIO, 2002, p. 74)
Tal como a hiena, que se alimenta de carne em decomposição, a Saudade do rei
encontra no cadáver de sua amada o alimento que lhe dá vida. A Saudade, inclusive,
confunde-se não só com o Amor, mas também com a Morte, tão evocada durante a
exumação do cadáver de Inês de Castro. Pedro fala da Morte com a mesma
familiaridade com a qual fala do Amor, como se observa em sua reação ao se aproximar
do túmulo da amada:
125
PEDRO, olhando a pedra em êxtase
A porta do meu Paço... Esta pedra p‘ra mim é transparente. O meu
amor atravessa-a como o vento o corpo vão das nuvens.
(PATRÍCIO, 2002, p. 68)
A aliteração (vento/vão/nuvem) sublinha exatamente a noção de ―movimento
invisìvel‖, construindo-se a imagem do vento que atravessa a nuvem e, mais, da
Saudade que atravessa o ―corpo vão‖ de Pedro e o seu Amor atravessa o túmulo de Inês.
Pedro vê-se como alguém que tem livre acesso aos mistérios da morte, mas que, por
isso mesmo, parece já não ter acesso à objetividade da vida, como transparece em seu
diálogo com o coveiro:
PEDRO
Já enterraste algum parente, algum amigo?
O COVEIRO
Dois filhos pequenos, meu senhor.
PEDRO
E que impressão sentiste, além da mágoa?
O COVEIRO
Meu senhor, nenhuma. A impressão de coisas frias...coisas tristes...de
coisas a que não há nada a fazer...
PEDRO
A impressão de fim, de acabamento?
O COVEIRO
Sim, meu senhor.[...]
PEDRO
Foste então tu [...] que enterraste o meu amor... a minha Inês?
O COVEIRO
Não reparei, senhor.
PEDRO
É justo. Enterraste, sem o olhar, o meu destino. E eu sou teu rei... O
que sei eu do teu!?[...] O ofício é tudo.
(PATRÍCIO, 2002, p. 71)
126
Também é bastante significativa a didascália que introduz a cena em que Pedro
desenterra a amada e contempla seu cadáver, em êxtase, com todos os sentidos
dominado pela Saudade:
Ajoelha-se de novo: entra na cova, enterra os braços na terra alguns
segundos; e devagar, levanta o caixão verticalmente. Quando a tem
bem ao alto, as tábuas, podres, abrem-se; – e num silêncio de estupor,
vê-se o cadáver esburgado: dir-se-ia que ele e Pedro se contemplam.
(PATRÍCIO, 2002, p. 81)
Quando Pedro se agarra ao corpo da amada – corpo sem vida – agarra-se a uma
impossibilidade. Para Pedro, entretanto, não é ao cadáver de Inês – não é a um
simulacro – que ele se agarra, mas à própria Inês. O corpo morto é ainda para D. Pedro
a própria Inês. O que ele enxerga – ou quer enxergar – não é o corpo em decomposição,
mas a luz que ilumina o rosto da amada. Como Lima de Freitas também assim
interpreta, o olhar de Pedro volta-se diretamente para os olhos de Inês, desconsiderando
tudo que foge a esse foco.
PEDRO:
Oh! Como os seus cabelos teem mais oiro, são cor dos giestais ao vir
de maio, teem mais oiro que a coroa... Vêde: vede... Nem lhes buliu a
Morte. Guardou-os de amuleto, sempre-vivos. Guardou-os como
jóias... como jóias... São as jóias da Morte os teus cabelos...
Sempre fitando a Morta, toma agora o scetro do almadraque, e
entrega-o à Abadessa, que já sem terror, prêsa do sortilégio místico da
scena, o vai depor entre os dedos de Inês quási esburgados. Pedro
sorri. Há na sua lividez uma expressão misteriosa de triunfo.
(PATRÍCIO, 2002, p. 84)
O corpo morto de Inês desperta a noção de imaterialidade, que se desprende de
sua presença/ausência, integrando-se, definitivamente,
num nível simbólico e
metafórico, em que nele deixam de influir referências de espaço e de tempo para ser
apenas a ideia do mito. Morta Inês, sobrevive o seu nome. Trata-se, pois, da
interpretação de Durand quando postula os mitologemas portugueses. Agarrar-se a Inês
é, para Pedro, a ―patética paixão pelo impossìvel, pelo objecto inacessìvel,
127
irremediavelmente separado pela morte‖ (DURAND, 2008, p. 28). O corpo morto de
Inês é a saudade de Pedro, é a ausência, a Dor e o Desejo fundidos, como bem diz
Teixeira de Pascoaes ao enunciar que:
Saudade é o desejo da Cousa ou Criatura amada, tornado dolorido pela
ausência.
O Desejo e a Dor fundidos num sentimento dão a saudade.
Mas a Dor espiritualiza o Desejo, e o Desejo por sua vez materializa a
Dor. O Desejo e a Dor penetram-se mutuamente, animados da mesma
força vital e precipitam-se depois num sentimento novo, que é a
Saudade.
(PASCOAES, 1988, p. 47)
Esta Saudade atinge uma dimensão ontológica e metafísica que, num amálgama
de Dor e Desejo, confere ao homem a consciência de finitude, de imperfeição e de
insuficiência, como em Patrício, nas falas do próprio Pedro à sua amada morta:
PEDRO:
O nosso amor, amor, ainda era pouco. Só abraçado à morte êle inicia
[...] Mil vezes, minha Inês, mil vezes sofri na minha carne a tua morte
[...] Vivia com o teu corpo na memória – como um lobo no fojo com a
prêsa. E então a minha dor – todo o meu gôzo – foi reviver nesta carne
o teu martírio.
(PATRÍCIO, 2002, p. 146)
PEDRO:
A minha dor, Inês, beijo-a nos olhos!... beijo-a como beijei a tua
bôca... como – cerrando os olhos na saudade – beijei, beijei, beijei a
tua alma... Tudo, tudo foi bom. Tudo eu bemgido. Oiço bater o
coração do meu destino. Agora sei, Inês... agora entendo. Morreste
moça – p‘ra viveres na eternidade sempre moça.
(PATRÍCIO, 2002, p. 149)
A compreensão da eternidade da vida como uma grande totalidade de forças
dissolve a perspectiva pessimista que considerava a morte, a dissolução individual,
como o aspecto contrário ao modo de expressão da vida A morte, portanto, aparece
como parte de um processo que visa à conversão da vida em eternidade e plenitude,
como na expressão de triunfo de Pedro que, ao desenterrar a amada morta, entrega o
cetro do almadraque à abadessa para que ela o coloque entre os dedos quase esburgados
de Inês:
128
PEDRO
Shut! Shut!... Estais na câmara da Rainha. Dorme... A vossa Rainha
dorme. Só nós velamos. Adormeceu com ela a vida toda. Dorme.
Dorme reinando... Com a sua coroa de oiro... o ceptro de oiro...
Rainha de Portugal. – Rainha da Morte... (Volta-se: outro tom –
olhando a corte) Há uma Rainha agora em Portugal.
Afonso e os Bispos ajoelham lentamente; os outros entreolham-se
atónitos; acabam por os imitar; alucinados (Pausa) Fora, novo
rumor: desta vez mais perto, mais intenso.
(PATRÍCIO, 2002, p. 78)
Neste momento, tendo por testemunhas o coveiro e as freiras de Santa Clara, o
rei contempla o corpo decomposto de Inês, enxergando-lhe a vida. Desta maneira, a
morte de Inês deixa de ter um significado de finitude, para assumir simplesmente
uma suspensão do modo habitual de viver um amor. É um processo em que a morte
se converte em salvação.
PEDRO:
Inês!... O teu Pedro veio erguer-te: a vida é outra. O Destino já
não tem a mesma rota... Como hei-de eu viver agora, ó minha
Inês!?... A vida toda desfolhou-se aos teus pés como uma flor...
(debruçando-se mais sobre o cadáver) Cheiras a podre...
Saboreio o teu cheiro como um corvo... Melhor do que o das
rosas que me deste... Nem o sumo dos pomares de Coimbra...
Nem o feno ceifado, ó meu amor... (Com uma exaltação
crescente) Ó minha Inês!... O teu Pedro das noites do Mondego,
que te enlaçava a ouvir os rouxinóis, quem lhe diria – que ainda
havia de ser o teu coveiro!... E um coveiro assim... (Ergue-se:
olha as mãos) Com estas mãos que ainda teem manchas de
sangue... E a bôca... E a bôca ainda me sabe a sangue... sangue
deles (Outra vez curvando sôbre a Morta) Mas a minha alma
fez-se tôda branca... A tua pode vir... A minha é um berço... Háde embalar como um menino, a tua...
(PATRÍCIO, 2002, p. 82)
O túmulo é a porta de passagem de Pedro entre o céu e a terra, entre a matéria e
a transcendência: ―Esta pedra p‘ra mim é transparente. O meu amor atravessa-a –
como o vento o corpo vão das nuvens‖ (PATRÍCIO, 2002, p. 75). Mesmo ao olhar
para a amada morta, contemplando-a, o rei não volta à consciência. Em vez disso,
129
agora identificando-se com o corvo, com aquele que guarda a morte, sente-se bem
nessa viagem introspectiva, pois está vingado, purificado pelo sangue da matança, e
crê, enfim, poder receber em sua alma a alma daquela que ele vê além de um corpo
morto. Para Gilbert Durand, a carne ―conduz sempre à meditação do tempo [...] e,
quando a morte e o tempo forem recusados ou combatidos em nome de um desejo
polêmico de eternidade [...] será temida e reprovada como aliada secreta da
temporalidade e da morte‖ (DURAND, 2002, p. 121).
O êxtase de Pedro demonstra a transfiguração através de sua imersão na
natureza primordial, favorecendo assim, em vez do aprisionamento da condição
singular da vida, a sua mais poderosa libertação. Sua fala e, sobretudo, seus atos,
revelam o valor supremo da vida, penetrando na esfera do sagrado, na qual se
desvela a realidade cósmica, livre de todas as ilusões da consciência fiada
exclusivamente no âmbito da fria racionalidade. Imergir nessa dimensão arrebatadora
torna-se condição de libertação pessoal estabelecida. É o retorno, tão aguardado, à
unidade primordial.
A experiência da morte e a desilusão amorosa têm, para Pedro, o mesmo valor.
A vida de Inês é a sua vida, e a morte da amada, a sua própria morte. Ciente disso,
rejubila-se com o sangue em suas mãos sujas, fazendo da vingança a purificação.
Uma vez trasladado o corpo de Inês do Mosteiro de Santa Clara para Alcobaça, em
meio aos preparativos para coroação, Pedro se dirige a Inês:
PEDRO:
Mil vezes, minha Inês, mil vezes sofri na minha carne a tua
morte [...] Vivia com teu corpo na memória – como um lobo
num fojo com a presa. E então a minha dor – todo o meu gozo –
foi reviver nesta carne o teu martírio. [...] Toda a terra viveu a
endoidecer-me [...] E às vezes, nas palmas destas mãos, quase
130
sentia a polpa dos teus seios!... Era um lobo o teu Pedro, era
uma hiena. Mas um dia ―Alguém‖ desceu ao fojo: ―Alguém que
era da morte e era da vida; e mais – de além da morte e além da
vida... E eu vi a Saudade ao pé de mim. Nunca mais me deixou:
vivo com ela. Fez-se em mim carne e sangue. Fez-se Inês. Por
isso sabes toda a minha vida. Por isso eu sei a morte como tu.
Sou o homem que viveu a vida e a morte: sou o homemSaudade, o rei-Saudade...
(PATRÍCIO, 2002, p.138-139)
O rei se recorda do tempo em que, enfim, pôde encontrar o caminho para a
amada. O acesso a Inês só fora possível porque a Saudade, como força encarnada,
penetrou nele, tornando-o o rei-Saudade. É tão somente por isso que pode amar Inês
em completude: diante da impossibilidade de trazê-la de volta à vida, é ele quem a
encontra na morte. A fala de Pedro traduz um modo de pensar a experiência
amorosa, o luto, a perda, a memória. Sua postura diante da morte de Inês
corresponde a um certo modo de perceber a vida e que tem forte afinidade com o
que diz Rougemont, ao afirmar que ―Eros, nosso desejo supremo, não exalta nossos
desejos senão para os sacrificar. A realização do amor nega todo amor terrestre. E
sua felicidade nega toda felicidade terrestre‖ (ROUGEMONT, 1988, p. 53).
O que a Inês e Pedro é negado em vida inscreve-se numa ordem superior de
acontecimentos, supra temporal, inalcançável pelo poder humano. Uma transposição
para um outro nível de realidade – divina, mágica, mas possível – onde o reencontro
e a consumação do amor acontecem. O amor de Pedro e Inês revela-se, então, como
elemento universal e atemporal: Pedro não salva Inês, mas salva o seu nome. E esse
amor só poderia alcançar a consumação no eterno. Se em vida conjuga-se com a
morte, é para além das ameaças e condenações da própria vida que o amor de Inês e
Pedro, emergindo tão platonicamente como ―delìrio divino‖ se realiza. Afinal, como
131
diz Denis de Rougemont, ―o amor é a via que sobe por degraus de êxtase para a
origem única de tudo o que existe, longe dos corpos e da matéria, longe do que
divide e distingue, além da infelicidade do ser si mesmo e ser dois no próprio amor‖
(ROUGEMONT, 1988, p. 48).
A morte deixa de ser, portanto, o termo último, passando a ser uma luminosa
condição, a libertação. Uma vez trasladado o corpo da amada do Mosteiro de Santa
Clara ao de Alcobaça, Pedro comunga das ―bodas eternas‖ com Inês, numa união
para além das contingências da vida.
– É a nossa hora, Inês... Estamos sozinhos. Estás bem assim!? Tu
ouves-me dormindo. Eu fico aqui, à tua cabeceira. Não bulas, meu
amor, dorme assim queda – como a tua estátua ali, sobre o teu
túmulo... Esta á a Casa de Deus. Deus está connosco. Ouves os sinos
repicar!?... Toca a noivado. As nossas bodas agora – são eternas. Sinto
na minha alma a tua alma – como a água d‘uma fonte n‘outra fonte,
como a luz na luz e deus em Deus... Sinto-te tanto, que te perco em
mim. Aqui me tens, Inês: sou o teu Pedro. O que ele tem, o que ele
tem pr‘a te contar!... Eu bem sei que tu sabes...sabes tudo. Os teus
ouvidos, na Morte, ouvem melhor. Ouviram o desespero do teu Pedro
– uma noite de pedra sobre esta alma – ouviram as suas lágrimas
caladas: ouviram toda, toda a sua dor. Eu sei... eu sei... As palavras,
por si, dizem bem pouco; mas acordam a alma, meu amor. Se não
fosse assim, pr‘a quê!?... falar... Fala-se pr‘a cair no teu silêncio – no
silêncio em que a alma sorri toda... O teu Pedro quer falar; deixa-o
dizer... Ouve-o como, mesmo adormecida, tu ouvias a fonte do jardim,
do jardim das oliveiras meigas, do teu ―jardim das Oliveiras‖, meu
amor. (Pausa) É o primeiro serão da eternidade. Lembro a face da
terra em que te amei. Vejo os campos de Coimbra ao luzir d‘alva... Eu
vou partir pr‘a montear... digo-te adeus... As rolas cantam perto –
muito triste – no pinhal vizinho, que as entende... O Mondego, ainda a
dormir, já corre... O último beijo que me deste em vida, foi n‘uma
hora assim: caíam folhas... os pomares ofereciamse – doirados...
quando fecho os meus olhos, vejo-a sempre: dir-se-ia que forra as
pálpebras. Foi n‘essa hora que eu nasci pr‘à dor; foi na hora sagrada
em que morreste, que a minha alma nasceu pr‘a te adorar.
(PATRÍCIO, 2002, p.144-145)
A atmosfera simbolista de Pedro, o Cru se constrói pela perscrutação de uma
existência misteriosa, pela busca de um mundo ideal e recusa do mundo real. Pedro vive
num mundo de sonho com Inês, cuja porta de entrada é o túmulo da amada. Não
132
suportaria a realidade sem Inês, sem aquela que lhe anima a vida. Por isso, num transe
místico, cria o seu mundo de amor vivido – possível. Em momento algum, Pedro duvida
de sua crença. Ele é o mediador entre os dois mundos: a vontade humana e a vontade
divina conjugam-se, sugerindo, inclusive, que o divino nada mais é que a própria força
do seu desejo imanente à vida. Pedro é a pedra, tem a sua unidade, a sua palpabilidade e
a sua força ígnea – as três virtudes da pedra, segundo Chevalier e Gheerrbrant, que
ainda acrescenta:
Segundo a lenda de Prometeu, procriador do gênero humano, as
pedras conservaram um odor humano. A pedra e o homem apresentam
um duplo movimento de subida e de descida. O homem nasce de Deus
e retorna a Deus. A pedra bruta desce do céu, transmudada ela se
eleva para ele.
(CHEVALIER; GHEERRBRANT, 1994, p. 696)
A pedra é, assim, símbolo da presença divina, é suporte de influências espirituais,
desempenhando função primordial nas relações entre céu e terra. E Pedro tem as
virtudes da pedra: é integro, pois cumpre o seu propósito, sendo fiel a si mesmo e ao seu
amor; é sensível, tem a doçura que lhe permite ser tocado; é firme, seja na atitude, na
vingança ou no amor. É, também, na pedra que Pedro erige o seu testamento de amor
para Inês. Ambos os túmulos que manda construir – o seu e o de sua amada – têm seus
próprios corpos reproduzidos, ambos com as cabeças coroadas: ele como o rei que é; ela
como póstuma rainha.
O túmulo é, no dizer de Gilbert Durand (2002), figurativamente, uma escada, que
torna possível a passagem de um modo de ser a outro. E assim o é com o monumento de
Alcobaça. O sepultamento de Inês é, para Pedro, noite de núpcias. São as suas bodas
alquímicas, a força que leva Pedro à ação, na busca da reversibilidade da morte de sua
amada. O sentimento torna-se verbo encarnado: princípio e fim, elo entre a vida e a
morte. É a força-motriz para a unção de um novo reino, diante do qual Portugal se
133
revela uma província apenas. Um reino de amor que abrange a morte e os seus mistérios
– ―a sua natureza de mistério". O mergulho de Pedro neste reino é uma viagem
introspectiva. Transubstanciado em Saudade, é nessa viagem que encontra a sua Inês.
Vivi um ano assim, do teu martírio. O teu sangue, amor, era o meu
vinho. A tua morte, Inês, foi o meu pão. Fugia ao sol: a luz
envenenava-me. Queria estar só, bem só, murado em mim: – cavava
no silêncio um fojo escuro para me poder cevar da minha dor. O meu
crânio era uma câmara de tortura: – viviam lá um carrasco e os
assassinos. E o carrasco era eu, era o teu Pedro. Oirava de pensar... de
sentir sangue... P‘ra ver se assossegava, ia montear [...] Era um lobo o
teu Pedro: era uma hiena. Mas um dia, ―Alguém‖ desceu ao fojo: –
―Alguém‖ que era da morte e era da vida; e mais – de além da morte e
além da vida... E eu vi a Saudade ao pé de mim. Nunca mais me
deixou: vivo com ela. Fez-se em mim carne e sangue. Fez-se Inês. Por
isso sabes a minha vida. Por isso eu sei a morte como tu. Sou o
homem que viveu a vida e a morte: sou o homem-Saudade, o reiSaudade... [...] Sou o rei... o rei do maior reino... do reino que me
deste, minha Inês... Duas vezes Rainha!... Santa! Santa!... Se estou ao
pé de ti – tudo foi bom!... A minha dor, Inês, beijo-a nos olhos!...
beijo-a como beijei a tua boca... como – cerrando os olhos na saudade
– beijei, beijei, beijei a tua alma... Tudo, tudo foi bom. Tudo eu
bendigo. Oiço bater o coração do meu destino. Agora sei, Inês... agora
entendo. Morreste moça – pr‘a viveres na eternidade sempre moça.
Bendito seja sempre o teu martírio! Bendito o lobo em mim... bendita
a hiena (Mais perto dela ainda, erguendo as mãos) bendita tu, Inês,
sempre bendita! (Pausa. N’um tom d’intimidade mística) estás outra
vez no reino pequenino. Ele foi-te fiel como o teu Pedro. Cada árvore
sabe a tua graça. A tarde cai lembrando o teu sorriso. A terra que tu
pisaste, alimentou-me: era pão para mim, mais do que pão.
(PATRÍCIO, 2002, p. 147-151.)
Funda-se, na materialidade do corpo textual, uma cena erótica. Se o amor é duplo,
como crê Octavio Paz (1994, p. 187), sendo ―a suprema ventura e a desgraça suprema‖,
eis, então, o amor de Inês e Pedro, duplo, como ventura e desgraça. Ainda na visão de
Octavio Paz, o erotismo é algo que transcende a vida, a morte, o outro, como na leitura
que Patrício faz, ao criar Pedro como um demiurgo, que ressuscita Inês, tirando-a de seu
sossego. Assim também fez Ísis quando restaurava o corpo morto de seu marido Osíris,
todas as noites, para que o Sol pudesse nascer; como Cristo levantou Lázaro; como
Deméter chama sua filha Perséfone de volta da Terra dos Mortos, uma vez por ano;
134
como Orfeu, que atravessa as fronteiras da vida na tentativa de resgatar a amada. Como
aponta Nascimento Rosa, a saudade é um refúgio existencial, ―sentida por um Orfeu que
é Pedro e que busca na matéria dos restos mortais de Inês a imagem fantasmal de uma
Eurìdice, que ele pretende transportar de regresso ao palco dos vivos‖ (ROSA, 2003, p.
184).
Ao anunciar o traslado de Inês, Afonso não menciona sua condição de morta, o
que dá margem a que o povo interprete a situação como fruto de um verdadeiro milagre.
Os diálogos entre a gente do povo são uma sucessão de mal entendidos que criam uma
imagem de Inês que é essencialmente viva. A expectativa de beijar a mão da nova
rainha é comentada ao longo do caminho, mas a impressão é a de que o povo acredita
no milagre, como diz um velho:
A dor de El-Rei D. Pedro era a saudade. [...] Saudades, - bem sabeis o
que elas são: são as promessas que nos faz a Morte. A que a Morte lhe
fez a El-Rei D. Pedro ides vê-la sorrir, coroada e linda; ides beijar-lhe
a mão, talvez falar-lhe: é uma morta que volta e que sorri...
(PATRÍCIO, 2002, p. 90)
Para o povo, que espera ver passar o cortejo, o que importa nesse milagre
operado pela Saudade é a restauração plena da vida, num elemento que mais o
evidenciaria: o sorriso de Inês. Diante da constatação de que a amada do Rei vem
deitada num caixão, a natureza, que até então parecia dividir com o povo a alegria da
expectativa de presenciar o milagre, desgosta-se. O diálogo entre os membros desse
povo refletem esse novo estado da natureza: ―As árvores ficam como ossadas...Todas as
folhas caem sobre a morta. [...] É do bafo da Morte. Não chegam a Alcobaça: é mais
que certo. Vai-os gelar pelo caminho a todos...‖ (PATRÍCIO, 2002, p. 94). Para o povo,
portanto, em vez de espalhar a vida, a passagem de Inês espalha a morte, que domina a
todos – as pessoas e a Natureza, encarnando em Pedro: ―O meu reino perdeu-se no
nevoeiro, e agora é isto a minha corte: uma corte de espectros, levando o meu amor
135
naquelas andas, por as estradas dum planeta morto [...] entre flores de luz que
bruxuleiam... atrás de mim – fantasma de mim mesmo...‖ (PATRÍCIO, 2002, p. 112).
Para Pedro, a vivência dionisíaca não compreendia a extinção da existência individual
como um acontecimento digno de pesar, tampouco a própria vida como indigna de ser
vivida, pois viver é celebrar continuamente essa fusão do humano com a natureza.
Não sendo possível a Pedro trazer Inês de volta ao seu mundo, ao mundo dos
vivos – a não ser pela força da memória – ele, Pedro, mergulha no mundo de sua amada,
onde o amor poderá ser plenamente realizado, no repouso além da vida e além da morte.
Gilbert Durand, ao enunciar os mitologemas, ressalta um ligado à ―vocação nostálgica
do impossìvel‖ – da qual de Pedro e Inês são representantes máximos –, destacando que
talvez seja esta ―nostalgia exprimindo uma esperança desesperada o significado da
famosa saudade portuguesa‖ (DURAND, 1997, p. 92). Acrescenta, ainda, que ―o
imaginário português encontra-se, mais do que qualquer outro, sob o signo do além‖
(DURAND, 1997, p. 98). Há, na história lendária de Pedro e Inês uma nostalgia do
impossível, cuja significação se dá através de um passado irreversível e de uma morte
irremediável, depositando-se uma fé sem medida em um além absoluto: o além do ―fim
do mundo‖.
E é neste espaço do além que se dá o encontro de Inês e Pedro. Em um ―além da
morte e além da vida‖, um espaço-tempo lacunar, com qualquer coisa de iniciático: uma
iniciação aos sagrados mistérios da Saudade. Não é Inês que volta à vida. Mais que isso,
é Pedro que a tem na morte. Ele é Orfeu que desce ao Hades para trazer sua amada de
volta à luz. Assim o amor poderá ser pleno:
Oiço no teu silêncio cotovias... O som e a luz casaram-se, fundiramse: são o ar que eu respiro... o nosso ar... Oh! Asas... asas... dêem-me
asas! É um abismo d‘estrelas – este amor... Faz-me medo. É um
turbilhão de estrelas... (Com voz de aura, chamando) nês!... Inês!... eu
tenho medo... Sinto o vento de luz da eternidade...
136
Um momento, estende os braços como asas; e resvala inerte no lajedo.
(PATRÍCIO, 2002, p. 169)
Com a amada coroada, Pedro deita-se ao seu lado, em um transe que lhe permite
entrar no mundo da amada. Pedro rompe com a realidade sufocante e obstrutiva, através
da criação de uma supra-realidade. Para atingir esse mundo onírico, inicia todo um
processo de superação da realidade primeira, ao infringir os códigos social, cultural e
moral, desenterrando Inês e assassinando os conselheiros de seu pai.Entretanto, o ato
mais referencial que abre caminho para uma nova existência é a trasladação do corpo de
Inês para o Mosteiro de Alcobaça. Esta é a noite da consagração dessa nova existência.
Pedro quer, em comunhão com Inês, entrar nesse reino da Saudade. Ultrapassando a
própria condição humana, Pedro quer penetrar na eternidade, no mundo do homem
divinizado, sempre em busca de uma existência plena, na comunhão absoluta com o ser
amado.
Assim, é a vontade de habitar esse mundo vasto e abrangente que faz Pedro
mergulhar numa realidade na qual não há limites que se impõem à condição humana,
condição única aliás, dadas as circunstâncias, de comungar o seu amor com Inês. Este é
o momento de plenitude, atingido no fim do texto, quando a noite se faz dia. ―O vitral
inflama-se de sol, estende um tapete fluído no lajedo. O cabelo da Morta agora
esplende, dum loiro cìnico solar, mais fulvo do que em vida, mais ardente.[…] O sol
agora ri nos colunelos‖ (PATRÍCIO, 2002, p. 147). Apenas Pedro tem condições de
vivenciar esta realidade. É pelo sentimento da saudade que esta segunda realidade
destrói a dicotomia vida/morte, criando uma dimensão cósmica e eterna: a vida e a
morte não são antagônicas, mas coexistem rodeadas pelas vias da Natureza e do Amor.
137
Pedro vence, portanto, a morte, e o amor – até então ligado à matéria, ao corpo e à sua
degradação – é transformado num amor além da vida e além da morte, numa
conciliação de Eros e Tânatos – Amor e Morte. Inês e Pedro consumam o amor.
Diante de tal cena, Martim, o bobo então dirá, numa voz de sabedoria:
MARTIM, depois de olhar Inês e Pedro – como se os visse de repente
muito longe.
Oh! Oh!... Estão juntos... estão juntinhos... É manhã nas estrelas... Vão
casar... (Achegando-se a Afonso, com mistério) Lá vão eles agora... de
mãos dadas... Estão à porta da igreja... – Ouves os sinos?... Sorriem de
mãos-dadas... vão a entrar... (Mais baixo, uma expressão de terror
místico) Oh!... E o olhar de Deus – aquela luz... É o coração de Deus –
aquela igreja...
AFONSO
Não fales mais, Martim. Deita-te: dorme. Esperemos que ele volte do
outro reino.
(PATRÍCIO, 2002, p. 148)
De acordo com Maria Leonor Machado de Sousa:
Para António Patrício, esse repouso é um reencontro misterioso antes
da homenagem final preparada para o dia seguinte. É algo mais fundo
que um sono [...] Esta visão de um mundo só seu, onde poderá
reencontrar Inês, é uma obsessão de Pedro, criada pela saudade e pelo
sonho de uma ―noite de Inês e Pedro‖.
(SOUSA, 1987, p. 73)
Esta ―noite de Inês e Pedro‖ é, diria Octavio Paz, o fogo original e primordial, a
fusão do vermelho (a sexualidade) e do trêmulo azul (o amor), a dupla chama –
erotismo e amor –, da aceitação do outro não como uma sombra, mas como realidade
carnal e espiritual. Em Pedro, o Cru, percebe-se que a vida somente possui o seu valor
através da compreensão imediata da existência da morte, e vice-versa. Morrer não é
desaparecer, mas se integrar no mundo, na terra, que insaciavelmente produz novas
singularidades; tal é o começo da morte, mas esta, em definitivo, é a condição de nova
vida. A morte e a dor emergem como parte de um processo que visa à conversão do
amor em eternidade e plenitude. A noite da Saudade – a noite ritual – concretiza as
138
bodas de Pedro e Inês, num amálgama da densa relação entre vida e morte, da dor
espiritualizada em desejo de consubstanciação com o ser amado.
139
3.2. Mística erótica em Dinis e Isabel
Unge-me de perfumes, minha amada,
Como certa Maria de Magdala,
ungiu os pés d‘Aquele cuja estrada
Só começou para além da vala.
(PATRÍCIO, 1989, p. 159)
Parece inquestionável o predomínio do protagonismo masculino na História de
Portugal e na formação do imaginário cultural nacional, marcado por uma concepção de
História que circunscreve a mulher portuguesa numa esfera doméstica, reservando-lhe
pouco espaço numa concepção histórica que privilegia, sobretudo, os feitos guerreiros e
políticos. Manuel Dias Duarte, na sua História de Portucália. Uma história de Portugal
no feminino, ressalta que o fato de a ―historiografia ter estado na mão de homens‖
(DUARTE, 2004, p. 10) é sintomático da fraca projeção da mulher como agente
cultural, contribuindo para a menor representatividade feminina na história e na
mitologia portuguesas.
Ainda, Manuel Dias Duarte faz um levantamento de mais de cinquenta vultos
femininos da história nacional que a memória coletiva preserva, estatuto conquistado
por Inês de Castro, Leonor Teles, a Padeira de Aljubarrota, D. Filipa de Lencastre,
Mariana Alcoforado, e, dentre todas elas, uma que foi rainha e se tornou santa: trata-se
da Rainha Isabel de Aragão, mulher de D. Dinis, sexto rei de Portugal.
Sua vida tem sido recontada por inúmeros autores, dos quais se destacam o Conde
de Moucheron, que certamente escreveu uma das mais interessantes biografias da rainha
santificada. Vitorino Nemésio escreve um romance histórico-biográfico, recuperando a
história e recriando ambientes e mentalidades. Também poderia ser citado António de
Vasconcelos, cuja obra procura realizar uma leitura ―isenta‖ do culto à rainha Santa
Isabel, pois o autor confessa não ser seguro remontar seu estudo ao tempo em que ela
viveu. Assim, começaria justamente por indagar sobre as primeiras manifestações
140
culturais do espírito religioso do povo dirigidas à Isabel de Aragão, logo após a sua
morte. As obras destes três autores, portanto, vêm provar que as referências em relação
à vida da rainha e à evolução do seu culto não se estreitam apenas ao conhecimento da
hagiografia.
Da vida de Isabel de Aragão não se sabe onde a história termina e a lenda começa.
Em Dinis e Isabel, de António Patrício, assiste-se à total subversão da história contada e
do mito, pois o autor investe numa outra significação que passa pela inversão semântica
dos poucos elementos míticos que conserva. Isabel, tal como se apresenta na obra de
Patrício, é personagem de ficção. Só vive na linguagem: é uma invenção da linguagem.
Desta maneira, ―o milagre das rosas‖, que na tradição isabelina surge como o momento
da revelação do amor e da proteção de Deus, torna-se o momento da manifestação da
terrível violência do sagrado, irrompendo, bruscamente, no mundo dos homens.
A vida encerra como significado uma bendição trágica da existência: a vida
exuberante retorna e ressurge eternamente da destruição e da dor que ela própria
inelutavelmente conjura: toda expressão de vida decorre de uma fusão entre os estados
de prazer e de dor. É o que se passa em Dinis e Isabel, em que Patrício transfigura não
apenas a memória histórica, mas também a memória mítica, reinterpretando a tradição
religiosa isabelina: o milagre das rosas não é o momento bem-aventurado de uma
―epifania‖, mas o instante terrìvel em que o homem se confronta com o seu destino,
sendo-lhe impossível resistir à voz impiedosa de Deus. Dividida por forças opostas,
Isabel é uma frágil figura de vitral que a luz terrível do amor divino atravessa e
estilhaça, erguendo-se, não como a doce ―princesa de conto de fadas‖, mas como uma
comovente heroína trágica.
141
Diz o autor que em seu texto dramático não há ―Nada de história e quase nada
lenda: só o milagre das rosas em motivo‖ (PATRÍCIO, 1989, p. 7). Significativamente,
há duas epìgrafes que muito bem orientam a leitura do ―Conto de Primavera‖. A
primeira delas é uma citação de Shakespeare: ―And take upon us the mystery of things /
As if we were God‘s spies‖59, retirada de Rei Lear, e a segunda, versos do rei D. Dinis:
―O mui namorado / Tristã sey bè q nõ amou Iseu / quãteu vos amo‖, retirada do
Cancioneiro da Vaticana.
No primeiro caso, o que Patrício propõe em Dinis e Isabel, tomando ―o milagre
das rosas em motivo‖ (PATRÍCIO, 1989, p. 7) é exatamente perscrutá-lo em sua
profundidade – é, assim, um pouco penetrar o mistério das coisas, aproximar-se o mais
possível de sua essência, desvendá-lo, isto é, ir tirando os véus superficiais que o
encobrem e que não permitem perceber sua verdadeira realidade. Quanto a Tristão e
Isolda, evocá-los é, de certa maneira, evocar duas das figuras mais emblemáticas que
marcam o mito do amor-paixão no Ocidente, ―na confusão das morais e dos
imoralismos daí decorrentes, nos momentos mais sublimes de um drama, certamente
vemos transparecer em filigrana essa forma mìtica‖, como aponta Rougemont (1988, p.
17).
António Patrìcio explica, então, o seu ―Conto‖: a ação termina no quarto ato, e
que o quinto é uma ―tragédia estática‖. É a tragédia de ―um homem que amou uma
Santa‖ (PATRÍCIO, 1989, p. 7). E Patrìcio lhe deu o subtìtulo de ―Conto de Primavera‖,
numa visão dramatizada do Livro de Horas como ―o sonho de alguém que uma manhã
de Primavera, entrasse numa igreja e adormecesse, sob a influição fulgurante dos
vitrais‖ (PATRÍCIO, 1989, p. 7). Como observa António Nascimento Rosa, ―o espaço
59
Tradução: E penetraremos o mistério das coisas / Como se fôssemos espiões de Deus.
142
de Dinis e Isabel é, desde o seu início, a da surrealidade do sonho, porque pulsa nele a
consciência da realidade suprema da morte, latejando em negativo por toda a matéria
animada da vida‖ (ROSA, 2003, p. 334)
O texto se inicia numa manhã de Páscoa, tendo como cenário o pátio de uma
gafaria. No diálogo entre os leprosos, transparece um intenso discurso erótico, em que
um deles parece sentir prazer com uma figueira verde, tenra, viçosa.:
PRIMEIRO LEPROSO, tocando as folhas da figueira.
Olha a figueira. Como está tão tenra!... E não tem nojo – vê – posso
beijá-la. Dá-se a um gafo como a um são: é boa, é boa. Há poucos dias
toda encarquilhada; e agora apetece mordê-la de tão fresca...
SEGUNDO LEPROSO
Cheira a mulher à tua fome... hein?
PRIMEIRO LEPROSO
Cheira... É moça e forte. É a minha noiva. Nenhum de vós lhe toque...
Durmo debaixo dela e que alguém venha... A voz das folhas diz-mo:
acordo logo. É minha só: carne da minha carne.
Roça a cabeça, os braços na folhagem.
(PATRÍCIO, 1989, p. 17)
Há uma união erótica homem-natureza, com imagens que sugerem este
amálgama, pela humanização da natureza, como alguém que deseja o abraço:
PRIMEIRO LEPROSO, voltado para a figueira [...]
A cada dia baixa mais os ramos p‘ra buscar o meu corpo, p‘ra tocá-lo
[...] p‘ra ela sou como um tronco velho que se mirra... E eu pago-lhe
em amor, às noites beijo-a. Sinto frescura em mim. Dá-me família. E
conversamos muito, conversamos.
(PATRÍCIO, 1989, p. 18-19)
A afinidade dos seres com a natureza também é sugerida na fala do arrais leproso:
ARRAIS LEPROSO
Logo que eu abicar na areia ruiva, o mar vai rir mais alto de contente...
Eu falava às gaivotas, conheci-as [...] As asas não têm medo, não se
importam [...] Hás de ver-me embrulhado em asas brancas.
(PATRÍCIO, 1989, p. 22)
As lembranças amargas de tudo aquilo a que foram privados pela doença
culminam com a revolta de alguns que, enlouquecidos pela miséria e pela volúpia,
143
sonham estuprar mulheres e crianças e pôr-lhes ―os sete selos reais da gafaria‖. Liga-se
estreitamente à violência, à violação, à desordem, à morte, à transgressão, afinal, ―o que
está em jogo no erotismo é sempre uma dissolução das formas constituídas‖
(BATAILLE, 1988, p. 18).
OUTRO LEPROSO
Não há mulher que nos queira. Fogem todas. Quem pensas que é um
gafo para elas? Um espantalho de chagas, nada mais.
O PRIMEIRO LEPROSO
Se assim for, deixa-o ser. Deixá-lo ser. Ainda é melhor tê-las assim,
com medo, dando-se como mortas... meio mortas... Mordê-las como
frutos, e gafá-las [...]
O TERCEIRO LEPROSO, uma expressão feroz de louco
Crianças, eu sonho com crianças... Não há igual... não...
É neste instante que surge Isabel, no encanto de seus dezenove anos, descendo as
escadas e se aproximando deles. A rainha lhes é quase uma epifania. Na descrição de
cena, ela é ―uma infanta de vitral. Dir-se-ia impúbere em seu corpo de caule e olhos de
flor [...] Tem um sorrir que sara e persuade, como o aroma de uma rosa branca‖
(PATRÍCIO, 1989, p. 24). Deslumbrados por sua aparição, os leprosos recuam,
temendo contagiarem-na. Isabel, porém, se aproxima mais e, docemente, num gesto faz
cair sobre os leprosos uma chuva de pétalas, desfolhando as flores bentas que trouxera.
Toca-os, um após o outro, nas mãos e na testa, num tenro gesto de amor.
Isabel, prestes a sair, pergunta se já os vira todos, no que um dos leprosos
responde: ―Menos um. Falta um que vós não vistes. Mas não é como nós: é um
assassino‖ (PATRÍCIO, 1989, p. 29). Isabel, porém, insiste em vê-lo. Os guardas
hesitam, mas obedecem. ―Isabel, sózinha, fixa a boca da prisão hiante. Sai um homem
arrastos. Ergue-se tonto de luz. Empedra a olhá-la. É o mais moço de todos, forte e belo.
Mal se lhe sente o mal‖ (PATRÍCIO, 1989, p. 31). O leproso mais moço sente em Isabel
144
toda a santidade, indagando-lhe se ela é Maria. E num profundo ato de reverência,
submissão – e erotismo – ajoelha-se diante de Isabel e beija-lhe a sombra:
O LEPROSO MAIS MOÇO
Sabes?... Sonhei que de alma és minha sempre. E é certo... Não é?...
Diz-me que é certo...
ISABEL, no mesmo tom
Sou tua sempre...
[...]
O LEPROSO MAIS MOÇO, olhos presos no chão à sombra dela
A tua sombra... Deixa-me beijar. (Bejia-lha, de joelhos, duas vezes)
Como ela treme... Vês como sentiste!?... Assim não te faz mal: a
sombra é pura. Ninguém pode manchá-la. Nem um gafo. (Erguendose) Em vida, dei-te um beijo; neste inferno, pude beijar ainda a tua
sombra. Sou feliz. Fizeste-me feliz.
(PATRÍCIO, 1989, p. 32)
O Leproso mais moço observa a proibição e submete-se a ela, tem consciência do
interdito: não pode tocar Isabel, mas pode beijar a sua sombra, realizar-se nela.
Transgredir a norma seria macular aquela que, para ele, é uma epifania. É, segundo
Bataille, a afirmativa de que ao interdito e à transgressão, correspondem a dois
movimentos contraditórios: o interdito rejeita, mas o fascínio introduz a transgressão.
Como ele chama atenção: ―A proibição, o tabu, só se opõem ao divino num sentido,
mas o divino é o aspecto fascinante da proibição, é a proibição transfigurada‖
(BATAILLE, 1988, p.60).
Numa outra cena de beatitude, Isabel – que há muito estava reclusa devido ao
ciúme de Dinis, seu marido e rei – é requisitada por uma corte de mendigos e de doentes
junto às grades, na expectativa de a verem:
VOZES DE MENDIGOS
Ela há-de vir. – Está connosco sempre. Ela não tarda. – Ninguém me
arranca daqui sem ela vir. Nem a mim. Nem a mim. – Eu sinto que
não tarde. [...] – Ela disse-me: ―No jardim do Paço, ao entardecer...‖
[...] – Vamos rezar em côro, se tardar [...] Estará presa no Paço... Ela,
a Rainha!... – Não tendes siso. Presa a nossa santa!... [...] A Rainha! A
Rainha! Onde está ela?...
(PATRÍCIO, 1989, p. 50-51)
145
Isabel, contrariando as rigorosas ordens de seu marido, não resiste ao fervoroso
chamado e comparece com ―um vestido de reclusa, gris‖. Seu aspecto é ―quase
monacal‖ e ―com as mãos segura a arregaçada tufando de repleta‖ (PATRÍCIO, 1989, p.
54). No mesmo instante, chega Dinis e lhe pergunta o que ela traz. Ela, temerosa, diz
que são flores. Dinis, porém, não acredita e a obriga a lhe mostrar. Isabel, então, abre a
arregaçada: caem ―rosas e rosas brancas‖ e um mìstico perfume inunda o ar.
As rosas são, simbolicamente, a Rosa Crística da vida eterna que se renova
constantemente e ressurge ao final de cada volta. São, ainda, o emblema da perfeição
para a grande obra dos Alquimistas, sendo símbolo do segredo, pois é uma das raras
flores que se fecha sobre seu coração: ao abrir a sua corola, revela-se, justamente, no
momento de fenecer. Na tradição do homem Ocidental, muito possivelmente é a mais
importante das flores simbólicas, pois exprime o desenvolvimento do espírito, e está
identificada com todas as expressões que denotam tal significado, associando-se à ideia
de regeneração, fecundidade e pureza. Segundo indica Frédéric Portal (1837), a rosa
constitui um símbolo de regeneração e de iniciação aos mistérios.
Aponta Nascimento Rosa que:
A sobrenaturalidade do milagre indica ser Isabel uma divina eleita [...]
e o próprio texto de Patrício o revela numa fala em que a personagem
se pergunta pelas razões de ser escolhida, vendo-se a si mesma, nesse
momento de auto-revelação consciente, como uma entidade sacrificial
para com os desígnios de um Deus desconhecido – isto após Dinis
interpretá-la, realçando a imaterialidade (meta)física da sua impossível
amada, que é mais da qualidade divina do que da natureza sua de
humano.
(ROSA, 2003, p. 315)
Após o milagre da transmutação, o perfume das rosas preenche o ar. Um dos
pajens diz que ―Respira-se um jardim que ninguém vê. É das rosas do milagre‖
(PATRÍCIO, 1989, p. 51). Um sentimento doloroso, mas não resignado, toma conta de
Dinis, pois percebe que o seu amor por Isabel já está condenado por uma força divina,
146
invisível, que vem com o perfume, assinalando o abismo entre o miraculoso que afasta
e o desejo que quer proximidade:
DINIS
[...]O perfume das rosas do milagre ressoa em perdição pela minha
alma. Ouvíeis esses dobres sem saber.
ISABEL
Milagre, dizei vós. Pois credes, credes!...
DINIS
Como não crer, como não crer, amiga?... Pudesse eu duvidar, e tinha
esperança. Quando da arregaçada elas caíram, quando caíram rosas
brancas nos degraus, na minha alma foram pás de terra, terra de cova
sobre a minha sorte.
(PATRÍCIO, 1989, p. 63)
Há no drama de Dinis e Isabel a consciência fatalista de que um mundo oculto
rege a vida humana, retirando das personagens qualquer sentido de ação ou palavra, á
que, de antemão, sabe-se que os esforços para modificar o destino inexorável são vãos.
É o pressentimento da fatalidade inexorável, contra a qual não se pode fazer nada, a não
ser esperar que aconteça implacavelmente. Há, no texto de Patrício, uma espera terrível,
tensa, da morte, como se pode ler num diálogo entre Dinis e Isabel:
DINIS
Sois mais da erva que pisais a medo. Sois de Deus, de todos. Não sois
minha.
ISABEL, em eco, a voz velada.
Não sou vossa, meu Dinis?... Não sou?...
DINIS
Nem que quisésseis, Isabel. Era impossível. Não sois, não sois e nunca
foste minha. Vós não vos pertenceis, sois toda d‘Ele.
(PATRÍCIO, 1989, p. 66)
E, também, numa outra passagem do texto dramático:
DINIS:
Ouvi, ouvi. Tudo é perdido. São duas velas que se tocam em
naufrágio, os nossos corpos ao tocar-se assim. Que hei-de eu fazer!?...
O que te rouba, amiga, não tem corpo. Crispar as mãos em torno de
um perfume, em garra, em garra, e estrangulá-lo... Não é possível, Isa,
não se pode. És dele. Eu sei, eu sei, que há-de levar-te, que vais nos
147
braços dele neste instante. Só me deixa o teu corpo que eu não quero,
assim deserto de alma, e lindo, lindo... Eu não nasci p‘ra bodas com
um moimento, com um túmulo de pétala, de lírio... Há dois anos que
vivemos juntos, e não tivemos bodas. Podres bodas!..
(PATRÍCIO, 1989, p. 69)
O caráter religioso e sensual do amor é como algo indissociável, corporificando-se
em Isabel como espiritualidade pura e em Dinis como sensualidade. Isabel expõe com
mais contundência e entrega a sua condição feminina, numa intensa mescla de erotismo
e religiosidade. Assim, é a importância desse erotismo religioso que a faz peculiarmente
mulher. A tensão entre erotismo e epifania fica mais clara na cena em que, no
desenvolvimento dos discursos, vê-se de que maneira tanto a religiosidade estava
impregnada de uma adormecida sensualidade quanto a adoração sensual de Dinis por
Isabel abraçava, no fundo, um caráter religioso: ―[...] O teu Dinis, amor, adora o sol
como tu a dor, e de mãos postas‖ (PATRÍCIO, 1989, p. 68). Isabel, então, desperta para
o amor e Dinis para a dor inconsolável:
ISABEL
Antes queria-te muito, quis-te sempre, mas meia adormecida, como
em sonho... (Caindo-lhe nos braços) Olha em ti, olha em ti: pois não
me vês?...
DINIS
Cais-me no peito como uma ave morta, uma ave que um falcão largou
no ar...
ISABEL
E para sempre, para sempre, amigo... Há um outro milagre, um bem
maior. A dor também te disse o seu segredo.
(PATRÍCIO, 1989, p. 86)
Aliás, toda essa religiosidade de Isabel parece se voltar toda para a vida na terra. É
um amor desejoso de sarar o mundo, que tem por objeto de desejo as próprias
criaturas. A divindade manifesta-se num um núcleo de forças intensivas, em contínua
expansão em Isabel, tomada por esse sentimento de amor incondicional. É na sua
própria afetividade que a interação com o divino ocorre, revelando uma potencial e
148
transfiguradora experiência do sagrado, como na fala de Isabel à Aia, sobre o milagre,
sobre Dinis e a vontade de devotar cada vez mais seu amor aos necessitados:
ISABEL
Sou outra?... Sou mais eu. Sou quase eu. Tu pensas que os esqueço, os
pobrezinhos... O meu amor por ele é todo o amor. Quero-lhes mais,
porque lhe quero mais. Só tremo por as rosas do milagre: com medo
que voltem, de que voltem... Não sou digna do Céu: não sou do Céu...
(Com desespero) Que me deixem na terra e amá-la toda... amá-la toda
nele...
(PATRÍCIO, 1989, p. 75)
ISABEL
[...] Quero viver na terra, é o que lhe peço. É o que peço a Deus...
(PATRÍCIO, 1989, p. 77)
A santidade de Isabel revela-se, desde o primeiro instante, numa devoção à vida.
Na visita aos leprosos, condenados pela doença, revela-lhes a capacidade de se viver
em estado de beatitude, de amor sem ressentimento, e essas qualidades se granjeiam
mediante a compreensão de que, no fundo, nunca ocorreu a ruptura entre a instância
humana e a instância divina. Trazendo-lhes remédio para o mal, simbolicamente lhes
traz a vida em promessa. Traz, ainda, as flores de Celas ao lavrador, promete ao arrais
que ele ainda voltaria a ver o mar e, a um outro, que lhe traria o filho pequenino para
que o veja. Assim, a maneira como Patrício constrói sua Isabel aproxima-se muito do
que diz Friedrich Nietzsche ao preconizar a existência de um amor fati.
Minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati: nada querer
diferente, seja para trás, seja para a frente, seja em toda a eternidade.
Não suportar apenas o necessário, menos ainda ocultá-lo – todo
idealismo é mendacidade ante o necessário – mas amá-lo.
(NIETZSCHE, 2001, §10)
Esse posicionamento diante da existência faz da Isabel de António Patrício uma
valorosa realizadora do conceito de amor fati, demonstrando ser capaz de vivenciar
plenamente toda experiência de sofrimento, sendo símbolo sublime, ainda que na
indesejada morte, realizando-se na própria imanência da vida. O milagre das rosas – a
transmutação dos atos – portanto, inscrevem Isabel na santidade. Na leitura de Patrício,
149
isto é significativo: o perfume que inunda o ar representa o chamado divino da vida
material para a vida espiritual. Sentindo que Deus não lhe permitiria conciliar, como era
seu desejo, a sua doação à dor do mundo e o seu amor a Dinis, Isabel quer renegar o
milagre das rosas, e renegar o próprio chamado de Deus.
DINIS
Esqueceis as rosas dos milagre...
ISABEL
Esfolho-as na tua alma p‘ra que as pises, para que o nosso amor possa
pisá-las.
(PATRÍCIO, 1989, p. 81)
DINIS
[...] O perfume das rosas voltará. E tu estás semi-morta, amiga minha.
Se os nossos corpos se unem nesta alcova, agora que a tua alma enlaça
a minha, Deus tem ciúmes, Isa, certo, certo... O perfume das rosas
voltará.
ISABEL, pondo-lhe as mãos nas têmporas, os olhos quase
espásmicos, sem íris.
Eu não sou dele, amor. Eu sou só tua. Amo-te mais que a Deus...
Mais, mais, Dinis...
(PATRÍCIO, 1989, p. 87-88)
Isabel não pode pertencer aos dois mundos. O milagre das rosas, ao mesmo tempo
em que inscreve Isabel na santidade, mostra a Dinis que não pode ter sua mulher, ainda
que ela também relute contra a manifestação do divino. Revela-se, porém, a impotência
do desejo humano, e a vida está fadada ao seu termo máximo, a morte. Diante da
escolha de Isabel pelo amor de Dinis, o que a leva a renegar o milagre das rosas, Deus –
que surge como um ―rival‖ de Dinis, despertando nele a consciência de um amor
condenado – toma-a para si. O desejo da vida humana é derrotado por uma força que a
subjuga, pela presença imaterial de uma força sobrenatural.
Há o que Bataille chama de erotismo sagrado, em que a ação erótica é comparável
ao sacrifício religioso: a morte ritualística quebra a descontinuidade por meio do retorno
ao divino. A continuidade do ser não é conhecível, mas sua experiência se dá através da
150
experiência mística. Entretanto, o que as personagens de Patrício buscam não é a
transcendência, mas a imanência, a ―nostalgia da continuidade perdida‖, o erotismo dos
corações, para alcançar uma estabilidade proveniente da afeição entre os amantes.
Em Dinis e Isabel, porém, não se sustenta a crença de eternidade e plenitude da
vida em sua natureza espiritual e sensual. Diante da consciência da impotência da vida e
do desejo humano, apresenta-se a D. Dinis a promessa da Saudade, da eternização de
Isabel em espírito. A Saudade é a força mística que substitui a criatura, eternizando-a
em espírito. Nessa leitura de Dinis e Isabel, é possível uma aproximação com o
pensamento de Teixeira de Pascoes (1988), no que se refere ao desejo de eternidade
para o ser que se ama.
DINIS
E quem me dá os seus seios? Os seus seios?... E a sua voz, a sua voz
tão meiga [...] Eu tinha, por amor, sede de eterno, sede de eternidade
p‘rò seu corpo.
(PATRÍCIO, 1989, p. 126)
Mas, o que o Dinis de António Patrício almeja não é essa eternização em espírito.
Mais que isso, ele deseja Isabel, pois sua sensibilidade é indissoluvelmente sensual e
espiritual, reclamando, portanto, a eternidade em corpo e alma. Quando o bispo, no
texto de Patrício, presencia a sua dor e a sua revolta perante a morte de Isabel, tenta
consolar Dinis, mas, para ele, a dor é inconsolável: ―tens um crime de amor ante os teus
olhos‖ (PATRÍCIO, 1989, p. 126), é o que responde, numa fala em que fica patente que,
na leitura de Patrício, a plenitude e a perfeição das criaturas estão nelas próprias. É o
caso de Dinis e Isabel.
151
3.3. D. João e a Máscara: a predestinação da morte
A Morte, às vezes, queria descansar,
mas sem saber porquê, tem de tecer
nesse invisível, trágico tear...
(PATRÍCIO, 1989, p. 163)
D. Juan é um personagem que tem fascinado, desde o século XVII, os leitores do
mito, tornando-se motivo para muitas recriações literárias. Seu caráter ambíguo,
simultaneamente admirável e reprovável, levanta questões sociais e políticas relevantes
em diversos espaços e tempos, uma vez que ele, D. Juan, é o grande desarticulador de
dois sustentáculos sociais de setecentos: o clero e a nobreza. Mas, marcado pela
sensualidade e pelo erotismo, parece ser justamente o elemento amoroso dessa história a
garantia de seu sucesso.
As fontes históricas, religiosas ou os contos tradicionais, folclóricos apontam para
uma possível origem andaluza do mito, no século XVII, influenciado sobremaneira pelo
clima religioso da Contra-Reforma, sujeitando-se às especificidades de um contexto
cultural bem específico. D. Juan é, de fato, um mito, já que, conforme analisa Pierre
Brunel (1988), comporta três funções: narra uma história, explica o como e o porquê
dessa narrativa e revela um herói.
No seu ensaio ―O Donjuanismo‖, inserto n‘O Mito de Sísifo, publicado em 1942,
Albert Camus considera que D. Juan, tal como Sísifo, não compreendeu o verdadeiro
sentido da vida – ou mesmo a sua falta. Afinal ―O que Don Juan põe em prática é uma
ética da quantidade, ao contrário do santo) que tende à qualidade‖ (CAMUS, 2008, 85).
Ao não acreditar ―no sentido profundo das coisas‖ (CAMUS, 2008, p. 86) torna-se um
herói do absurdo. Na concepção de Camus, D. Juan tem consciência daquilo de que é
símbolo: ele é o sedutor comum e o mulherengo.
152
Quando escolhe o amor libertador – aquele que corresponde a um constante
processo de morte e renascimento de um novo amor –, D. Juan sabe que, como mortal,
terá um fim e será castigado, e ser punido ―lhe parece normal. É a regra do jogo‖
(CAMUS, 2008, p. 87). Mas, ainda que aceite o castigo, ―ele sabe que tem razão e que
não pode tratar-se de castigo. Um destino não é uma punição‖ (CAMUS, 2008, p. 88). E
o destino que Camus vê para D. Juan remete ao cenário de onde vem o mito primordial:
Vejo Don Juan numa cela daqueles monastérios espanhóis perdidos
numa colina. Se ele olha para alguma coisa, não é para os fantasmas
dos amores passados, mas, talvez por uma seteira ardente, para
alguma planície silenciosa da Espanha, terra magnífica e sem alma
onde se reconhece. Sim, é nessa imagem melancólica e refulgente que
é preciso parar. O fim último, esperado mas nunca desejado, o fim
último é desprezível.
(CAMUS, 2008, p. 90)
A primeira versão literária afasta-se muito do arquétipo divulgado em versões
posteriores, sobretudo aquelas que ultrapassam o fim de novecentos, afastando-se,
portanto, numa trajetória de inúmeras recriações, da sua original construção. É a partir
de O burlador de Sevilha, escrito no século XVII pelo frei Gabriel Téllez sob o
pseudônimo de Tirso de Molina, que se dará início a toda uma tradição literária.
O D. Juan de Tirso de Molina é mais do que apenas um conquistador de mulheres,
mas é também, um burlador da sociedade, pois transgride toda norma ou convenção
instituída. A questão erótica, muito explorada pelas posteriores criações, é
marcadamente negativa n‘O burlador de Sevilha, pois D. Juan, mais do que querer
seduzir as mulheres, simplesmente as engana, prometendo falso casamento, já que não
pretende amar nenhuma delas, querendo apenas possuí-las. Ao fim, D. Juan, encontra
sua punição: após matar Gonzalo de Ulloa, pai de Dona Anna, moça a que D. Juan tenta
burlar, o comendador morto, sob a forma de uma estátua de pedra, serve como
instrumento da vontade divina e pune o personagem com um castigo eterno. É a
153
condenação de um pecador que se recusa ao arrependimento no tempo oportuno,
provando o quão implacável é a justiça divina.
Victor Said Armesto, tendo por base o texto de Tirso de Molina, admite as
influências que o folclore e as tradições locais exerceram, numa certa medida, no autor,
durante a sua longa estada no nordeste da Penìnsula Ibérica: ―De muchos pasajes de
comedias de Tirso (Mari-Hernández la Gallega, El amor médico, La villana de la
Sagra...) se infere com toda claridad que Tirso residió bastante tiempo en Gallicia y en
Portugal, seguramente em conventos de su Orden o para negocios de ella‖60
(ARMESTO, 1968, p. 57-58). O tema do sedutor irá sofrer nas posteriores versões as
mais variadas alterações, de acordo com a interpretação poética que seus autores lhe
darão, assistindo-se, ao longo dos tempos, a uma espécie de metamorfose da
personagem. Tirso de Molina, ao caracterizar pela primeira vez a personagem,
transporta-a para a literatura. A partir daí, D. Juan será o dissoluto da primeira metade
do séc. XVIII até as reedições de 1837 e o sedutor da idade romântica e daí em diante, o
que prova que próprio modo de atuação de D. Juan evolui ao longo das estéticas e
interpretações autorais. De destemido e impulsivo no período Barroco, D. João seduz
mais pela mentira, pela promessa de casamento e pelo disfarce, torna-se mais reflexivo
no Romantismo: é um herói rebelde, que seduz pelo fascínio de sua aparência. Em
Zorrilla, é salvo graças ao amor puro de D. Inês, solução que a modernidade rejeita.
Uma das mais famosas aparições do burlador será a realizada por Molière, em
1665, com seu D. Juan, que, diferentemente da realização de Tirso de Molina, critica
incisivamente a religião, a nobreza e a burguesia. Exemplar é a reflexão feita pela
personagem a respeito da hipocrisia. Quando está a ponto de ser preso, não foge,
60
Tradução: Em muitas passagens das comédias Tirso (Mari-Hernández la Gallega, El amor médico, La
villana de la Sagra...) percebe-se que Tirso residiu muito tempo na Galiza e em Portugal, certamente nlos
conventos de sua Ordem ou de seus negócios.
154
preferindo tornar-se um hipócrita com a desculpa de que assim poderia ser aceito pela
sociedade da época:
Disso ninguém mais se envergonha. Ao contrário, se orgulha. A
hipocrisia é um vício. Mas está na moda. E todos os vícios na moda
são virtudes. O personagem do homem de bem é o mais fácil de
interpretar em nossos dias. Qualquer hipócrita o representa com
razoável perícia [...] O exercício da hipocrisia oferece maravilhosas
possibilidades. É uma arte da qual faz parte natural a impostura [...] E
mesmo quando a impostura é transparente, ninguém ousa condená-la,
com medo de que isso abra o caminho para a condenação de
imposturas mais habilidosas.
(MOLIÈRE, 2002, p. 120)
Talvez a recriação que mais tenha exercido influência nas releituras portuguesas
é a ópera Don Giovanni, de Mozart, cujo libreto ficou a cargo de Lorenzo da Ponte.
Segundo Gustave Kobbé, Don Giovanni é o principal responsável pela popularidade da
ópera: ―Outro fator decisivo para esta popularidade é a própria figura do protagonista,
libertino e blasfemador, fascinante para os homens pela audácia e para as mulheres pela
reputação escandalosa‖ (KOBBÉ, 1997, p. 90). Aliás, a ópera de Mozart tem muitos
pontos de contato com o D. Juan da peça de Tirso de Molina, mas, apesar disso, difere
em alguns aspectos e personagens, como a presença de Dona Elvira, personagem criada
por Molière. Percebe-se na figura de D. Juan , como paradigma do sedutor irresistível, o
poder ilimitado de que se vangloria com soberba: não admite rivais. É uma força da
natureza, como na leitura de Molière:
Não há nada que possa deter o ímpeto dos meus desejos, sinto em
mim um coração capaz de amar toda a terra; e como Alexandre,
gostaria que houvesse mais mundos, para poder alargar até aí as
minhas conquistas amorosas.
(MOLIÈRE, 2002, 28)
Em Portugal, o mito de D. Juan é revisitado apenas tardiamente, sendo objeto,
inicialmente, de duas principais concepções: a romântica e a realista/naturalista. A
literatura portuguesa muitas vezes atribui a um objeto mágico – o bandolim – o poder de
sedução de um D. Juan envelhecido e melancólico. Destacam-se, nas obras portuguesas,
155
quase sempre uma visão simpática de D. Juan e uma concepção muitas vezes ortodoxa
do mito. Na tradição portuguesa, D. Juan – tratado, na maioria das vezes como D. João
– o dissoluto é mais comedido, menos temperamental, retomando o caminho da
remissão e, assim, num gesto final, acerta contas com todos. Conforme comenta Maria
Idalina Resina Rodrigues:
[…] um Don Juan Tenório esconjurador de delitos passados, sem
sombras de anteriores apetites, vencedor corajoso de tumultos íntimos
e, para mais, marido convertido às delícias do matrimónio sagrado, em
busca da esposa fiel que, aliás, rapidamente lhe facilita o regresso ao
lar. Quer nos assombre ou não, que se comova quem quiser e se
indigne quem for dado a exaltações, é assim mesmo que as coisas se
passam: Don Juan e Dona Elvira abraçam-se e dispoem-se a ser
felizes para sempre, os irmãos da até então ofendida senhora trocam a
vingança pelo perdão ao arrependido cunhado, o sensato criado sentese recompensado pela boa moral pregada e todos em esfusiante happy
end proclamam a benignidade de um Céu que perdoa os delitos mais
horrorosos.
(RODRIGUES, 1997, p. 365-366)
Leo Weinstein (1959) reafirma a transnacionalidade que o mito de D. Juan tem
assumido ao longo da história, considerando-o um caso paradigmático no âmbito da
Literatura Comparada, ao dizer que ―if any subject is truly international, it is that of Don
Juan‖61 (WEINSTEIN, 1959, p. vii). O mito de D. Juan tem sido reinterpretado de tal
maneira que dentro da Literatura de cada país, podem ser encontrados vários tipos do
herói sedutor. Na Espanha, dividem-se as preferências entre a versão de Tirso de Molina
e a de Zorrilla; os franceses veem-se entre Molière e Lenau; na língua alemã, entre
Mozart ou Frisch; Byron ou Shaw no caso inglês; em Portugal, um dos modelos mais
bem realizados é a figura vil e demoníaca que Junqueiro aparentemente apresenta a
julgamento à sociedade positivista, no final século XIX, e o D. João metafísico de
Patrício, que se mostra fascinado pela figura do sedutor.
61
Tradução: Se qualquer assunto é internacional, é-o D. Juan.
156
Aliás, há que se ressaltar que, quanto à estrutura formal do mito donjuanesco,
praticamente todas as versões portuguesas se desviam significativamente dela. Há,
sobretudo, uma notável preocupação metafísica no D. João ―português‖, no qual se
destacam por vezes certos laivos do Fausto, de Goethe, na entrega enigmática e
obsessiva da busca de um ideal, ou desejo de absoluto.
O texto teatral de António Patrício é o que mais se aproxima da versão tradicional:
seu D. João tem ainda a cumplicidade de Leporello; há o encontro sobrenatural com o
Conviva de Pedra, figura pouco relevante no desfecho da sua ―fábula trágica‖; redimese, como nas versões românticas, no recolhimento do convento de La Caridad. Renata
Junqueira observa que, quando António Patrício publica D. João e a Máscara:
a figura do lendário conquistador de mulheres já se tinha entranhado
numa secular tradição literária que o dramaturgo português certamente
conhecia. A sua peça viria a inscrever-se numas das vertentes dessa
tradição, como podemos ver, desde logo, no pequeno texto
introdutório que o autor fez aparecer na sua primeira edição. Ali, à laia
de prefácio, Patrìcio admite que se inspirou na ―verdade histórica‖ de
Miguel de Mañara para compor o seu Don Juan
(JUNQUEIRA, 2007, p. 87)
O texto dramático de António Patrício compõe-se de quatro atos e abre com uma
epìgrafe de Shakespeare: ―Nothing can we call our own but death‖, que se traduz como:
―Bem nossa, só a morte‖. Num primeiro momento, Patrìcio fornece a sua definição
pessoal de donjuanismo: ―instintivo religioso‖, ―amoral mìstico‖, ―possesso de eterno‖,
―inesgotável‖ e ―entre o Diabo e a Morte‖ (PATRÍCIO, 1972, p.9). Assim, em D. João
e a Máscara, António Patrício recria uma figura histórica documentada para fazer dela
um ser díspar.
Inspirando-se na história real de Miguel Maraña, que morreu em santidade no
convento de La Caridad, o interesse de Patrício, porém, vai no sentido de criar
personagens que se definem muito mais a partir da matéria mítica do que da história
157
conhecida, pois, como afirma, ―Desta vez, por excepção, a história é superior à lenda‖
(PATRÍCIO, 1972, p. 10). Como aponta Fernando Araújo Lima, D. João e a Máscara:
Não nos apresenta, evidentemente, um D. João histórico, com a sua
devassidão tradicional, a sua gula de carne, um Burlador-Matéria,
roído pelo vício, capa ensanguentada e cinismo nos lábios gafos. Não.
Patrício cria um D. João filosófico, schaupenhaueriano talvez,
iluminado, cerebral, tedioso, completamente enamorado pela ideia da
Morte, a única herança que cabe a cada homem sobre a terra. Não
seguiu Tirso de Molina, nem se preocupou com os pormenores
macabros de Zorrilla, mas realizou uma obra de Arte bem
significativa.
(LIMA, 1945, p. 128)
Na interpretação de Patrìcio, o ―burlador de Sevilha‖ é intelectualizado, aspira
apenas à sua liberdade, recusa as suas responsabilidades sociais e a fatalidade do seu
destino de sedutor, fugindo de todo o contato físico, por viver obcecado pela morte. O
D.João dissoluto de ―natureza excessiva e dinâmica‖, sìmbolo de vontade de
transgressão e de atravessar as fronteiras da vida humana, ―dotado do poder de atracção
e da delirante concupiscência‖ (RODRIGUES, 1960, p. 10) que na ―vertigem do
excesso‖ (RODRIGUES, 1994, p. 102) se realiza na sedução de uma pluralidade de
mulheres, nesse aspecto, no texto de Patrício, se afasta do protótipo das criações mais
clássicas: mais que um sedutor inconstante, a personagem se aproxima do sedutor
romântico, que busca incessantemente a mulher ideal. Neste caso, a sua ânsia de
absoluto leva-o a perseguir, ou esperar, obsessivamente a Morte, que se configura numa
personagem feminina. D. João, portanto, irá se aventurar na descoberta da sua própria
identidade, se envolvendo, sobretudo, num processo de autognose. É o próprio D. João
quem se define: ―Sou um buscador de fontes por destino; mas por mais que procure,
nunca as oiço‖ (PATRÍCIO, 1972, p. 30). É esta predestinação e incapacidade de
atingir o absoluto que o levam ao sofrimento e ao tédio.
158
No texto dramático de António Patrício, há a conjugação de Eros e Tânatos, de
explosão vital e de presciência da morte. Para além das aparências dos seus atos, que
deram a D. João a alcunha de ―O burlador de Sevilha‖, Patrìcio viu nele uma alma ávida
por atingir o Absoluto: desejo que passa, necessariamente, pelo desejo da Morte que
liberta. Como diz ainda Teresa Rita Lopes: ―C´est dans l´amour que la vie touche de
plus près à la mort. Pour D.João, le spasme de l´amour mime l´union avec l´absolu, que
seule la mort peut apporter‖62 (LOPES, 1985, p. 80). O D. João de Patrício transforma
esse desejo erótico numa fusão com a Morte. Como diz Georges Battalie, ―O erotismo
abre para a morte. A morte abre para a negação da duração individual‖ (BATAILLE,
1988, p. 22).
Para Urbano Tavares Rodrigues, o erotismo é ―coisa interna, latejar contìnuo da
vida‖ (RODRIGUES, 2005, p. 25). Saturado ao extremo de erotismo e de toda a luxúria
com a qual viveu, D. João toma plena consciência do seu tédio existencial e refugia-se
no convento: ―D. João só tem um caminho: dar-se ao amor dos outros, a mais alta e
depurada forma de amor: só essa o tornará digno de Soror Morte. A fábula aponta assim
no sentido da preparação para o fim, regresso ao cosmos – mediante o amor‖
(RODRIGUES, 2005, p. 26).
E é exatamente isso o que ocorre com D. João. Sua experiência trágica favorece a
ampliação do enfoque valorativo e insere-o numa dinâmica de forças em constante
transformação, de maneira que D. João compreende todas as coisas como intimamente
associadas, afirmando-as nas suas qualidades intrínsecas, mesmo que subjetivamente
dolorosas. De acordo com a interpretação de Mário Ferro e Manuel Tavares:
Na visão trágica, vida e morte, ascensão e decadência formam um
todo e, por isso, o sentimento trágico da vida não é recusa, mas
62
Tradução: É no amor que a vida toca mais perto da morte. Para D. João, o espasmo de amor mima a
união com o absoluto, que só a morte pode trazer.
159
aceitação do devir, adesão à morte e ao declínio. Declínio que não
significa decadência ou destruição, mas um regresso ao fundo da vida
do qual surgiram todas as coisas individualizadas.
(FERRO; TAVARES, 2001, p. 33)
D. João encarna os princípios dionisíacos, cuja experiência pressupõe a
embriaguez, mas não apenas a embriaguez fisiológica pelo vinho, mas, acima de
tudo, a embriaguez existencial pela vida, pela natureza e pela expansão contínua da
força criativa de cada singularidade, pois nessa experiência a limitada
individualidade adquire o caráter divino na própria natureza, tão pródiga em sua
concessão de dádivas.
Cantando e dançando, manifesta-se o homem como membro de uma
comunidade superior: ele desaprendeu a andar e a falar, e está a ponto
de, dançando, sair voando pelos ares. De seus gestos fala o
encantamento. Assim como agora os animais falam e a terra dá leite e
mel, do interior do homem também soa algo de sobrenatural: ele se
sente como um deus, ele próprio caminha agora tão extasiado e
enlevado, como vira em sonho os deuses caminharem. O homem não
é mais artista, tornou-se obra de arte: a força artística de toda a
natureza, para a deliciosa satisfação do Uno-primordial, revela-se aqui
sob o frêmito da embriaguez.
(NIETZSCHE, 1993, § 1)
Ao comentar essa percepção nietzschiana da apoteose dionisíaca, Eugen Fink
afirmará que ―A embriaguez é a torrente cósmica, um delìrio báquico que destrói,
despedaça e reabsorve todas as formas, que suprime tudo o que é finito e individual.
É o grande ìmpeto da vida‖ (FINK, 1983, p. 25). O aniquilamento do indivìduo, na
prática dionisíaca, não representa, portanto, a sombria extinção da vida, mas a
possibilidade de que as suas partes extensivas se reconfigurem em novos modos de
expressão através do processo de contínua transformação dos elementos da natureza.
Este é, sobretudo, o caso de D. João.
Na abertura do Acto Primeiro, o sedutor é assim descrito, numa didascália:
É alto e magro, musculado, um animal de sedução e presa. Nos gestos,
no andar, em todo o corpo, qualquer coisa de felino, de onduloso. A
160
cabeça, de tinta aciganada, tem insolência cínica e fadiga, uma tensão
de vida tão aguda, que é quase dolorosa, inquietante. No impudor da
boca, do olhar, uma mobilidade que perturba, por excesso de
expressão, de intensidade.
(PATRÍCIO, 1972, p. 16)
Este retrato corresponde, segundo Maria do Carmo Pinheiro e Silva, à
―predilecção imagìstica epocal pela figura nómada (e dândi) de cigano, de insolência
cìnica e fadiga‖ (SILVA, 1998, p. 120), mas D. João é marcado desde o primeiro
instante pela ―entrega voluptuosa ao spleen‖ (RODRIGUES, 1994, p. 102), pelo
aborrecimento que domina o entediado sedutor. O D. João de Patrício é um homem
possuído por um desejo desmesurado de Deus, sob a máscara da luxúria – que o fez
prisioneiro das formas transitórias do mundo, dando-lhe apenas o martírio, a sensação
de possuir sombras. Como diz o próprio António Patrìcio, ―A tragédia de D. João está
no supremo poder de seduzir, de que ele próprio foi a maior vítima. Em nenhum amor
matou a sede‖ (PATRÍCIO, 1995, p. 122)
D. JOÃO
O delírio de posse é o meu delírio. E tudo se escoou entre os meus
dedos [...] A luxúria sorveu-me. E renasci. Bebi o ópio dos seus olhos
fluidos. Senti-lhe a boca fria e sugadora, colada às minhas vértebras
de lento. O meu desejo, galgo enlouquecido, correu-lhe os labirintos
com terror. O seu nada filou-me semimorto. E tive sede ainda... [...]
Toda a minha virtude a minha sede.
(PATRÍCIO, 1972, p. 73)
O texto começa ―quando D. João e a Morte pela primeira vez vão encontrar-se‖
(PATRÍCIO, 1972, p. 10). É o momento em que as máscaras do mundo começam a cair
diante de D. João que, enfim, compreende que o seu desejo jamais se saciaria em
qualquer uma daquelas formas com que tentou matar a sede, e que eram apenas indícios
desta força imaterial. A nostalgia da plenitude lhe é inerente:
D. JOÃO
Os meus amores, os meus amores foram só sombra. Beijava ar, água
corrente, efêmero. Enlacei sombra. Bebi nada aos haustos. De corpo
em corpo fui como um cego a tactear de muro em muro. Sempre a
essência das formas a fugir-me como o perfume duma flor pisada.
161
Palpei, palpei, e era a caveira sempre, como um sarcasmo de ossos,
laminado.
(PATRÍCIO, 1972, p. 70)
António Patrício relê um D. João que, numa esteira simbolista, é marcado pelo
conflito eu versus mundo: desilusão, pessimismo, melancolia, consciência da
efemeridade da vida fazem com que o sedutor desmorone desesperadamente ao tédio.
Cansado, frustrado e desiludido desabafa com Elvira, a sua companheira de momento:
―E aborreci-me, aborreci-me, aborreci-me. Havia teias de aranha na minha alma. […] E,
afinal –, imenso tédio, tédio‖ (PATRÍCIO, 1972, p. 21). O tédio, o aborrecimento, a
apatia, a aspiração ascética são os sentimentos que os espaços despertam em D. João,
numa ânsia nostálgica do Absoluto, e nem mesmo Elvira consegue livrá-lo desse spleen.
D. João a convida para que se deite sobre as folhas secas que cobrem a lama, num
desejo de fusão com o espaço ocupado por aquela por quem ansiosamente espera: a
Morte, que
se revela instância indissociável da vida. Ao se compreender
intrinsecamente essa dinâmica existencial, alcança uma jubilosa compreensão do valor
da vida e o da própria morte:
D.JOÃO
[...] Antes a lama. Antes a lama do jardim e as folhas secas. Não posso
mais, não posso mais assim...
D. ELVIRA
Não me queres, amor? Já não me queres...
D. JOÃO, num exaspero imenso
Qualquer coisa ou Alguém... Seja o que for. Já não sei rir. [...]
(PATRÍCIO, 1972, p. 26)
Para o D. João de Patrício, a mulher é um objeto de devoção. Por isso venera-a
como uma santa, num local de culto. Até mesmo quando parece dominado pelo êxtase
provocado pela sensualidade feminina, relembrando um corpo que se fragmenta em
―pés‖, ―seios‖, ―joelhos‖, ―nuca‖, ―pele‖, ―beiços‖, transforma de súbito o convite à
162
relação sexual numa contemplação da morte. Ainda que D. João ressalte a beleza física
de D. Elvira, o amor que ele nutre por ela não é carnal, mas transcendental, quase
religioso, conforme o próprio D. João diz a ela, já confessando sentir-se dominado pela
ansiedade da espera de uma visita ainda que distanciada do real: ―Vai ser o meu
convento o teu amor. Dás-me os teus olhos como Livro de Horas‖ (PATRÍCIO, 1972, p.
23).
No diálogo enfastiado com D. Elvira, é o próprio D. João que se interroga sobre
as fontes do seu encanto:
O que há de estranho em que me acreditasses, quando eu mesmo ia
levando a ouvir-me... A minha voz, o timbre, um não sei quê...Arcada
de violino na medula...estradivário nos meus nervos...- Ouves? O que
há em mim? Podes dizer-mo, tu?...
(PATRÍCIO, 1972, p. 26)
Neste aspecto, a confissão que o D. João de Patrício apresenta parece consonante
com o que Shoshana Felman (1980) chama, na sua interpretação do D. Juan de Molière,
de sensualidade erótica do ―corps parlant‖. Como salienta Baudrillard, é preciso forçar o
corpo a expressar-se, principalmente através de signos que não têm sentido na fala
(BAUDRILLARD, 1979, p. 126). D. João não consegue descrever o mal-estar que
sente, nem lhe adivinha a causa. Bruscamente, irrompe um novo elemento, visível
somente para ele: a Morte. No discurso que D. João lhe dirige, pela saudação servil que
lhe faz o sedutor – Dona Morte –, esta é transformada numa mulher digna de amor, mas
sua figuração é destituída das qualidades físicas que despertam o desejo e o interesse
masculino, como se refere nas indicações de cena: que ―é um Goya, uma manola
trágica, de uma esbelteza acutângula, macabra‖ (PATRÍCIO, 1972, p. 33).
O tom elogioso evolui de uma declaração de amor quase petrarquista a que não
faltam as rosas, como símbolo do amor, para uma fusão cada vez mais íntima: ―Não
penses um instante, oh! Não, que tenho frio: estou a arder, estou a arder, e estou a arder
163
por Ti: Ó máscara de Outono, ó meu amor, sorri‖ (PATRÍCIO, 1972, p. 34). Não cabe à
Morte conotações negativas, mas, feminizando-a, há mesmo demonstrações de carinho
e de uma profunda ligação num sentimento de religiosidade a manifestações de natureza
estética e erótica:
D. JOÃO, embainhando a espada lentamente
Sinto que te amo já para além do desejo. [...]
Falavam com terror , e baixinho, de Ti,
e eu pensava: é mulher, e se é , sorri:
é mulher, é mulher: e se é mulher é minha.
A Morte, para mim, tem olhos de andorinha. [...]
Na voz de Igreja, a ouvir os salmos pelas naves,
Pensava:os braços seus devem ser tão suaves
Como a luz dos vitrais, na penumbra, em surdina...
E a ouvir responsar: - Tem a cintura fina...
(PATRÍCIO, 1972, p. 35)
D. João recorda através do corpo e dos olhos da Morte, como imagem que
reflete o escândalo das suas conquistas, imagens que, no fundo, nada mais eram do que
a busca ilusória de Absoluto. O que ele busca é a experiência erótica na ânsia pela
substituição do isolamento do ser, a substituição de sua descontinuidade, por um
sentimento de continuidade profunda (BATAILLE, 1988). D. João relembra a monja,
virgem inacessível, a quem, no convento de Burgos, despe violentamente, com um
punhal o seu ―brocado de oiro‖:
D. JOÃO
[...] Sob o luar que esponja
as arcadas do claustro em carpícias lustrais,
sabiam-me a jasmim os mamilos da monja,
a touca ia a fugir para céus irreais...
Carmelitana?... Não. Era Clarisse.
[...]
A MORTE
Rasgaste-lhe a punhal a tela de brocado.
E a desnudar-lhe o corpo inviolado
(PATRÍCIO, 1972, p. 39)
164
Prossegue nas suas recordações de procura de Absoluto, e diante de uma
interrogação da Morte – ―Dize: onde é que me vês?...‖ (PATRÍCIO, 1972, p. 42) –
responde D. João, ―como vendo num espelho em frente‖:
D. JOÃO
Na infanta que num quadro desdoirado,
em seu complexo e heráldico peiñado,
seu olhar de esmeralda semi-louca,
beijou na boca da marquesa a minha bica.
Uma pequena Habsburgo a sorrir-me na tela...
Eras Tu, eras Tu: eras Tu... e era ela.
Oh! a perversa graça corruptriz
e distante, de criança, de criança-imperatriz...
E enlaçava a marquesa...
Ao fundo do salão só uma vela acesa
em lágrima doirada. Todo em sangue, o crepúsculo
ia afogando tudo. Saí como um fantasma, sem um músculo...
A MORTE
As máscaras de amor mimam só a agonia.
D. JOÃO
Eras Tu para além que o meu desejo queria.
(Desejo que fascina e de que sou escravo.)
(PATRÍCIO, 1972, p. 42-43)
O D. João de Patrício é um sedutor atípico. Afasta-se do D. Juan vil e
inescrupuloso de Tirso de Molina. É bem diferente, também, do herético D. Juan de
Molière, que, através da falsa promessa de casamento, engana as mulheres que cruzam
seu caminho. A personagem de Patrício, ao contrário, é idealista. Vive no tédio, na
fadiga, dominado pela saudade de ―Alguém‖ que julga ser a Morte, na ânsia de
absoluto, aspirando a um amor verdadeiro. Apresenta-se desprovido de estratégias de
165
conquista e não sabe donde lhe vêm as faculdades que atraem tanto o sexo feminino.
Buscava nos corpos que tanto amou o aniquilamento da individualidade descontínua. A
passagem do estado normal ao desejo como a dissolução do ser descontínuo, numa
espécie de alquimia sexual. Sua realização erótica era uma busca da destruição da
estrutura do ser fechado, propiciando a sua dissolução. Assim, tal como pensa Bataille
(1988), a paixão pode ser mais brutal do que o puro desejo, fazendo com que a
felicidade se transforme em perturbação. Nas mulheres que amou, D. João
experimentou apenas a relação entre dois seres descontínuos que anseiam uma
continuidade impossível, despertando desejos de morte quando da constatação dessa
impossibilidade. Assim, tem-se a ideia de que somente o ser amado pode realizar a
fusão sonhada, ocasionando sofrimento ao se perceber que isso é inalcançável. E, no
fundo, descobre uma manhã que o amor que procurava ter sempre no desejo de morte
dentro dele. Como observa Renata Junqueira:
Patrício faz o seu herói transitar de um materialismo sensualista para o
mais austero espiritualismo, sempre obsidiado pelo desejo de morrer:
a Morte, personificada, é a única mulher que ele não consegue
conquistar. A morte, aliás, é tudo na vida desse herói: é ela que se
desdobra e que se projeta em cada uma das mulheres que ele possui. E
é esta precisamente a sua tragédia: descobrir que a vida é feita apenas
de aparências, de formas transitórias, e que a única realidade essencial
é a da morte.
(JUNQUEIRA, 2007, p. 88)
D. João percebe a passagem do tempo e seus dias se revelam em uma lenta
espera pela morte, na certeza de que esta possibilite novas experiências. Essa entrega à
morte, representada por Tânatos, tem por base a sua crença de que apenas na morte
poderá encontrar a plenitude procurada, a que vai de encontro à força vital representada
por Eros. Desse modo, a narrativa se configura como a preparação de D. João para a
morte, onde, então, será possível abandonar a individualidade e penetrar no infinito.
Como observa Bataille, ―A essência da paixão é a substituição da persistente
166
descontinuidade por uma maravilhosa continuidade entre dois seres. Essa continuidade
é, no entanto, particularmente sensível na angústia, na medida em que é uma procura em
impotência e em temor‖ (BATAILLE, 1988, p. 18).
Não interessam a D. João quaisquer planos de sedução. Apenas a Morte – e
numa nova personificação, Soror Morte – merece sua reverência. Seja sua noiva Elvira,
noiva de D. João, ―suporte do tédio, a representação da miséria do mundo e
transmutação de objecto erótico em objecto maternal‖ (SILVA, 1998, p.145), ou, ainda,
Helena Coeli, adiam o encontro de D. João com a morte. A reduzida interação verbal é
exemplificada nos diálogos com estas duas mulheres em que não há progressão temática
ou argumentativa, mas simplesmente a repetição de ideias, sobretudo para aquelas que
apontam para a tensão Amor-Morte. Apesar de toda a beleza de Helena, apesar do
elogio expressivamente sem força de sedução – é, sobretudo, uma invocação da Morte –
para D. João o encontro com ela é uma espécie de despedida:
D. JOÃO, fitando-a, com fervor
A mesma sempre: está a ouvir-me em ti, a chamejar no teu cabelo
ruivo: o teu perfume é seu; a tua pele é Ela em flor, é Ela em jasmim
branco; e o espanto e o terror que há nos teus olhos, são Ela, a sombra
d´Ela na tua alma… O ritmo do teu corpo, dos teus gestos, é o seu
silêncio: toda a música; as tuas mãos de coroação coroam-na; e os teus
cílios que Deus fez tão curvos dão-lhe frescura neste mesmo instante,
quando se mira nos teus olhos verdes… [...] Chamam-lhe Morte. –
Não a vês... não sentes?...
(PATRÍCIO, 1972, p. 63)
A Morte surge, então, como a resposta para o seu tédio e para a ansiedade que a
espera provoca, mostrando todo o cortejo de mulheres nas quais D. João amou a própria
Morte, a libertação suprema. Ao descobrir que há uma relação intrínseca entre o seu
desejo e a Morte, chega à conclusão que a sua busca de absoluto fora uma ilusão, pois
aquilo que procurava incansavelmente e que desconhecia, sempre estivera na própria
Morte:
167
D. JOÃO
Ouvia a tua voz em milhares de gargantas.
A MORTE
Tu que tantas possuíste...
D. JOÃO
O Teu reflexo só, que me fugia, triste.
(olhos nos olhos d‘Ela, como hipnotizado)
Só beijei, só cingi, só te escutei a Ti.
o teu mistério é para o meu desejo,
o sexo que não pode atingir nenhum beijo.
Só a Ti eu busquei, só aspirei a Ti.
[...]
Agora que eu Te sei, oh! reouvir um pouco
a Tua voz na voz de algumas delas... – Louco,
louco que eu fui....- Mas não: se tu preferes,
repete o que eu Te disse a falar às mulheres,
quando de forma em forma, a errar, em doidice,
não te via sequer dentro de mim, Beatrice.
(PATRÍCIO, 1972, p. 38)
É justamente quando D. João centra toda a sua atenção na Morte que ele
recupera os seus sentidos para alcançar seu único objetivo: juntar-se à ―Maja‖. Cansado
dos festins eróticos e cada vez mais ―enfermo‖, diz:
D. JOÃO
Perco a memória ao ver-Te... Eu já Te vi assim?...
A MORTE
Pois quem viste tu mais?... Olha bem, interroga.
Desarvorada em ti, toda a tua alma voga.
Entra em ti devagar: sê a tua própria sonda.
Pouco a pouco, a manhã faz hialina a onda...
[...]
D. JOÃO
Onde foi que eu Te vi? – Foi em mim? Foi em mim?...
(PATRÍCIO, 1972, p. 36)
O D. João de Patrício não persegue as mulheres. Em vez disso, ele próprio se
interroga sobre as causas do seu poder de sedução sobre elas. É na presença do Conviva
de Pedra – um intermediário da morte – que D. João se revela um ―possesso de eterno‖.
D.João recebe o representante da Morte, de forma hospitaleira, lìvido, mas com ―um
168
fulgor heroico‖ nos olhos63. A relação com o Conviva de Pedra se transforma num
desejo de sedução de D. João, que então expõe à estátua as razões que explicam o seu
caráter e a ligação das manifestações religiosas a manifestações de natureza estética e
erótica:
Deixa contar-te, Mármore: ora escuta. […] Nas catedrais de Espanha
há santas trágicas. Têm cabelos vivos… E eu amei-as. Era pequeno,
ao pé da minha mãe: a sua lividez fazia a minha. Bispos e padres,
entre vozes de órgão, perfumavam-nas de incenso para mim. Os seus
olhos de vidro só me olhavam. E eu empedrava todo, de desejo.
(Silêncio breve. Tristemente.) As primeiras que amei, essas bonecas…
(PATRÍCIO, 1972, p. 72)
D. João gradualmente redime-se da vida de luxúria e inconstância, renuncia aos
bens terrenos e à materialidade que o entedia e aborrece, passando a viver, para surpresa
de todos, na ascese. As máscaras vão caindo uma a uma, o sedutor, ―vindimador de
morte‖ e ―possesso de eterno‖, vai seguindo um percurso de pecador e sedutor passivo
até ao recolhimento no Convento de La Caridad, onde já destituído do seu estatuto e
título, se apresenta na figura do irmão João, a caminho da santidade.
D. João, avivado pelas recusas da mais terrífica, fatal e desejada das amantes, a
Morte, e vivendo na expectativa espiritual que ela lhe criou, é um exemplo de que,
como assim prega a moral cristã, não são os ferros que vingam a moralidade e o bem,
mas a palavra. Através do sofrimento, o libertino alcança a grandeza na sua remição,
tornando-se um dissoluto absolvido de seus pecados.
O próprio discurso de D. João deserotizado, pois transfere as manifestações
eróticas para a castidade, como se percebe na dedicação contemplativa, em relação a
Helena:
63
Interessante notar o que escreve Camus a respeito do Conviva de Pedra na tradição donjuanesca: ―Que
outra coisa significa o Comendador de pedra, essa fria estátua animada para castigar o sangue e a
coragem que ousaram pensar? Nele se resumem todos os poderes da Razão eterna, da ordem, da moral
universal, toda a grandeza externa de um Deus acessível à cólera. Essa pedra gigantesca e sem alma
simboliza apenas os poderes que Don Juan sempre negou‖ (CAMUS, 2008, p. 86).
169
HELENA, hirta, como em síncope, ofertando-se
Beija-me a boca já. Beija-me a boca. Beija-me a boca sem palavras.
Beija-a.
[...]
Com a face em estupor, ela desnuda-os, como um frontão de altar,
humildemente
D. JOÃO
Como se fossem de uma estátua tumular, da estátua tumular do meu
passado.
(PATRÍCIO, 1972, p. 61)
Uma vez que a dor fora divinizada, também a morte o foi, pois ela não resulta na
supressão da criatividade da vida, mas na sua continuidade, pois efetivamente não há
dissociação entre morte e vida no núcleo plástico da natureza. Da mesma maneira, D.
João, em sua experiência, compreende afirmativamente a própria morte, retirando-lhe os
seus traços pesarosos e tristonhos.
Conforme os dizeres de Vernant e Vidal-Naquet:
Plenitude do êxtase, do entusiasmo, da possessão, mas também bemaventurança do vinho, alegria da festa, prazer do amor, felicidade do
cotidiano, Dionísio pode trazer tudo isso se os homens souberem
acolhê-lo, e as cidades, reconhecê-lo; assim como pode trazer
infelicidade e destruição, se negado. Mas em nenhum dos casos ele
vem para enunciar uma sorte melhor no Além. Ele não preconiza a
fuga para fora do mundo, nem pretende trazer às almas, através de um
modo de vida ascético, o acesso à imortalidade. Os homens devem,
pelo contrário, aceitar sua condição mortal, saber que não são nada
diante das forças que transbordam de toda parte e que têm o poder de
esmagá-los. Dionísio não faz exceção à regra. Seu fiel submete-se a
ele como a uma força irracional que o ultrapassa e dele dispõe; o deus
não tem contas a prestar; estranho a nossas normas, a nossos usos, a
nossas preocupações, além do bem e do mal, supremamente suave ou
supremamente terrível, ele brinca de fazer surgir à nossa volta e dentre
de nós, as múltiplas figuras do Outro.
(VERNANT; VIDAL-NAQUET, 1999, p. 359)
O sofrimento trágico demonstra a resistência da individualidade transfigurada
através de sua imersão na natureza primordial, favorecendo assim, em vez do
aprisionamento da condição singular da vida, a sua mais poderosa libertação. Numa
interpretação nietzschiana, representando a luta e a vitória de Dionísio sobre o princípio
extensivo da individuação, a tal ponto que todo herói deve ser compreendido como seu
170
substituto ou sua máscara, a alegria que é proporcionada pela tragédia é o sentimento de
que o limite da individualidade será abolido e a unidade originária restaurada.
Ao fim, surge a Sóror Morte junto a João. O novo contrito roga-lhe que o leve,
mas, como no passado, o pedido é-lhe negado:
SOROR MORTE
Hei-de vir, hei-de vir. O silêncio será
como na despedida,
o detonar da vela da partida.
Hei-de vir… hei-de vir…
Quando o Amor te tocar, quando o amor te florir…
[…] ―O Senhor é Amor‖. Ser Amor é ser Deus.
Há eternidade já nesta palavra: Adeus…
Esvaiu-se a forma. É quase noite. A presença da Morte é toda íntima.
JOÃO
Non sum dignus. (Com uma humildade imensa) Não sou digno.
(Religiosamente, beija as lajes,como um vestígio de asa, os pés da
Morte) Não sou digno ainda.
(PATRÍCIO, 1972, p. 141)
A Morte tem, para D. João, um sentido de ascese: sai da posição de libertino
para liberto. A Morte, agora a Sóror Morte, metáfora de todas as mulheres a quem o
sedutor burlou –, sai da posição passiva de vítima a qual todas as mulheres seduzidas se
encontravam e passa a posição de sujeito da ação. D. João reconhece, como estágio
último de seu coroamento, a multiplicidade do mundo, o aprisionamento à matéria – as
máscaras – e percebe a essência do real, a unidade espiritual com o Absoluto. A Morte
viria, assim, como um natural remate, já que nesta etapa a individualidade e os atributos
terrenos estariam, enfim, mortos.
171
Conclusão
– Morte! És pra mim o sal da vida...
(PATRÍCIO, 1995, p. 128)
António Patrício construiu em seus textos dramáticos Pedro, o Cru, Dinis e
Isabel e D. João e a Máscara uma possibilidade de interpretação dramática que associa
ao impulso de destruição do ser amado o sentimento amoroso, entrecruzando, assim, os
signos de amor e morte – de Eros e Tânatos. A morte aparece como parte de um
processo que visa à conversão da vida em eternidade e plenitude, revelando, uma
postura metafísica em seus textos dramáticos, nos quais é possível perceber uma coesão
temática em que a essência da vida surge como unidade entre o sensual e o espiritual,
num sentimento pleno de vitalidade, na experiência-limite entre a densidade da vida e a
luta para superar a morte.
Suas personagens movem-se, portanto, na luta e no conflito incessante destas
duas forças poderosas da natureza humana. Nisto, percebe-se o grande contributo que
lhe foi a filosofia de Friedrich Nietzsche. O que se lê em Patrício é a busca pela vida
intensiva, mágica, que não depende, necessariamente, de uma configuração orgânica,
corporal e individual para se expressar, pois a sua vitalidade ontológica se expressa
sempre de modo desmedido, para além dos limites da figuração, revelando-se o
vitalismo dionisíaco pela euforia orgiástica e pela vontade de viver.
Assim, na vasta produção artística que envolve os temas do trágico amor de
Inês e Pedro, da sedução de D. Juan e da visão paraclética de que Isabel é exemplar,
observa-se que, em António Patrício, a inscrição textual do tema Amor-Morte passa
pela leitura de figuras mitificadas pelo imaginário ibérico, revelando um certo olhar
de António Patrício na leitura dos mitos. No seu ―drama da Saudade‖, por exemplo, o
autor dá largas asas, para além da tradição histórica, aos fabulosos atos fúnebres: o
172
da coroação do cadáver, com o cerimonial do beija-mão e a posição dos túmulos pés
contra pés, dando asas às lendas. No ―conto de Primavera‖, Patrìcio coloca-se, de
fato, como alguém menos preocupado com os acontecimentos históricos, preferindo
o motivo das rosas, a taumaturgia da rainha Santa. No prefácio de sua ―fábula
trágica‖, António Patrício fascinado pela figura do sedutor, afirmando que ―Tentaram
julgá-la, até puni-la. Eu por mim, mais simplesmente, tive de a dizer porque a amei e
o meu amor quis exprimir-se em cenas‖ (PATRÍCIO, 1972, p. 9). O autor se inspira
na história real de Miguel Maraña, que morreu em santidade no convento de La
Caridad, mas o que se verifica é que o interesse de Patrício está no sentido de criar
personagens mais a partir da matéria mítica do que da tradição histórica. Aliás, nos
textos dramáticos de António Patrício não são apenas as personagens referenciais que
assumem o primeiro plano, mas a própria transubstanciação da matéria histórica
numa dimensão mítica. A presença de figuras mitificadas em seus textos dramáticos
reiteram o caráter poético e simbólico que sua obra possui.
A saudade de Pedro é o canto de Orfeu. Se não pode trazer Inês de volta à
vida, ressuscitá-la, ele mergulha profundamente no ―reino de mistério‖, onde, assim
crê, pode tê-la em plenitude. Concentrando, portanto, as ações do texto dramático
nos desdobramentos da morte de Inês, o que o Pedro de Patrício busca é ressurreição
da carne, numa tensão que, no decorrer do texto, se revela: a dialética ―morte/vida‖,
que surge como um obstáculo à resolução da angústia de Pedro, sobretudo gerada
pela Saudade, sentimento ao mesmo tempo doloroso e indefinível, que não o deixa
sossegar. Em Dinis e Isabel, o milagre das rosas, ao mesmo tempo em que inscreve
Isabel na santidade, mostra a Dinis que não pode ter sua mulher, ainda que ela
também lute contra a manifestação do divino, que se mostra como força inexorável, e
173
a morte vem com o perfume das flores. Patrício contrapõe na figura de Isabel o
trágico destino de uma santa que a não quis ser e do homem que a amou. Para o D.
João de Patrício, a morte é epifânica, revelando-lhe a impossibilidade de completude
em outros corpos, dizendo-lhe, assim, a insaciabilidade, abandonando, assim, o
desejo erótico, ou melhor, como ―possesso do eterno‖ e transforma esse desejo numa
fusão com a Morte.
Assim, em seus textos dramáticos, António Patrício mostra como a escrita literária
– ou, noutras palavras, a linguagem enquanto energia criadora e princípio de
significação – pode reinventar, não apenas os fatos que a memória recorda, mas também
as lendas e os mitos que o imaginário coletivo foi guardando e transformando, ao longo
dos séculos. Não é a ação das personagens, nem os seus atos, ou mesmo as
circunstâncias de tempo e espaço que interessam à efabulação. Tudo o que cerca suas
personagens não se explicam pela materialidade do mundo, mas por uma força que as
sobrepaira e que tem, por fim último, como diz Anna Balakian, testemunhar ―a natureza
fortuita da existência humana aqui na Terra‖ (BALAKIAN, 2010, p. 104).
As personagens de Patrício, portanto, experimentam o núcleo de pura dor do
mundo, interagem com o espírito que vivifica todo o universo através do êxtase, como a
afirmação trágica de que homem é sempre vencido por forças maiores do que a sua, e
que a possibilidade de atenuar o poder dionisíaco da natureza, que está para além do
bem e do mal, consiste em se mesclar a visão apolínea de mundo, que propõe a
moderação, com os valores dionisíacos, de modo que o homem se torne efetivamente
uma figura trágica, portando consigo as insígnias dos dois princípios naturais, que em
Patrício se entrelaçam à escrita de Eros e Tânatos.
174
Retomar em epígrafe o pensamento inicial para o qual a leitura da tese se orientou
é confirmar a ideia de que António Patrício registra a experiência de criar uma escrita
capaz de abarcar de modo pleno a dor e a morte, interpretando a vida como um
exercício existencial de criação contínua, na valorização de todas as circunstâncias
vitais, pois que a morte nada mais é que ―o sal da vida‖.
175
Referências
AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel. Teoria da Literatura. Coimbra: Livraria Almedina,
1983.
ALMEIDA, Fialho de. Os Gatos – vol. II. 6. ed. Lisboa: Livraria Clássica Editora,
1935.
ARMESTO, Victor de Said. La Leyenda de Don Juan. Madrid: Esparsa Calpe, 1968.
BALAKIAN, Anna. O Simbolismo. Tradução de José Bonifácio A. Caldas. São Paulo:
Perspectiva, 2007.
BARATA, José Oliveira. História do teatro português. Lisboa: Universidade Aberta,
1991.
BARROS, João de. Pátria Esquecida. Lisboa: Livraria Bertrand, s/d.
BARTHES, Roland. Mitologias. Tradução de Rita Buongermino, Pedro de Souza e
Rejane Janowitzer. Rio de Janeiro: DIFEL, 2003.
BATAILLE, Georges. O Erotismo. Tradução de João Bérnard da Costa. Lisboa:
Antígona, 1988.
BASTOS, Glória; VASCONCELOS, Ana Isabel P. Teixeira de. O Teatro em Lisboa no
Tempo da Primeira República. Lisboa: Museu do Teatro, 2004.
BAUDELAIRE, Charles. Obra completa. Tradução de Alexei Bueno et alii. Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 2006.
BAUDRILLARD, Jean. De la seduction. Paris: Denoel, 1979.
BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire – um lírico no auge do capitalismo. Tradução
de José Carlos Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense,
1989.
_________. A origem do drama trágico alemão. Tradução de João Barrento. Lisboa:
Assírio e Alvim, 2004.
BELCHIOR, Maria de Lourdes. Os homens e os Livros II, Séculos XIX e XX. Lisboa:
Editorial Verbo, 1980.
BERGSON, Henri. Cartas, conferências e outros escritos. São Paulo: Abril Cultural,
1979.
BORGES, Paulo (dir.). Nova Águia, Revista de Cultura para o Século XXI: A Ideia de
Pátria, Sua Actualidade. Nº1, Lisboa: Zéfiro, 1º semestre 2008.
176
BRICOUT, Bernadette (org.). Olhar de Orfeu: os mitos literários do Ocidente.
Tradução de Lelita Oliveira Benoit. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
BRUNEL, Pierre. Dictionnaire des Mythes Littéraires. Monaco-Paris: Éditions du
Rocher, 1988.
CAMUS, Albert. O mito de Sísifo. Tradução de Ari Roitman e Paulina Watch. 6. ed.
Rio de Janeiro: Record, 2008.
CARDOSO, Patrícia da Silva. Inês de Castro ou a morta luminosa. Tese apresentada ao
Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP.
Campinas, 2002.
CARPINTEIRO, Maria da Graça. ―A prosa poética do Simbolismo: do fim do século
XIX à geração de Orpheu‖. In. Atas do III Colóquio Internacional de Estudos Lusobrasileiros. Lisboa, 1959.
CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura
humana. Tradução de Tomas Rosa Bueno. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
CAZNÓK, Yara Borges; NAFFAH NETO, Alfredo. Ouvir Wagner – Ecos
nietzschianos. São Paulo: Musa, 2000.
CHEVALIER, Jean; GHEERRBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Tradução de
Vera da Costa e Silva et al. Rio de Janeiro: José Olympio editora, 1994.
CIDADE, Hernâni. Portugal histórico-cultural. Lisboa: Presença, 1985.
COELHO, Jacinto do Prado. ―Conceito e fronteiras do literário‖. In. Momentos de
Crítica Literária – III, Anais do VI Congresso Brasileiro de Teoria e Crítica Literárias
e II Seminário Internacional de Literatura. Paraíba: União Cia. Editora, 1985.
COELHO, Jacinto do Prado (Dir.). Dicionário de Literatura, 5 vols. Porto:
Figueirinhas, 1989.
CORDEIRO, Joaquim António da Silva. A Crise em seus aspectos morais. Centro de
História da Universidade de Lisboa: Cosmos, 1999.
CORRÊA, Manuel Tânger. ―António Patrìcio: poeta trágico‖. In. Ocidente. Lisboa. vol.
LVIII e LIX, 1960.
CORTESÃO, Jaime. Os Descobrimentos Portugueses Volume I. Lisboa: INCM, 1990.
COSTA, Dalila L. Pereira da; GOMES, Pinharanda. Introdução à Saudade. Porto: Lello
& Irmão, 1976.
COSTA, Dalila Pereira. A Nau e o Graal. Porto: Lello & Irmão, 1978.
177
_________. A ladainha de Setúbal. Porto: Lello & Irmão, 1989.
CUNHA, Alfredo; COELHO, Trindade. ―Apresentação‖. In. Revista Nova: Lisboa,
Nov. 1893.
CRUZ, Duarte Ivo. Introdução à história do teatro português. Lisboa: Guimarães
Editores, 1983.
_________. História do Teatro Português. Lisboa: Verbo, 2001.
DEAK, Frantisek. Symbolist Theater – The Formation of an avant-gard. London: The
Johns Hopkins University Press, 1993.
DESCAMPS, Maryse. Maurice Maeterlink, um livre: “Pelléas et Mélisande” – une
oeuvre. Bruxelles: Éditions Labor, 1986.
DIAS, Jorge. O essencial sobre os Elementos Fundamentais da Cultura Portuguesa.
Lisboa: INCM, 1985.
DIAS, Augusto da Costa. A Crise da Consciência Pequeno-Burguesa – I. O
Nacionalismo Literário da Geração de 90. 2. ed. Lisboa: Portugália Editora, 1964.
DUARTE, Manuel Dias. História de Portucália. Uma história de Portugal no feminino.
Vila Nova de Gaia, Editora Ausência, 2004.
DURAND, Gilbert. Campos do Imaginário. Tradução de Maria João Batalha Reis.
Lisboa: Instituto Piaget, 1996.
_________. A imaginação simbólica. Tradução de Carlos Aboim de Brito. Lisboa:
Edições 70, 2000.
_________. Introduction à la mythodologie. Mythes et societés. Paris: Le Livre de
Poche/Albin Michel, 2000.
_________. Portugal: Tesouro Oculto da Europa. Tradução de Lima de Freitas et alli.
Lisboa: Ésquilo, 2008.
_________. As estruturas antropológicas do imaginário. Tradução de Hélder Godinho.
3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
_________. O Imaginário. tradução de René Eve Levié. Rio de Janeiro: DIFEL, 2004.
ELIADE, Mircea. Aspectos do mito. Tradução de Manuela Torres. Lisboa: Edições 70,
1989.
_________. Imagens e símbolos. Martins Fontes: São Paulo, 1991.
178
_________. O sagrado e o profano. Tradução Rogério Fernandes. Martins Fontes: São
Paulo, 1995.
FELMAN, Shoshana. Le Scandale du Corps Parlant: Don Juan avec Austin ou la
séduction en deux langues. Paris: Seuil, 1980.
FERREIRA, Vergìlio. ―Do impossìvel repouso‖. In. Vergílio Ferreira: cinqüenta anos
de vida literária. Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 1995.
FERRO, Túlio Ramires. ―O alvorecer do Simbolismo em Portugal‖. In. Estrada Larga.
Orientação e Organização de Costa Barreto. Porto: Porto Editora, s/d.
FERRO, Mário & TAVARES, Manuel. Análise da obra A Origem da Tragédia de
Nietzsche. Lisboa: Editorial Presença, 2001.
FIGUEIREDO, Vera. Follain de. ―Da alegria e da angústia de diluir fronteiras: o romance histórico, hoje,
na América Latina‖. In. CONGRESSO ABRALIC, 5. Rio de Janeiro: Abralic, 1997.
FINK, Eugen. A Filosofia de Nietzsche. Trad. de Joaquim Lourenço Duarte Peixoto.
Lisboa: Editorial Presença, 1983.
FISCHER, Ernst. A necessidade da arte. Tradução de Leandro Konder. Rio de Janeiro:
Zahar, 1979.
FRANCLIM, Sérgio. A Mitologia Portuguesa segundo a História Iniciática de
Portugal. Parede: República dos Livros, 2009.
FRANCO, António Cândido. ―Filologia, origem e arcaìsmos da palavra Saudade‖. In.
LOUÇÃO, Paulo Alexandre. A Alma Secreta de Portugal. 4. ed. Lisboa: Ésquilo, 2007.
FREITAS, Lima de. Porto do Graal. Lisboa: Ésquilo, 2006.
GARRETT, Almeida. Portugal na balança da Europa. 2. ed. Porto: Typographia
Commercial, 1866.
GILMAN, Richard. Decadence: The Strange Life of an Epithet. New York: Farrar,
Strauss and Giroux, 1979
GODINHO, Vitorino Magalhães Ensaios III - Sobre Teoria da história e historiografia.
Lisboa: Sá da Costa, 1971
GOMES, Álvaro Cardoso. A estética simbolista. São Paulo: Cultrix, 1985.
GUÉNON, René. ―O Rei do Mundo‖. Tradução de Lima de Freitas. In. Dhâranâ nº s
24-25 (janeiro a dezembro de 1964) – Ano XXXIX, 1995.
GUERÓN, Rodrigo. ―Como Nietzsche compreende ―história‖ e a descrição do século
da história‖. In: FEITOSA, Charles Feitosa; BARRENECHEA, Miguel Angel de ;
179
PINHEIRO, Paulo (org.) A Fidelidade à terra/ Assim falou Nietzsche. Rio de Janeiro:
DP&A, 2003.
GUIMARÃES, Fernando. O modernismo português e a sua poética. Lisboa: Lello,
1999.
_________. A poética do Simbolismo em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da
Moeda, 1990.
_________. Simbolismo, Modernismo e Vanguardas. Porto: Lello & Irmão, 1992.
HARTMANN, Eduard von. Philosophie de l’Inconscient. Paris: Baillière, 1877.º
HAUSER, Arnold. História Social da Arte e da Literatura. Tradução de Álvaro Cabral.
São Paulo: Martins Fontes, 2010.
IANNONE, Carlos Alberto, GOBI, Márcia V. Zamboni & JUNQUEIRA, Renata Soares
(org.). Sobre as naus da iniciação. São Paulo: Unesp, 1998.
JARRY, Alfred. Tout Ubu. Paris: Le Livre de Poche, 1962.
JOMARON, Jacqueline de. (Dir.). Le Théâtre en France. Paris: Le Livre de poche,
1992.
JUNG, Carl Gustav. O homem e seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991
_________. Psicologia e Religião. Tradução de Mateus Ramalho Rocha. Petrópolis:
Vozes, 1978.
_________. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Tradução de Dora Mariana R.
Ferreira da Silva e Maria Luiza Appy. Petrópolis: Vozes, 2003.
_________. A natureza da psique. Tradução de Mateus Ramalho Rocha. Petrópolis:
Vozes, 1984.
JUNQUEIRA, Renata Soares. ―As máscaras de Don Juan – Apontamentos sobre o
Duplo no teatro de António Patrìcio‖. In. Revista Letras. n. 71. Curitiba: Editora UFPR,
jan/abr. 2007.
KERÉNYI, Carl. Dioniso: imagem arquetípica da vida indestrutível. Tradução de
Ordep Serra. São Paulo: Odysseus, 2002.
KIERKEGAARD, Soren, O Diário do Sedutor. Tradução de Mário Alemquer. Lisboa:
Clássica Editora, 1911.
KOBBÉ, Gustave. ―Don Giovanni‖. In: O livro da ópera. Tradução de Clóvis Marques.
Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
180
LEAL, Gomes. Fim de um mundo. Porto: Livraria Chardron, 1899.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Mito e Significado. Tradução de António Marques Bessa.
Lisboa: Edições 70, 1987.
_________. Antropologia Estrutural. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo:
Cosacnaiy, 2008.
LIMA, Fernando de Araújo. António Patrício. Bertrand, Lisboa, 1945.
L‘Isle-Adam, Villiers de. Axël. Tradução de Sandra M. Stroparo. Curitiba: Editora da
UFPR, 2005.
LOPES, Teresa Rita. Fernando Pessoa et le drame symboliste: heritage et creation.
Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1985.
LOUÇÃO, Paulo Alexandre. A Alma Secreta de Portugal. 4. ed. Lisboa: Ésquilo, 2007.
LOURENÇO, Eduardo. O Labirinto da saudade. Psicanálise Mítica do Destino
Português. Lisboa: Gradiva, 2007.
_________. ―O livro e a literatura‖. In. Jornal de Letras, Artes e Ideias, nº 872, de 3 a
16 de Março, 2003.
_________. Nós como Futuro. Lisboa: Assírio e Alvim, 1997.
_________. Mitologia da Saudade seguido de Portugal como Destino. São Paulo:
Companhia das Letras, 1999.
_________. Do Mundo da
Lisboa: Fim de Século, 1999b.
Imaginação
à
Imaginação
do
Mundo.
_________. Dois fins de século. In: Atas do XIII encontro de professores universitários
brasileiros de literatura portuguesa. Rio de Janeiro: UFRJ, 1992
LOURENÇO, Eduardo Lourenço. In. Isabel Pires de LIMA (org.). Antero de Quental e
o Destino de uma Geração: actas do colóquio internacional no centenário da sua
morte. Faculdade de Letras do Porto, 20 a 22 de Novembro de 1991.
LUCET, Sophie. ―Pelléas et Mélisande et l‘eshéetique Du théâtre symboliste‖. In.
Annales de la Fondation M. Maeterlinck. Gand, tome XXIX, 1992.
LUKÁCS, G. A teoria do romance. São Paulo: Duas Cidades-Editora 34, 2000.
_________. La novela histórica. México: Era, 1966.
181
MAETERLINCK, Maurice. ―Le Tresor des humbles‖. In. MIGNON, Paul-Louis.
Panorama Du thêatre au XX siècle. Paris: Gallimard, 1978.
MACEDO, António. ―À conversa com... António Macedo‖. In. Lusophia:
Espiritualidade, Cultura e Tradição. Entrevista concedida a Sérgio S. Rodrigues e
Miguel Campos-Reis. n. 44, set. 2003. Disponível em http://aeterna.no.sapo.pt/lusophia/
lusophia44-am.htm. Acesso em 18 de agosto de 2006.
_________. A Alquimia Espiritual dos Rosacruzes e outros ensaios. Disponível em
http://www.fraternidaderosacruz.org/antologia_antoniodemacedo.pdf. Acesso em 18 de
agosto de 2007.
MAETERLINCK, Maurice. Introduction à une psychologie des songes (1886-1896).
Textes réunis et commentés par Stefan Gross. Bruxelles: Labor, 1985.
MAGALDI, Sábato. O texto no teatro. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.
MALLARMÉ, Stéphane. Divagações. Tradução de Fernando Scheibe. Florianópolis:
Editora UFSC, 2010.
MANSO, Joaquim. Pedras Para a Construção Dum Mundo. Lisboa: Liv. Bertrand,
1936.
MARIE, Gisèle. Le Théatre symboliste. Paris: Nizet, 1973.
MARQUES, A. H. de Oliveira. Breve História de Portugal. Lisboa: Presença, 1996.
_________. A sociedade medieval portuguesa. Lisboa: Sá da Costa, 1974.
MARQUES, Maria Emília do Carmo Ricardo. O teatro poético de Raul Brandão,
Teixeira de Pascoaes e António Patrício (o teatro de 1890 a 1930). Dissertação de
Licenciatura em Filologia Românica, apresentada na Universidade de Lisboa, 1956..
MARTINS, Oliveira. ―O Mal do Século‖. In. Memoriam de Antero de Quental. Porto:
Mathieu Lugan Editora, 1896.
_________. História de Portugal. 14. ed. Lisboa: Guimarães Editores, 1964.
MATOS, Sérgio Campos Matos. Crises em Portugal nos Séculos XIX e XX. Lisboa:
Centro de História da Universidade de Lisboa, 2002.
MATTOSO, José. A Identidade Nacional. 4. ed. Lisboa: Gradiva, 2008.
MAURÉAS, Jean. ―Le Figaro, 18 septembre 1886‖. In. WIEVIORKA, O;
PROCHASSON, C. La France du XXe siècle. Paris: Le Seuil, 1994.
MENDONÇA, Fernando. Para o estudo do teatro em Portugal (1946-1966). Assis:
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1971.
182
MICHAUD, Guy. Message Poétique du Symbolisme. Paris: Nizet, 1947.
MOCKEL, Albert. Esthétique du Symbolisme. Bruxelles: Palais des Académies, 1962.
MOLIÈRE. Don Juan, o convidado de pedra. Tradução de Millôr Fernandes. Porto
Alegre: L&PM, 2002.
MORÉAS, Jean. ―Um manifest littéraire‖. In. MICHAUD, Guy. Message Poétique du
Symbolisme. Paris: Nizet, 1947.
MORETTO, Fulvia M. L. Caminhos do Decadentismo Francês. São Paulo: Perspectiva,
1989.
MOUCHERON, Conde de. Isabel de Aragão: biografia da Rainha Santa. Tradução de
Pedro Gomes Barbosa. Lisboa: Ésquilo, 2008.
MARTINS, Oliveira. ―O Mal do Século‖. In. In memoriam de Antero de Quental.
Lisboa: Presença, 1993.
_________. História de Portugal – V.2. Lisboa: Europa-América, s.d.
MUKAROVSKY, Jan. Escritos sobre estética e semiótica da arte. Tradução de
Manuel Ruas. Lisboa, Estampa, 1993
NEMÉSIO, Vitorino. Isabel de Aragão: Rainha Santa. Lisboa: INCM, 2002.
NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da Tragédia ou helenismo e pessimismo. Trad.
de J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
_________. Ecce Homo – como alguém se torna o que se é. Trad. de Paulo César de
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
_________. Segunda consideração intempestiva da utilidade e desvantagem da história
para a vida. Tradução de Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumará,
2003.
_________. Crepúsculo dos Ídolos ou como se filosofa com o martelo. Trad. de Paulo
César de Souza. Companhia das Letras: São Paulo: 2006.
NUNES, J. J. Vida e milagres de dona Isabel, Rainha de Portugal. Coimbra: Imprensa
da Universidade, 1921.
OLIVEIRA, Alberto de. Palavras Loucas. Coimbra: França Amado Editor, 1894.
OLIVIERI, Filippo Lourenço. ―A assimilação Mercúrio/Lug na Gália Romana‖.
Brathair. v. 4 (2), 2004. Disponível em: http://www.brathair.com/revista/numeros/
04.02. 2004/lug.pdf
183
ORTIGÃO, Ramalho. As Farpas Completas: O País e a Sociedade Portuguesa. Ed. de
Ernesto Rodrigues. Lisboa: Círculo de Leitores, 2007.
OSAKABE, Haquira. ―A pátria de Inês de Castro‖. In. IANNONE, Carlos Alberto,
GOBI, Márcia V. Zamboni & JUNQUEIRA, Renata Soares (org.). Sobre as naus da
iniciação. São Paulo: Unesp, 1998.
OSAKABE, Haquira. ―Judas – uma pequena obra-prima‖. In. Revista Letras. Curitiba:
Editora UFPRN. nº 71. 2007.
OTTO, Rudolf. O Sagrado: um estudo do elemento não-racional na ideia do divino e a
sua relação com o racional. Tradução de Prócoro Velasquez Filho). São Bernardo do
Campo: Imprensa Metodista, 1985.
OTTO, Walter Friedrich.
Teofania: o espírito da religião dos gregos antigos.
Tradução de Ordep Serra. São Paulo: Odysseus, 2006.
PAQUE, Jeannine. Le Symbolisme Belge. Bruxelles: Ed. Labor, 1989.
PASCOAES, Teixeira de. Os poetas lusíadas. Lisboa: Assírio & Alvim, 1987.
_________. A saudade e o saudosismo. Lisboa: Assírio e Alvim, 1988.
PATRÍCIO, António. ―O Nosso Inquérito literário. Depoimentop do ilustre poeta e
dramaturgo António Patrício, entrevista de João de Ameal. Diário de Notícias. 11 de
abril de 1929, p. 1.
_________. D. João e a Máscara. Lisboa: Livraria Sam Carlos, 1972.
_________. Dinis e Isabel. Aveiro: Livraria Estante. 1989.
_________. Pedro, o Cru. Minho: Edições Vercial, 2002.
_________. O Fim. Minho: Edições Vercial, 2010.
_________. Serão Inquieto. Lisboa: Relógio d‘Água, 1995.
_________. Poesia Completa. Lisboa: Assírio & Alvim, 1989.
PAZ. Octavio. O arco e a lira. Tradução Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1982.
_________. Signos em rotação. Tradução de Sebastião Uchoa Leite. São Paulo:
Perspectiva, 2006.
184
PEREIRA, José Carlos Seabra. Decadentismo e Simbolismo na Poesia Portuguesa.
Coimbra: Almedina, 1975.
_________. Do fim-de-século ao Tempo de Orpheu. Coimbra: Almedina, 1979.
_________. História Crítica da Literatura Portuguesa. Vol. VII - Do Fim-de-Século ao
Modernismo. Coimbra: Verbo, 1995.
_________. ―Rumos da narrativa breve pré-modernista‖. Forma Breve 2, 2004.
Disponível em www2.dlc.ua.pt/classicos/formabreve02.pdf
PEREIRA, Paulo (org.) História da arte portuguesa. Lisboa: temas e debates, 1995.
PESSOA, Fernando. Obra em prosa. Organização de Cleonice Berardinelli. Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 1998.
PICCHIO, Luciana Stegagno. História do teatro português. Lisboa: Portugália, 1969.
PIMENTEL, F. J. Vieira. Literatura Portuguesa e modernidade: Teoria, Crítica,
Ensino. Braga: Angelus Novus, 2001.
PIRES, António Manuel Bettencourt Machado. A Ideia de Decadência na Geração de
70. Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 1980.
PORTAL, Frédéric. Des couleurs symboliques dans l’Antiquité, le Moyen Age et les
Temps Modernes. Paris: Treuttel et Würz, 1837.
QUADROS, António. A Ideia de Portugal na Literatura Portuguesa dos Últimos Cem
Anos. Lisboa: Fundação Lusíada, 1989.
_________. Portugal, razão e Mistério – I. Lisboa: Guimarães Editores, 1988
_________. Portugal, razão e Mistério – II. Lisboa: Guimarães Editores, 1999.
QUEIRÓS, Eça de. Notas Contemporâneas. Lisboa: Livros do Brasil, 2000.
QUENTAL, Antero de. Tendências Gerais da Filosofia na Segunda Metade do Século
XIX. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991.
_________. Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos Últimos Três Séculos.
Lisboa: Editorial Nova Ática, 2005.
REBELLO, Luiz Francisco. O teatro simbolista e modernista. Amadora: Bertrand,
1979.
_________. 100 anos de teatro português (1880-1980). Porto: Brasília Editora, 1984.
185
_________. Fragmentos de uma dramaturgia. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da
Moeda, 1994.
_________. História do Teatro português. Europa-América, 1989.
RÉGIO, José. ―Sobre o teatro de António Patrìcio‖. In. Estrada Larga. Orientação e
Organização de Costa Barreto. Porto: Porto Editora, s/d.
REIS, Roberto. ―(Re)lendo a História‖. In. LEENHARDT, J. & PESAVENTO, S.
(orgs.). Discurso histórico e narrativa literária, Campinas: Ed. UNICAMP, 1998.
RIMBAUD, Arthur. Uma Estadia no Inferno. Poemas Escolhidos. A Carta do Vidente.
Tradução de Daniel Fresnot. São Paulo: Martin Claret, 2003.
ROBICHEZ, Jacques. Mês souvenirs sur le Théâtre-Libre. Paris: Arthème Fayard,
1921.
_________. Le Symbolisme au théâtre. Lugné-Poe et lês débuts de l’Ouevre. Paris:
L‘Arche, 1972.
RODRIGUES, Maria Idalina Resina. ―Os convites do ‗convidado‘: a propósito de um
Don Juan setecentista português‖. In Revista de Filologia Românica. n. 14, vol. II,
Madrid, 1997.
RODRIGUES, Urbano. O Castigo de D. João. Lisboa: Empresa Nacional de
Publicidade, 1948.
_________. O Mito de Don Juan e o Donjuanismo em Portugal. Lisboa, Ática, 1960.
_________. O Mito de D. Juan e Outros Ensaios. Cacém: Edições Ró, 1981.
_________. Tradição e Ruptura. Ensaios, Lisboa: Editorial Presença, 1994.
_________. O Mito de Don Juan e outros ensaios de escreviver. Lisboa, INCM, 2005.
ROUGEMONT, Denis de. O amor e o Ocidente. Tradução de Paulo Brandi e Ethel
Brandi Cachapuz. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988.
ROSA, Armando Nascimento. As máscaras nigromantes: uma leitura do teatro escrito
de António Patrício. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003.
ROUBINE, Jean-Jacques. Introdução às grandes teorias do teatro. Tradução de André
Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
RYNGAERT, Jean-Pierre. Introdução à análise do teatro. Tradução de Paulo Neves.
São Paulo: Martins Fontes, 1996.
SABBAH, Helène. (dir.). Littérature: textes et méthodes. Paris: Hatier, 1994.
186
SARAIVA, António José; LOPES, Óscar. História da Literatura Portuguesa. Porto:
Porto Editora, 1997.
SARRAZAC, Jean-Pierre. ―Reconstruire le réel ou suggérer l‘indicible‖. In:
JOMARON, Jacqueline de. (Dir.). Le Théâtre en France. Paris: Le Livre de poche,
1992.
SCHIMDT, A. M. La Literature Symboiliste. Paris: Presses Universitaires de France,
1947.
SCHOPENHAUER, A. O Mundo como Vontade e como Representação. Tradução de
Jair Barboza. São Paulo: Edusp, 2005.
SCHOURÉ, Édouard. Richard Wagner, son oeuvre et son idée. Paris: Librairie
Académique, 1912.
SENA, Jorge de. Estudos de história e cultura. Lisboa: Revista Ocidente, 1963.
_________. ―António Patrìcio e Camilo Pessanha‖. In. Estrada Larga. Orientação e
Organização de Costa Barreto. Porto: Porto Editora, s/d.
SILVA, Maria do Carmo Pinheiro e. ‗D. João e a Máscara‘, de António Patrício. Uma
Tragédia da Expressão. Braga: Centro de Estudos Humanísticos da Universidade
Minho, 1998.
SILVA, Delfim Correia. A sedução no mito de D. João. Dissertação de Mestrado em
Estudos Portugueses Interdisciplinares. Universidade Aberta, 2007.
SILVA, Pedro. História Mítica de Portugal. São Paulo: Porto de Ideias, 2010.
SIMÕES, João Gaspar. Crítica VI: o teatro contemporâneo (1942-1982). v. 6. Lisboa:
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1985.
SIMÕES, Veiga. A Nova Geração. Coimbra: França Amado, 1911.
SOUSA, Maria Leonor Machado de (dir.). Colóquio Inês de Castro. Alcobaça, 15 de
Janeiro de 2005 – Actas. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 2005.
SOUSA, Maria Leonor Machado de. Inês de Castro na literatura portuguesa. Lisboa:
Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1984.
_______. Inês de Castro: um tema português na Europa. Lisboa: Edições 70, 1987.
SWEDENBORG, Emmanuel. Sabedoria Angélica. Paraná: Alexandria, 1968.
187
TEIXEIRA, António Braz. O Mito de Inês de Castro no teatro português. In. Cadernoprograma do espetáculo Pedro, o Cru, de António Patrício, dirigido por Carlos Avilez.
Lisboa: Teatro Nacional D. Maria II, 1982.
TELES, Basílio. Do Ultimatum ao 31 de Janeiro: Esboço de História Política. Porto:
Livraria Chardron, Lello & Irmão, 1905.
TODOROV, Tzvetan. Poética da Prosa. Tradução de Leyla Perrone Moisés. São Paulo:
Martins Fontes, 2003.
VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de. A saudade portuguesa. Lisboa: Guimarães,
1996.
VASCONCELOS, António de. Dona Isabel de Aragão: a rainha Santa. Coimbra:
Universidade de Coimbra, 1993.
VERNANT, Jean-Pierre. Mito e Religião na Grécia Antiga. Tradução de Joana
Angélica d’Ávila. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
VERNANT, Jean-Pierre & VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e Tragédia na Grécia
Antiga. Trad. de Anna Lia A. de Almeida Prado, Filomena Yoshie, Hirata
Garcia, Maria M. Cavancante, Bertha H. Gurovitz e Hélio Gurovitz. São Paulo:
Perspectiva, 1999.
VIÇOSO, Vìtor. ―A literatura Portuguesa (1890-1910) e a Crise Finissecular‖. In.
Crises em Portugal nos Séculos XIX e XX. Actas do Seminário organizado pelo Centro
de História da Universidade de Lisboa. Lisboa: Centro de História da Universidade de
Lisboa, 2002.
WAGNER, Richard.
Antígona, 1990.
A Arte e a Revolução. Tradução de José M. Justo. Lisboa:
WEINTEIN, Leo. The Metamorphoses of Don Juan. Stanford: Stanford University
Press, 1959.
WILSON, Edmund. O Castelo de Axel. Tradução de José Paulo Paes. São Paulo:
Companhia das Letras, 2004.
WIMSATT JR., William K., BROOKS, Cleanth. Crítica literária. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1971.
188
Anexos
189
Anexo 1
Fig. 1: ―Depois de morta foi rainha‖. Lima de Freitas, 1987
190
Anexo 2
Fig. 2: ―Até a fim do mundo‖. Lima de Freitas, 1984