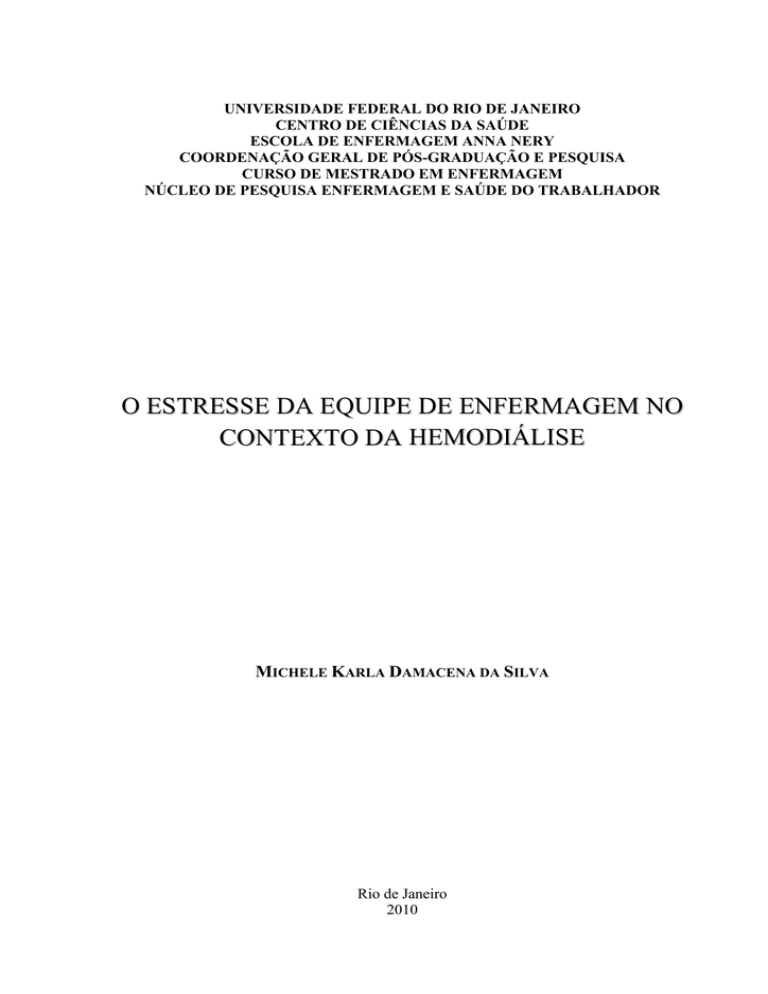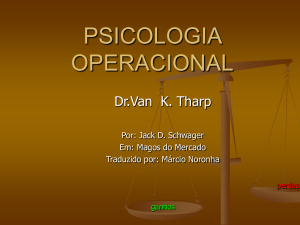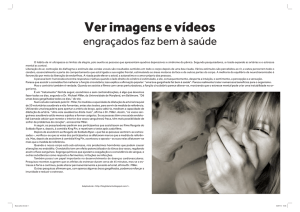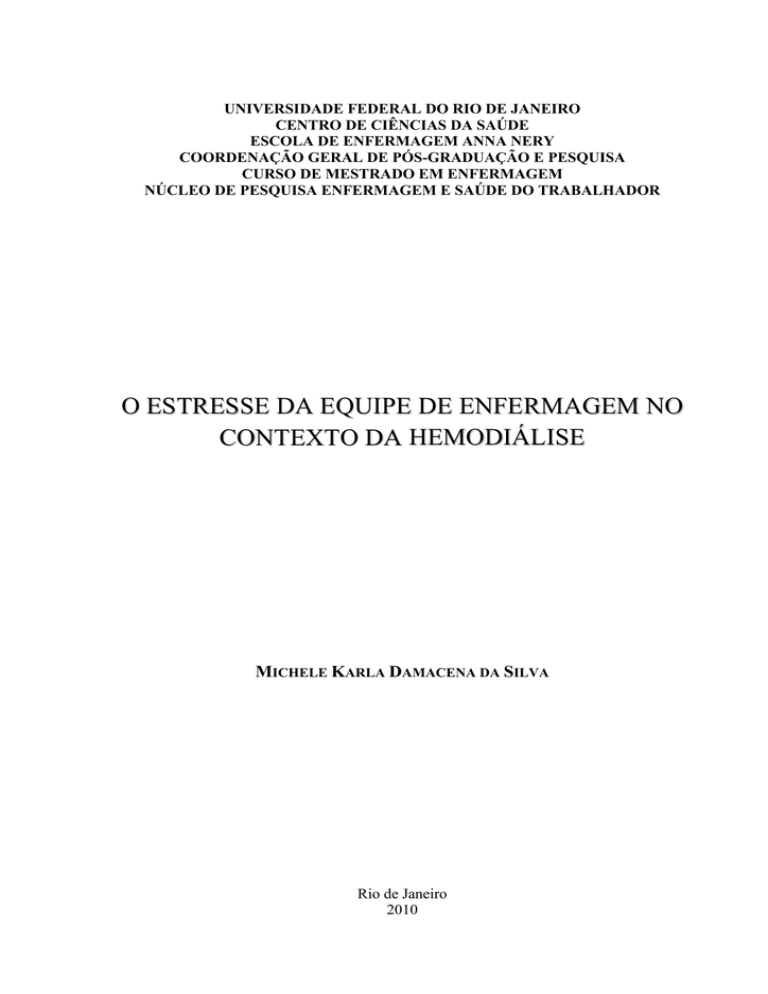
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM
NÚCLEO DE PESQUISA ENFERMAGEM E SAÚDE DO TRABALHADOR
O ESTRESSE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO
CONTEXTO DA HEMODIÁLISE
MICHELE KARLA DAMACENA DA SILVA
Rio de Janeiro
2010
UFRJ
O ESTRESSE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA
HEMODIÁLISE
Michele Karla Damacena da Silva
Defesa da Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-graduação em Enfermagem, Escola de
Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos
necessários à obtenção do titulo de Mestre em
Enfermagem.
Orientadora: Profª. Dra. Regina Célia Gollner Zeitoune
Rio de Janeiro
2010
O ESTRESSE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA
HEMODIÁLISE
Michele Karla Damacena da Silva
Dissertação de Mestrado submetida à Banca Examinadora da Escola de Enfermagem
Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos
necessários à obtenção do Título de Mestre em Enfermagem.
Aprovada por:
______________________________________________
Profª Drª Regina Célia Gollner Zeitoune
Presidente
_______________________________________________
Profº Dr Bartholomeu Tôrres Tróccoli
1º examinador
________________________________________________
Profª Drª Rosane Harter Griep
2º examinador
________________________________________________
Profª Drª Maria Yvone Chaves Mauro
Suplente
_______________________________________________
Profª Drª Rachel Savary Figueiró
Suplente
FICHA CATALOGRÁFICA
Silva, Michele Karla Damacena da.
O estresse da equipe de enfermagem no contexto da hemodiálise / Michele
Karla Damacena da Silva. Rio de Janeiro: UFRJ/EEAN, 2010.
xiii, 130f.
Orientadora: Drª Regina Célia Gollner Zeitoune.
Dissertação (Mestrado) – UFRJ/Escola de Enfermagem Anna Nery/Programa
de Pós-graduação em Enfermagem, 2010.
Referências bibliográficas: f. 128-133.
1. Saúde do trabalhador. 2. Estresse. 3. Enfermagem. 4. Diálise renal. I.
Zeitoune, Regina Célia Gollner. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Escola de Enfermagem Anna Nery, Programa de Pós-graduação em
Enfermagem. III. O estresse da equipe de enfermagem no contexto da
hemodiálise.
DEDICATÓRIA
Aos meus pais, pela compreensão nas minhas ausências,
pelo estímulo, apoio e incentivo para estudar.
Ao meu irmão, Marcus, pela força,
confiança e estímulo constantes.
A todos que compartilharam deste momento
tão especial em minha vida.
AGRADECIMENTOS
A todas as pessoas que contribuíram, direta ou indiretamente, para a
realização deste trabalho, os meus sinceros agradecimentos.
Em Especial...
À Wxâá, por ser o meu refúgio e fortaleza, socorro nas horas de aflição, e
motivo de glorificação por mais essa vitória.
À minha orientadora, cÜÉyŒ
WÜŒ exz|Çt V°Ä|t ZÉÄÄÇxÜ mx|àÉâÇx, pela
acolhida, pelo interesse, carinho, respeito, compreensão, dedicação e por
acreditar nas minhas idéias e na minha capacidade. Agradeço ainda pelas
críticas, sugestões e orientações, responsáveis por me fazer acreditar que este
estudo era possível.
tá
tá
Às cÜÉy WÜ eÉátÇx [tÜàxÜ ZÜ|xÑ e `tÜ|t [xÄxÇt wÉ atáv|ÅxÇàÉ
fÉâét, pelo importante auxílio na confecção deste trabalho, pela paciência e
tempo dedicados.
A àÉwÉá os professores que participaram da banca examinadora, em todos os
momentos de apresentação deste trabalho, pelas colaborações, críticas e
sugestões.
Aos tÄâÇÉá wÉ vâÜáÉ wx ÅxáàÜtwÉ x wÉâàÉÜtwÉ wt XXTa?
àâÜÅt ECCKBD,
pelo companheirismo e força compartilhados.
À fxvÜxàtÜ|t x õ VÉÉÜwxÇt†ûÉ wx c™á@ZÜtwât†ûÉ wt XXTa, pelas
orientações sempre recebidas.
Aos áâ}x|àÉá wxáàx xáàâwÉ, pela aceitação em participar com colaboração,
espontaneidade e interesse.
À W|Üx†ûÉ wÉ [ÉáÑ|àtÄ hÇ|äxÜá|àöÜ|É VÄxÅxÇà|ÇÉ YÜtzt Y|Ä{É, pela
colaboração e interesse na realização deste trabalho.
RESUMO
SILVA. Michele Karla Damacena da. O ESTRESSE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO
CONTEXTO DA HEMODIÁLISE.
Orientadora: Regina Célia Gollner Zeitoune. Rio de Janeiro: UFRJ/EEAN, 2010.
Dissertação de Mestrado em Enfermagem
Estudo descritivo exploratório, com abordagem quanti-qualitativa, cujo objeto foi o estresse
ocupacional da equipe de enfermagem da unidade de hemodiálise (HD). Os objetivos foram:
Identificar os níveis de estresse dos trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de HD;
Descrever, na percepção dos trabalhadores da equipe de enfermagem, os estressores a que
estavam submetidos na unidade de HD; Analisar os fatores facilitadores e impeditivos de ações de
prevenção de estresse para os trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de HD; e
Discutir as implicações do estresse na saúde dos trabalhadores da equipe de enfermagem da
unidade de HD. O cenário foi a unidade de HD do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
(HUCFF), no município do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 40 trabalhadores da equipe de
enfermagem, sendo 27 técnicos, 07 auxiliares e 06 enfermeiros. O estudo foi aprovado no Comitê
de Ética e Pesquisa do HUCFF sob o Protocolo de Pesquisa nº 230/08. A coleta de dados foi
realizada pela própria autora, no período de junho a agosto de 2009, na própria unidade estudada,
a partir de um instrumento composto por Inventário de Estresse em Enfermeiros (IEE), autoaplicativo, e Entrevista semi-estruturada, a qual foi gravada digitalmente em formato MP3. A
análise dos dados seguiu, na linha quantitativa, através da utilização de estatística descritiva, com
auxílio dos bancos de dados Epi-Info versão 3.3.2 e SPSS versão 13.0 para Windows. A partir do
estresse global, foi calculada a mediana, a qual serviu como ponto de corte entre os níveis baixo e
alto de estresse, e a média para fins comparativos com outros estudos. A associação do estresse
global com variáveis pessoais e profissionais também foi possível com auxílio do SPSS,
utilizando o Teste Exato de Fischer como teste estatístico. Na linha qualitativa, utilizou-se a
análise temática, onde os dados foram agrupados por núcleos de semelhanças, emergindo três
categorias: Fatores facilitadores para a prevenção do estresse; Fatores impeditivos para a
prevenção do estresse; e Os fatores estressores e a influência na saúde dos trabalhadores de
enfermagem. Resultados: a mediana encontrada no grupo foi 108,5, a partir da qual se observou
que metade dos trabalhadores de enfermagem da HD encontra-se com nível baixo de estresse e, os
demais, com alto nível de estresse. A média do grupo foi 106,6, menor do que a identificada em
outro estudo da mesma temática. Na associação do IEE com as características dos trabalhadores,
identificou-se que os itens do IEE que compõem os Fatores 2 (papéis estressores da carreira) e 3
(papéis intrínsecos ao trabalho) foram os mais presentes na unidade estudada. Os trabalhadores de
enfermagem identificaram o relacionamento interpessoal entre a própria equipe de enfermagem
como o fator facilitador da prevenção do estresse mais presente na unidade. Já o fator impeditivo
da prevenção do estresse na unidade, segundo a percepção dos trabalhadores, foi a escassez e mau
funcionamento de recursos materiais, especialmente as máquinas de diálise. Quanto à influência
do estresse na saúde destes trabalhadores, os relatos demonstraram que há desgaste mental e
físico, além do surgimento de doenças ocupacionais em decorrência da exposição contínua ao
estresse na unidade de HD. Conclusões: os trabalhadores de enfermagem da hemodiálise
apresentaram estresse ocupacional, devido a estressores inerentes ao contexto de trabalho, o qual é
amenizado pelo relacionamento interpessoal na própria equipe.
Descritores: Saúde do trabalhador, Estresse, Enfermagem, Diálise renal.
ABSTRACT
SILVA. Michele Karla Damacena da. the STRESS OF NURSING STAFF IN THE
CONTEXT OF HEMODIALYSIS.
Tutor: Regina Célia Gollner Zeitoune. Rio de Janeiro: UFRJ/EEAN, 2010.
Dissertation in Nursing
Descriptive exploratory study with quanti-qualitative approach, whose object was the
occupational stress of the nursing staff of the unity of hemodialysis (HD). The objectives were to
identify the stress levels of employees of the nursing staff of the unity of HD; Describe, in
workers' perceptions of the nursing staff, the stressors to which they were submitted in the HD
unit, analyze the factors that facilitate and impede preventive actions of stress for employees of
the nursing staff of the unity of HD, and discuss the implications stress on the health of workers of
the nursing staff of the unity of HD. The scenario was the HD unit of the University Hospital
Clementino Fraga Filho (HUCFF), in Rio de Janeiro. The subjects were 40 employees of the
nursing staff, 27 technicians, 07 assistants and 06 nurses. The study was approved by the Ethics
and Research HUCFF under the Research Protocol nº 230/08. Data collection was performed by
the author herself, in the period from june to august 2009, at the unit studied, from an instrument
composed of Nurses in Stress Inventory (NSI), self-application, and semi-structured interview,
which was recorded digitally in MP3 format. Data analysis followed the line quantitative using
descriptive statistics, with the aid of databases Epi-Info version 3.3.2 and SPSS version 13.0 for
Windows. From the overall stress was calculated the median, which served as the cutoff point
between low and high levels of stress, and the average for comparison with other studies. The
association of global stress with personal and professional variables was also possible with the aid
of SPSS, using the Fischer's exact test as the statistical test. In qualitative line, we used the
thematic analysis, where the data were grouped by core similarities, emerging three categories:
facilitating factors for the prevention of stress, factors hindering the prevention of stress, and
stress factors and the influence on the health of nursing staff. Results: The median found in the
group was 108.5, from which it was observed that half of the nursing staff of the HD meets low
level of stress and the other with a high level of stress. The group average was 106.6, lower than
that identified in another study the same subject. NSI in association with the characteristics of
workers identified that the items of the NSI that comprise the two factors (stressors roles of his
career) and 3 (intrinsic to the work roles) were more present in the unit studied. The nursing staff
identified the interpersonal relationship between the nursing team as a facilitating factor in
prevention of stress more on this unit. The factor impeding the prevention of stress in the unit,
according to the perceptions of workers was a shortage or malfunction of material resources,
especially the dialysis machines. As for the influence of stress on the health of these workers, the
reports show that there are physical and mental exhaustion, and the emergence of occupational
diseases as a result of continuous exposure to stress in the HD unit. Conclusions: The nursing staff
of hemodialysis showed occupational stress, due to stressors inherent in the work context, which
is mitigated by the interpersonal relationships in their own team.
Keywords: Occupational health, Stress, Nursing, Renal Dialysis.
RESUMEN
SILVA, Michele Karla Damacena da. ESTRÉS DE EQUIPO DE ENFERMERÍA EN EL
CONTEXTO DE LA HEMODIÁLISIS.
Pauta: Regina Célia Gollner Zeitoune. Rio de Janeiro: UFRJ/EEAN, 2010.
Disertación en Enfermería
Estudo descriptivo exploratorio, con abordage cualitativa y cuantitativa, cuyo objetivo es el
estrés ocupacional del equipo de enfermería de la unidad de hemodiálisis (HD). Los objetivos
fueron: Identificar los niveles de estrés de los trabajadores del equipo de enfermería de la
unidad de HD; Describir, en la percepcipón de los trabajadores del equipo de enfermería, los
motivadores del estrés a los cuales estaban sometidos en la unidad de HD; Analisar los
factores facilitadores e impeditivos de acciones de prevención de estrés para los trabajadores
del equipo de la unidad de HD; y Discutir las implicaciones de estrés en la salud de los
trabajadores del equipo de enfermería de la unidad de HD. El escenario fue la unidad de HD
del Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), en el municipio de Río de
Janeiro. Los sujetos fueron 40 trabajadores del equipo de enfermería, siendo 27 técnicos, 07
auxiliares y 06 enfermeros. El estudio fue aprobado en el Comité de Ética e Investigación de
HUCFF bajo el Protocolo de Investigación nº 230/08. La colecta de datos fue realizada por la
propia autora, en el periodo de junio a agosto de 2009, en la propia unidad estudiada, a
empezar de un instrumento compuesto por Inventario de Estrés en Enfermeros (IEE),
autoaplicativo, y Entrevista semiestructurada, la que fue grabada de forma digital en formato
MP3. El análisis de los datos siguió, en la línea cuantitativa, a través de utilización de
stadística descriptiva, con auxilio de las bases de datos Epi-Info versión 3.3.2 y SPSS versión
13.0 para Windows. A partir del estrés global, fue calculada la mediana, que sirvió como
punto de corte entre los niveles bajo y alto de estrés, y la media para fines comparativos con
otros estudios. La asociación del estrés global con variables personales y profesionales
también fue posible con el auxilio del SPSS, utilizando el Test Exacto de Fischer como test
estadístico. En la línea cualitativa, se utilizó el análisis temático, donde los datos fueron
agrupados por nucleos de semejanzas, emergiendo tres categorías: Factores facilitadores para
la prevención del estrés; Factores impeditivos para la prevención del estrés; y Los factores
motivadores del estrés y el influjo en la salud de los trabajadores de enfermería. Resultados:
la mediana encontrada en el grupo fue 108,5, a partir de la cual se observó que la mitad de los
trabajadores de enfermería de la HD se encuentra con nivel bajo de estrés y los demás con
nivel alto de estrés. La media del grupo fue 106,6, menor que lo anteriomente identificado en
otro estudio con la misma temática. En la asociación del IEE con las características de los
trabajadores, se identificó que los que los ítems del IEE que componen los Factores 2 (papeles
motivadores del estrés de la carrera) y 3 (papeles intrínsecos al trabajo) fueron los más
presentes en la unidad estudiada. Los trabajadores de enfermería identificaron la relación
interpersonal entre el propio grupo de enfermería como el facilitador de la prevención del
estrés más presente en la unidad. Ya el factor impeditivo de la prevención del estrés en la
unidad, según la percepción de los tabajadores, fue la escasez y el malo funcionamiento de
recursos materiales, especialmente las máquinas de diálisis. Cuanto al influjo del estrés en la
salud de estos trabajadores, los relatos demostraron que hay un desgaste mental y físico
además del surgimiento de enfermedades ocupacionales en decurrencia de la exposición
continuada al estrés en la unidad de HD. Conclusiones: los trabajadores de enfermería
presentaron estrés ocupacional debido a los factores de estrés inherentes al contexto de
trabajo, lo cual es mitigado por la relación interpersonal en el propio grupo.
Descriptores: Salud del trabajador, Estrés, Enfermería, Diálisis renal.
LISTA DE TABELAS
Tabela 1
Características dos sujeitos do estudo com relação aos aspectos pessoais e
profissionais
Tabela 2
51
Características dos sujeitos do estudo com relação aos aspectos
relacionados à saúde do trabalhador
52
Tabela 3
Estresse global da equipe de enfermagem da hemodiálise
61
Tabela 4
Associações entre alto estresse x características pessoais e profissionais
69
Tabela 5
Fatores facilitadores à prevenção do estresse
71
Tabela 6
Fatores impeditivos para a prevenção do estresse
83
SUMÁRIO
CAPÍTULOS
I
CONSIDERAÇÕES INICIAIS ..........................................................................
14
1.1
Contextualização do Objeto e Problemática do Estudo ........................................
14
1.2
Justificativa do Estudo ..........................................................................................
22
1.3
Contribuições do Estudo ......................................................................................
26
II
BASES CONCEITUAIS .....................................................................................
28
2.1
Estresse, Estressores, Burn out e Coping ..............................................................
28
2.2
O Trabalho de Enfermagem na Unidade de Hemodiálise ....................................
38
2.3
O Estresse Ocupacional no Contexto de Trabalho de Enfermagem .....................
48
2.4
A Saúde do Trabalhador de Enfermagem .............................................................
52
III
MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................
59
3.1
Tipo de estudo .......................................................................................................
59
3.2
Local do Estudo .....................................................................................................
59
3.3
Sujeito do Estudo ..................................................................................................
64
3.4
Aspectos Éticos .....................................................................................................
66
3.5
Instrumento e Coleta de Dados .............................................................................
67
3.6
Tratamento dos Dados e Análise dos Resultados ..................................................
70
IV
APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .........
73
4.1
O estresse da equipe de enfermagem da unidade de hemodiálise .........................
73
4.2
Fatores facilitadores para a prevenção do estresse ................................................
83
4.3
Fatores impeditivos para a prevenção do estresse .................................................
96
4.4
Os fatores estressores e a influência na saúde dos trabalhadores de enfermagem
da hemodiálise .......................................................................................................
4.4.1
111
Desgaste físico e mental advindos da exposição aos estressores no cotidiano da
hemodiálise ............................................................................................................ 112
4.4.2
A exposição ao estresse x doenças ocupacionais na unidade de hemodiálise ......
117
V
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................
123
REFERÊNCIAS .............................................................................................................
128
APÊNDICES
Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ..........................................
134
Apêndice B – Carta de autorização para realizar a pesquisa.............................................
136
Apêndice C – Inventário de Estresse em Enfermeiros – IEE ...........................................
137
Apêndice D – Roteiro de Entrevista Semi-estruturada ..................................................... 141
Apêndice E – Tabela de associações estresse x variáveis ................................................
142
Apêndice F – Aprovação do CEP/HUCFF ....................................................................... 143
14 CAPÍTULO I
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1 Contextualização do Objeto e Problemática do Estudo
O presente estudo tem como objeto o estresse1 ocupacional da equipe de enfermagem
da unidade de hemodiálise2 (HD).
Este estudo está pautado na formação profissional e trajetória da autora. Minha
formação iniciou-se na graduação de enfermagem e obstetrícia na Escola de Enfermagem
Anna Nery, em 1998. Logo após, em 2002, realizei especialização em enfermagem em
nefrologia nos moldes de Residência, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde permaneci por dois anos realizando
atividades assistenciais a pacientes portadores de insuficiência renal crônica3 e aguda4,
submetidos aos diversos tratamentos de substituição renal (transplante renal, diálise peritoneal
e hemodiálise).
Neste momento, os enfrentamentos eram diversos: inexperiência e insegurança diante
de uma área especializada, ainda desconhecida, pois na graduação não nos aproximamos
muito da nefrologia, onde o conhecimento teórico e técnico era imprescindível, diante do
aparato tecnológico (máquinas de HD), e das peculiaridades dos pacientes renais. Havia
também uma preocupação constante quanto à necessidade de adequar o ensino à prática como
enfermeira, buscando o aperfeiçoamento técnico, destreza manual e agilidade de pensamento
e ação.
1
Sobre estresse, entender-se-á este como uma síndrome caracterizada por um conjunto de reações que o organismo
desenvolve ao ser submetido a uma situação que dele exija um esforço para se adaptar (SELYE, 1959).
2
Método substitutivo renal onde há a remoção de água e moléculas de baixo peso molecular do sangue, através de uma
membrana semipermeável, através de dois mecanismos de transportes: difusão e ultrafiltração. (Daugirdas, 2003)
3
Conceitua-se insuficiência renal crônica como uma síndrome complexa conseqüente à perda, geralmente lenta e
progressiva, da capacidade excretória renal (SCHOR, 2002).
4
A insuficiência renal aguda é caracterizada por redução abrupta da função renal que se mantém por períodos variáveis,
resultando na inabilidade dos rins em exercer suas funções básicas de excreção e manutenção da homeostase hidroeletrolítica
do organismo (SCHOR, 2002).
15 A especialização sobre os moldes de residência me fez desenvolver a capacidade
técnica, de organização e gerência de uma unidade de nefrologia, onde pude adquirir os
conhecimentos específicos da nefrologia.
Ao fim da residência, realizei minha monografia com enfoque nos pacientes
transplantados renais, onde abordei as alterações no seu cotidiano de vida após o transplante,
relacionando a utilização de medicações imunossupressoras, indispensáveis ao sucesso do
transplante.
No final do ano de 2003, com a especialização ainda em andamento, iniciei minhas
atividades como enfermeira líder (plantão noturno) na unidade de HD do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), onde atuo até o momento. Continuei a
assistir os pacientes renais crônicos e agudos, porém mais intimamente com aqueles que
realizavam HD. Julgo importante ressaltar que meu interesse sempre esteve voltado à
nefrologia, pautado na vivência e na preocupação diária em oferecer uma assistência de
enfermagem com qualidade à estes pacientes.
Com relação ao perfil dos pacientes, pode-se dizer que no Estado do Rio de Janeiro
eles realizam diálise nos hospitais de grande porte ou em clínicas satélites. Os hospitais de
grande porte, como o HUCFF, normalmente funcionam como “porta de entrada”, pelo setor
de emergência, àqueles que nunca dialisaram e que, após avaliação médica, iniciam o
tratamento. O início da diálise também pode ocorrer nos pacientes acompanhados no
ambulatório de nefrologia do HUCFF e que, em determinado momento, necessitam iniciar o
tratamento no próprio hospital.
Há situações em que os pacientes que dialisam em clínica satélite internam no HUCFF
para determinados procedimentos cirúrgicos ou por instabilidade hemodinâmica e, devido à
internação e impossibilidade de serem encaminhados às clínicas de origem para realizar o
tratamento dialítico, acabam por dialisar temporariamente no hospital. E ainda existem os
16 pacientes que estão internados nos demais setores do hospital, como clínica médica, por
exemplo, e evoluem com insuficiência renal aguda ou crônica, necessitando de tratamento
dialítico.
As clínicas satélites, vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), estão presentes em
todo o Estado do Rio de Janeiro e são responsáveis por receberem os pacientes renais crônicos
provenientes dos hospitais de grande porte. Os trâmites burocráticos destas transferências são
realizados pela Secretaria Estadual de Saúde, mediante documentação e exames dos pacientes
que estão alocados nos hospitais.
Em ambos os locais, clínicas satélites e hospitais de grande porte, os pacientes
realizam HD criteriosamente três vezes por semana, tendo cada sessão, em média, quatro
horas de duração, com exceções dos pacientes instáveis, que podem vir a necessitar de HD
prolongada. No caso das clínicas, os pacientes dialisam e retornam às suas residências; não há
internação. Nos hospitais de grande porte deveriam ser dialisados apenas os pacientes
internados, visto que os demais deveriam ser prontamente transferidos para as clínicas-satélite
logo após o início do tratamento.
Porém, na atual realidade do Rio de Janeiro, observa-se um grande quantitativo de
pacientes renais crônicos dialisando nos hospitais de grande porte como se estes fossem
clínicas satélites, pela falta de vagas nestas clínicas, no Estado do RJ. Ou seja, atualmente, o
número de clínicas satélites não é suficiente para suportar o grande número de pacientes
renais crônicos iniciando diálise.
Esta situação gera sobrecarga de trabalho para a equipe de enfermagem devido ao
grande número de pacientes diariamente realizando HD e desconforto aos pacientes, pois
muitos dialisam em horário noturno, e residem longe dos hospitais, em áreas de risco, além da
impossibilidade de retornarem às suas residências por falta de meio de transporte público no
horário noturno.
17 Durante todo o período de experiência em nefrologia, tive a oportunidade de
acompanhar não somente os pacientes, mas também o trabalho da equipe de enfermagem seja
do plantão noturno ou diurno, e suas alterações no ritmo de trabalho, carga horária,
dificuldades de manejo com a própria equipe e com a chefia, com as dificuldades de recursos
humanos necessários às atividades realizadas e à complexidade dos pacientes da unidade, com
a falta de recursos materiais, com a estrutura física muitas vezes inadequada do ponto de vista
ergonômico bem como com as próprias atividades inerentes da enfermagem, entre outros
aspectos.
A unidade de HD do HUCFF possui um total de três salas, sendo uma maior
denominada de “sala branca”, onde dialisam os pacientes com sorologias negativas para
hepatites B e C, os com sorologias ainda indefinidas e os portadores de HIV. Esta sala possui
um total de oito máquinas, além de duas sobressalentes para substituírem possíveis máquinas
com defeito. Existe também a “sala amarela” com uma máquina, e a “sala azul” com duas
máquinas. Estas salas são destinadas a pacientes portadores de hepatite B e C,
respectivamente.
O processo do trabalho nesta unidade dar-se-á com a chegada do paciente à unidade,
onde é recebido pela equipe médica e de enfermagem. Neste primeiro contato, deve ser
realizada a consulta de enfermagem, na própria sala de HD, onde o paciente recebe as
primeiras orientações sobre o tratamento substitutivo renal e os encaminhamentos à nutrição,
ao serviço social e à vacinação para hepatite B. Simultaneamente à consulta, o peso e a
pressão arterial são aferidos e o paciente é instalado na máquina de HD. A partir daí, este
passa a ser monitorizado continuamente, com objetivo de evitar ou detectar precocemente
qualquer intercorrência no período inter-dialítico, como hipotensão, hipoglicemia, parada
cardiorrespiratória, entre outras.
18 As atividades realizadas, principalmente pelos auxiliares e técnicos de enfermagem,
são, na maior parte do tempo, muito repetitivas. Como exemplo, pode-se citar a instalação e a
retirada do paciente da máquina de HD, a reposição dos galões de soluções ácida e básica
utilizadas nestas máquinas, cada um contendo cinco litros. Estas soluções são essenciais ao
tratamento de HD, pois visam facilitar a remoção dos produtos catabólicos de baixo peso
molecular presentes no sangue urêmico (uréia, creatinina, entre outros).
Em cada sessão de HD de quatro horas é necessária a reposição destas soluções de
uma a duas vezes. A disposição dos galões nas máquinas é anti-ergonômica, pois
normalmente localizam-se na parte inferior das máquinas, obrigando os profissionais a
realizar movimentos de abaixar e levantar a cada vez que manipulam estas soluções, além do
próprio transporte dos galões entre as salas.
Na dinâmica deste contexto, a equipe de enfermagem realiza atividades rotineiras,
algumas privativas ao enfermeiro, como a realização de curativos de cateter de dupla luz,
primeiras punções de fístulas arteriovenosas e das consideradas como complicadas5, consulta
de enfermagem, realização de cuidados a pacientes gravemente enfermos, além de todo o
gerenciamento do cuidado e da unidade. Os auxiliares e técnicos de enfermagem realizam os
cuidados mais direcionados aos pacientes, como a instalação e retirada destes da máquina de
HD, administração de medicações e hemoderivados, aferição dos sinais vitais e cuidados
gerais de enfermagem durante todo o período dialítico.
Todas estas atividades, em conjunto ou até mesmo isoladamente, podem representar
potenciais estressores6 ao trabalho destes profissionais, o que pode, futuramente, gerar
conflitos, estresse e até mesmo o aparecimento de doenças ocupacionais.
5
Entende-se por fístulas artério-venosas complicadas aquelas em que a punção é dificultada pela própria anatomia dos vasos
sanguíneos ou após a formação de hematomas.
6
Entende-se estressor como qualquer evento que amedronte, confunda ou excite a pessoa (LIPP, 2003)
19 A organização do trabalho da unidade é muito dinâmica: enfermeiros, auxiliares e
técnicos de enfermagem realizam todas estas atividades simultaneamente, em todos os
pacientes, basais a críticos, durante 24 horas. Toda esta complexidade acaba por levar, em
alguns momentos, à irritabilidade e ansiedade dos mesmos pela sobrecarga de trabalho tendo
visto o número de pacientes, atividades a serem realizadas e as intercorrências que podem
ocorrer a qualquer momento do tratamento dialítico, exigindo do profissional supervisão
constante e tomada de decisão.
Durante o dia-a-dia da unidade foi possível observar absenteísmos e licenças médicas
por parte dos profissionais da equipe de enfermagem, especialmente daqueles lotados nos
plantões noturnos, onde o número de auxiliares e técnicos é reduzido quando comparado ao
plantão diurno, porém a quantidade de pacientes é muito próxima do que ocorre no período
diurno e, além disso, é no plantão noturno que os pacientes internados e, portanto,
potencialmente mais graves, realizam HD.
Além destas situações, é bastante preocupante observar a quantidade de profissionais
de enfermagem da unidade afastados por doenças ocupacionais, principalmente relacionadas a
problemas osteomusculares evidenciados por dores lombares, hérnia de disco, entre outros.
Estes afastamentos laborais podem estar relacionados à estrutura anti-ergonômica da unidade
e à realização de atividades repetitivas, principalmente pelos auxiliares e técnicos de
enfermagem durante o período de trabalho.
Toda esta situação proporciona afastamentos do trabalho, e sobrecarga daqueles
trabalhadores que permanecem nos plantões, pois nem sempre torna-se possível substituir
aquele trabalhador que encontra-se licenciado por algum motivo.
Sabe-se que o estresse não é um fato novo do mundo moderno. O homem préhistórico, por exemplo, já apresentava respostas ao estresse diante das adversidades, como as
exposições bruscas de mudanças de temperatura e caça para alimentação. No entanto, esses
20 homens não sofriam do mal do estresse, pois tinham a oportunidade de dar a resposta natural
ao seu estresse normal: lutar ou fugir. (SILVA, 2005)
Neste contexto, cabe aqui ressaltar que o estresse, quando bem compreendido e
controlado, é positivo e necessário até certo ponto, pois prepara o organismo para lidar com
situações difíceis da vida. Mas quando não é controlado e torna-se constante na vida da
pessoa, pode levar a doenças e até mesmo à morte (LIPP, 1998).
De acordo com Carvalho et. al. (2004), vários trabalhos são considerados estressantes,
por desencadearem desgaste físico e/ou mental, estando entre eles as atividades desenvolvidas
nos hospitais. Miranda, Garcia e Sobral (1996) complementam que o hospital, local onde os
trabalhadores de enfermagem permanecem grande parte de suas vidas, é um ambiente
considerado insalubre e que apresenta uma série de riscos de exposição, favorecendo o
surgimento de enfermidades e a ocorrência de acidentes de trabalho.
A unidade de HD, assim como as demais unidades fechadas como, por exemplo, a
terapia intensiva e centro cirúrgico, possuem uma dinâmica de trabalho que a diferencia das
demais unidades do hospital, por ser considerada uma unidade especializada, de cuidados
intensivos e emergenciais em decorrência do nível de gravidade dos pacientes, da
complexidade da doença renal crônica e das particularidades do próprio tratamento dialítico.
Há a necessidade de agilidade e habilidade para lidar com situações emergenciais em que o
paciente corre risco de vida.
Além disso, existe todo um aparato tecnológico muito particular da unidade,
necessário para a própria realização da HD e do processamento do material utilizado, o que
exige permanente atualização da equipe quanto ao uso correto e detecção precoce de possíveis
danos. Estas características, particulares da unidade, podem repercutir de alguma forma na
saúde dos trabalhadores, podendo gerar fadiga, ansiedade, além dos próprios riscos
ocupacionais a que estão expostos.
21 A HD é um tratamento crônico, na maioria absoluta das vezes e, devido a isto, a
equipe de enfermagem estabelece um contato muito próximo com os pacientes, muitas vezes
prolongado, de anos, o que desencadeia um vínculo estreito na relação entre os profissionais e
os pacientes. Por outro lado, a própria doença crônica desencadeia diversas complicações, o
que pode levar os pacientes a piora em seu quadro hemodinâmico ao longo do tempo ou de
forma súbita, durante a sessão de HD, por exemplo. No momento em que há a morte ou piora
no quadro hemodinâmico dos pacientes, emerge também sentimentos de perda e angústia nos
profissionais de enfermagem, o que pode gerar tensão e problemas psicológicos.
Estes profissionais exercem suas funções nesta unidade estão expostos constantemente
a riscos ocupacionais (biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e de acidentes). Os riscos
biológicos são os mais presentes, devido ao contato constante com materiais orgânicos,
inclusive de pacientes portadores dos vírus HIV e das hepatites B e C, o que é característico
de muitos pacientes que realizam diálise. Foi possível observar também, nesses profissionais,
a não utilização ou utilização inadequada de equipamentos de proteção individual (EPI)
pertinentes à unidade, apesar de todos os riscos ocupacionais aos quais estão expostos
diariamente.
A partir deste questionamento e destas observações, tive a oportunidade de realizar,
em 2006, o Curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho, na Escola de Enfermagem
Anna Nery, da UFRJ, onde discuti, na monografia, a percepção dos trabalhadores de
enfermagem do HUCFF quanto aos riscos ocupacionais presentes na unidade de HD. Os
resultados mostraram que os trabalhadores de enfermagem detêem o conhecimento acerca dos
riscos ocupacionais e das medidas de proteção e segurança, apesar de nem sempre utilizá-las,
e citaram como principais implicações dos riscos sobre a sua saúde os problemas
respiratórios, de coluna e as doenças contagiosas. (SILVA; ZEITOUNE, 2009)
22 A especialização em Enfermagem do Trabalho permitiu o contato com conteúdos
teóricos, até então pouco explorados, e a possibilidade de uma visão mais crítica de todo o
meu ambiente de trabalho. Portanto, mesmo após a realização da monografia e do curso,
continuei a questionar diversas situações presentes no contexto de trabalho, relacionada à
saúde do trabalhador e à hemodiálise, o que possibilitou a proposta desta dissertação, com
vistas ao estudo do estresse na equipe de enfermagem da unidade de HD.
Pelo exposto, podem-se explicitar os seguintes questionamentos como norteadores
deste estudo:
• A unidade de HD é considerada estressante pelos trabalhadores de enfermagem?
• O estresse leva implicações à saúde destes trabalhadores?
Para atender às questões norteadoras, traçaram-se como objetivos do estudo:
• Identificar os níveis de estresse dos trabalhadores da equipe de enfermagem da
unidade de HD;
• Descrever, na percepção dos trabalhadores da equipe de enfermagem, os estressores a
que estão submetidos na unidade de HD;
• Analisar os fatores facilitadores e impeditivos de ações de prevenção de estresse para
os trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de HD;
• Discutir as implicações do estresse na saúde dos trabalhadores da equipe de
enfermagem da unidade de HD.
1.2 - Justificativa do Estudo
O estudo se justifica pela problemática descrita anteriormente e pelas lacunas de
conhecimento na produção científica de estudos referentes à temática proposta. Foi realizada
uma revisão nas bases eletrônicas de dados da Bireme, considerando o recorte
23 temporal de 1980 aos dias atuais. Este recorte justifica-se pelo fato de a saúde do trabalhador
ser uma área relativamente recente quanto à produção de conhecimento, uma vez que as
primeiras produções científicas publicadas desta área ocorreram na década de 80.
Na revisão sistematizada, foram utilizados os descritores: estresse, stress, equipe de
enfermagem, enfermagem, diálise renal e saúde ocupacional. Foi considerado também o uso
concomitante dos descritores estresse x diálise renal, estresse x equipe de enfermagem,
estresse x saúde ocupacional, estresse x enfermeiro, estresse x enfermagem x diálise renal,
estresse x equipe de enfermagem x diálise renal, estresse x enfermeiro x diálise renal, estresse
x saúde ocupacional x enfermagem, estresse x saúde ocupacional x equipe de enfermagem e
estresse x saúde ocupacional x enfermeiro. Ao ser utilizado o descritor estresse, também se
utilizou o termo em inglês, stress.
As principais bases de dados foram: Lilacs, Scielo, Medline e Bdenf. Foi localizado
um total de 51 artigos referentes à temática.
Após levantamento de estudos científicos sobre o tema proposto neste estudo, foi
identificado que o estresse ocupacional da equipe de enfermagem já foi amplamente abordado
e com enfoques diferenciados, como o estresse em setores como os de ambulatório,
oncologia, centro cirúrgico, psiquiatria, gerência, cirúrgica, terapia intensiva, emergência e
saúde da família. Entre estes, o maior quantitativo advém de pesquisas na área terapia
intensiva, seguida pela oncologia. (STACCIARINI e TRÓCCOLI, 2001; MIQUELIM et. al.,
2004; FERRAREZE, FEREIRA e CARVALHO, 2006; BATISTA e BIANCHI, 2006)
O estudo realizado por Miquelim et. al. (2004) discutiu o estresse nos profissionais de
enfermagem (enfermeiros e auxiliares de enfermagem) que atuavam em unidade de pacientes
portadores de HIV-AIDS. Os resultados mostraram que, entre os dez enfermeiros estudados, 3
(30%) apresentaram estresse, sendo que 2 (66,6%) estavam na fase de resistência, 1 (33,3%)
na fase de quase exaustão e nenhum na fase de exaustão.
24 Ferrareze, Ferreira e Carvalho (2006) estudaram a percepção do estresse em
enfermeiros atuantes em terapia intensiva e concluíram que mais da metade destes
trabalhadores (66,7%) que assistiam pacientes críticos, mostrou sinal de sofrimento físico e/ou
psicológico, característico da fase de resistência ao estresse.
Já Stacciarini e Tróccoli (2001) relataram o estresse na atividade ocupacional do
enfermeiro. Tal estudo revelou que, em geral, os enfermeiros não definem o estresse, mas
citam o que leva ao estresse e o que resulta a partir deste, sempre associado a uma conotação
negativa.
O estresse também foi abordado por Batista e Bianchi (2006), especificamente do
enfermeiro atuante no setor de emergência. Constataram que, para o enfermeiro de
emergência, apesar de sua pronta e efetiva atuação frente à instabilidade da situação do
paciente, as condições externas a essa situação são mais estressantes.
Montanholi, Tavares e Oliveira (2006) ressaltaram os fatores de risco de estresse no
trabalho do enfermeiro hospitalar e concluíram que as situações críticas foi a variável com
maior risco para o estresse. Verificaram também que quanto maior a faixa etária dos
enfermeiros maior o estresse para o gerenciamento de pessoal.
Costa, Lima e Almeida (2003) avaliaram o estresse associado ao trabalho do
enfermeiro no trabalho com pacientes portadores de transtorno mental inserido no contexto do
hospital psiquiátrico. Estes autores concluíram através deste estudo que 62% da amostra não
apresentaram estresse, 30,9% encontravam-se na fase de resistência e apenas 7,1% na fase de
exaustão. A amostra consistiu de 42 enfermeiros.
Já Meirelles e Zeitoune (2003) abordaram o tema estresse nos profissionais de
enfermagem em centro cirúrgico oncológico. A amostra constou de 70 profissionais e os
resultados confirmaram que os profissionais de enfermagem estavam sob a influência do
estresse no seu cotidiano de trabalho, sendo apontados como principais fatores de estresse, as
25 relações pessoais conflituosas, sobrecarga de trabalho, carga horária excessiva e recursos
humanos insuficientes. 75,7% consideraram estressante o trabalho no ambiente do centro
cirúrgico oncológico.
Araújo et. al. (2003) investigaram a relação entre estresse no trabalho e a ocorrência de
distúrbios psíquicos menores (não-psicóticos) entre trabalhadores de enfermagem. Neste
estudo, os distúrbios psíquicos menores associaram-se positivamente com as demandas
psicológicas e negativamente com o controle sobre o trabalho.
No contexto da HD, foram identificados dois estudos diretamente relacionados com o
estresse em trabalhadores de enfermagem desta unidade. Dentre estes estudos relacionados à
temática proposta, Da Silva Britto e Pimenta Carvalho (2004) trataram questões relacionadas
à como os enfermeiros que atuavam em unidades de terapia intensiva e problemas renais, num
hospital geral, avaliaram seu ambiente de trabalho, sua saúde e como lidavam com situações
estressantes. Abordaram não somente o estresse, mas também o enfrentamento e a saúde geral
dos enfermeiros. Participaram deste estudo dez enfermeiros da unidade de transplante renal e
hemodiálise. Os resultados mostraram que, em geral, os enfermeiros não consideram o
contexto de trabalho como estressante, utilizam mecanismos de enfrentamento mais centrados
no problema que na emoção e avaliam sua saúde como positiva.
Dermody e Benett (2008) também destacaram o estresse no setor de hemodiálise,
enfocando o estresse do enfermeiro atuante da unidade de HD de hospitais e de unidades
satélites da cidade da Austrália. Os resultados apontaram que os enfermeiros dos hospitais
avaliaram o trabalho da unidade como de estresse máximo e que este nível de estresse era
presente mesmo num dia basal. Já os enfermeiros das unidades satélites relataram que os
estressores estavam relacionados ao comportamento do paciente, as expectativas irreais
percebidas por eles, seguidas da chegada indisposta destes pacientes na unidade.
26 Considerando os estudos mencionados, entende-se que as questões de estresse nos
trabalhadores de enfermagem atuantes em unidade de HD são merecedoras de
aprofundamento e investigações, considerando a importância da saúde e qualidade de vida
destes profissionais enquanto trabalhadores e tendo em vista o déficit de trabalhos abordando
os trabalhadores de enfermagem de hemodiálise.
Para Stacciarini e Tróccoli (2001), estudar as manifestações do estresse ocupacional
entre enfermeiros permite compreender e elucidar alguns problemas, tais como a insatisfação
profissional, a produtividade no trabalho, o absenteísmo, os acidentes de trabalho e algumas
doenças ocupacionais, além de permitir a proposição de intervenções e busca de soluções.
1.3 - Contribuições do Estudo
Este estudo tem relevância nas vertentes de ensino, pesquisa e assistência. No âmbito
do ensino, contribuirá na formação profissional da equipe de enfermagem, tanto a nível
técnico, quanto a níveis de graduação e especialização, pois o conhecimento dos fatores de
risco para o estresse presentes na unidade estudada assim como do nível de estresse presente
nestes profissionais apontou para a necessidade de revisão e discussão da temática estresse na
formação profissional destes futuros trabalhadores, como uma realidade presente no contexto
de trabalho de enfermagem.
Na vertente da pesquisa, a presente investigação poderá servir de base para a
continuidade de novos estudos sobre a temática abordada, colaborando para a construção do
conhecimento bem como contribuiu para o Núcleo de Pesquisa Enfermagem e Saúde do
Trabalhador (NUPENST), da EEAN/UFRJ, ampliando os estudos e as discussões no referido
núcleo.
Em relação à assistência de enfermagem, o presente estudo tem relevância para a
saúde do trabalhador, pois identificou os fatores estressantes na ocupação dos trabalhadores
27 de enfermagem do setor de HD, assim como em que momento de estresse estes se encontram,
o que vai possibilitar desenvolver atividades voltadas para garantir um preparo deste
trabalhador para atender tal clientela pensando na redução do estresse do trabalhador de
enfermagem da unidade de HD.
Esta pesquisa deverá ser utilizada como fator contribuinte para melhorar a qualidade
de vida do trabalhador de enfermagem do setor de HD e para que as instituições de saúde
possam desenvolver medidas pertinentes, com um serviço de saúde do trabalhador atuante,
para garantir esta qualidade e, conseqüentemente, a qualidade da assistência aos pacientes
renais crônicos.
28 CAPÍTULO II
BASES CONCEITUAIS
Este capítulo tem como objetivo apresentar os referenciais conceituais que darão
suporte à análise e discussão dos resultados do estudo, e está assim estruturado: 2.1 Estresse,
estressores, burnout e coping; 2.2 O trabalho da enfermagem no setor de hemodiálise; 2.3 O
estresse ocupacional e a enfermagem ; e 2.4 A saúde do trabalhador de enfermagem.
2.1 - Estresse, Estressores, Burnout e Coping
A palavra estresse vem do inglês “stress”. Historicamente, até o século XVII, o termo
stress era utilizado como significado de aflição e adversidade (LAZARUS; LAZARUS,
1994). Sir Osler, médico inglês do início do século XX, igualou o termo stress com “trabalho
excessivo” (eventos estressantes) e o termo strain (reação do organismo ao stress) com
preocupação. Em 1910, após observação de vinte médicos com angina pectoris, sugeriu que o
trabalho e preocupação excessivos estivessem ligados a doenças coronarianas. Porém, suas
observações não receberam atenção da área médica.
Hans Selye, médico austríaco, foi o primeiro cientista a estudar o estresse, nos termos
em que é conhecido hoje, nas décadas de 20 e 30 do século passado, sendo, por este motivo,
líder nesta linha de pesquisa e considerado como o “pai do estresse” (LIPP, 2003). Escreveu
cerca de 39 livros e mais de 1.700 artigos sobre esta temática, e foi nomeado ao prêmio
Nobel por dez vezes.
Selye dedicou anos à pesquisa experimental e fez importantes descobertas para as
ciências biológicas. Observou que as reações orgânicas dos pacientes, independente da causa
da doença ou do diagnóstico, geralmente, eram as mesmas. A partir destas constatações,
chamou, inicialmente, o fenômeno como “síndrome de estar apenas doente” ou “síndrome de
adaptação geral”, terminologia ainda utilizada. Posteriormente, o próprio Selye simplificou a
29 denominação para “stress”. Na área da saúde, o termo stress passou a ser utilizado no século
XX. (Guido, 2003).
Selye utilizou como base conceitual nos seus achados, pesquisas anteriores, como os
estudos de Claude Bernard, que destacavam a capacidade dos seres vivos em manter
constância de bem-estar e equilíbrio do organismo, mesmo com modificações externas.
Posteriormente, Walter Cannon, denominou tal capacidade de homeostase, baseando-se em
estímulos concretos e mensuráveis. (Guido, 2003). O conceito de homeostase foi muito
importante nos estudos que procuraram conhecer as reações do organismo a um estressor,
pelo fato de o stress ser visto por Selye como uma alteração puramente biológica.
Segundo Selye (1956), o estresse é uma síndrome caracterizada por um conjunto de
reações que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que dele exija um
esforço para se adaptar. Da Silva Britto e Pimenta Carvalho (2004) complementam que o
conceito de estresse é entendido como a avaliação que o indivíduo faz das situações a que está
exposto como mais ou menos desgastantes, isto é, o quê, em seu trabalho é identificado como
uma situação negativa, de difícil enfrentamento.
Já Houaiss, Villar e Franco (2001) afirmam que o termo estresse denota o estado
gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação emocional e, ao perturbarem a
homeostase, disparam um processo de adaptação caracterizado, entre outras alterações, pelo
aumento de secreção de adrenalina produzindo diversas manifestações sistêmicas, com
distúrbios fisiológicos e psicológicos.
Portanto, o estresse é uma resposta de adaptação do nosso organismo frente a qualquer
evento, trata-se de um mecanismo de autopreservação, e não pode ser considerado somente
como algo negativo. O ser humano necessita de um mínimo de estresse para fornecer energia,
vigor, coragem, força, vontade de fazer coisas novas, aumentar a produtividade e melhorar a
sua qualidade de vida. A grande questão está em dominar o estresse e não ficar sob o seu
30 comando (LIPP, 2003). Guido (2003) resume, informando que o estresse é a conseqüência
natural das experiências vivenciadas, tanto agradáveis quanto desagradáveis.
Silva (2005) complementa que o aumento da adrenalina, um dos hormônios do
estresse, faz melhorar surpreendentemente o desempenho físico e intelectual e quando bem
usada, auxilia na superação de desafios, melhorando a produtividade, mas só até certo ponto,
pois o rendimento máximo é atingido quando se está próximo do limite de tensão.
Em outra publicação, Selye (1975) reconhece a importância da avaliação psicológica
no mecanismo de regulação orgânica, diante da multiplicidade de fatores a que o organismo
está exposto. Desta forma, introduziu na literatura os termos eustress e distress, visando
estabelecer a diferença entre o stress bom ou benéfico (eustress) e o ruim, que ocasiona
efeitos adversos, físicos e emocionais (distress).
Diante deste quadro de níveis bons e nocivos do estresse, há um padrão de
comportamento descrito por Selye (1959), denominada Síndrome de Adaptação Geral (SAG),
a qual envolve uma série de sintomas que o indivíduo apresenta quando submetido a situações
que exijam uma importante adaptação do organismo para enfrentá-las. Este autor aproveitou o
termo stress, trazido da engenharia, que significa o “peso que uma ponte suporta até que ela
se parta”, e assim definiu a SAG.
A SAG divide-se em três fases: uma inicial denominada de alarme ou alerta, uma
segunda fase de resistência ou adaptativa e a terceira chamada de exaustão, todas comandadas
pelo sistema nervoso autônomo, via sistema límbico e pelo sistema nervoso central, via
hipotálamo.
A primeira fase, de alarme ou alerta, ocorre quando o organismo se prepara para as
reações de luta ou fuga, ou seja, ocorre no momento em que o estressor é percebido pela
pessoa e pode se manifestar por taquicardia, palidez, sudorese, fadiga, irritabilidade, insônia e
31 alterações gastrointestinais. Os hormônios liberados pela hipófise e supra-renal são
considerados os principais desta fase.
A segunda fase, de resistência ou adaptativa, efetiva-se quando o estressor continua
presente por períodos prolongados ou quando a sua dimensão é muito grande, e é compatível
à adaptação. Nesta fase predomina o desgaste, a pessoa tenta instintivamente se adaptar ao
que está passando através de reservas de energia adaptativa que possui, podendo apresentar
isolamento social, incapacidade de se desligar do trabalho, impotência para as atividades,
medo e falta ou excesso de apetite. Pela resistência ao estressor, torna-se mais difícil o retorno
à homeostase.
A terceira fase, de exaustão, é a fase em que o organismo chega a seu limite, ao
esgotamento, quando há uma continuidade do estressor e não acontece mais a adaptação do
organismo. Caracteriza-se pela “quebra” do organismo e está associada a uma série de
patologias, inclusive a depressão. Nesta fase, os sinais que ocorrem na reação de alarme são
novamente evidenciados, de forma exacerbada e irreversível, levando ao desequilíbrio total do
indivíduo, podendo culminar com a sua morte.
Cabe salientar que, embora a SAG seja descrita em fases, estas não ocorrem de forma
delimitada, visto que a simultaneidade e a rapidez são suas características evolutivas.
(PENICHE; NUNES, 2001)
Este modelo proposto por Selye ofereceu, desde a sua formulação, subsídios para o
estudo da tensão excessiva no corpo e na mente. Porém, outros pesquisadores aprofundaram
suas análises e re-elaboraram alguns conceitos.
No ano de 2000, no desenvolvimento da padronização do Inventário de sintomas de
stress para adultos de Lipp (2003), houve a identificação de uma quarta fase, estatística e
clinicamente importante. Esta fase foi denominada de quase-exaustão, por se encontrar entre a
fase de resistência e de exaustão, e caracteriza-se por um enfraquecimento da pessoa que não
32 mais está conseguindo se adaptar ou resistir ao estressor. As doenças começam a surgir, mas,
no entanto, não são tão graves quanto na fase da exaustão. Além disto, embora apresente
desgastes e outros sintomas, a pessoa ainda consegue trabalhar e atuar na sociedade até certo
ponto, ao contrário do que ocorre na fase de exaustão. Partindo desta premissa, houve o
surgimento de um novo modelo, quadrifásico de Lipp, a partir do desenvolvimento do modelo
trifásico de Selye, descrito anteriormente.
Nesta perspectiva, o estresse está presente em várias questões do dia-a-dia do homem
e há uma preocupação crescente referente a este tema, principalmente em relação aos métodos
de como lidar com o estresse. O Brasil está entre os países líderes nas pesquisas nesta área. A
Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial estimam que as doenças
neuropsiquiátricas, incluindo os distúrbios ligados ao estresse, atinjam uma a cada quatro
pessoas (40%) em todo o mundo (LIPP, 2003).
O índice de estresse nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Paraíba e em Campo Grande era, em 1996, de 32%, conforme pesquisa com indivíduos
transeuntes que se propuseram a responder um inventário de sintomas informatizado (LIPP,
2003).
Dada a atualidade do tema, as pesquisas sobre estresse têm avançado bastante. Em
2003, pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com adultos
transeuntes, mostrou que houve uma diferença entre homens e mulheres, cujos índices de
estresse foram, respectivamente, 77,7% e 67%.
Em estudo realizado nos anos de 2003 e 2004, a International Stress Management
Association7 no Brasil (ISMA-BR) constatou que 70% dos 1.000 brasileiros pesquisados
sofriam de níveis significativos de stress ocupacional (ROSSI; PARREWÉ; SAUTER apud
ROSSI, 2004).
7
A ISMA-BR é uma associação sem fins lucrativos, que estuda o estresse e suas formas de prevenção. Desde o ano 2000, é a
filial brasileira da ISMA Internacional, que foi criada nos Estados Unidos, em 1973 (ROSSI,; PERREWÉ ; SAUTER, 2008).
33 O estresse é causado por um evento capaz de gerá-lo, ou seja, uma fonte de estresse.
Este evento é denominado estressor que, segundo Lipp (1998), caracteriza-se por qualquer
evento que amedronte, confunda ou excite a pessoa. Existem alguns eventos que são
intrinsecamente estressantes em virtude de sua natureza, tais como o frio ou o calor excessivo,
a fome, a dor ou a morte de alguém querido. Outros eventos tornam-se estressantes em
conseqüência da interpretação que damos a eles. Esta interpretação é resultado da
aprendizagem que ocorre durante o curso de nossa vida.
No cotidiano da profissão, a enfermagem se depara com situações supostamente
estressantes, e devido a este motivo, constantemente esses trabalhadores são alvos de
pesquisas sobre a temática do estresse ocupacional. Alguns autores como Batista e Bianchi
(2006), Da Silva Brito e Pimenta Carvalho (2004), Miquelim et. al. (2004) e Stacciarini e
Tróccoli (2001) trazem esta realidade em suas pesquisas, descrevendo os possíveis estressores
da profissão: relacionamento interpessoal com a equipe, a chefia, pacientes e familiares;
recursos físicos; mudanças tecnológicas; ambiente de trabalho inadequado; trabalho
repetitivo; deficiência de recursos humanos; carga de trabalho excessiva; lidar com a morte e
o morrer; ambigüidade de papéis, entre outros.
A exposição aos riscos ocupacionais também foi citada por Miquelim et. al. (2004)
como um fator predisponente ao estresse. No âmbito da HD, todos os riscos ambientais,
especialmente os biológicos, estão criteriosamente presentes neste contexto, integrando um
conjunto de estressores no dia-a-dia dos trabalhadores de enfermagem.
Estes riscos são
considerados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), através da Norma
Regulamentadora 09 (NR-09), os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos
ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo
de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador (BRASIL, 1978).
34 Segunda esta NR, consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que
possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais,
temperaturas extremas, radiações ionizantes, bem como o ultra-som e o infra-som. Como
agentes químicos, as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo
pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou
que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo
organismo através da pele ou por ingestão. E entre os agentes biológicos têm-se as bactérias,
fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Segundo a legislação existem
ainda os riscos de acidentes, inerentes a cada ambiente de trabalho como, por exemplo, risco
de queda decorrente de pisos ou iluminação inadequados.
Os estressores, sejam eles de qualquer natureza, podem desencadear estresse em umas
pessoas e em outras, não, pois alguns indivíduos se mostram mais tolerantes às tensões físicas
e emocionais do que outros. Esta variabilidade na apresentação do estresse é dependente da
interpretação pessoal e das atividades cognitivas utilizadas pelo indivíduo para interpretar os
eventos ambientais (LIPP, 2003). De acordo com Lazarus e Folkman (1984), as condições
ambientais do indivíduo podem embasar as diferenças nas avaliações cognitivas.
Adicionalmente, características de personalidade podem ser fontes internas de estresse
altamente significativas, determinando como cada indivíduo reage a eventos da vida.
Margis et. al. (2003) complementam explicando que diferentes situações estressoras
ocorrem ao longo dos anos, e as respostas a elas variam entre os indivíduos na sua forma de
apresentação, podendo ocorrer manifestações psicopatológicas diversas como sintomas
inespecíficos de depressão ou ansiedade, ou transtornos psiquiátricos definidos.
Em meio à evolução dos estudos sobre estresse no trabalho, surgiram estudos sobre a
síndrome de burnout, expressão inglesa utilizada por pesquisadores para justificar o estresse
crônico associado ao trabalho. Burnout, em seu sentido literal, significa “combustão
35 completa”, “queimar completamente”, “queimar até o fim”. As pesquisas sobre estresse
associam burnout ao meio ambiente de trabalho, enfocando a freqüência, intensidade,
características, exposição prolongada aos estressores e ao processo crônico do estresse,
levando o sujeito à exaustão física e psíquica.
Maslach (2008) descreve que o burnout no trabalho é uma síndrome psicológica que
envolve uma reação prolongada aos estressores interpessoais crônicos. As três dimensões
desta reação são uma exaustão avassaladora, sensações de ceticismo e desligamento do
trabalho, uma sensação de ineficácia e falta de realização. Esta definição é uma descrição
mais ampla do modelo multidimensional que foi predominante no campo do burnout.
A dimensão da exaustão representa o componente básico individual do estresse no
burnout. Refere-se às sensações de estar além dos limites e exaurido de recursos físicos e
emocionais. As principais fontes desta exaustão são a sobrecarga de trabalho e o conflito
pessoal no trabalho (ROSSI; PERREWÉ; SAUTER, 2008).
Como já foi explicitado, o burnout é uma reação cumulativa a estressores
ocupacionais crônicos. Pode se manifestar através de insatisfação com o emprego, baixo
comprometimento, absenteísmo, intenção de sair do emprego e rotatividade. O burnout
também tem sido associado à depressão (ROSSI; PERREWÉ; SAUTER, 2008).
. De acordo com Kleinman (2003), o burnout pode atingir diferentes profissões, em
qualquer faixa etária, mas as profissões que exigem um intenso contato interpessoal são as
que mais apresentam altos índices de burnout e, entre elas, encontram-se as profissões
assistenciais.
Inicialmente, o burnout surgiu de ocupações assistenciais, como por exemplo, a saúde,
assistência social, sistema judiciário e ensino, as quais têm em comum as relações
interpessoais, que exigem um nível intenso de contato pessoal e emocional, resultando em
relações estressantes (ROSSI; PERREWÉ; SAUTER, 2008).
36 Ainda que o termo burnout não esteja tão disseminado e popularizado quanto o
estresse, é necessário que seja considerado como um problema internacional, não sendo
privilégio de uma específica realidade social, educacional ou cultural. É uma síndrome que
vem acometendo os trabalhadores desde o fim do século passado e continua neste novo
milênio. É preciso compreender que as transformações no mundo do trabalho implicaram
também mudanças nas relações sociais e de trabalho, afetando o bem-estar físico e mental dos
trabalhadores e dos grupos sociais dos quais fazem parte (MUROFUSE; ABRANCHES;
NAPOLEÃO, 2005).
Portanto, a importância das relações interpessoais e do contexto social para o burnout
sugere que ele pode ser relevante a outras esferas da vida. O conceito de burnout vem sendo
aplicado à família para analisar a relação entre pais e filhos e a relação entre membros de um
casal (ROSSI; PERREWÉ; SAUTER, 2008).
Na linha de raciocínio de discutir estresse, estressores e burnout, torna-se necessário
estudar não somente o que leva os trabalhadores a desenvolverem o estresse, mas também
como estes trabalhadores lidam, ou seja, quais as suas formas de enfrentamento mediante
estas situações. Neste sentido, nas pesquisas sobre estresse, tem sido empregado o termo
coping, de origem anglo-saxônica, que foi traduzido para a língua portuguesa correspondendo
às seguintes expressões: “formas de lidar com” ou “estratégias de confronto”.
Uma vez submetido ao estresse, o organismo visa sua proteção, preparando-o para o
enfretamento ou fuga da situação ameaçadora. Freqüência cardíaca, freqüência respiratória,
concentração de glicose no sangue e quantidade de energia armazenada como gordura, sofrem
alterações em um organismo sob estresse, devendo retornar aos limites da normalidade
quando cessarem os estímulos (MACEDO et. al., 2007).
Para Margis et al. (2003), a resposta ao estresse depende, em grande parte, da forma
como o indivíduo filtra e processa a informação e sua avaliação sobre as situações ou
37 estímulos a serem considerados como relevantes, agradáveis, aterrorizantes, etc. Esta
avaliação determina o modo de responder diante da situação estressora e a forma como o
mesmo será afetado pelo estresse.
McConnel (1982) complementa relatando que as estratégias para prevenção do
estresse e do burnout devem ser realizadas tanto pela instituição de trabalho quanto pelo
próprio trabalhador. Segundo as idéias desta autora, cada trabalhador, como parte da
instituição, é responsável pela prevenção do estresse em si próprio.
Lazarus e Folkman (1984) explicam que qualquer empenho em se lidar com
um estressor é uma resposta de coping, independente do sucesso ou fracasso que se tenha
obtido. Para estes autores, existem dois tipos principais de estratégias, os quais equivalem às
duas grandes funções do coping: coping centrado no problema e coping centrado na emoção.
O coping centrado na emoção representa esforços no sentido de regular o estado
emocional em episódios estressantes, quando se é exposto aos estressores ou quando se
responde a eles com elevada magnitude. Tem por objetivo modificar situações emocionais
momentâneas por meio de medidas que atinjam a área somática, havendo possibilidade de
redução do estado de estresse. Por outro lado, o coping centrado no problema visa à direção
dos esforços no sentido de mudar a situação que deu origem ao estresse, de solucionar o
problema, alterando a relação do indivíduo com o ambiente, objetivando modificar as
contingências responsáveis por gerar tensão (LIPP, 2003).
O contexto social e o ambiente exercem efeitos nos mecanismos de resposta de
coping. Para Lipp (2003), o indivíduo que se percebe incapaz de agir sobre o estressor,
provavelmente lançará mão de estratégias compatíveis com sua incapacidade. Estas
incapacidades seriam inclusas no coping centrado na emoção, enquanto o coping centrado no
problema teria a preferência dos indivíduos que se percebem capazes de razoável grau de
controle sobre os eventos estressores. Aproximando o que foi relatado para a enfermagem,
38 pode-se afirmar que a experiência profissional exerce um papel fundamental nas formas de
enfrentamento do estresse.
Além disto, a mesma autora descreve que há também diferenciações de
comportamento nos mecanismos de resposta de coping entre gêneros, as quais sofrem
influências culturais. Exercer controle é mais provável em homens do que em mulheres e,
portanto, o coping centrado no problema é menos freqüente entre as mulheres, provavelmente
porque elas não disponham ou não identifiquem as devidas “respostas-solução” ou de
condições para emiti-las tanto quanto os homens. Partindo deste pressuposto, o coping
centrado na emoção, tendo como base de fortalecimento a sensibilidade, associa-se mais às
mulheres.
2.2 - O Trabalho da Enfermagem na Unidade de Hemodiálise
A unidade de hemodiálise tem peculiaridades que a torna comparável com os demais
setores fechados do hospital (terapia intensiva, centro cirúrgico), por se caracterizar como um
setor especializado, onde a atenção minuciosa é extremamente necessária frente à
complexidade do tratamento dialítico.
O objetivo principal desta unidade é a de oferecer ao paciente um tratamento
substitutivo renal, neste caso, a hemodiálise, a fim de que este apresente uma melhor
sobrevida, visto que necessitará do tratamento por período indeterminado. Os pacientes
caracterizam-se por apresentarem doenças crônicas, como o diabetes mellitus (DM) e a
hipertensão arterial sistêmica (HAS), como causas determinantes da insuficiência renal
crônica. Os dados do censo de 2008 da SBN confirmam este pressuposto quando demonstram
que a HAS representou 35,8% das patologias de base e a DM, 25,7%.
Tal fato demonstra a complexidade advinda com a doença renal, pois além das
conseqüências das doenças de base, há ainda aquelas relacionadas com o fato do rim não estar
39 mais desempenhando seu papel adequadamente. Entre estas comorbidades, podemos citar a
anemia, osteodistrofia, disfunção sexual, hiperparatireoidismo secundário, distúrbios
endócrinos, entre outras.
Para tanto, a equipe de enfermagem necessita estar atenta a todo e qualquer indício de
complicações nestes pacientes, orientando-os continuamente, pois a prevenção destas
complicações é determinante para a melhor qualidade de vida dos mesmos. Estas orientações
perpassam a questão dos pacientes serem renais crônicos, tem de haver uma preocupação
maior pelo fato de também serem diabéticos e hipertensos, por exemplo. Para isso, a equipe
multidisciplinar deve estar atualizada, presente e integrada para oferecer uma assistência
adequada e humanizada.
Neste contexto, conclui-se que a equipe multidisciplinar é considerada o ponto chave
do trabalho na HD, pois o paciente renal é acometido por problemas biopsicossociais
importantes, como por exemplo, o fato de não conseguir mais retornar ao seu emprego ou ser
impossibilitado de ingerir determinado alimento. O trabalho em equipe tem o objetivo de
acolher o paciente e assisti-lo em todas as suas necessidades.
Existe uma legislação própria que rege o trabalho da equipe de saúde na HD, assim
como toda a estrutura física da unidade, que é a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 154,
de 15 de junho de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004).
Nesta RDC, preconiza-se que a equipe de saúde seja, pelo menos, assim organizada:
dois médicos (um médico para cada trinta e cinco pacientes); dois enfermeiros (um para cada
trinta e cinco pacientes); um assistente social; um psicólogo; um nutricionista; e um técnico
ou auxiliar de enfermagem para cada quatro pacientes. Salienta, inclusive, que todos os
membros da equipe devam permanecer no ambiente de realização da diálise durante o período
de duração do turno, com a finalidade de oferecer acompanhamento destes pacientes o mais
próximo possível.
40 Para atuar nesta unidade, o enfermeiro, assim como o médico, deve ser capacitado na
especialidade de nefrologia, com comprovação por declaração ou certificado reconhecido pela
Sociedade Brasileira de Enfermagem em Nefrologia (SOBEN) ou, no caso de título de
especialista, poderá ser obtido através da especialização em Nefrologia reconhecido pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou pela SOBEN. Caso haja enfermeiro em processo
de capacitação, este deve ser supervisionado por um enfermeiro especialista em nefrologia
(ANVISA, 2004).
Quanto à estrutura física da unidade, cabe ressaltar a presença obrigatória de uma sala
de tratamento de água tratada, planejada e destinada exclusivamente para o suprimento da sala
de hemodiálise. A água proveniente da rede pública é filtrada em várias etapas, até obter-se
uma água mais purificada, livre de turvação, com um parâmetro aceitável de cloro livre no
valor superior a 0,5 mg/l, ausência de coliformes fecais em 100 ml, entre outros parâmetros.
Para este objetivo, a água deve ser rigorosamente coletada para fins de análise físico-química
e microbiológica. (ANVISA, 2004)
O enfermeiro também atua na supervisão da manutenção da oferta de água tratada,
atentando para os alarmes que podem significar o suprimento inadequado de água ou defeito
em algumas das etapas de filtração da água, acarretando a interrupção do tratamento de
hemodiálise.
O processo de trabalho dentro da unidade se inicia com a chegada de um novo
paciente, o qual geralmente chega carreado de incertezas, inseguranças, medos e
desconhecimento sobre a doença renal e o tratamento em si. Tratando-se de um paciente
lúcido e possibilitado de comunicar-se ou até mesmo, comunicando-se através de um familiar
ou acompanhante, deve ser encaminhado à consulta de enfermagem para uma primeira
aproximação com o amplo mundo da doença renal crônica e suas particularidades.
41 Neste instante, o enfermeiro ajuda o paciente a compreender o que é a doença renal, os
possíveis tratamentos substitutivos renais e as reais possibilidades dele poder inclusive
escolher qual o melhor tratamento para si. Tal escolha deve ser decidida em conjunto com a
equipe multidisciplinar, contemplando aspectos clínicos, psíquicos e sócio-econômicos do
paciente (SCHOR, 2002). A RDC 154/04 corrobora com o autor quando relata que o paciente
deve ser informado sobre as diferentes alternativas de tratamento, seus benefícios e riscos, lhe
garantido a livre escolha do método, respeitando as contra-indicações. Assim como a escolha
e a indicação do tipo de tratamento dialítico a que será submetido cada paciente, devem ser
efetuadas ponderando-se o seu estado de saúde e o benefício terapêutico pretendido, em
relação ao risco inerente a cada opção terapêutica.
O familiar ou acompanhante também deve receber atenção especial neste momento
quanto ao esclarecimento da proibição da presença deles na sala de diálise, visando a
prevenção de infecções e também qualquer situação de desgaste emocional devido ao
desconhecimento do tratamento, uma vez que a visualização do processo de HD muitas vezes
pode acarretar estranhamento devido à visualização do sangue presente nas linhas de diálise.
Isto, por vezes, pode representar fatores de tensão física e emocional por parte do enfermeiro
pela dificuldade de relacionamento interpessoal.
As alterações e as comorbidades advindas da doença renal também devem ser
abordadas pelo enfermeiro, orientando no que tange à administração de medicações orais e
subcutâneas, importantes para evitar o surgimento ou agravamento de complicações como a
anemia e a osteodistrofia. São realizados também os primeiros encaminhamentos aos demais
membros da equipe de saúde (assistente social, nutricionista e psicólogo), e também para a
vacinação de hepatite B, indispensável aos pacientes que realizam diálise devido ao alto risco
de contaminação.
42 O acesso venoso também deve ser explorado nesta consulta, pois por ser o meio pelo
qual o paciente realiza o tratamento de HD, tem um significado próximo ao da “vida do
paciente”, visto que sem o acesso venoso não há hemodiálise. Neste sentido, o enfermeiro tem
que estar suficientemente capacitado para repassar ao paciente a responsabilidade que este
terá como tratamento, enfatizando que a participação do mesmo é primordial na manutenção e
preservação do acesso. A orientação tem que atingir o objetivo de fazer com que o paciente
entenda a importância da sua participação no cuidado com sua fístula arteriovenosa ou catéter
de dupla luz, evitando danos e prevenindo complicações.
As intercorrências que podem surgir durante o tratamento hemodialítico, citado por
Daugirdas (2003) como sendo, em ordem decrescente de freqüência, hipotensão, cãimbras,
náuseas, vômitos, cefaléia, precordialgia, prurido, febre e calafrios devem, por sua vez, ser
informadas ao paciente e familiar ou acompanhante. E o enfermeiro vai trabalhar esta questão
no sentido de orientar o paciente a auxiliar a equipe de enfermagem na detecção destas
intercorrências, quando possível verbalizando o que está sentindo, ou com gestos para chamar
a atenção mais rapidamente do membro da equipe que estiver próximo a ele.
Logicamente que a enfermagem deve monitorar os pacientes constantemente,
principalmente os que estão iniciando a terapia, pois são mais freqüentemente acometidos por
intercorrências inter-dialíticas, inclusive pelas menos freqüentes, como as reações anafiláticas,
infarto agudo do miocárdio, arritmias, hemólise e embolismo.
Concomitantemente à consulta de enfermagem, o médico realiza a prescrição do
paciente com base em avaliação prévia do mesmo, informando o tempo de HD e a
ultrafiltração, ou seja, a quantidade de peso que será extraído do paciente. O auxiliar ou
técnico de enfermagem realiza a higienização da máquina de HD, com solução asséptica,
monta o material do paciente, e somente então inicia o funcionamento da mesma, observando
o autoteste e se o seu funcionamento está correto. Deve haver especial atenção aos alarmes,
43 pois podem demonstrar tanto que a máquina está adequada e pronta para uso, como também
pode informar que está com defeito ou funcionando precariamente.
Cabe aqui ressaltar a importância de que todas as máquinas de HD devam apresentar
funcionamento e desempenho que resultem na eficiência e eficácia do tratamento e na
minimização dos riscos para os pacientes e para os operadores que são, neste contexto, os
trabalhadores de enfermagem. Devem também existir máquinas reservas em número
suficiente para assegurar a continuidade do atendimento, o qual deve estar pronto para o uso
ou efetivamente em programa de manutenção (ANVISA, 2004).
O enfermeiro deve ser completamente atento a todos os problemas que podem ocorrer
dentro de uma unidade de HD, supervisionando o funcionamento correto das máquinas, a
presença de máquina para substituição de alguma outra danificada e também comunicando-se
com a equipe de manutenção para que esteja presente e atuante no momento que for preciso.
Além disso, o suprimento de energia elétrica deve ser garantido continuamente, pois as
máquinas são dependentes desta condição. Portanto, a unidade deve ser minuciosamente
organizada, visando oferecer o mínimo de risco ao paciente.
As máquinas utilizadas para o tratamento de HD são produzidas por diversos
fabricantes e, como todo equipamento, sofrem alterações e modernizações ao longo dos anos
em prol de oferecer o melhor tratamento ao paciente e facilitar o trabalho da equipe de saúde.
Portanto, a equipe de enfermagem necessita atualizar-se constantemente, visando o domínio
no manuseio e entendimento destas máquinas, reduzindo os erros de manipulação e danos aos
pacientes, inclusive o risco de morte.
Concluída a consulta de enfermagem, o paciente seguirá para a sala de HD com o
objetivo de ser instalado na máquina. Este processo deve ser realizado pelo auxiliar ou técnico
de enfermagem, o qual se responsabiliza pelo peso e aferição de pressão arterial pré-diálise e
acomodação do mesmo numa poltrona. Imediatamente antes da instalação do paciente, o
44 técnico ou auxiliar testa o material do paciente quanto à presença ou não de solução
esterilizante, o resultado deve ser negativo. A negatividade do esterilizante dar-se-á pela
ausência de coloração após a administração de solução de iodeto de potássio no material.
Caso o paciente tenha fístula arteriovenosa, deve ser o enfermeiro o responsável pela
punção, pois pelo fato de se tratar de um acesso novo, pode ocasionar mais facilmente a
formação de hematoma e, conseqüentemente, levar a um funcionamento irregular ou até
mesmo perda do acesso. Portanto, a atenção e concentração neste momento são singulares, e
necessita-se estabelecer interação com o paciente, transmitindo-lhe confiança e explicando o
procedimento que será realizado.
Quando o acesso venoso é um cateter de dupla luz, o auxiliar ou técnico de
enfermagem torna-se o responsável pela instalação do paciente. O uso de máscara, óculos de
proteção ou viseira, capote, touca e luvas são obrigatórios tendo em vista a presença do risco
de contaminação pela manipulação de fluidos orgânicos, além do risco iminente de infecção
do paciente.
O enfermeiro tem a responsabilidade na realização do curativo do cateter de dupla luz,
a cada dia de diálise, antes da realização da mesma, visando à inspeção do local de inserção
quanto à presença de sinais flogísticos. Além disto, deve orientar continuamente o paciente
quanto aos cuidados nos dias de intervalos da hemodiálise, salientando para a importância de
não deixá-lo úmido e de não deitar-se sobre o catéter.
Após a instalação, o acompanhamento é contínuo, com aferições de pressão arterial,
no mínimo, de hora em hora, aferição de glicemia quando se tratar de pacientes diabéticos,
coleta de exames para sorologias (hepatites B e C e anti-HIV) e atenção quanto às
intercorrências, as quais podem aparecer a qualquer instante.
Cabe ressaltar que a parada cardiorrespiratória também é uma possível intercorrência,
ou até mesmo conseqüência de uma outra, o que reafirma a condição de vigília permanente
45 dos trabalhadores de enfermagem. A unidade deve dispor de materiais de atendimento de
emergências médicas, no próprio local ou em áreas contíguas e de fácil acesso, e em plenas
condições de funcionamento. Dentre estes materiais destacamos o eletrocardiógrafo,
desfibrilador, monitor cardíaco, medicações, aspirador, ponto de oxigênio e material completo
para entubação (tubos, cânulas, guias, laringoscópio e lâminas). (ANVISA, 2004). Cabe ao
enfermeiro da unidade a responsabilidade da previsão, provisão e manutenção destes
materiais em pleno funcionamento.
Este monitoramento constante pela equipe de enfermagem inclui não só a aferição de
sinais vitais e a avaliação de sintomas informados pelos pacientes, mas também a observação
aguçada quanto à presença de sinais como sudorese, edema no membro da fístula
arteriovenosa, perda de consciência, entre outros que podem indicar alguma intercorrência em
andamento. Nestes casos, a intervenção deve ser imediata e, portanto, demanda da equipe
agilidade, firmeza e tomada de decisão. Há ainda a responsabilidade pela administração de
medicações venosas, orais e subcutâneas, e também de hemoderivados, quando assim
solicitados por orientação médica.
Estas medicações (geralmente representadas por sulfato ferroso venoso e eritropoetina
subcutânea) são essenciais ao sucesso do tratamento substitutivo renal, pois evitam o
aparecimento de anemia, a qual advém da própria insuficiência renal crônica. A orientação
dos pacientes quanto à correta administração (após a sessão de diálise), à preservação das
medicações (a eritropoetina deve ser mantida sob refrigeração) e à importância de sua
utilização conforme prescrição médica é ímpar no sentido de oferecer um tratamento
adequado.
Após o término da HD, o auxiliar ou técnico de enfermagem desinstala o paciente da
máquina, afere pressão arterial e peso pós-diálise do mesmo e libera-o em condições
46 hemodinâmicas estáveis, orientando sobre o seu retorno. Realiza então o reprocessamento8 do
material, em salas próprias, separadas por sorologias (negativos para todas as sorologias;
positivo para hepatite B; ou positivo para hepatite C). Neste momento, o uso de EPIs como
luvas de borracha, capotes de manga longa, óculos ou viseira, máscaras para gases e botas
cano longo são essenciais para a proteção dos riscos ocupacionais presentes nesta sala, pois
associa o risco biológico pelo manuseio dos fluidos orgânicos presentes no material do
paciente com o risco químico da manipulação de substâncias químicas utilizadas para
esterilizar o material reprocessado.
Os riscos ocupacionais são constantes na unidade de HD, tanto os físicos pela
exigência de ar condicionado para o devido funcionamento das máquinas, os químicos e
biológicos citados anteriormente, e os ergonômicos pela repetitividade das ações. Os riscos
biológicos têm representatividade proporcionalmente maior, devido à exposição contínua dos
trabalhadores de enfermagem, e pode representar um estressor a partir do momento que o
funcionário permanece em constante vigília nos procedimentos no decorrer do dia de trabalho.
No âmbito dos riscos biológicos, cabe ressaltar as prevalências de hepatites B e C e de
HIV nos pacientes renais crônicos em hemodiálise no Brasil, segundo dados da SBN em
2008: 1,9%, 7,6% e 0,7%, respectivamente. Estes dados reforçam a exposição a que os
trabalhadores de enfermagem submetem-se diariamente e alertam para a necessidade do uso
de medidas de biossegurança.
Sabe-se que os acidentes ocasionados por agulhas são responsáveis por 80 a 90% das
transmissões de doenças infecciosas entre trabalhadores da saúde, e o risco de transmissão de
infecção, através de uma agulha contaminada, é de um em três para hepatite B, um em trinta
para hepatite C e um em trezentos para HIV (MARZIALE; NICHIMURA; FERREIRA apud
8
Reprocessamento em diálise: conjunto de procedimentos de limpeza, desinfecção, verificação da integridade e medição do
volume interno dos capilares, e do armazenamento dos dialisadores e das linhas arteriais e venosas (ANVISA, 2004).
47 GODFR, 2001) Não obstante, para Marziale, Nichimura e Ferreira (2004), a conseqüência da
exposição ocupacional aos patógenos transmitidos pelo sangue não está somente relacionada
às infecções pelos vírus das hepatites B e C e HIV. O próprio acidente de trabalho pode
acarretar repercussões psicossociais, levando a mudança nas relações sociais, familiares e de
trabalho. O trauma psicológico ocasionado pela demora na espera dos resultados dos exames
sorológicos, as alterações das práticas sexuais, os efeitos colaterais das drogas profiláticas e a
perda do emprego também são aspectos preocupantes.
O ritmo de trabalho também pode ser encarado como fator de estresse, pois além da
demanda de atenção e vigília quanto ao paciente e quanto à prevenção dos riscos
ocupacionais, os trabalhadores de enfermagem realizam uma carga horária intensa de
trabalho, com divisão em turnos diurnos e noturnos, dupla jornada e por vezes sem horário
determinado para realizar as refeições, lanches e descanso.
O tratamento de HD divide-se em turnos, cada um com quatro horas de duração e
mais uma hora destinada à higienização do setor, das máquinas e poltronas e arrumação dos
materiais dos pacientes nas suas máquinas respectivas. A atenção neste momento também é
necessária, pois a mudança no posicionamento do material de um paciente pode acarretar o
uso indevido em outro paciente, trazendo como conseqüência, por exemplo, a contaminação
por hepatite B ou C.
Em cada turno de diálise, e em geral são três ou quatro turnos diariamente, tudo se
repete, são vários pacientes, de sorologias negativas e positivas para hepatites B e C e HIV,
sendo recepcionados, instalados, monitorados e desinstalados da máquina, e tendo seus
materiais reprocessados. O trabalho é bastante dinâmico, exigem níveis de atenção e
responsabilidade elevados, o que pode acarretar tensão, desgaste físico e emocional aos
trabalhadores de enfermagem.
48 2.3 - O Estresse Ocupacional e a Enfermagem
A Organização Internacional do Trabalho (1986) conceitua o estresse do trabalho
como sendo um conjunto de fenômenos que se apresentam no organismo do trabalhador e
que, por este motivo, pode afetar sua saúde. Os principais fatores geradores de estresse
presentes no meio ambiente de trabalho envolvem os aspectos da organização, administração
e sistema de trabalho e da qualidade das relações humanas.
A preocupação em estabelecer a articulação entre o estresse e o trabalho data da
Revolução Industrial, e o foco centrava-se na atribuição de causas das doenças à exposição do
organismo aos agentes físicos, químicos ou biológicos. Tradicionalmente, os estudos sobre o
adoecimento no trabalho tinham como alvo principal o setor produtivo/industrial, porém,
atualmente, observam-se que investigações nessa área têm se voltado para outros profissionais
como os da saúde, entre outros (MUROFUSE; ABRANCHES; NAPOLEÃO, 2005).
Meirelles e Zeitoune (2003) corroboram com os autores (op cit., 2005), destacando
que o estresse ocupacional, o qual se defronta o trabalhador moderno, possui especial
importância, principalmente em algumas profissões como, por exemplo, a enfermagem. O
estresse ocupacional ocorre quando o ambiente de trabalho é percebido como uma ameaça ao
indivíduo, repercutindo no plano pessoal e profissional, surgindo demandas maiores do que a
sua capacidade de enfrentamento (MARTINS et. al., 2000).
Relacionando o estresse ao trabalho de enfermagem, é sabido que esta discussão
iniciou-se na década de 60, quando a enfermagem foi apontada como uma profissão
estressante (BATISTA; BIANCHI, 2006). Uma das características marcantes da profissão foi
a divisão social do trabalho, pois na maior parte das vezes, o enfermeiro é responsável pelo
gerenciamento do cuidado e da unidade e, os técnicos e auxiliares de enfermagem pelo
cuidado direto ao paciente. Desta forma, há uma cisão entre os momentos de concepção e
execução do cuidado (PEDUZZI; ANSELMI, 2002).
49 Além disso, a enfermagem foi classificada pela Health Education Authorithy como a
quarta profissão mais estressante, devido a responsabilidade pela vida das pessoas e a
proximidade com os pacientes em que o sofrimento é quase inevitável, exigindo dedicação no
desempenho de suas funções, aumentando a probabilidade de ocorrência de desgastes físicos e
psicológicos e desta forma tem sido objeto de pesquisas (DA SILVA BRITTO; PIMENTA
CARVALHO, 2004).
Autores como Shimizu e Ciampone (1999) já abordaram que a preocupação com o
sofrimento e o prazer no trabalho dos profissionais de enfermagem surgiu com
questionamentos relativos à forma como esses profissionais conseguiam suportar trabalho tão
desgastante, principalmente pela necessidade de conviverem com o sofrimento, dor e a morte
de modo tão freqüente.
Talvez haja alguma resposta no fato de que a enfermagem está ligada, desde a sua
origem, à noção de caridade e devotamento, sendo os seus primeiros executores as pessoas
ligadas à igreja, ou leigos praticando caridade. Portanto, a ideologia da profissão significa
abnegação, obediência e caridade (ELIAS; NAVARRO, 2006).
Porém, o contexto de trabalho hospitalar não oferece condições para que esta ideologia
seja contemplada. Sabe-se que o ambiente hospitalar traz consigo, pela sua própria natureza,
uma quantidade imensurável de fatores e situações estressantes, seja por parte dos pacientes
ali internados, submetidos ao estresse da internação e do desconhecimento sobre o seu
tratamento, seja pelos trabalhadores atuantes nos diversos setores, turnos, lidando com
pacientes basais a críticos, familiares e acompanhantes, equipes de enfermagem, chefias,
administração de recursos humanos, entre outras situações necessárias à execução de suas
atividades.
Dentre os fatores e situações possíveis de desencadear o estresse, alguns componentes
já são conhecidos como ameaçadores ao meio ambiente ocupacional do enfermeiro, entre os
50 quais o número reduzido de profissionais de enfermagem no atendimento em saúde, em
relação ao excesso de atividades que eles executam as dificuldades em delimitar os diferentes
papéis entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e a falta de reconhecimento
nítido entre o público em geral de quem é o enfermeiro (STACCIARINI; TRÓCCOLI, 2001).
Diversos autores vêm trabalhando esta temática com a equipe de enfermagem,
abordando os fatores de estresse dos profissionais que trabalham em variados setores
hospitalares. Assim sendo, Stacciarini e Tróccoli (2001) estudaram o estresse na atividade
ocupacional do enfermeiro, Meirelles e Zeitoune (2003) questionaram acerca dos fatores de
estresse da enfermagem de centro cirúrgico oncológico, Batista e Bianchi (2006) relataram o
estresse dos enfermeiros lotados em unidade de emergência, Montanholi, Tavares e Oliveira
(2006) preocuparam-se com os fatores de risco para o estresse do enfermeiro hospitalar, entre
vários outros autores.
Nesta mesma linha de pensamento, os estressores relacionados com a enfermagem e
seu trabalho classificam-se e agrupam-se em: problemas de comunicação com a equipe,
inerente à unidade, assistência prestada, interferência na vida pessoal e atuação do enfermeiro
(BIANCHI, 1999). A carga de trabalho é o estressor mais proeminente na atividade do
enfermeiro, além dos conflitos internos entre a equipe e a falta de respaldo do profissional,
sendo a indefinição do papel profissional um fator somatório aos estressores (STACCIARINI;
TRÓCCOLI, 2001).
Além destes, outros fatores, próprios da tarefa de enfermagem, são considerados
fontes de estresse, como as exigências em excesso e as diferentes opiniões entre os colegas de
trabalho (FIGUEROA et al., 2001). Existem ainda os fatores relacionados à própria instituição
de trabalho, com regimentos internos, idéias e tarefas a serem alcançadas, muitas vezes
divergentes da realidade das atividades realizadas especificamente em cada unidade.
51 No trabalho do enfermeiro, há a necessidade de memorização de um grande
contingente de informações pertinentes ao trabalho e atitudes de atenção e vigília permanente,
produzindo uma elevada exigência mental do trabalho efetuado que pode levar à fadiga
mental e ao estresse (MARZIALE, 1995).
Ademais, os profissionais de saúde, em especial a equipe de enfermagem, cuidam dos
pacientes, dos familiares, da gerência do setor e muitas vezes esquece-se de cuidar de sua
própria saúde. Neste contexto, observamos a dupla jornada de trabalho, em regime de plantão
diurno e noturno, presente na vida da maior parte destes profissionais, que de certa forma
diminui o tempo destinado ao autocuidado e ao lazer, propiciando o desgaste físico,
psicológico e o estresse.
A adoção por parte dos trabalhadores de enfermagem de outros vínculos empregatícios
é uma realidade que pode ser constatada em hospitais da rede pública e privada (MEDEIROS
et. al., 2006). Elias e Navarro (2006) complementam afirmando que a insegurança gerada pelo
desemprego faz com que os trabalhadores submetam-se a regimes e contratos de trabalho
precários. O caso específico da equipe de enfermagem, por desenvolverem atividades em
esquema de plantão, constata-se a existência de facilidade na conciliação de escalas, podendo
acumular vários empregos. Estas formas adotadas por estes trabalhadores para aumentar a
renda salarial resultam no aumento da jornada de trabalho e pode trazer conseqüências sérias
à sua saúde.
Shimizu e Ciampone (1999) afirmam que os enfermeiros, pela função que
desempenham, assumem as atividades mais complexas e que envolvem maior risco para os
pacientes, além de serem responsáveis pelas atividades desenvolvidas por toda a equipe de
enfermagem. Dessa forma, incorporam alto nível de responsabilidade, na tentativa de ter o
controle absoluto sobre o trabalho, o que muitas vezes os levam a exigir de si mesmos
atitudes sobre-humanas.
52 Rossi, Perrewé e Sauter (2008) chamam a atenção para as conseqüências do estresse
ocupacional, que pode levar a três formas de resultados: os fisiológicos como o risco
aumentado de apresentar hipertensão, insônia e sintomas psicossomáticos; os psicológicos
traduzidos pela ansiedade, frustração e atitudes negativas no trabalho; e as comportamentais
manifestadas pelo aumento do absenteísmo, uso de drogas e álcool, piora no desempenho no
trabalho e afastamento do trabalho e da família. Aproximando estas situações para o ambiente
hospitalar e o trabalho em equipe realizado pela enfermagem, conclui-se que a qualidade do
atendimento prestado seria prejudicada, com a possibilidade de danos não só aos
profissionais, mas também aos pacientes.
Seguindo esta premissa, a saúde mental dos trabalhadores de enfermagem enquanto
trabalhador sofre diversas ameaças inclusive pelo convívio com o sofrimento e morte dos
pacientes, e pelo desenvolvimento de atividades desgastantes e repulsivas. Ser enfermeiro
significa ter como agente de trabalho o homem, e, como sujeito de ação, o próprio homem. Há
uma estreita ligação entre o trabalho e o trabalhador, com a vivência direta e ininterrupta do
processo de dor, morte, sofrimento, desespero, incompreensão, irritabilidade e tantos outros
sentimentos e reações desencadeadas pelo processo de doença (BATISTA; BIANCHI, 2006).
2.4 - A Saúde do Trabalhador de Enfermagem
Como se verifica na literatura, e já mencionadas em momentos anteriores, diversas
pesquisas apontam o estresse como parte do perfil patológico dos profissionais de
enfermagem, devido às características inerentes ao seu trabalho. No contexto de trabalho da
HD não é diferente, visto que é uma unidade fechada e de características próprias. A tensão
emocional e física destes trabalhadores deve ser prevenida, na medida do possível, através de
medidas institucionais, oferecendo ambiente adequado e condições de trabalho, e através de
53 atitudes dos próprios funcionários e até mesmo o conhecimento acerca dos seus direitos
enquanto trabalhador.
Neste sentido de promoção e proteção à saúde dos trabalhadores, cabe aqui citar os
organismos internacionais – Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Organização
Mundial da Saúde (OMS) – que forneceram importante contribuição no fortalecimento da
medicina do trabalho.
A saúde ocupacional, adotada em 1950 e revisada em 1995, pela OIT e OMS,
“...deve ter por objetivo: a promoção e a manutenção do máximo grau de
bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações e
a prevenção entre os trabalhadores dos transtornos de saúde causado por
suas condições de trabalho; a proteção dos trabalhadores contra os riscos
ocupacionais resultantes de fatores adversos à saúde; a colocação e
manutenção dos trabalhadores em um ambiente de trabalho adaptado às
suas condições fisiológicas e psicológicas; e em resumo, a adaptação do
trabalho ao indivíduo e de cada indivíduo a seu trabalho”. (ICN, 1998)
A partir desta definição, é desejada que haja responsabilidades a serem cumpridas
tanto pelos dirigentes e gerentes das instituições de saúde quanto pelos empregadores, visando
o objetivo principal de bem estar e saúde dos funcionários, e de um ambiente com condições
de trabalho saudáveis, com menor exposição a riscos e com medidas de proteção eficazes.
A OIT, quando citada por Ortiz e Patiño (1991, p.87), reconhece “o papel que o
pessoal da enfermagem desempenha para a proteção e o melhoramento da saúde e bem estar
da população”, e recomenda que “se o setor público é o empregador do pessoal da
enfermagem, este deve desempenhar um papel ativo no melhoramento das condições de
emprego e de trabalho de direito pessoal”. E refere ainda que “deve ser proporcionado uma
educação e uma formação apropriadas ao exercício de sua funções e condições de trabalho,
incluídas perspectivas de carreira e remuneração capazes de atrair e reter o pessoa na
profissão”.
Torna-se ímpar que os profissionais sejam capazes não apenas de desenvolver o seu
trabalho, mas que o desenvolvam com prazer. Esta relação de trabalho e boa vontade, em
54 grande parte, apóiam-se na habilidade da instituição em integrar interesses e necessidades de
seu trabalhadores, com os da própria organização. Torna-se uma via de mão dupla, onde o
trabalhador tem o dever de satisfazer as necessidades organizacionais, mas a instituição
também se torna responsável pela satisfação das necessidades dos trabalhadores.
De uma comissão mista destes dois organismos, nasce em 1950 a definição dos
objetivos da medicina do trabalho e a Recomendação nº 112, da OIT (1959), definindo
objetivos e funções dos serviços médicos nos estabelecimentos de trabalho. Com base nesta
Recomendação, na década de 70, o governo brasileiro regulamenta a obrigatoriedade dos
serviços de segurança e medicina do trabalho, nas empresas acima de determinado porte e
grau de risco (ROCHA, RIGOTTO E BUSHINELLI, 1994).
Esse novo enfoque expressou-se nas discussões da VIII Conferência Nacional de
Saúde (CNS), na realização da I Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores, e foi
também decisivo para mudança e enfoque estabelecidos na Constituição Federal de 1988.
Contudo, anteriormente, em 1977, a OMS e a OIT reuniram-se na 61ª Conferência,
onde foram abordadas as condições de trabalho do pessoal de enfermagem. Os objetivos desta
Conferência foram garantir a qualidade de uma assistência de enfermagem adequada às
necessidades da comunidade e por ela aceita e zelar para que o pessoal de enfermagem
desfrute de condições econômicas aceitáveis e obtenha proteção social adequada, bem como
os meios para defender seus interesses.
A Conferência de Alma Ata (1978) também considerou dentre outras necessidades, a
saúde do trabalhador, quando se recomendou prioridade particular aos trabalhadores expostos
a risco. E nesse contexto, está implícito o trabalhador de saúde, particularmente os
profissionais de enfermagem de unidades críticas como a hemodiálise.
A mudança de atitude dos trabalhadores de saúde e das políticas de saúde mediante a
tomada de consciência dos possíveis riscos foi uma das estratégias propostas para reduzir os
55 riscos ocupacionais nos serviços de saúde, no Fórum sobre a Força de Trabalho, celebrado em
Washington (ICN, 1998).
De acordo com o presidente do Conselho Internacional de Enfermagem (ICN, 1998),
“É paradoxo que os hospitais que se ocupam do bem estar mental e físico
dos pacientes tenham feito tão pouco caso por seu próprio pessoal no
campo. No setor saúde tem a miúdos ambientes físicos e emocionais mal
elaborados e inadequados, e com freqüência se copiam de um país para
outro”.
As atividades de saúde no trabalho englobam três objetivos (ICN, 1998):
• A manutenção e a promoção da saúde dos trabalhadores e sua capacidade;
• O melhoramento do meio ambiente de trabalho a fim de garantir a saúde e segurança
no trabalho; e
• A elaboração de sistema de organização do trabalho e culturas laborais com vistas a
fomentar a segurança e a saúde no trabalho e promover assim um clima social positivo
e incrementar a produtividade das empresas.
A preocupação com o meio ambiente de trabalho e com a promoção e prevenção da
saúde vem sendo abordada há algum tempo. Neste contexto, a Primeira Conferência
Internacional sobre Promoção de Saúde foi realizada em Ottawa, em 1986, como resposta às
crescentes expectativas por uma nova saúde pública. Nesta Conferência, as discussões
focalizaram principalmente as necessidades em saúde nos países industrializados, embora
tenha levado em conta as necessidades semelhantes de outras regiões do mundo.
Segundo a Carta de Ottawa (1986),
“promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde,
incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir
um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e
modificar favoravelmente o meio ambiente”.
56 A Carta de Ottawa firmou, em âmbito mundial, compromissos com a saúde,
enfatizando a necessidade de que as pessoas, o governo, as organizações não-governamentais,
as organizações voluntárias, os governos, a Organização Mundial de Saúde e demais
organismos interessados deveriam juntar esforços na introdução e implementação de
estratégias para a promoção da saúde, de acordo com valores morais e sociais, e afirmou que
seria uma realidade a “Saúde para Todos no Ano 2000”.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, definiu a saúde como o “direito de
todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. Os artigos 196 ao 200 atribuem ao
Sistema Único de Saúde (SUS) as ações de saúde do trabalhador, por meio de políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, além de serviços
e ações que possam promover, proteger e recuperar a saúde.
Dando continuidade ao descrito anteriormente, estão incluídas no campo de atuação
do SUS (artigo 200), nos distintos níveis: a execução de ações de saúde do trabalhador; a
colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. O artigo 7
inclui como direito dos trabalhadores a “[...] redução dos riscos inerentes ao trabalho, por
meio de normas de saúde, higiene e segurança”. E o artigo 22 define como prerrogativa
exclusiva da União legislar sobre o Direito do Trabalho e a obrigação de organizar, manter e
executar a inspeção do trabalho.
A Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990 confirmou alguns preceitos já abordados na
Constituição Federal de 1988. Esta Lei dispõe acerca das “condições para a implantação,
proteção e recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências”. Em seu artigo 2, refere que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
57 pleno exercício. Afirma, inclusive, que a saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, entre outros, o meio ambiente e o trabalho.
Nesta perspectiva, tem-se então o novo paradigma da saúde do trabalhador em que
presa a promoção da saúde em detrimento das ações curativas que foram norteadas na
medicina do trabalho. Logo, ter no ambiente de trabalho propostas que visem à saúde e não a
doença é o foco que deve ter as ações voltadas para a saúde do trabalhador.
Sabe-se que o hospital representa para a enfermagem o principal meio ambiente de
trabalho, o qual deveria apresentar características que objetivassem a promoção da saúde dos
trabalhadores que ali exercem suas atividades, porém a realidade ainda não reflete estes
objetivos.
Desde 2005, os trabalhadores da área da saúde podem contar com uma legislação
específica para a sua proteção e segurança nos ambientes de trabalho de estabelecimentos de
saúde, a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32). Até então, existiam normatizações dispersas
em outras NRs, as quais não foram delineadas especificamente para a realidade do trabalhador
da área da saúde.
A NR-32 intitula-se Segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, foi
aprovada pela Portaria nº 484, de 11 de novembro de 2005, tem como finalidade estabelecer
as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores
dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência
à saúde em geral. Ainda não temos uma fiscalização efetiva, por parte do MTE, para que as
adequações necessárias sejam realmente realizadas em prol dos trabalhadores.
Gomez e Lacaz (2005) sugerem os possíveis fatores da dificuldade de implementação
de uma política nacional de saúde do trabalhador no país: deficiências históricas na efetivação
de políticas públicas e sociais no país; baixa cobertura do sistema de proteção social; e
fragmentação do sistema de seguridade social concebido na Constituição de 1988.
58 Jackson Filho (2008) relata que apesar de a saúde dos trabalhadores de saúde ser um
tema de extrema relevância, ainda não despertou de forma significativa os olhares dos
principais indivíduos sociais envolvidos e muito menos das diversas instâncias de gestão dos
serviços. Os trabalhadores da saúde, em especial os da enfermagem, continuam à margem
desta situação, convivendo com péssimas condições de trabalho, caracterizadas pelos baixos
salários, ambiente insalubre, exposição a riscos ambientais, dupla jornada, entre outras.
59 CAPÍTULO III
MATERIAL E MÉTODOS
Este capítulo destina-se aos procedimentos metodológicos da presente pesquisa, sendo
assim estruturado: tipo de estudo; local do estudo; sujeitos do estudo; aspectos éticos;
instrumento e coleta de dados; e tratamento dos dados e análise dos resultados.
3.1 – Tipo de estudo
O estudo caracteriza-se por ser do tipo exploratório, com abordagem quantiqualitativa. Para Minayo e Sanches (1993), ambas as abordagens, quantitativa e qualitativa,
são necessárias, porém, em muitas circunstâncias, insuficientes para abarcar toda a realidade
observada. Portanto, elas podem e devem ser utilizadas, em tais circunstâncias, como
complementares, sempre que o planejamento da investigação esteja em conformidade.
Estes mesmos autores finalizam afirmando que um bom método será sempre aquele,
que permitindo uma construção correta dos dados, ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria.
Portanto, além de apropriado ao objeto da investigação e de oferecer elementos teóricos para a
análise, o método tem que ser operacionalmente exeqüível (op cit., 1993).
3.2 - Local do Estudo
O local da pesquisa foi a unidade de hemodiálise do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho (HUCFF), localizado no município do Rio de Janeiro. Trata-se de um
hospital de grande porte, universitário, de referência no tratamento de doenças raras dentro do
Estado do Rio de Janeiro, e também a nível nacional. A unidade de HD está localizada no
sétimo andar do referido hospital, e integra o setor de Nefrologia, juntamente com as unidades
de Transplante Renal e Diálise Peritoneal.
60 Mais especificamente, a unidade de HD tem capacidade de atender, atualmente, 10
pacientes por turno de diálise, sendo nas 24 horas de atendimento, um total de 40 pacientes. O
funcionamento é de 24 horas, por turnos (plantões diurno e noturno) e também recebe
pacientes de emergência dialítica a qualquer hora do dia ou da noite.
A unidade recebe pacientes provenientes de internações dos demais setores do
hospital, como clínica médica e emergência, e também dos ambulatórios. Todos realizam suas
sessões de HD, em torno de quatro horas de duração, e retornam ao setor de origem.
A unidade de HD está subdividida nas salas branca, amarela e azul. Na sala branca
dialisam os pacientes que são negativos para sorologias para hepatite C (HCV) e hepatite B
(HBsAg). Porém, nesta sala também dialisam pacientes portadores do vírus da
imunodeficiência humana (HIV). Na sala amarela dialisam apenas pacientes portadores de
hepatite B (HBsAg positivo). E na sala azul dialisam apenas os portadores de hepatite C
(HCV positivo). Atualmente, a sala amarela encontra-se desativada por problemas na sua
estrutura física.
A sala branca é subdividida em três boxes, interligados, porém desde a inauguração da
unidade, apenas dois estão em funcionamento, devido à falta de quantitativo de máquinas e de
recursos humanos. Todos os boxes ativados têm o seu próprio posto de enfermagem, munido
dos materiais adequados ao andamento do tratamento dialítico, além de computador, cadeiras,
televisão e balança para aferição do peso pré e pós diálise. Nesta sala, há uma sala de
reprocessamento dos materiais dos pacientes que nela dialisam, com exceção dos pacientes
com sorologia positiva para HIV, os quais têm o seu material descartado a cada diálise.
Na sala branca, há também uma sala para estoque de materiais utilizados diariamente
na HD, como os banhos de diálise, soro fisiológico, capilares, linhas arteriais e venosas, luvas,
máscaras, entre outros. Imediatamente antes da entrada da sala branca, encontram-se as salas
da Chefia de Enfermagem da Diálise, sala de realização de curativo de cateter de dupla luz e
61 um expurgo. Ainda na sala branca, há materiais de atendimento às urgências e emergências
médicas, como o desfibrilador, carrinho de parada cardiorrespiratória, medicamentos, AMBU
com máscara, cabo e lâminas de entubação, tubos orotraqueais, oximetria de pulso, entre
outros.
A sala azul, destinada à diálise dos pacientes HCV positivos, contém um pequeno
balcão e armários onde se armazenam os materiais necessários ao tratamento de HD, além de
carrinho de curativo, balança antropométrica, televisão, cadeiras e computador. Há uma
pequena sala para reprocessamento dos materiais destes pacientes e um pequeno expurgo. Há,
também, uma pequena maleta com materiais de atendimentos às urgências e emergências
médicas, com quantidades proporcionalmente menores aos localizados na sala branca.
No que tange às máquinas de HD, na unidade referida tem-se um quantitativo total de
14 máquinas, assim distribuídas: 08 na sala branca (04 em cada box), 02 na sala azul, 01
destinada à diálise de pacientes internados nos setores de terapia intensiva, e 03 máquinas
reservas. Destas máquinas reservas, atualmente 02 estão em pleno funcionamento e 01 segue
aguardando peças. Vale aqui ressaltar que a manutenção técnica é realizada por serviço
terceirizado.
Em geral, o setor de HD possui iluminação artificial e natural, ambas adequadas. A
ventilação é realizada por uso contínuo de ar condicionado em todas as salas descritas
anteriormente. O piso, apesar de antiderrapante, é irregular, inclusive já provocou acidentes
em alguns funcionários. O ruído está presente, devido principalmente aos alarmes constantes
apresentados nas máquinas de HD. Estes alarmes ocorrem quando a máquina é ligada, durante
a realização dos testes das máquinas, quando indicam o início e término da HD e quando há
algum problema técnico.
Em relação aos recursos humanos, trabalham na unidade 48 profissionais de
enfermagem, entre concursados e terceirizados, tanto enfermeiros quanto auxiliares e técnicos
62 de enfermagem. Cabe ressaltar que o serviço diurno é provido de maior número de auxiliares
e técnicos (sete em cada equipe, aproximadamente), além da presença de estagiários de nível
técnico e superior de enfermagem. O serviço noturno possui apenas cinco em cada equipe,
aproximadamente, e não conta com a presença de estagiários, apesar da realidade do número
de pacientes atendidos nos dois plantões ser aproximadamente o mesmo, o que acarreta
sobrecarga aos trabalhadores do serviço noturno.
A carga horária da unidade é de 12x60 horas, o serviço diurno inicia suas atividades
das 07h00min às 19h00min, quando o serviço noturno dá continuidade ao andamento do
serviço. Os trabalhadores terceirizados complementam sua carga horária com mais cinco
plantões de 12 horas. Existe uma enfermeira Chefe de Sessão, responsável por todo o setor de
Nefrologia e uma enfermeira Chefe de Setor, a qual é responsável diretamente pela unidade
de HD, ambas são diaristas, trabalham de segunda à sexta, das 07h00min às 16h00min.
O enfermeiro líder de plantão é responsável, no serviço diurno, pelas salas branca e
azul, pois há também uma enfermeira responsável pela unidade de diálise peritoneal, além das
enfermeiras que compõem a Chefia. Já no serviço noturno, o enfermeiro torna-se responsável
também pela unidade de diálise peritoneal, pois esta unidade contempla enfermeiro apenas no
serviço diurno.
A equipe de auxiliares e técnicos é dividida em atividades pré-estabelecidas pela
chefia da unidade: sala branca, sala azul, diálise peritoneal, reuso e diálise externa. De forma
detalhada, em geral, fica 01 técnico/auxiliar de enfermagem responsável pelas diálises
externas, 01 no reuso, 01 na diálise peritoneal, 01 na sala azul e os demais distribuídos na sala
branca, onde a proporção de atividades é maior.
O tratamento de HD na unidade é realizado por turnos, sendo um total de quatro
turnos por dia, assim organizado: 1º turno: 06h30min às 10h30min; 2º turno: 11h30min às
15h30min; 3º turno: 16h30min às 20h30min; e 4º turno: 21h30min às 01h30min. Os pacientes
63 recebem suporte nutricional, pré e pós-diálise, de café da manhã, almoço, lanche e jantar. Na
prática, esses horários nem sempre são seguidos, pois diariamente ocorrem problemas de
cunho administrativo, como atraso no horário das refeições dos pacientes, assim como atraso
no horário de chegada dos pacientes e problemas de máquinas com defeito, o que acaba por
afetar o horário de início e término dos turnos.
Teoricamente, os dois primeiros turnos são destinados aos pacientes que já receberam
alta hospitalar, estão em suas residências e, portanto, após a diálise retornam para as suas
casas. Estes pacientes estão aguardando vagas em clínicas satélites ou resolução de
pendências de documentos e exames, para então serem transferidos definitivamente. E o
terceiro turno seria o destinado aos pacientes internados que dialisariam na unidade e depois
retornariam às unidades de internação do hospital. Porém, há cerca de aproximadamente dois
anos, observou-se o surgimento do quarto turno devido à grande quantidade de pacientes
renais crônicos em necessidade de diálise.
Desta forma, houve uma reconfiguração na organização dos turnos para receber todos
estes pacientes. Atualmente, os três primeiros turnos compõem-se de pacientes que dialisam e
retornam às suas residências, e o quarto turno está misto, com pacientes internados e também
aqueles que já receberam alta hospitalar, dialisam e retornam para suas casas, assim como os
demais pacientes dos outros turnos.
Cabe enfatizar que os horários do 3º e 4º turnos trazem muitas dificuldades sociais aos
pacientes, quanto ao transporte de volta às residências, fazendo com que muitos dependam de
acompanhantes e transportes privados (táxis). Com o objetivo de oferecer alguma solução,
tendo em vista o aparecimento contínuo de pacientes dialisando nestes últimos turnos e a
dificuldade social apontada por eles, as Chefias de enfermagem e médica decidiram por ceder
uma sala do setor, denominada Recuperação Pós-diálise, que até então estava desativada, para
os pacientes pernoitarem e seguirem para suas residências na manhã seguinte à HD.
64 3.3 - Sujeitos do Estudo
Os sujeitos do estudo foram compostos por trabalhadores da equipe de enfermagem
(auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros), concursados e terceirizados, atuantes na
unidade de hemodiálise do HUCFF. Do total de 48 trabalhadores de enfermagem da unidade
estudada, 01 encontrava-se de licença maternidade, 02 de férias anuais, 04 trabalhadores não
foram encontrados na unidade no momento da coleta, e 01 é autora deste estudo, tendo assim
um total de 40 sujeitos que responderam ao questionário e à entrevista semi-estruturada.
As tabelas 1 e 2, a seguir, representam em números absolutos e relativos, a
caracterização dos sujeitos deste estudo:
TABELA 1
Características dos sujeitos do estudo com relação aos aspectos
pessoais e profissionais (n=40)
Indicadores
Idade
Sexo
Categoria Profissional
Cargo ocupado no HUCFF
Tempo de formação profissional
Tempo de serviço no HUCFF
Tempo de serviço na HD do HUCFF
Tempo de experiência em HD
Turno de trabalho
Carga horária semanal
Vínculo empregatício
Possui outro emprego
Respostas
ƒ
%
20-40
Acima de 40
Feminino
Masculino
Auxiliar de enfermagem
Técnico de enfermagem
Enfermeiro especialista Nefrologia
Enfermeiro não especialista Nefrologia
Auxiliar
Técnico
Enfermeiro
Até 10 anos
Acima de 10 anos
Até 10 anos
Acima de 10 anos
Até 10 anos
Acima de 10 anos
Até 10 anos
Acima de 10 anos
Diarista
Plantão diurno
Plantão noturno
32 horas
40 horas
Terceirizado
Servidor Público
Sim
Não
23
17
36
04
07
27
04
02
14
20
06
27
13
37
03
37
03
35
05
01
22
17
29
11
11
29
23
17
57,5
42,5
90
10
17,5
67,5
10
5
35
50
15
67,5
32,5
92,5
7,5
92,5
7,5
87,5
12,5
2,5
55
42,5
72,5
27,5
27,5
72,5
57,5
42,5
65 Através dos dados da Tabela 1, nota-se que os trabalhadores de enfermagem da HD
encontram-se numa faixa etária de 20-40 anos (57,5%), porém é também digna de nota a
presença de trabalhadores na faixa etária acima de 40 anos (42,5%). Quanto ao gênero, 90%
dos trabalhadores são do sexo feminino. Entre as categorias profissionais, o maior
quantitativo é de técnicos de enfermagem (50%), e há na unidade 03 (7,5%) enfermeiros
especialistas em nefrologia. Quanto ao tempo de formação profissional, a maioria se enquadra
na faixa de até 10 anos (67,5%). No que tange ao trabalho no HUCFF, destaca-se que a
maioria (92,5%) trabalha no hospital há menos de 10 anos.
Em relação ao trabalho na unidade de hemodiálise do HUCFF, 92,5% estão exercendo
suas atividades há menos de 10 anos, seguidos por apenas 7,5% que trabalham na unidade há
mais de 10 anos. Cerca de 87,5% têm até 10 anos de experiência em HD, e outros 12,5%
trabalham nesta especialidade há mais de 10 anos.
Os trabalhadores da unidade dividem-se entre concursados (72,5%) e terceirizados
(27,5%), e a carga horária se diferencia de acordo com esta divisão, pois os concursados
trabalham 32 horas/semana (72,5%), contra 40 horas/semana (27,5%) dos terceirizados. Cerca
de 55% trabalham no serviço diurno, e 42,5% no plantão noturno. Do total de trabalhadores,
entre auxiliares, técnicos e enfermeiros, 60% têm outro vínculo empregatício.
TABELA 2
Características dos sujeitos do estudo com relação aos aspectos
relacionados à saúde do trabalhador (n= 40)
Indicadores
Sofreu algum acidente de trabalho
Com afastamento do trabalho
Diagnóstico de doença relacionada ao trabalho
Com afastamento do trabalho
Afastamento do trabalho por outros motivos
Respostas
ƒ
%
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
15
25
02
13
10
30
06
04
26
14
37,5
62,5
13,4
86,4
25
75
60
40
65
35
66 A Tabela 2 mostra que a menor parte dos trabalhadores de enfermagem (37,5%) já
sofreram acidentes de trabalho no HUCFF, 10% obtiveram diagnósticos de doenças
relacionadas ao trabalho. Já em relação a afastamentos do trabalho por outros motivos,
observou-se que 26 trabalhadores (65%) já faltaram ao trabalho por motivos diversos, como
por processos infecciosos (30,8%), doenças dos filhos e/ou cônjuge (27%), entre outros. 3.4 – Aspectos Éticos
Todos os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Apêndice A), atestando a sua participação na pesquisa. Não houve nenhum custo para os
sujeitos e foi garantido e mantido o anonimato dos mesmos através do uso das letras ENF,
TEC e AUX, para caracterizar a categoria profissional, seguida da numeração de acordo com
a seqüência em que foram coletados os dados, conforme preconiza a Resolução de número
196, de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de pesquisas
envolvendo seres humanos, e que relatam que “o respeito devido à dignidade humana exige
que toda pesquisa se processe através de consentimento livre e esclarecido dos sujeitos,
indivíduos ou grupos que por si e/ou representantes legais manifestem a sua anuência na
pesquisa”.
O presente projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do
hospital em estudo, analisado e devidamente autorizado sob o Protocolo de Pesquisa nº
230/08. Foi também encaminhada à Chefia de Enfermagem do Hospital a solicitação de
autorização para realização da pesquisa (Apêndice B).
Com a conclusão do estudo, os resultados serão divulgados em periódicos científicos,
em formato de artigo, bem como em eventos como congressos, simpósios, encontros, entre
outros, e também divulgação para os participantes desta pesquisa.
67 3.5 – Instrumento e Coleta de Dados
A coleta de dados foi realizada no período de junho a agosto de 2009, pela própria
autora do estudo e foi utilizado um instrumento para obtenção dos dados, composto por um
questionário (Inventário de Estresse em Enfermeiros - IEE) e por um roteiro de entrevista
semi-estruturada.
Inventário de Estresse em Enfermeiros - IEE
O IEE (Apêndice C), que atendeu ao primeiro objetivo, é uma escala do tipo Likert,
auto-preenchível, de autoria de dois autores, sendo uma enfermeira, Jeanne Stacciarini, e um
psicólogo, Bartholomeu Tróccoli. (STACCIARINI; TRÓCCOLI, 2000)
A validação do instrumento ocorreu em 2000, a partir de dados de uma amostra de 461
enfermeiros funcionários do serviço público de diferentes instituições no Distrito Federal –
Brasília, em cargos ocupacionais diversos e de diferentes turnos de trabalho. Segundo os
autores, a análise fatorial foi utilizada como forma de validar o instrumento, reduzindo os
itens a um conjunto menor de fatores para utilizá-los como medida de estresse ocupacional
em enfermeiros. (STACCIARINI; TRÓCCOLI, 2000)
O Inventário de Estresse em Enfermeiros contém 38 itens, boa consistência interna,
com o alfa de Cronbach igual a 0.89 e, além do fator global que fornece a medida geral do
estresse ocupacional do enfermeiro.
A estrutura fatorial do IEE dispõe de três fatores de primeira ordem - Relações
Interpessoais (alfa de Cronbach 0.90), Papéis Estressores da Carreira (alfa de Cronbach
0,82) e Fatores Intrínsecos ao Trabalho (alfa de Cronbach 0,79) - e um de segunda ordem
composto dos três primeiros. Os três fatores estão fortemente correlacionados entre si e ao
fator global. Esse fator global é a somatória dos três fatores, fornecendo uma medida geral
sobre o estresse ocupacional do enfermeiro. (STACCIARINI; TRÓCCOLI, 2000)
68 Para a utilização deste instrumento, foi solicitada aos autores a autorização para tal, a
qual foi devidamente atendida. Entretanto, devido aos sujeitos desta pesquisa não serem
somente enfermeiros, os autores do IEE orientaram a acrescentar a alternativa “não se aplica”
na gradação das respostas da escala likert.
Entrevista semi-estruturada
Com vistas a atender ao segundo, terceiro e quarto objetivos deste estudo, foi realizada
uma entrevista semi-estruturada (Apêndice D), a qual é descrita por Gauthier et. al. (1998)
como estruturada a partir de uma ordem pré-estabelecida pelo entrevistador, contendo não
apenas questões fechadas e diretas, mas também inclui um número pequeno de perguntas
abertas.
Este tipo de entrevista foi selecionado com a finalidade de o entrevistador poder se
utilizar de alguma liberdade durante as entrevistas, além dos entrevistados poderem oferecer
informações não somente através de respostas, mas também através de conversações e
descrições.
Minayo (2004) complementa ainda que a entrevista é um recurso bem empregado na
pesquisa qualitativa, pois além de se adequar a essa abordagem, possibilita maior interação
entre o pesquisador e o sujeito participante da pesquisa, revelando as representações
internalizadas que expressam a sociedade.
As entrevistas foram todas gravadas digitalmente em formato MP3 e os dados foram
transcritos na íntegra, mantendo o anonimato dos entrevistados. Estes dados permanecerão em
poder da pesquisadora por cinco anos e posterior a este prazo, o material impresso será
incinerado.
A coleta de dados foi realizada mediante contato prévio com os sujeitos e
agendamento do dia e horário da realização da entrevista. Todos os sujeitos preferiram
69 contribuir com os dados desta pesquisa no mesmo dia em que estavam de plantão na unidade,
justificando que desta forma, não haveria custos de transporte adicionais.
Alguns sujeitos optaram por responder tanto o questionário quanto a entrevista na hora
anterior ao início do plantão, enquanto outros solicitaram que os dados fossem coletados após
o plantão e até mesmo durante o horário das refeições. Estas opções foram atendidas,
respeitando individualmente a vontade de cada sujeito em sentir-se mais confortável para
contribuir com esta pesquisa.
Resumindo, a coleta de dados ocorreu de acordo com o fluxo a seguir:
1. Abordagem inicial sobre a pesquisa e instrumentos utilizados;
2. Apresentação do TCLE e posterior assinatura do sujeito;
3. Coleta dos dados do instrumento composto por: Aspectos pessoais e profissionais,
Aspectos relacionados à saúde do trabalhador, Inventário de Estresse em Enfermeiros e
Entrevista semi-estruturada;
4. Agradecimento pela participação no estudo.
Como dificuldades encontradas podem ser consideradas a extensão do instrumento de
coleta de dados, pois alguns sujeitos relataram demandar muito tempo para preenchimento de
todos os dados e ainda ter de responder às três perguntas da entrevista semi-estruturada.
Nestas situações, houve o cuidado em explicar cuidadosamente a importância da participação
dos mesmos para a realização do estudo, principalmente quanto às considerações que poderão
ser realizadas junto à própria unidade ao término da pesquisa.
Além disso, ocorreram situações em que as coletas não foram realizadas no dia e
horário agendados, devido a problemas pessoais com os sujeitos do estudo, como atrasos e
faltas. Nestes casos, houve o re-agendamento da coleta, com posterior realização.
70 E como possível viés desta pesquisa pode-se citar a possibilidade dos sujeitos terem
sido influenciados pelo fato de inicialmente terem preenchido o Inventário de Estresse em
Enfermeiros e, em seguida, terem realizado a Entrevista semi-estruturada.
3.4 - Tratamento dos Dados e Análise dos Resultados
O tratamento dos dados seguiu, na linha quantitativa, a utilização de estatística
descritiva, através da apresentação dos resultados obtidos em tabelas com freqüências
absolutas e relativas, com auxílio dos bancos de dados EPI-Info versão 3.3.2 e SPSS versão
13.0 para Windows. Os dados foram alocados no EPI-Info e, em seguida, foram transferidos
para o SPSS com a finalidade de análise dos mesmos.
O EPI-Info foi utilizado apenas na criação do banco de dados, com posterior entrada
dos dados coletados. O SPSS auxiliou na descrição das estatísticas, assim como na divisão
dos escores de estresse do IEE em dois grupos. Cabe ressaltar que os autores do IEE não
definiram o ponto de corte do escore de estresse, sendo assim, neste estudo considerou-se a
divisão do escore geral pela mediana. Portanto, a mediana foi o ponto de corte para definir os
níveis de estresse em baixo e alto.
Para a obtenção do estresse global (escore total), o SPSS considerou os valores
especificados no IEE – nunca (1); raramente (2); algumas vezes (3); muitas vezes (4); e
sempre (5). O item ‘não se aplica’ foi considerado como missing para que não contabilizasse
nenhum valor no estresse global.
O SPSS também possibilitou analisar a média do escore de estresse do grupo
estudado, a partir das respostas dos mesmos ao IEE. Para calcular a média, ou seja, o valor
médio de distribuição do estresse dos trabalhadores da equipe de enfermagem, o SPSS levou
em consideração a soma de todos os escores e a divisão desta soma pelo número de sujeitos
da amostra. A idéia do uso da média neste estudo foi devido à possibilidade de comparação de
71 resultados junto a outro estudo de estresse em enfermagem, no qual as autoras utilizaram
apenas a média como resultados obtidos.
Apesar de não ser objetivo deste estudo, com a ajuda do SPSS também foi possível a
associação entre os níveis de estresse (baixo e alto) e as características pessoais, profissionais
e relacionadas à saúde dos trabalhadores da equipe de enfermagem. Para tornar possíveis estas
associações e também com a finalidade de uniformizar os resultados, foi necessário
dicotomizar os intervalos das variáveis ‘idade, faixa etária, tempo de formação profissional,
tempo de experiência em HD, tempo de serviço no HUCFF e tempo de serviço no setor de
HD do HUCFF’ a partir da mediana de cada uma delas. Além da necessidade de dicotomizar
estas variáveis, foi também necessário modificar a apresentação de outras variáveis como, por
exemplo, o cargo ocupado pelos trabalhadores, que foi agrupado em ‘auxiliares e técnicos de
enfermagem’ e ‘enfermeiros’. Já em relação à carga horária, não foi considerada, a nível de
associação, a resposta ‘diarista’, visto que apenas um sujeito apresentou esta característica.
O teste utilizado para confirmar ou não a relevância estatística foi o Teste Exato de
Fischer, a partir da significância de p (< 0,05), o qual foi possível fazer pelo SPSS, no
momento da realização das associações.
O Teste exato de Fischer foi escolhido devido ao número reduzido de sujeitos deste
estudo, caracterizado por ser uma amostra pequena. Este Teste fornece diretamente o valor de
p, ao compararmos proporções, demonstrando a presença ou não de relevância estatística.
O tratamento dos dados qualitativos foi realizada pela própria autora, utilizando-se da
análise temática, uma técnica de análise de conteúdo. Bardin apud Minayo (2004) define
análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de comunicação visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção
destas mensagens.
72 Segundo Minayo (2004), a noção de tema está ligada a uma afirmação a respeito de
determinado assunto. Ela comporta um feixe de relações e pode ser graficamente representada
através de uma palavra, uma frase, um resumo.
A análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma
comunicação cuja presença ou freqüência signifiquem alguma coisa para o objetivo visado
(MINAYO, 2004).
De acordo com Bardin (1977) “a categorização é uma atividade de classificação de
conjunto de elementos diferenciados segundo características simbólicas intrínsecas ou
extrínsecas, podendo ser definidas através de analogias genéricas, em aspectos mais concretos
e mais abstratos.” Para este autor, não é apenas uma generalização, mas uma nova leitura da
realidade com o máximo de objetividade.
A partir da leitura exaustiva das transcrições das entrevistas e análise temática das
mesmas, os dados foram devidamente agrupados de acordo com núcleos de semelhanças
significativas encontradas nas falas dos sujeitos deste estudo. Destes emergiram 03 (três)
categorias, a saber:
1ª Categoria : Fatores facilitadores para a prevenção do estresse
2ª Categoria: Fatores impeditivos para a prevenção do estresse
3ª Categoria: Os fatores estressores e a influência na saúde dos trabalhadores de enfermagem
Assim sendo, tanto os resultados quantitativos como os qualitativos foram discutidos e
analisados à luz do referencial teórico e bibliográfico proposto neste estudo.
73 CAPÍTULO IV
APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Este capítulo tem o propósito de apresentar os resultados com vistas aos objetivos do
estudo e está assim estruturado: 4.1 O estresse da equipe de enfermagem da unidade de
hemodiálise; 4.2 Fatores facilitadores para a prevenção do estresse na unidade de hemodiálise;
4.3 Fatores impeditivos da prevenção do estresse na unidade de hemodiálise; e 4.4 As
implicações do estresse na saúde do trabalhador da unidade de hemodiálise.
4.1 O estresse da equipe de enfermagem da unidade de hemodiálise
Ao analisar os dados quantitativos obtidos a partir do Inventário de Estresse em
Enfermeiros, devidamente adaptado à equipe de enfermagem da unidade estudada, observouse a distribuição dos escores da escala em diferentes níveis, previamente definidos, conforme
a metodologia aplicada nesta pesquisa. Estes dados responderam ao primeiro e segundo
objetivos propostos neste estudo, intitulados “identificar os níveis de estresse dos
trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de HD” e “descrever, na percepção dos
trabalhadores da equipe de enfermagem, os estressores a que estão submetidos na unidade de
HD”.
Os dados do IEE apresentaram boa consistência interna, com alpha de Cronbach de
0,83; 0,75; e 0,8 para os fatores “Relações Interpessoais”, “Papéis Estressores da Carreira” e
“Fatores Intrínsecos ao Trabalho”, respectivamente.
O escore global de estresse encontrado na amostra estudada variou entre o valor
mínimo de 69 e o valor máximo de 140. Logo, a média do grupo foi 106,6 e a mediana, 108,5.
A partir da mediana como ponto de corte, conforme mencionado na metodologia,
dicotomizamos o escore global, resultando em dois níveis de estresse: baixo e alto. A Tabela
74 3, a seguir, mostra estes níveis de estresse da equipe de enfermagem, segundo os fatores de
estresse estabelecidos pelo IEE:
TABELA 3
Estresse Global da Equipe de Enfermagem da Hemodiálise
Nível de Estresse
ƒ
%
Baixo (69 a 108,5)
20
50
Alto (maior que 108,5)
20
50
Média: 106,6
Mediana: 108,5
Os resultados apresentados na Tabela 3 mostram a distribuição igualitária dos
trabalhadores da equipe de enfermagem entre os níveis baixo e alto para estresse, o que
ocorreu devido à divisão a partir da mediana. A finalidade inicial de utilizar a mediana deu-se
para obtermos um ponto de corte entre o baixo e o alto estresse para futuras comparações com
outros estudos da temática estudada, visto que os autores do IEE (STACCIARINI;
TROCCÓLI, 2000) não enfatizaram tal valor em seus achados científicos. Além disto, a
divisão em níveis de estresse possibilitou a associação com as variáveis relacionadas às
características sociais e à saúde dos trabalhadores da equipe de enfermagem, como será
discutido mais adiante.
Alguns autores como Lipp (1998; 2003) e Silva (2005) chamam de bom estresse ou
eustresse o estresse devido a desafios positivos que promovem e até mesmo resultam em
crescimento e realização pessoal. Portanto, este estresse seria uma conseqüência do próprio
ato de viver. Pode-se então dizer que o indivíduo necessita de um nível adequado de estresse
para o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Lipp (1998) ressalta que “se o
estresse for bem compreendido e controlado, pode, até certo ponto, ser bom, pois prepara o
organismo para lidar com situações difíceis da vida.”
75 A idéia do caráter exclusivamente negativo do estresse foi abandonada quando Selye
(1956) afirmou que o estresse não se origina apenas como resposta a uma ameaça ou agente
agressor, mas também pode resultar de situações agradáveis, saudáveis e necessárias, como
uma promoção no emprego, casamento ou nascimento de um filho.
Aos trabalhadores que tendem a apresentar um baixo nível de estresse, pode-se inferir
que estão com energia suficiente e adequada para o desempenho de suas atividades. Em
contrapartida, os trabalhadores de enfermagem que se encontram altamente estressados
merecem uma atenção especial. Inicialmente porque aqueles que se encontram no nível alto
de estresse podem oscilar, a curto ou a longo prazo, para o nível baixo ou para o nível ainda
mais alarmante de estresse, o burn-out. Esta oscilação vai depender tanto das características
pessoais do indivíduo, em relação ao modo como enfrenta o estresse, mas também das
condições de exposição aos estressores, considerando a magnitude do estressor e o tempo em
contato com os mesmos. (LIPP, 1998)
Diferentes pessoas podem reagir a um mesmo estressor de maneira diferente, ou seja,
a capacidade de lidar com os eventos estressores podem variar conforme a herança genética,
estilo de vida, estratégias de enfrentamento utilizadas pelo indivíduo, bem como a experiência
adquirira durante a vida. (LIPP, 1998; MURTA; TRÓCCOLI, 2004)
Os trabalhadores que se encontram num alto nível de estresse devem receber um
acompanhamento para identificação das situações geradoras de estresse no âmbito do trabalho
e a possibilidade de criação de estratégias para minimizar os estressores ou até mesmo
removê-los do contexto ocupacional. Para Guerrer e Bianchi (2008), a instituição hospitalar,
assim como a enfermagem, deve reconhecer os estressores que estão presentes no trabalho e
procurar mecanismos e estratégias de enfrentamento individual e em grupo para diminuir a
ocorrência de estresse ocupacional.
76 Miquelim et. al. (2004) reitera informando que é de suma importância para a saúde
física e psicológica dos profissionais de enfermagem, que os mesmo saibam identificar as
manifestações do processo de estresse de maneira individual e que aprendam a detectar os
estressores que desencadeiam este processo, pois desta forma poderão utilizar mecanismos de
enfrentamento eficientes para a adaptação ao estressor e, conseqüentemente interromper a
evolução do processo de estresse.
Caso não haja intervenção incisiva nestes indivíduos, os mesmos podem chegar às
fases críticas do estresse, onde não haverá mais possibilidade de retorno a níveis mais leves de
estresse e controle do mesmo. Além disso, no contexto organizacional, a presença de
trabalhadores estressados na equipe pode provocar o desenvolvimento das atividades com
ineficiência, comunicação deficitária, desorganização do trabalho, insatisfação, diminuição da
produtividade, o que acarretará conseqüências aos cuidados prestados na assistência de
enfermagem. (CAMELO; ANGERAMI, 2004)
Cabe enfatizar que a síndrome de burn out desenvolve-se em profissionais que, pela
natureza do trabalho desenvolvido, têm contato direto e constante com outras pessoas. Os
profissionais da área da saúde enquadram-se perfeitamente nestas características, em razão de
possuírem uma filosofia humanística em seu trabalho e, constantemente, vêem-se compelidos
a adaptar-se ao sistema de saúde, geralmente desumanizado e despersonalizado.
(FILGUEIRAS; HIPPERT, 2002)
Freudenberger (2000) descreve o burn out como uma síndrome que promove a
depleção da energia em profissionais, associadas às condições de trabalho. Trata-se de uma
condição e pode surgir a qualquer momento, raramente é aguda. De acordo com este autor (op
cit, 2000), o profissional da área de saúde acometido por burn out geralmente tende a se
tornar insensível ao problema da doença do paciente, com sentimentos dominados por
problemas induzidos pela dedicação excessiva e prolongada a uma causa.
77 A Tabela 3 também permite verificar, além dos níveis de estresse, a média do estresse
do grupo estudado, neste caso, a equipe de enfermagem da unidade de hemodiálise. A média
encontrada foi 106,6. As autoras Da Silva Brito e Pimenta Carvalho (2004) utilizaram o
mesmo questionário (Inventário de Estresse em Enfermeiros) numa pesquisa com enfermeiros
de unidades de terapia intensiva e de nefrologia, incluindo unidade de transplante renal e
hemodiálise, e encontraram a média do grupo no valor de 112,9.
Nota-se que houve uma discreta diferença entre as médias encontradas, estando o
grupo desta pesquisa com a média (106,6) pouco abaixo daquela encontrada numa abordagem
anterior (112,9). Isto reflete que os profissionais da unidade de hemodiálise, da presente
pesquisa, encontram-se menos estressados quando comparados ao grupo estudado por Da
Silva Brito e Pimenta Carvalho.
Entretanto, deve-se considerar que não há como realizar uma comparação direta entre
as duas pesquisas, visto que o IEE foi adaptado à equipe de enfermagem da unidade de
hemodiálise, conforme explicado na metodologia. Já a pesquisa das autoras (op cit, 2004) foi
realizada sem adaptações e tendo como sujeitos somente enfermeiros.
Apesar disto, esperava-se encontrar, no atual estudo, uma média acima da encontrada
no estudo anterior, visto que teve-se como maior parte dos sujeitos auxiliares e técnicos de
enfermagem (85%), e uma minoria de enfermeiros (15%). Esta expectativa girou em torno de
estudos sobre estresse na enfermagem que mostram que, devido às atribuições da assistência
de enfermagem direta ao paciente exercido pelos auxiliares e técnicos de enfermagem, estes
estariam potencialmente mais estressados.
Na pesquisa realizada por Miquelim et. al. (2004), abordando o estresse em
profissionais de enfermagem de unidade de HIV-Aids, encontrou-se diferença estatística
significante entre o estresse nos auxiliares de enfermagem e enfermeiros. Para os autores (op
cit, 2004), os auxiliares de enfermagem da sua amostra apresentaram um percentual de
78 estresse mais alto do que os enfermeiros. Do total de enfermeiros, 30% foram classificados
como estressados. Entre os auxiliares de enfermagem, 48,5% apresentavam-se com estresse.
Concluíram, então, que a incidência de estresse entre os auxiliares de enfermagem do estudo é
maior do que a dos enfermeiros.
Os dados podem ser explicados levando-se em conta as atividades desenvolvidas pelos
profissionais da enfermagem, ou seja, apesar de todas as responsabilidades frente aos
pacientes, equipe e unidade de trabalho, não é o enfermeiro quem presta assistência direta ao
paciente. Os auxiliares e técnicos de enfermagem são os profissionais que dedicam a maior
parte do seu tempo de trabalho no cuidado aos pacientes. As tarefas realizadas por estes
profissionais são mais intensas, repetitivas e social e financeiramente menos valorizadas.
(ELIAS; NAVARRO, 2006)
A partir das questões explicitadas, constata-se que o estresse ocupacional está presente
na enfermagem, pelas características próprias da profissão, de lidar com pessoas, com dor,
morte e sofrimento, baixa remuneração, além de conviver com dificuldades de recursos
materiais e humanos necessários para a assistência de enfermagem.
Esta situação deve ser estudada com bastante cautela, visto que estes profissionais
representam a maioria dos trabalhadores de muitas instituições de saúde, e necessitam ser
amparados e acompanhados de perto pelo serviço de saúde do trabalhador da instituição,
visando a melhoria nas condições de trabalho, assim como a fiscalização da legislação já
existente no que concerne aos direitos e deveres dos trabalhadores e da instituição.
Entretanto, apesar dos diversos estudos que mencionam a equipe de auxiliares e
técnicos como o grupo que apresenta maior nível de estresse, devido principalmente às
características das atividades por eles exercidas, esta pesquisa demonstra que na unidade
estudada a média de estresse foi inferior à encontrada em estudo similar, apesar do grupo
estudo ser formado por toda a equipe de enfermagem. Tal fato nos leva a inferir que o
79 quantitativo de auxiliares e técnicos contribuiu para a diminuição no escore do estresse, e que
estes trabalhadores provavelmente possuem características próprias favoráveis ao
gerenciamento do estresse dentro da unidade de hemodiálise.
Outras pesquisas que abordaram o estresse, como a realizada por Guerrer e Bianchi
(2008), discutiram o estresse em enfermeiros de unidade de terapia intensiva, e identificaram,
a partir da Escala Bianchi de Stress, que 39,9% da amostra encontravam-se com baixo nível
de estresse; 36,5% com médio nível de estresse e 23,6% em alerta para alto nível de estresse.
Em outra pesquisa utilizando o mesmo instrumento, Batista e Bianchi (2006) também
relataram em seus resultados que todos os enfermeiros da sua pesquisa apresentaram nível
médio de estresse.
Ferrareze, Ferreira e Carvalho (2006) utilizaram o Inventário de Sintomas de Stress
para Adultos de Lipp (ISSL) em enfermeiros e identificaram que 66,7% da sua amostra
apresentavam estresse, isto é, número elevado de sintomas físicos e psicológicos que os
classificaram como estressados, supondo que há ocorrência de desgaste de energia maior do
que a reposição e que o organismo encontra-se em desequilíbrio.
Numa outra abordagem, Montanholi, Tavares e Oliveira (2006) verificaram que 52%
da população estudada (enfermeiros da área hospitalar) foi classificada como estressada a
partir da utilização de uma escala Lauter de estresse no local de trabalho. Estas autoras
também calcularam os níveis de estresse a partir da mediana do escore global de estresse.
Em pesquisa que discutiu o estresse do enfermeiro, Costa, Lima e Almeida (2003)
concluíram que 30,9% encontravam-se na fase de resistência e 7,1%, na fase de exaustão.
Esta pesquisa considerou as fases da Síndrome de Adaptação Geral proposta por Selye
(1956). A fase de resistência aparece se houver a persistência do estressor e a compatível
adaptação. Por outro lado, a fase de exaustão indica que não houve adaptação ao estressor,
80 levando o indivíduo à quebra da homeostase interna e conseqüente aparecimento de doenças
decorrentes de intenso desgaste.
Os auxiliares e técnicos de enfermagem, assim como os enfermeiros, também são
alvos constantes de pesquisas que avaliam o estresse ocupacional da profissão. Avellar,
Iglesias e Valverde (2007), em seu estudo qualitativo sobre o sofrimento psíquico de
auxiliares e técnicos de enfermagem, já apontaram a identificação da situação de grande
vulnerabilidade emocional destes profissionais de enfermagem, em vistas à sua ocupação
diária.
Quanto à identificação do estresse propriamente dito, Mangolin et. al. (2003)
estudaram esta temática e concluíram que o estresse ocupacional esteve presente em 52,5%
destes profissionais. Os mesmos autores (op cit., 2004) referiram inclusive que 45% da
amostra encontravam-se na fase de resistência da SAG, apresentando sintomas que indicaram
comprometimento psíquico e orgânico.
Assim como os trabalhadores com maiores níveis de estresse devem receber atenção e
acompanhamento, os indivíduos que se apresentaram com níveis basais de estresse também
devem receber intervenção do serviço de saúde do trabalhador da instituição com os objetivos
de promover a saúde e prevenir que tais pessoas desenvolvam níveis maiores de estresse.
Entende-se que compete à instituição auxiliar na preservação da saúde mental de seus
funcionários, estimulando-os e melhorando a satisfação e as condições de trabalho. Miquelim
et. al. (2004) complementa que há de se reconhecer que a situação é complexa, pois envolve
os funcionários, os quais necessitam ter o conhecimento pessoal sobre si mesmos e o respeito
do próprio processo de estresse; as políticas ou culturas organizacionais; e a cultura de cada
unidade. Spindola e Martins (2007) concordam que se deve valorizar a saúde mental dos
trabalhadores, especialmente os profissionais de enfermagem, que necessitam estar bem física
e mentalmente para interagirem e auxiliarem os pacientes.
81 A implementação de medidas que favoreçam a integração dos profissionais de
enfermagem, a melhoria das condições de trabalho, observando-se os aspectos ergonômicos e
a promoção da saúde do trabalhador, a atuação do serviço de saúde do trabalhador na
prevenção de doenças ocupacionais e agravos à saúde são algumas medidas que podem e
devem ser repensadas e instituídas pelas chefias da unidade estudada, para promover o bem
estar físico e mental dos profissionais, considerando que os trabalhadores de enfermagem,
como pessoas que cuidam de outras pessoas, necessitam ser percebidos como seres dotados de
sentimentos e emoções.
É preciso que se perceba que a saúde no trabalho é um direito do trabalhador.
(GOMES; LUNARDI FILHO; ERDMANN, 2006). Assim sendo, torna-se relevante a adoção
de medidas que promovam o bem estar dos trabalhadores e previnam o aparecimento de
doenças.
Apesar de não ser o foco inicial deste estudo, foram realizadas associações entre os
níveis de estresse da equipe de enfermagem (baixo e alto), a partir do estresse global
encontrado e também a partir dos fatores do IEE, em razão das variáveis das características
pessoais, profissionais e relacionadas com a saúde dos trabalhadores. De todas as associações
realizadas, não houve associação significativa (p < 0,05), porém cabe ressaltar aquelas que
apresentaram um valor de p mais baixo quando comparadas às demais, levando a inferir que
há uma relação tendenciosa ao alto estresse em determinadas circunstâncias. Estas
associações foram as relacionadas aos fatores 2 (papéis estressores da carreira) e 3 (fatores
intrínsecos ao trabalho) do IEE, nas variáveis sexo (p = 0,265), faixa etária (p = 0,102), carga
horária (p = 0,110), vínculo empregatício (p = 0,110), cargo exercido no HUCFF (p = 0,071),
tempo de formação profissional (p = 0,157), tempo de serviço no HUCFF (p = 0,50), outro
vínculo empregatício (p = 0,157) e ocorrência de acidente de trabalho no HUCFF (p = 0,107).
82 Cabe enfatizar que o foco desta análise associativa foi o alto estresse, sendo então
elaborada a Tabela 4 a partir dos resultados de outra tabela (Apêndice E) inicial, onde todos
os resultados (baixo e alto estresse) estão expostos.
TABELA 4
Associações entre Alto Estresse x Características pessoais e profissionais
Alto estresse
Variáveis
Sexo
Feminino
Masculino
Faixa Etária
< 38 anos
≥ 38 anos
Turno de trabalho
Diurno
Noturno
Carga horária
32 horas
40 horas
Vínculo
Servidor
Terceirizado
Cargo exercido
Aux + Técnicos
Enfermeiros
Tempo de formação
< 9 anos
≥ 9 anos
Tempo de serviço no HU
< 4 anos 6 meses
≥ 4 anos 6 meses
Tempo de serviço na HD do HU
< 3 anos 8 meses
≥ 3 anos 8 meses
Tempo de experiência HD
< 4 anos
≥ 4 anos
Acidente de trabalho no HU
Sim
Não
Possui outro emprego
Sim
Não
Fator 1
Fator 2
Fator 3
Relações
Interpessoais
Papéis Estressores
da Carreira
Fatores Intrínsecos
ao Trabalho
n (%)
p = 0,302
17 (47,2)
03 (75%)
p = 0,376
11 (55)
09 (45)
p = 0,76
08 (36,4)
11 (64,7)
p = 0,50
14 (48,3)
06 (54,5)
p = 0,50
14 (48,3)
06 (54,5)
p = 0,91
15 (44,1)
05 (83,3)
p = 0,262
13 (56,5)
07 (41,2)
p = 0,624
10 (50)
10 (50)
p = 0,376
11 (55)
09 (45)
p = 0,50
11 (52,4)
9 (47,4)
p = 0,55
08 (36,4)
12 (66,7)
p = 0,50
12 (52,2)
8 (47,1)
n (%)
p = 0,658
17 (47,2%)
02 (50%)
p = 0,264
11 (55)
08(40)
p = 0,588
10 (45,5)
08 (47,1)
p = 0,110
16 (55,2)
03 (27,3)
p = 0,110
16 (55,2)
03 (27,3)
p = 0,619
16 (47,1)
03 (50)
p = 0,49
14 (60,9)
05 (29,4)
p = 0,50
09 (45)
10 (50)
p = 0,50
10 (50)
09 (45)
p = 0,618
10 (47,5)
09 (47,4)
p = 0,107
11 (61,1)
08 (36,4)
p = 0,157
13 (56,5)
06 (35,3)
n (%)
p = 0,265
16 (44,4)
03 (75%)
p = 0,102
12 (60)
07 (35)
p = 0,142
08 (36,4)
10 (58,8)
p = 0,578
14 (48,3)
05 (45,5)
p = 0,578
14 (48,3)
05 (45,5)
p = 0,71
14 (41,2)
05 (83,3)
p = 0,157
13 (56,5)
06 (35,3)
p = 0,50
9 (45)
10 (50)
p = 0,50
10 (50)
09 (45)
p = 0,618
10 (47,5)
09 (47,4)
p = 0,30
12 (66,7)
07 (31,8)
p = 0,607
11 (47,8)
08 (47,1)
Estresse
Global
n (%)
p = 0,230
15 (41,7)
03 (75)
p = 0,170
11 (55)
07 (35)
p = 0,87
07 (31,8)
10 (58,8)
p = 0,377
14 (48,3)
04 (36,4)
p = 0,377
14 (48,3)
04 (36,4)
p = 0,238
14 (41,2)
04 (66,7)
p = 0,83
13 (56,5)
05 (29,4)
p = 0,624
9 (45)
9 (45)
p = 0,376
10 (50)
08 (40)
p = 0,488
10 (47,6)
08 (42,1)
p = 0,14
12 (66,7)
06 (27,3)
p = 0,538
10 (43,5)
08 (47,1)
A partir da Tabela 4, observamos uma tendência ao alto estresse dos trabalhadores do
sexo masculino quando comparados ao sexo feminino, especialmente nos itens que compõem
83 os Fatores 1 e 3 do IEE. Os profissionais da enfermagem são majoritariamente do sexo
feminino, o que não foi diferente nesta pesquisa (90%). Segundo Spindola e Santos (2003), as
profissionais de enfermagem convivem com a dinâmica das organizações no desenvolvimento
de suas atividades, ao mesmo tempo em que gerenciam suas vidas como pessoas, esposas e
mães. Para os autores (op cit., 2003), esta situação pode vir a gerar estresse.
Foi já dito anteriormente que a associação das variáveis não foi objetivo do estudo,
contudo optou-se por fazer este exercício no intuito de compreender o fenômeno apresentado
pelos sujeitos do estudo. Assim sendo, serão necessários estudos futuros com cunho
investigativo voltado para esta questão do estresse versus acidentes de trabalho, mas também
para as demais variáveis explicitadas neste estudo, buscando maiores esclarecimentos sobre as
possíveis associações envolvidas neste contexto.
4.2 Fatores facilitadores para a prevenção do estresse
Com vistas a atender aos demais objetivos do estudo e a complementar os dados
quantitativos discutidos anteriormente, buscou-se conhecer, a partir da percepção dos
trabalhadores de enfermagem, os fatores que poderiam auxiliá-los na prevenção do estresse no
cotidiano do trabalho na unidade de hemodiálise, ou seja, aqueles fatores vistos como
“positivos” no seu trabalho e que, por este motivo, ajudam a lidar com o estresse presente no
contexto da HD. A Tabela 5 mostra os dados qualitativos em freqüências absolutas e em
percentuais, demonstrando quantitativamente os dados obtidos através da entrevista semiestruturada:
84 Tabela 5
Fatores Facilitadores à prevenção do estresse
ƒ
%
Relacionamento interpessoal (equipe de enfermagem)
32
80
Relacionamento interpessoal (pacientes)
09
22,5
Relacionamento interpessoal (chefia de enfermagem)
07
17,5
Relacionamento interpessoal (equipe multiprofissional)
04
10
Estrutura física
05
12,5
Recursos materiais
02
4
Rotina de enfermagem
02
4
Carga horária
01
2,5
Salário
01
2,5
Falta de conhecimento sobre a especialidade
01
2,5
Fatores Facilitadores
*Esta tabela permitiu mais de uma resposta por sujeito.
Através dos dados descritos na Tabela 5 observa-se que o fator facilitador mais
abordado nas entrevistas foi o relacionamento interpessoal, sendo este mais incidente entre os
membros da equipe de enfermagem (80%), seguido pela relação favorável entre os
profissionais de enfermagem e os pacientes, com a chefia e com a equipe multiprofissional,
como pode-se visualizar nas falas seguintes:
“Com toda a certeza o que ajuda aqui é a cooperação dos colegas [...]”
(AUX 1)
“O companheirismo dos colegas de trabalho”. (TEC 5)
“O primeiro ponto positivo aqui no setor de hemodiálise é a equipe. Boa
parte dela, 60 a 70% é muito boa para trabalhar, acaba funcionando até
como um alívio no estresse, uma conversa, uma reuniãozinha que o pessoal
faz ajuda a aliviar o estresse do ambiente, que é pesado [...]. (AUX 16)
“O companheirismo dos colegas de trabalho, o trabalho em equipe ajuda
muito, isso é muito importante na hora do trabalho, não adianta tentar
trabalhar sozinha, porque você não dá conta.” (TEC 28)
Diferentes resultados foram encontrados em pesquisas que abordam o estresse
ocupacional na enfermagem demonstrando que o relacionamento interpessoal é um estressor
85 sempre presente, e na maioria absoluta configura como um fator negativo, desencadeador do
estresse ocupacional da profissão.
Os conflitos internos com a própria equipe de enfermagem, acentuados pela
indefinição das atribuições de cada membro da equipe, apareceram como estressores em
pesquisa realizada por Healy e Mckay (2000). Da mesma forma, Meirelles e Zeitoune (2003),
em pesquisa com a equipe de enfermagem da área de oncologia, identificaram o
relacionamento interpessoal também como estressor, sendo inclusive considerado como fator
preocupante, tendo em vista a especialidade e o ambiente de trabalho.
Entender o relacionamento interpessoal como estressor é, até certo ponto, esperado se
pensarmos que a enfermagem é uma profissão que dedica seu tempo à interação com pessoas,
sejam pacientes, familiares ou outros profissionais, o que aumenta a probabilidade de
ocorrência de estresse por conflitos interpessoais e até mesmo desenvolvimento da síndrome
do esgotamento profissional (burn out).
Por outro lado, Elias e Navarro (2006), ao abordarem a relação entre trabalho, saúde e
condições de vida de trabalhadores de enfermagem, apontaram ambigüidades quando da
presença das relações interpessoais, ora referidas como muito boas, com um discurso de
trabalho em equipe, ora com relatos de disputas internas, rivalidades e diferenças de
tratamento.
Stacciarini e Tróccoli (2001) também relataram em sua pesquisa sobre o estresse na
atividade ocupacional do enfermeiro que, apesar da presença de conflitos interpessoais nos
enfermeiros em geral, alguns dos sujeitos do seu estudo demonstraram estar numa fase de
‘transição’, ou seja, estão iniciando uma melhora no relacionamento com os colegas de
trabalho.
Cabe aqui explicar que nas falas dos sujeitos deste estudo, também foram identificadas
ambigüidades quanto ao relacionamento interpessoal, porém este apareceu com maior
86 intensidade como fator facilitador do estresse, em comparação com o relato de ser um fator
impeditivo na prevenção do estresse. Podemos considerar, no entanto, que esta seja uma
singularidade da unidade estudada, pois não há na literatura estudos que corroborem com este
achado.
Talvez o fato da questão do relacionamento interpessoal aparecer como um fator
facilitador do estresse dentro da unidade de HD estudada possa estar relacionado por ser a
instituição um Hospital Universitário, e ter como um dos seus pilares administrativos, o
convívio com alunos, seja de nível técnico ou superior e, além disso, todos os trabalhadores
do hospital são orientados quanto à filosofia da Instituição desde o momento em que
ingressam no seu serviço. E por isso, ‘aprendem’ a conviver com trabalhadores e estudantes
em processo de formação profissional, auxiliando-os durante o trabalho. Este convívio é
permanente e, portanto, os trabalhadores adaptam-se a esta rotina institucional, o que pode
desencadear uma maior facilidade de lidar com o outro.
Esta adaptação pode ser observada pela presença da diversidade na faixa etária no
grupo que constitui a equipe de enfermagem da unidade: do total de 40 entrevistados, 15
(37,5%) tinham entre 41-50 anos; 12 (30%) estavam na faixa etária de 31-40 anos; 11 (27,5%)
tinham entre 20-30 anos e apenas 02 (5%) encontram-se na faixa etária maior que 50 anos, o
que pode talvez ser um fator agregador, de experiência e contribuir desta forma para o bom
relacionamento na equipe.
Ainda nesta mesma perspectiva, de acordo com Rocha e Glina (2000), o
relacionamento com os colegas de trabalho é um fator protetor para o estresse e o
reconhecimento profissional gera satisfação no trabalho.
Bartram, Joiner e Staton (2004), em estudo realizado com enfermeiras de hospital
privado de Melbourne, na Austrália, citam que o apoio das enfermeiras supervisoras e o bom
87 relacionamento da equipe diminuíram consideravelmente o estresse, enquanto aumentaram a
satisfação no trabalho.
Alguns entrevistados enfatizaram, inclusive, que o relacionamento entre a equipe de
enfermagem é o único fator de prevenção do estresse no contexto da unidade de HD, como se
observa a seguir:
[...]o relacionamento mesmo do pessoal da equipe de enfermagem, a
colaboração das pessoas, acho que é o único fator que facilita.” (TEC 32)
“A interação com os profissionais, somente.” (ENF 19)
“Acredito que o único ponto positivo que ajuda a lidar com o estresse é o
relacionamento interpessoal”. (AUX 34)
“Acredito que o único ponto positivo que ajuda a lidar com o estresse é o
relacionamento interpessoal. Em algumas situações, e também são alguns
colegas de trabalho, que às vezes facilita [...] mas é a única coisa.” (AUX
22)
O trabalho da equipe de enfermagem na unidade de diálise é muito dinâmico, e exige
dos trabalhadores capacidade técnica e agilidade na tomada de decisões, especialmente
durante o atendimento nas intercorrências dialíticas. O trabalho em equipe é imprescindível
para que tudo transcorra da melhor maneira possível, a participação de todos os membros da
equipe é de vital importância para a qualidade de assistência ao paciente renal crônico em
tratamento de substituição renal.
Além do mais, a HD configura uma especialidade onde a enfermagem trabalha com
uma certa autonomia, pois do seu trabalho depende o andamento do serviço, desde a chegada
do paciente, início da HD, atendimento imediato às intercorrências e término do tratamento.
Em relação aos pacientes, estes também foram citados pelos sujeitos (22,5%), quando
abordaram o relacionamento interpessoal:
[...] os pacientes, tudo, você acaba criando um vínculo com eles entendeu?
E com isso a gente consegue eliminar um pouco do estresse”. (TEC 11)
[...] o bom relacionamento que nós temos com os pacientes”. (TEC 12)
88 “E também o convívio com as pessoas, com os pacientes, você conversa,
distrai, aí alivia a gente também, porque o estresse aqui é muito grande”.
(TEC 40)
A unidade de HD caracteriza-se pelo tratamento de substituição renal, onde o paciente
é completamente dependente de uma ‘máquina’ para manter-se vivo. E esta dependência está
diretamente ligada à sua qualidade de vida, ou seja, seguir o tratamento à risca significa viver
bem e melhor. Isto quer dizer, indiretamente, que o papel da equipe de enfermagem é também
fundamental nas orientações dos pacientes e na realização do próprio tratamento.
O vínculo ‘equipe de enfermagem-paciente’ é muito estreito, caracterizado por um
convívio quase que diário com os mesmo pacientes, de pelo menos quatro horas de tratamento
dialítico. A equipe de enfermagem, por estar presente a maior parte do tempo com os
pacientes, conhece todas as suas particularidades relacionadas com o próprio tratamento, ou
seja, identificam rapidamente quem são os pacientes que apresentam hipotensão, hipoglicemia
e câimbras durante a HD, assim como acabam por ter um relacionamento mais próximo,
configurando algumas vezes como amizade. Cabe ressaltar que o sentimento de carinho,
compreensão e amizade tornam-se uma via de mão dupla, pois os pacientes também o sentem
pelos profissionais.
Embora essa relação seja saudável, há também um sentimento de perda muito
acentuado quando da ocorrência de agravamento de algum paciente, ou até mesmo óbito de
algum deles. Furegato e Morais (2006) ao discutirem o relacionamento interpessoal em
enfermagem, afirmam que nem sempre a relação entre o profissional e o paciente é
considerada como terapêutica, e chamam a atenção para o fato de que nem sempre os batepapos e conselhos ajudam no tratamento do paciente. O relacionamento interpessoal instituído
entre a equipe de enfermagem e o paciente deve ser terapêutico, criando condições favoráveis
que valorizem a resolução dos problemas identificados pelos profissionais e capacitando os
pacientes a agirem com consciência e favoravelmente à sua saúde.
89 Este tipo de relacionamento com o cliente pode então vir a agregar como fator antiestresse no trabalho na hemodiálise. Portanto, apesar das relações interpessoais serem
consideradas em muitas pesquisas como um fator gerador de estresse (estressor), neste estudo
pode ressaltar o contrário, que este fator está relacionado como uma válvula de escape ao
estresse diário vivenciado na unidade, agindo, assim, como atenuante e protetor de
desencadeamento do estresse e de suas conseqüências danosas ao organismo humano. Para
Kraft (2006), seja entre amigos ou na família, é fato que as relações interpessoais protegem
contra o esgotamento. Cabe aqui o pensamento de Furegato e Morais (2006), quando relatam
que a enfermagem humanizada compromete-se com o cuidado de qualidade e valoriza o
relacionamento interpessoal, e podemos dizer que reduz o estresse laboral.
Além das relações interpessoais, os sujeitos desta pesquisa relataram, através de suas
falas, que a estrutura física da unidade e até mesmo do hospital atuam de forma positiva na
prevenção do estresse ocupacional. Este fator facilitador apareceu em 12,5% das falas, e pode
ser observado nos trechos das falas seguintes:
“Eu acho que facilita pela [...] boa estrutura física do hospital.” (TEC 12)
“O ponto positivo que eu acho aqui é a estrutura física, porque tem espaço
para se trabalhar, tem distância de uma máquina pra outra. (TEC 17)
A estrutura também, a infra-estrutura, o espaço é bom, apesar de ter falhas,
o espaço é bom. (AUX 21)
A estrutura física hospitalar, geralmente é discutida de maneira mais abrangente como
ambiente hospitalar. E, curiosamente, nesta pesquisa, identificou-se que a estrutura física do
ambiente de trabalho age como um fator positivo para o gerenciamento do estresse, ao
contrário da maior parte das investigações nesta área.
Deve-se considerar que a unidade de Nefrologia do HUCFF é uma unidade
considerada ‘jovem’ dentro deste hospital, pois foi inaugurada em 15 de abril de 2005.
Particularmente, toda a estrutura física da HD foi acompanhada, desde a época da realização
do seu projeto, pela enfermeira responsável da unidade (Chefia de Enfermagem), o que
90 certamente possibilitou sua organização de acordo com as necessidades e demandas do
processo de trabalho na HD, levando-se em consideração os aspectos particulares desta
unidade. Apesar da presença constante da enfermeira durante realização do projeto e da
construção em si, ainda existem falhas, que não foram evitadas devido à falta de recursos
financeiros da instituição. Atualmente, a unidade de HD, juntamente com as unidades de
Diálise Peritoneal e Transplante Renal, ocupam o 7º andar do HUCFF.
Anteriormente a esta inauguração, a unidade de HD localizava-se no 9º andar, suas
salas eram adaptadas ao serviço e o espaço era insuficiente para a realização das atividades.
Provavelmente, há até cerca de quatro anos atrás, os profissionais de enfermagem não
mencionariam a estrutura física como ponto favorável à prevenção do estresse, e sim como
elemento impeditivo.
Ressalta-se que, apesar do ambiente físico geralmente aparecer nas investigações
sobre o estresse na enfermagem como estressor (BATISTA; BIANCHI, 2006; MIQUELIM
et. al, 2004) e inclusive vinculado à níveis de insatisfação no trabalho (MEIRELLES;
ZEITOUNE, 2003), Stacciarini e Tróccoli (2001) identificaram em alguns enfermeiros, em
relação ao estresse ocupacional, a relação do ambiente físico como elemento atenuante do
estresse, amenizando as dificuldades no contexto de trabalho.
A preocupação com o ambiente de trabalho em saúde data da Terceira Conferência
Internacional sobre Promoção da Saúde: “Ambientes Favoráveis à Saúde – Conferência de
Sundsvall”, realizada em junho de 1991. Esta Conferência faz parte na seqüência de eventos
que começaram com o compromisso da Organização Mundial da Saúde (OMS), com objetivo
de atingir as metas de Saúde Para Todos: Alma-Ata (1978) e Ottawa (1986).
A Declaração de Sundsvall obteve participantes de 81 países e conclamou a todos os
povos, nas diferentes partes do globo, a se engajarem ativamente na promoção de ambientes
mais favoráveis à saúde. Esta Conferência reconhece que todos têm um papel na criação de
91 ambientes saudáveis e promotores da saúde e que, para atingir a meta da Saúde Para Todos no
Ano 2000, o caminho deveria ser tornar o ambiente – físico, social, econômico ou político –
cada vez mais propício à saúde. Descreve ainda que
“Um ambiente favorável é de suprema importância para a saúde.
Ambientes e saúde são interdependentes e inseparáveis. Atingir estas
duas metas deve ser o objetivo central ao se estabelecer prioridades
para o desenvolvimento e devem ter precedência no gerenciamento
diário das políticas governamentais”.
Cabe aqui resgatar alguns conceitos relacionados à estrutura física hospitalar,
discutidos por Pitta (2003), quando aborda questões sobre a origem e finalidade dos hospitais
quando da sua criação, no final do século XVIII. Desde os primórdios, sabe-se que os
hospitais foram construídos com a incumbência de ‘cuidar’ de cidadãos pobres e doentes, que
se encontravam à beira da morte. Os cidadãos ‘ricos’ eram cuidados por médicos que se
deslocavam às suas residências para realizar os tratamentos de saúde.
A finalidade do hospital não era terapêutica e inclusive, não havia uma preocupação
por regras básicas de higiene, o que costumava acarretar, em seu interior, surtos epidêmicos
dizimadores. Havia um caráter caritativo das práticas hospitalares, inclusive no que tange à
mão-de-obra, constituídas por membros da Igreja ou leigos voluntariados. O advento do
capitalismo, desenvolvido em fins do século XVIII e início do século XIX, socializou a força
de trabalho e trouxe também consigo as relações capitalistas de trabalho. (PITTA, 2003)
Atualmente, não é difícil identificar algumas características ainda existentes na
estrutura hospitalar, como conseqüências do seu histórico organizacional. Observa-se
claramente a presença de condições insalubres, inadequadas e inseguras, com exposição a
riscos ocupacionais e recursos materiais e humanos insuficientes e inadequados à realidade
atual.
Somando-se ao ambiente insalubre, observa-se que o exercício profissional no âmbito
hospitalar é marcado por diversas exigências, como lidar com a dor, sofrimento, morte,
92 angústia, baixa remuneração e trabalho em turnos, fatores estes que propiciam a emergência
do estresse e do burn out.
Por outro lado, também é notável a falha na preocupação com os trabalhadores da
saúde em geral, com relação à prevenção e promoção da saúde dentro do contexto hospitalar.
Os serviços de saúde do trabalhador exercem um papel fundamental de suporte à saúde dos
profissionais da saúde, e deve estar presente e atuante, visando objetivamente à atenuação dos
riscos ocupacionais, prevenção das doenças ocupacionais e promoção a saúde no ambiente de
trabalho. Para isto, utilizando-se de treinamentos em saúde, através de ferramentas como
palestras de atualização e reuniões, sempre instigando os trabalhadores à discussão e à
exposição de suas idéias.
O trabalhador também tem o dever de agir de acordo com as orientações e regras
estabelecidas pela instituição, principalmente as ligadas à prevenção e promoção da saúde,
como o uso de equipamentos de proteção individual.
Cabe aqui a discussão sobre o quantitativo de trabalhadores da enfermagem lotados
nos hospitais, visto que este é o maior campo de trabalho oferecido a estes profissionais, em
detrimento das áreas da atenção básica. Aliado a este motivo, deveria haver uma maior
preocupação no oferecimento de um ambiente de trabalho digno a estes trabalhadores, para
que exercessem suas atividades com melhores condições e menor exposição aos riscos
inerentes do trabalho da enfermagem.
Durante as respostas dos sujeitos, quando perguntados sobre os fatores que agem de
forma preventiva ao aparecimento do estresse, algumas falas foram citadas, em minoria,
porém com significância importante, de acordo com o entendimento da autora deste estudo.
Atribuiu-se importância a estes dados devido aos mesmos não terem sido citados em
outras investigações como importantes na prevenção ou até mesmo manutenção de um nível
aceitável de estresse.
93 Dentre os dados encontrados e que mostraram relevância, está o fato de um dos
entrevistados, que trabalha há menos de um ano na unidade de HD, demonstrar que, segundo
a sua percepção, a prevenção do estresse é obtida pela novidade do trabalho na unidade de
HD, até então sua primeira experiência nesta área:
“A novidade em relação ao conhecimento da doença, que eu não tinha.”
(AUX 14)
Pode-se atribuir que este fator pode atuar como ‘protetor’ ao desencadeamento do
estresse dentro da unidade de HD devido à sua percepção ‘positiva’ do início do trabalho na
unidade estudada.
Autores como Lipp (2003) e Silva (2005) relatam que nosso organismo necessita de
doses mínimas de estresse para lidar com o dia-a-dia. Em doses pequenas, o estresse é bem
vindo, pois oferece energia, vigor, coragem e vontade de realizar atividades novas,
acarretando melhora na produtividade e na qualidade de vida do ser humano.
O estresse deve sempre ser entendido como útil, desde que o indivíduo saiba
reconhecer e lidar com os seus próprios limites, portanto, deve-se dominar o estresse e não
ficar sob o seu comando, transformando o estresse em seu aliado.
Esta fase de ‘excitação’, quando o estresse está em doses mínimas, atuando
positivamente no organismo, é chamada de fase de alerta. Segundo Lipp (2003), as pessoas
entram na fase de alerta com freqüência, podendo sair dela rapidamente. Há produção de
adrenalina, o que traz a sensação de força (física e mental) e vontade de realizar coisas novas.
A mesma autora (op cit., 2003) ainda relembra que “se a pessoa souber usar a energia que a
fase de alerta fornece, ela pode até aumentar sua produtividade e ter mais ânimo para iniciar
novos projetos”.
94 Em contrapartida, houve também o relato cuja percepção foi a de que a unidade de HD
não apresenta fatores facilitadores para prevenir o estresse ocupacional da equipe de
enfermagem, conforme se observa a seguir:
“Pra dizer a verdade, aqui nesse setor, eu não acho que tem muito ponto
positivo que previna o nosso estresse não [...].” (AUX 10)
O relato refere-se a um sujeito do sexo feminino, auxiliar de enfermagem, servidora
pública, que trabalha no hospital estudado há seis anos, sendo que todo este tempo de serviço
foi dedicado ao trabalho dentro da unidade de hemodiálise.
Esta trabalhadora contempla uma parcela de 37,5% do grupo estudado que se encontra
na faixa etária entre 40-50 anos. Pode-se considerar que é um grupo com um quantitativo
expressivo de pessoas de idade mais elevada, cuja inserção no mercado de trabalho pode ter
ocorrido mais tardiamente.
Outra questão relevante é que a exposição prolongada e contínua a estressores no
ambiente de trabalho pode desencadear exaustão física e psíquica, além de determinar um
processo insidioso de estresse. (FERRAREZE; FERREIRA; CARVALHO, 2006). Além
disso, a unidade em estudo exige um grau de agilidade, destreza física e energia,
características mais comuns em indivíduos jovens. (COSTA; LIMA; ALMEIDA, 2003)
Em antítese, o estudo realizado Miquelim et. al. (2004), identificou que a ocorrência
de estresse, tanto em enfermeiros quanto em auxiliares de enfermagem, diminuiu conforme
aumentou o seu tempo de trabalho no local.
Torna-se importante reafirmar que, no presente estudo, este achado foi pontual, não
fazendo parte da realidade do grupo estudado, porém apresenta significância e, por isto, foi
abordado nesta análise.
Outra questão considerada por alguns sujeitos como fatores facilitadores da prevenção
do estresse no contexto estudado foi a relacionada com a carga horária e salário,
95 especificamente dos trabalhadores com vínculo de servidor público, conforme as falas a
seguir:
“ Eu acho que a carga horária [...], a carga horária é um fator positivo, não
acho que a gente trabalhe tanto, principalmente em relação ao salário [...]
então o salário também é um ponto positivo, acho que os concursados
recebem bem, principalmente se você fizer uma comparação com os
particulares aí fora [...]” (AUX 6)
“[...] bem, eu vejo a nossa carga horária, a escala, como positivo nessa
questão aí do estresse [...]” (TEC 36)
A carga horária dos trabalhadores de enfermagem, servidores públicos, do HUCFF é
de 40 horas, em escalas de 12x60 horas. Na HD, há a particularidade de realizar uma escala
diferenciada: o trabalho em uma semana é realizado às segundas, quartas e sextas-feiras e na
outra semana, às terças e quintas-feiras, contemplando plantões de 12 horas em cada dia.
Nesta escala, não se trabalha nos fins de semana, o que obviamente favorece a percepção da
carga horária e da escala como contribuinte para a prevenção do estresse. Há uma
preocupação, por parte da Chefia da unidade, em alocar os funcionários de acordo não só com
as necessidades do serviço, mas também com as preferências e necessidades dos
trabalhadores. A oferta desta escala diferenciada pode ser explicada pela especificidade da
unidade, que exige treinamento prévio para exercer as atividades de diálise e, portanto, o
objetivo é não perder os funcionários que já estão treinados.
Quanto ao salário, também explicitado no relato descrito anteriormente, costuma ser
abordado, assim como a carga horária, freqüentemente como estressor no trabalho de
enfermagem, conforme os trabalhos descritos por Stacciarini e Tróccoli (2001), cujos
resultados referem que os sujeitos apontam insatisfação com os salários recebidos e a carga
horária como fator estressor. Em outro estudo (MEIRELLES; ZEITOUNE, 2003), a carga
horária excessiva e administração deficiente do horário do pessoal aparecem como os fatores
de estresse mais relatados pelos trabalhadores da equipe de enfermagem.
96 O HUCFF tem administração federal, pelo Ministério da Educação, e oferece como
estímulo aos seus servidores, plano de cargos e salários e incentivo à qualificação e
capacitação profissionais. Estes incentivos dependem da realização de cursos externos ao
HUCFF, como graduação, especialização, mestrado e doutorado, cada qual com um
percentual de gratificação, e também mediante avaliações da Chefia, considerando
pontualidade, assiduidade, licenças médicas, faltas sem justificativa, trabalho em equipe,
receptividade à críticas, entre outros aspectos. Além, obviamente, da própria estabilidade que
o trabalho oferece, melhores condições salariais quando comparado aos servidores das esferas
municipais e estaduais, e até mesmo da maioria dos hospitais particulares do Estado do Rio de
Janeiro.
4.3 Fatores impeditivos para a prevenção do estresse
No que tange aos fatores impeditivos para a prevenção do estresse na unidade de HD,
foi esclarecedor que eles existem e atuam negativamente nas atividades dos trabalhadores da
equipe de enfermagem, intensificando o estresse dentro da unidade.
A Tabela 6 demonstra quantitativamente os dados dos sujeitos deste estudo:
Tabela 6
Fatores Impeditivos à Prevenção do Estresse
ƒ
%
Máquinas de hemodiálise
28
70
Recursos humanos
15
37,5
Relacionamento interpessoal (equipe multiprofissional)
12
30
Recursos materiais
10
25
Estrutura física
10
25
Relacionamento interpessoal (equipe de enfermagem)
04
10
Relacionamento interpessoal (pacientes)
01
2,5
Relacionamento interpessoal (chefia de enfermagem)
02
4
Carga horária
03
7,5
Fatores Impeditivos
97 Tabela 6 (continuação)
Fatores Impeditivos à Prevenção do Estresse
ƒ
%
Salário
04
10
Rotina de enfermagem
02
4
Rotina médica
02
4
Riscos químicos
01
2,5
Espaço para discussões
04
10
Falta de preparo psicológico para lidar com a especialidade
01
2,5
Acesso vascular do paciente
01
2,5
Fatores Impeditivos
*Esta tabela permitiu mais de uma resposta por sujeito.
A Tabela 6 descreve os fatores impeditivos à prevenção do estresse, de acordo com a
freqüência em que apareceram nas entrevistas. Observa-se claramente que o maquinário
utilizado na unidade de hemodiálise foi o fator mais presente nas falas dos sujeitos (70%),
podendo ser considerado o grande estressor da equipe de enfermagem que atua na unidade de
HD do HUCFF.
As falas seguintes ratificam o que foi demonstrado na Tabela 6:
“[...]o equipamento de trabalho [...] querer que a máquina funcione e a
máquina não funciona me deixa estressada[...]” (TEC 5)
“O que dificulta é, assim, a questão das máquinas, são máquinas antigas,
então, assim, manutenção demorada [...]” (AUX 6)
“Primeiro é o setor como um todo [...] o funcionamento das máquinas [...]”
(ENF 13)
“As máquinas quando quebram e não tem uma solução de imediato.” (TEC
25)
“Bom, pra mim é o problema das máquinas, porque elas sempre estão com
defeito, então a gente tem que estar, na hora de colocar os pacientes, tem
que estar puxando as máquinas pra lá e pra cá [...]” (AUX 34)
Foi evidente, pelas falas dos sujeitos, que a presença de defeitos e a manutenção
precária das máquinas de diálise da unidade, configuram estressores ao trabalho da equipe de
98 enfermagem. E esta situação torna-se mais agravante quando leva-se em consideração que
estes defeitos, com conseqüente paralisação ou atraso dos turnos de diálise, ocorrem
diariamente no contexto de trabalho da unidade.
Estressor, segundo Lipp (1996) é tudo que possa causar uma quebra da homestase
interna, e exige uma adaptação do indivíduo. Esta adaptação depende da interpretação que
cada pessoa tem do estressor. Porém, cabe ressaltar que o estresse é mais facilmente
desencadeado quando há exposição contínua e prolongada a um mesmo estressor, como pode
ser considerada a questão da precarização das máquinas de HD, citada anteriormente. Para
Ferrareze, Ferreira e Almeida (2006), a exposição prolongada e contínua a estressores no
ambiente de trabalho pode desencadear exaustão física e psíquica, além de determinar um
processo insidioso de estresse.
Autores como Pafaro (2002), Lipp e Tanganelli (2002) concordam quando relatam que
o alto nível de estresse continuamente, além da possibilidade de desencadear doenças físicas,
pode gerar um quadro de esgotamento emocional, caracterizado por sentimentos negativos,
como pessimismo, atitudes desfavoráveis em relação ao trabalho, mudanças de
comportamento com os colegas, ignorando novas informações, tornando-se insubordinado e
resolvendo os problemas de forma cada vez mais superficial. O desgaste causado pelo estresse
pode desencadear no indivíduo a síndrome de burn out, a qual descreve uma realidade de
estresse crônico em profissionais que desenvolvem atividades que exigem um alto grau de
contato com as pessoas.
Margis et. al. (2003), complementam que avaliar a ocorrência dos eventos estressores
pode ser uma forma de tomar conhecimento da freqüência com que determinada pessoa
desencadeia uma resposta de estresse.
O trabalho na unidade de HD depende exclusivamente de maquinários específicos, que
realizam a diálise nos pacientes renais crônicos em tratamento de substituição renal. A
99 ausência ou mau funcionamento das máquinas significa a não realização de diálise e,
conseqüentemente, prejuízo ao andamento do tratamento dos pacientes.
Esta situação, quando ocorre, acarreta um mal estar e sensação de impotência na
equipe de enfermagem, por saber que o paciente depende da máquina para sobreviver, e
também porque a manutenção e conserto dos maquinários não dependem diretamente da
equipe. Além disso, os próprios pacientes ao queixarem-se do mau funcionamento dos
maquinários, acabam por fazê-lo à equipe de enfermagem, por esta estar mais próximo e
acessível a eles. Situações como esta, vivenciadas quase que diariamente, podem vir a
desencadear estresse na equipe de enfermagem.
Esta preocupação com a não realização ou atraso no tratamento do paciente devido à
falta de máquinas pôde ser observado em algumas falas:
às vezes você precisa colocar o paciente e não tem a máquina, então
estressa [...]” (AUX 6)
“[...]o paciente precisa entrar na máquina e tem que esperar.” (TEC 17)
“[...]os pacientes não entendem, eles querem entrar, até porque eles ficam
quatro horas na máquina, é cansativo. Então eles têm horário, e isso tudo
dificulta.” (AUX18)
Outra questão que pôde ser observada é que é a equipe de enfermagem que recebe toda
a sobrecarga de trabalho como conseqüência do não funcionamento das máquinas, ou seja, é a
própria equipe, representada pelo enfermeiro, que tem que resolver essas questões, não
somente junto à assistência técnica, mas também junto aos pacientes e familiares.
Na unidade estudada, existem atualmente 14 máquinas de HD, sendo que 08
localizam-se na sala branca (pacientes com sorologias negativas para hepatites B e C), 02 na
sala azul (pacientes positivos para hepatite C), 01 destinada à diálise de pacientes externos, ou
seja, aqueles internados em unidades de terapia intensiva ou até mesmo em enfermarias, e que
não tem condições clínicas de saírem das suas unidades, e as outras máquinas (03) são
100 sobressalentes, utilizadas na substituição de possíveis máquinas quebradas. Porém, estas
máquinas sobressalentes nem sempre estão em completas condições de uso, acarretando
estresse quando da necessidade de utilizá-las.
A manutenção das máquinas é terceirizada, dependente exclusivamente de contratos
firmados entre o próprio Hospital e a empresa de manutenção. As máquinas são antigas,
foram adquiridas há cerca de seis anos, porém já haviam sido utilizadas antes de chegarem ao
HUCFF. Ao detectar um problema no funcionamento das máquinas, cabe ao enfermeiro do
plantão providenciar o contato com a empresa de manutenção, solicitando a presença de um
técnico em caráter emergencial. Habitualmente, realiza-se este contato todos os dias, tamanha
é a necessidade de conserto das máquinas.
O número excessivo de pacientes que necessitam de HD no HUCFF também contribui
para o esgotamento do funcionamento das máquinas. Atualmente, o maquinário é utilizado
em quatro turnos de diálise, totalizando 20 horas diárias de uso, exceto aos domingos, pois
não há realização de HD convencional, e sim de emergência, quando necessário.
Segundo a RDC 154 (2004), que norteia o funcionamento dos Serviços de Diálise, as
máquinas de hemodiálise “devem apresentar um desempenho que resulte na eficiência e
eficácia do tratamento e na minimização dos riscos para os pacientes e operadores”. Além
disto, esta RDC define que todos os equipamentos devem estar limpos, em plenas condições
de funcionamento e com todas as funções e alarmes operando. Quanto às máquinas reservas, a
RDC também define claramente que o serviço de diálise deve possuir máquinas de HD de
reserva em número suficiente para assegurar a continuidade do atendimento, devendo estar
pronto para uso e efetivamente em programa de manutenção.
Além das máquinas de HD, situação bem específica da unidade, a equipe de
enfermagem também evidenciou a falta de outros materiais como fatores impeditivos para a
prevenção do estresse no dia-a-dia na unidade, como se pode observar nas falas abaixo:
101 “Ah, tem muitos[....](risos)[...], mas o pior é a falta de material”. (AUX 2)
“Eu acho que o pior mesmo é a falta de material para trabalhar, porque a
gente tem curso, a CCIH explica uma coisa, diz que tem que ser de um jeito
e a gente não tem o que eles falam que a gente precisa para trabalhar”.
(AUX 10)
“A dificuldade com a falta de material”. (ENF 38)
Já é conhecido que os profissionais de enfermagem que atuam em hospitais estão
expostos a condições de trabalho precárias que, aliadas às suas condições de vida,
potencializam as possibilidades de adoecimento. Elias e Navarro (2006) relatam que há,
claramente, a visão idealizada da profissão se contrapondo à dura realidade do trabalho
realizado em condições longe de ideais.
A dificuldade de recursos materiais é um estressor bastante discutido nas pesquisas
sobre o estresse na enfermagem. Especialmente pelo hospital deste estudo tratar-se de um
hospital da rede pública, torna-se ainda mais evidente esta situação. Medeiros et. al. (2006)
corrobora relatando que atualmente, constata-se nos trabalhadores do serviço público uma
frustração pela falta de material, o que exige maior capacidade de improvisação para a
realização dos procedimentos, deixando-os insatisfeitos em relação à assistência prestada ao
paciente. A mesma autora (op cit., 2006) ainda enfatiza que, esses elementos somados podem
desencadear o sofrimento no cotidiano desses trabalhadores.
Stacciarini e Tróccoli (2001) também identificaram em sua investigação na equipe de
enfermagem a presença de recursos inadequados (materiais e humanos) como elementos
estressores. Murofuse, Abranches e Napoleão (2005) complementam relatando que os
elementos estressores são comuns, independente da ocupação do enfermeiro.
Batista e Bianchi (2006), numa pesquisa sobre o estresse na unidade de emergência,
afirmam que os ritmos acelerados de trabalho associado à insuficiência de recursos materiais
podem levar ao aparecimento de problemas psicológicos e até mesmo físicos no profissional.
Neste contexto, a unidade de HD aproxima-se da estudada pelos autores citados
102 anteriormente, pois diariamente identifica-se a falta de recursos materiais, porém o ritmo de
trabalho é mantido, mesmo sob condições inadequadas, com vista à prestação do atendimento
ao paciente renal crônico, que não pode ser simplesmente ignorada.
Seguindo esta premissa, têm-se ainda a questão histórica, inerente da própria
profissão, que ainda carrega consigo as características de devotamento, abnegação e
dedicação, fazendo com que os profissionais realizem suas atividades rotineiramente, apesar
das más condições de trabalho.
Dejours (1992), ao discorrer sobre as condições materiais no trabalho, afirma que nas
tarefas ditas de execução, o trabalhador se vê de algum modo impedido de fazer corretamente
seu trabalho, constrangido por métodos e regulamentos incompatíveis entre si. Esta
incompatibilidade pode, em algum momento, gerar situações de estresse nos trabalhadores de
enfermagem.
Além das máquinas de hemodiálise, o déficit de recursos humanos também foi
evidente nas respostas dos entrevistados, estando presente em 37,5% das respostas,
representando fonte significativa de estresse no contexto de trabalho, visto que foram
amplamente discutidos nas suas falas, como se pode observar a seguir:
“[...] e os funcionários, o quadro reduzido de funcionários, muito ruim
mesmo [...]” (AUX2)
“[...] O fato de às vezes você não poder contar com o número de
funcionários previstos na escala, porque mesmo que a enfermeira tente
contactar alguém pra vir, nem sempre ela consegue, então às vezes você
trabalha por dois, por três, dependendo do ritmo do plantão e das pessoas
que estão [...]” (AUX6)
“E, às vezes, também tem poucos funcionários, e a gente fica sozinho de um
lado.” (AUX18)
“A falta de mão de obra, mais à noite”. (TEC27)
As condições de trabalho dos profissionais de saúde, em geral, não são satisfatórias,
pois os trabalhadores se deparam constantemente com faltas de recursos materiais e humanos,
103 insalubridade, exposições a riscos ocupacionais, além do trabalho contínuo com o sofrimento
e a morte.
O mercado de trabalho em saúde, segundo Anselmi, Angerami e Gomes (1997),
expandiu-se significativamente nas décadas de 1970 e 1980, principalmente a partir de 1975,
tornando-se um ramo expressivo de mão-de-obra. Entretanto, a expansão de vagas no setor
não se faz acompanhado de significativa melhora nas condições de trabalho. (ELIAS;
NAVARRO, 2006)
A escassez de recursos humanos é um estressor bastante discutido em abordagens
científicas na área do estresse na enfermagem. Tornou-se uma problemática na profissão, já
bastante carreada de fatores geradores de tensão, pelo contato direto com pacientes e
membros da própria equipe de saúde, carga emocional, sobrecarga de trabalho, baixa
remuneração e falta de reconhecimento profissional. (BIANCHI; GUERRER, 2007)
Em pesquisa realizada por Ferreira e De Martino (2006), onde foi avaliadas
publicações sobre o estresse em enfermeiros, identificou-se que a falta de recursos humanos
foi apontado, dentre outros, como um importante fator gerador de estresse.
Santos, Oliveira e Moreira (2006), em estudo sobre estresse como fator de risco para a
saúde do enfermeiro, constataram na obtenção dos seus resultados que as condições de
trabalho no que se referem à falta de recursos materiais e humanos desencadearam um grau
significativo de estresse no grupo, uma vez que a inexistência de condições dignas de trabalho
promove o sofrimento, especialmente se a instituição não atende a padrões mínimos de
higiene, saúde e segurança.
Estes mesmos autores (op cit, 2006) também relataram que os enfermeiros do estudo
encararam a falta de insumos materiais e humanos como estressores devido a estes
interferirem na qualidade do trabalho prestado, além da necessidade de improvisar, realizar
‘quebra-galhos’, acarretando sentimentos de impotência e frustração no dia-a-dia de trabalho.
104 Batista e Bianchi (2006) discutiram sobre o estresse no enfermeiro da unidade de
emergência e o quadro reduzido de profissionais, aliado à estrutura do ambiente de trabalho
foram relatados como estressores no trabalho da categoria estudada.
As unidades de hemodiálise, independente de estar localizada em hospital ou em
clínicas, têm particularidades relacionadas aos recursos humanos. Geralmente são solicitados
trabalhadores com experiência prática em HD e, quando enfermeiros, que sejam qualificados,
ou seja, especialistas em nefrologia. Caso contrário, a instituição geralmente realiza
treinamentos direcionados à prática antes da efetiva contratação do trabalhador, o que acarreta
relativa demora no processo de admissão de novos funcionários. E, enquanto os novos
trabalhadores não são efetivamente contratados, os demais se encarregam das atividades
diárias da HD, ainda sobrecarregados pela falta de mão-de-obra especializada.
Ainda assim, pela RDC 154 (ANVISA, 2004), exigi-se que o enfermeiro atuante em
unidade de HD tenha capacitação formal na especialidade, através de especialização em
nefrologia reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou pela Sociedade
Brasileira de Enfermagem em Nefrologia (SOBEN), como já dito anteriormente. A RDC 154
orienta também que o enfermeiro que esteja em processo de capacitação deve ser
supervisionado por um enfermeiro especialista em nefrologia.
No que tange ao quantitativo dos membros da equipe de enfermagem em hemodiálise,
a RDC 154 preconiza um mínimo de 01 auxiliar ou técnico de enfermagem para cada 04
pacientes, e 01 enfermeiro para cada 35 pacientes.
Na realidade estudada, a quantidade de auxiliares, técnicos de enfermagem e
enfermeiros atende à orientação da ANVISA, e muitas vezes até excede a proporção
preconizada. Entretanto, ainda assim observa-se na prática uma dificuldade acentuada em
lidar com as questões diárias da sala de hemodiálise com o quantitativo de 01 auxiliar/técnico
de enfermagem para cada 04 pacientes, pois deve-se levar em consideração possíveis faltas na
105 equipe, afastamentos por licença médica e o revezamento dos horários de refeições e
atendimentos das necessidades fisiológicas. Pela experiência adquirida na área, conclui-se que
deveria haver pelo menos 02 auxiliares/técnicos de enfermagem para cada 04 pacientes.
Pelo pressuposto discutido acima, percebe-se que a mão-de-obra para o trabalho em
HD deve ser especializada, inicialmente por ser a nefrologia uma especialidade e com a
finalidade de cumprir as determinações ditadas pela ANVISA. Por vezes, torna-se difícil a
contratação de profissionais de enfermagem capacitados, principalmente quando as condições
de trabalho não são satisfatórias, com salários dignos, carga horária flexível, entre outras
questões trabalhistas.
No HUCFF existem atualmente trabalhadores com diferentes vínculos, ou seja,
servidores públicos e terceirizados, e uma rotatividade relevante no que condiz aos
terceirizados, visto à contratação, carga horária e salários defasados. Há todo um trabalho com
o treinamento destes trabalhadores e, quando menos se espera, os mesmos saem à procura de
trabalhos que ofereçam melhores condições. Enquanto isto, os trabalhadores que permanecem
na HD são sobrecarregados até a chegada de novos contratados, o que gera desestímulo na
equipe.
Esta rotatividade e evasão de profissionais já foi alvo de discussão de Spindola e
Martins (2007), que relaciona tal fato com a deterioração das condições de trabalho da
enfermagem, desenvolvendo desgaste físico e mental nos trabalhadores remanescentes, na
medida em que as atividades necessitam ser redistribuídas entre os que permanecem.
As mesmas autoras (op cit., 2007) afirmam que a assistência de enfermagem nas
instituições públicas, em geral, tem sido penalizada com a deficiência de recursos humanos e
materiais, gerando insatisfação nos profissionais, que se sentem impotentes e frustrados com a
situação. Montanholi, Tavares e Oliveira (2006) complementam citando que, atualmente, a
106 maioria dos hospitais universitários está passando por crise financeira, momentos em que, por
vezes, faltam recursos humanos e materiais para oferecer assistência digna ao ser humano.
A insuficiência de recursos humanos gera uma sobrecarga de trabalho e aumento do
ritmo acelerado do trabalho, que na unidade de hemodiálise é um fato devido à própria
dinâmica do trabalho e da repetição dos movimentos. Para Batista e Bianchi (2006), o ritmo
acelerado de trabalho para a finalização de tarefas pré-determinadas é adotado em decorrência
da falta de recursos humanos e materiais nas unidades, podendo acarretar problemas
psicológicos e até mesmo físicos no profissional. Certamente a exposição aos riscos
ocupacionais e o ritmo acelerado do trabalho podem resultar em sérios acidentes de trabalho e
o surgimento de doenças ocupacionais, como os distúrbios osteomusculares.
Além de repercutir na saúde dos profissionais, em conseqüência do ritmo acelerado de
trabalho, a falta de recursos humanos reflete diretamente na qualidade do cuidado prestado
aos pacientes e aos seus familiares, possibilitando inclusive o surgimento de relações
interpessoais perturbadoras, gerando tensão e estresse ao trabalhador e ao paciente.
Ainda que, sabidamente, o exercício da profissão de enfermagem requeira boa saúde
física e mental, raramente os trabalhadores recebem a proteção social adequada para o seu
desempenho. Ou seja, apesar do trabalho desgastante, muitas vezes em locais inadequados,
não há proteção e atenção necessárias para evitar os acidentes e as doenças decorrentes do
trabalho. Soma-se a este fato, a visão institucional, onde os trabalhadores são submetidos aos
princípios administrativos tayloristas, os quais priorizam os aspectos econômicos da
instituição, em detrimento das necessidades da clientela. (MUROFUSE; ABRANCHES;
NAPOLEÃO, 2005)
Mendes (2001) reitera afirmando que se tem exigido do enfermeiro um atuar em
conformidade com os anseios organizacionais, sem, contudo lhe oferecer como contrapartida
107 fundamental maior atenção para com suas próprias dimensões psico-sócio-espirituais, assim
como daquelas de seus colaboradores e de seus pacientes.
Cabe aqui a discussão sobre as possíveis intervenções, viabilizando o aumento do
quadro de funcionários, diminuindo a carga de trabalho para os demais trabalhadores e
oferecendo uma qualidade da assistência de enfermagem digna e adequada. Neste caso, as
reivindicações tornam-se necessárias, inclusive buscando o apoio do Serviço de Saúde do
Trabalhador da instituição, visando as intervenções necessárias ao serviço.
Alia-se a esta questão a necessidade da fiscalização do cumprimento da Norma
Regulamentadora nº 32, intitulada Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de
Assistência à Saúde, em vigor desde 2005. Entretanto, infelizmente, ainda não é uma
realidade dentro do contexto da saúde do trabalhador da saúde.
Segundo Robazzi e Marziale (2004), a NR-32 é considerada de extrema importância
no cenário brasileiro, como legislação federal específica que trate das questões de segurança e
saúde no trabalho, no setor de saúde. As autoras relatam ainda que se acredite que mudanças
benéficas poderão ser alcançadas por meio da referida normatização, uma vez que
procedimentos e medidas protetoras deverão ser realizados com vistas a promover segurança
no trabalho e prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
Outro fator negativo citado nas entrevistas foi o relacionamento interpessoal, que
embora tenha sido amplamente discutido como fator facilitador, também apareceu como fator
impeditivo para a prevenção do estresse ocupacional da unidade. Estes relatos emergiram com
maior intensidade (30%) quando relacionados à equipe multidisciplinar, porém as
dificuldades de relação entre a própria equipe de enfermagem também emergiram de algumas
falas (10%), como se observa a seguir:
“[...] algumas pessoas assim, por exemplo, os médicos não ajudam tanto
como deveriam.” (TEC 7)
“Eu acho que, de negativo, é você trabalhar com alguém que não se
organiza, assim [...] a chefia, que não seja organizada, acho que, às vezes,
108 qualquer coisinha pode causar um estresse. Chefia que eu falo são as
enfermeiras do plantão [...]” (AUX 8)
“O estresse entre as diferentes categorias da equipe de enfermagem
também. Ultimamente tem havido diferença entre os concursados e
terceirizados, o relacionamento tem ficado um pouco estressante, e não só
entre concursados e não concursados, mas entre as diferentes categorias
mesmo, auxiliar com enfermeiro, com AOSD [...] é muito estressante
[...]”(ENF 13)
“[...] quando a gente trabalha com uma equipe que não é muito entrosada.
Quando a [enfermeira] líder deixa muito a desejar, fica mais difícil, estressa
mais o plantão.” (AUX 15)
“Parte da equipe em geral, parte da equipe da enfermagem, parte da equipe
médica, parte da engrenagem do hospital, o pessoal que faz o hospital
funcionar, ajuda muito a aumentar o estresse.” (AUX 16)
O relacionamento interpessoal é conhecidamente um estressor presente no trabalho da
equipe de enfermagem, pelo contato contínuo com pessoas, sendo estas representadas pelos
pacientes, familiares, acompanhantes, chefias e profissionais de outras áreas da saúde. Este
desgaste diário, somado a todos os outros estressores presentes no contexto de trabalho, pode
vir a acarretar sérios problemas de ordem psicológica e até mesmo afetando fisicamente estes
trabalhadores.
Na presente abordagem observou-se claramente que os trabalhadores percebem as
relações interpessoais tanto como favoráveis quanto como desfavoráveis à prevenção do
estresse, porém nesta última situação, relataram a presença dos conflitos entre as diversas
categorias diferentes da enfermagem, ou seja, com a medicina, com o responsável pelo
transporte (AOSD), e entre concursados e terceirizados. Além disso, as falas não foram tão
presentes e incisivas quanto às falas sobre a visão favorável do relacionamento interpessoal
para prevenção do estresse.
O conflito interpessoal entre as diferentes categorias da equipe de saúde já foi
abordada por Hoga (2002), quando estudou as causas de estresse na equipe de enfermagem.
Neste estudo, houve relato de relacionamentos difíceis com membros da equipe
109 multiprofissional, ou seja, médicos e também enfermeiros, sendo que nestes últimos a
dificuldade foi relacionada especialmente à relação hierárquica do trabalho.
Na unidade fonte deste estudo, existe o trabalho conjunto da enfermagem, da
medicina, da psicologia, do serviço social, da nutrição, da limpeza e do transporte de
pacientes, todos trabalhando em prol de uma assistência integral ao paciente renal crônico. As
relações de trabalho conflitantes surgem diariamente e por diferentes razões. Entre estas
podemos citar a falta de recursos humanos, acarretando a sobrecarga de trabalho entre os
membros da equipe remanescentes na unidade, que necessitam dar conta do mesmo trabalho
que seria realizado com um maior número de trabalhadores.
Além desta questão, têm-se a visão curativa da medicina em confronto com a visão do
cuidado de enfermagem, onde geralmente a enfermagem acaba por realizar seus
procedimentos tendo em vista a lógica da medicina e também da instituição, porém com
sentimento de impotência e subordinação. Há uma rotatividade anual de residentes de
medicina, cada qual com pensamentos diferenciados, o que exige de todos os outros membros
da equipe multidisciplinar a adaptação destes novos integrantes. A falta de entrosamento com
os residentes de medicina em razão do rodízio constante foi citado por Hoga (2002).
Pela unidade de hemodiálise configurar-se por uma unidade especializada, no sentido
da equipe de enfermagem ser quase sempre a mesma, pois não existe remanejamento dos
trabalhadores provenientes de outros setores quando a equipe da unidade está desfalcada, a
interação com os colegas de trabalho é constante e intenso, o que pode gerar maior
probabilidade de conflitos interpessoais.
A divisão das tarefas entre os diversos membros da equipe de enfermagem – auxiliares
técnicos e enfermeiros – também configura fonte de tensão no relacionamento entre estes
trabalhadores, ocasionando estresse e possíveis distúrbios de natureza psicológica e física. A
110 falta de visibilidade de quem é o enfermeiro líder leva os demais membros da equipe a
conflitos diários.
Cabe ressaltar que os conflitos interpessoais podem ser amenizados quando há uma
liderança e organização do trabalho, o que depende das características de cada indivíduo, da
história de vida e da experiência e realização profissionais.
A problemática da relação entre os trabalhadores com vínculos diferenciados dentro
do hospital deste estudo também surgiu nas falas, como citadas anteriormente. Pelos dados
coletados, observa-se que 72,5% da equipe de enfermagem têm vínculo de servidor público e
27,5% são terceirizados.
Provavelmente, a razão da conflituosa relação interpessoal possa estar relacionada com
a diferença de contrato de trabalho e benefícios de cada grupo. Os terceirizados estão num
momento bastante crítico, onde aceitam um contrato de trabalho que oferece carga horária
maior e salário menor quando comparados aos servidores públicos. Soma-se a isto o não
direito a férias, décimo - terceiro salário, entre outras questões trabalhistas que somente os
concursados têm direito. Freqüentemente, observam-se discursos de reclamações a respeito
destas diferenças, principalmente provenientes dos terceirizados, que se colocam numa
posição inferior e se sentem sacrificados pelo ritmo de trabalho a que são submetidos.
Já é conhecido que não somente a interação entre a própria equipe de enfermagem,
mas a responsabilidade pelo cuidado de pessoas obriga a enfermagem a um maior tempo
dedicado à interação, aumentando também a possibilidade de ocorrência de estresse por
relações interpessoais. (MUROFUSE; ABRANCHES; NAPOLEÃO, 2005)
Montanholi, Tavares e Oliveira (2006) destacaram durante sua pesquisa abordando
fatores de estresse no enfermeiro, que o relacionamento entre a própria equipe de enfermagem
é fator desencadeante de estresse ocupacional, assim como a relação existente com a equipe
111 multiprofissional. Além disso, o enfermeiro sendo elo entre a equipe de enfermagem e a
equipe médica, pode sofrer tensões decorridas de conflitos e atritos entre as equipes.
Em pesquisa realizada por Rodrigues e Chaves (2008), onde abordaram fatores
estressantes e mecanismos de coping de enfermeiros em oncologia, dentre as principais
situações estressoras, os problemas de relacionamento entre a equipe de enfermagem foram
amplamente citados pelos sujeitos, sendo o terceiro principal fator de estresse.
As atitudes conflitantes entre as diferentes categorias profissionais podem surgir
devido a interesses e visões de mundos diferentes, o que pode gerar situações de tensão no
trabalho. Como os trabalhadores têm características, formação e cultura singulares, a
convivência no ambiente de trabalho, em determinadas situações pode se tornar penosa
quando os interesses são confrontados. (SANTOS; OLIVEIRA; MOREIRA, 2006). Cabe a
cada trabalhador da saúde entender que o objetivo do trabalho em equipe e interdisciplinar
tem como objetivo comum de trabalho o cuidado ao paciente.
Para Manetti e Marziale (2007), os problemas de relacionamento com supervisores e
equipe médica vivenciados pela equipe de enfermagem acarretam um maior sofrimento
relacionado ao trabalho, menor satisfação no trabalho, menor intenção de permanecer no
emprego e humor deprimido. Estas questões, especialmente quando associadas a outros
estressores, podem estabelecer fator de risco para problemas físicos e psicológicos.
4.4 Os fatores estressores e a influência na saúde dos trabalhadores de enfermagem da
hemodiálise
Este item responde ao último objetivo proposto neste estudo, intitulado “discutir as
implicações do estresse na saúde dos trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de
HD”. A partir da leitura dos discursos dos trabalhadores da equipe de enfermagem atuantes na
unidade de HD do hospital deste estudo, foi possível constatar que os mesmos não só
112 identificaram os estressores no contexto de trabalho, conforme foi abordado nas categorias
anteriores, como também foram capazes de estabelecer possíveis danos à sua saúde uma vez
da exposição contínua e prolongada a fontes de estresse. De acordo com os trabalhadores da
equipe de enfermagem, as influências na sua saúde pela exposição ao estresse foram aquelas
relacionadas ao desgaste físico e mental e o aparecimento de doenças ocupacionais em
decorrência da exposição ao estresse.
4.4.1 Desgaste físico e mental advindos da exposição aos estressores no cotidiano da
hemodiálise
A relação de exposição a estressores e desencadeamento de doenças é bastante
discutida por autores que abordam o estresse na profissão. O alto nível de estresse
continuamente pode gerar não somente doenças como quadro de esgotamento emocional,
mudanças de comportamento e desenvolvimento da síndrome de burn out. (FERREIRA; DE
MARTINO, 2006)
Resgatando um pouco dos estressores mencionados pelos sujeitos desta pesquisa,
houve relatos acerca da falta de recursos materiais e humanos e sobre o relacionamento
interpessoal, não somente entre a própria equipe de enfermagem, mas incluindo também a
equipe médica, os trabalhadores responsáveis pelo transporte de pacientes e até mesmo entre
concursados e terceirizados.
Estes mesmos sujeitos, quando interrogados sobre a influência destes estressores na
sua saúde enquanto trabalhador de enfermagem, relataram conseqüências diversas, entre estas
ressaltaram àquelas relacionadas com o cansaço e desgaste físico e também ao esforço
psíquico e mental, como se observa nos trechos a seguir:
“[...] Pode afetar emocionalmente e acho que já afeta muita gente aqui
dentro, me afeta também, e aí você apresenta problemas emocionais [...]
todos os problemas emocionais e psicológicos [...]” (AUX 16)
113 “[...] No final, você acaba estressada, é um desgaste muito grande.” (AUX
18)
“[...] atinge tanto o mental quanto a parte física.” (ENF 19)
“Pode influenciar na minha saúde física e mental, acarretando problemas
futuros na minha saúde.” (TEC 32)
O processo de trabalho na unidade de hemodiálise é bastante peculiar, requer
treinamento, conhecimentos especializados, iniciativa e tomada de decisão. Estas
características são válidas não somente para o enfermeiro, mas se estende a toda equipe de
enfermagem. O enfermeiro exerce o papel de líder, administrando toda a unidade, provendo
os materiais necessários, coordenando toda a assistência de enfermagem, assistindo
prioritariamente os pacientes mais graves, com risco de vida e com dificuldades de acessos
venosos para hemodiálise.
O trabalho dos auxiliares e técnicos de enfermagem são os realizados mais diretamente
com o paciente, instalando-o e retirando-o da máquina de diálise, além da identificação das
intercorrências interdialíticas, administração de medicamentos, aferição de sinais vitais, entre
outros. Este trabalho é bastante repetitivo, pois se trabalha em turnos de diálise, cada qual
com cerca de quatro horas de duração.
Após o término de cada turno, há repetição das atividades: desinfecção das máquinas,
montagem do material, recepção do paciente, aferição de pressão arterial e peso, instalação do
paciente na máquina, acompanhamento das intercorrências, retirada do paciente da máquina e
limpeza e esterilização do material e das máquinas. Ao longo da jornada de doze horas, o
cansaço físico e mental está presente, especialmente se os recursos humanos forem
insuficientes, acarretando sobrecarga de trabalho aos demais profissionais que precisam dar
continuidade ao trabalho realizado. Nesta situação, o trabalho, além de repetitivo pela sua
própria natureza, acaba por ter um ritmo acelerado, tendo como conseqüência o surgimento de
problemas físicos e psicológicos.
114 Apesar da diferença teórica entre as atividades realizadas pelo enfermeiro e pelos
auxiliares e técnicos de enfermagem, não houve diferença nos relatos entre o desgaste físico e
mental mais prevalente em uma categoria. Ao contrário, as falas foram bastante contundentes
e semelhantes, independentes da categoria profissional.
Este achado vem ao encontro de pesquisas realizadas na área do estresse, como o
estudo de Spindola e Martins (2007) que reflete a mesma realidade, ou seja, que, em geral, os
trabalhadores de enfermagem estão expostos a uma elevada carga psíquica no desempenho de
suas tarefas rotineiras, decorrentes do aspecto emocional pela convivência diária com a dor e
sofrimento alheio. Esta convivência diária se encaixa veementemente na realidade da unidade
de hemodiálise, pois os trabalhadores lidam com os mesmos pacientes por longos períodos de
tempo, estabelecendo laços afetivos. Entretanto, quando ocorre a perda do paciente,
especialmente por óbito, o sofrimento psíquico é inevitável.
As mesmas autoras (op cit., 2007) ressaltaram ainda que outros aspectos a serem
considerados são os recursos disponíveis, tais como pessoal e material, para a realização das
atividades que, na rede pública, são escassos, contribuindo para a elevação da carga psíquica
laboral. Cabe complementar que a falta de recursos materiais leva o profissional a improvisos
no local de trabalho, com o objetivo de prestar assistência ao paciente, porém muitas vezes
estas atitudes se confrontam com tudo aquilo que foi aprendido ao longo da formação
profissional, levando-o à insatisfação no ambiente de trabalho.
Outros autores (COSTA; LIMA; ALMEIDA, 2003) também concordam que a
exposição prolongada e contínua a estressores no ambiente de trabalho pode desencadear
exaustão física e psíquica, além de determinar um processo insidioso de estresse.
Para Murofuse, Abranches e Napoleão (2005), a exaustão emocional decorrente de
uma exposição prolongada aos agentes estressores resulta em um determinado grau de
115 ineficiência no enfrentamento do estresse contínuo. Desse modo, a irritabilidade, a
impaciência, entre outras manifestações, fazem parte de um grau avançado de estresse.
Outra questão que pode ser relacionada com o desgaste físico e mental destes
trabalhadores é a existência de múltiplas jornadas de trabalho, situação bastante comum entre
todos os níveis assistenciais da saúde, não sendo diferente na enfermagem. Esta realidade é
dependente da desvalorização salarial da categoria, onde os trabalhadores buscam outros
vínculos para complementação de suas rendas. Atualmente, 57,5% (23) da equipe de
enfermagem da unidade de HD possuem pelo menos mais um vínculo empregatício.
Stacciarini e Tróccoli (2001) consideram como fatores agravantes o desemprego, a
baixa remuneração e a política na qual estamos imersos, obrigando os profissionais de
enfermagem a atuarem em mais de um emprego, exercendo carga horária longa e extenuante.
Segundo Veras (2003), ao ingressarem num serviço, os profissionais assumem uma
jornada de trabalho, em geral, de 40 horas semanais ou 144 horas mensais, porém, com o
multiemprego ou escalas extras, as horas efetivamente trabalhadas podem chegar a 80 ou até
120 horas semanais. No HUCFF, os trabalhadores terceirizados cumprem carga horária de 40
horas semanais, distribuídas em quinze plantões mensais de doze horas. Já os servidores
trabalham 32 horas semanais, realizando dez plantões de doze horas ao longo do mês.
A exposição à estressores traz consigo a possibilidade de apresentação de desgastes
físico e mental, e estes podem também acarretar injúrias à saúde dos trabalhadores, como
sinais e sintomas específicos da exposição ao estresse. Os trabalhadores de enfermagem da
unidade em estudo relataram, durante as entrevistas, o reconhecimento da possibilidade de
apresentarem tais sintomas decorrentes do desgaste emocional e físico, como se observa a
seguir:
“Olha, o estresse eu acho que pode acabar levando, assim, a uma
hipertensão” (AUX 6)
116 “[...] aquilo ali gera um monte de descontrole no organismo da gente, você
fica taquicárdico, você fica meio confuso, porque você trabalha sob tensão
[...]” (AUX 8)
“[...] influencia, a tensão mesmo, ansiedade [...].” (TEC 11)
“A curto prazo acho que nem tanto, mas a longo prazo sim, em relação ao
estresse, à enxaqueca que eu tenho e daí piora.” (ENF 19)
“A longo prazo gerando estresse [...] e faz com que aumente a minha
pressão arterial.” (ENF 29)
Certamente, os relatos dos funcionários estão de acordo com o descrito acerca dos
sinais e sintomas decorrentes da exposição ao estresse, os quais podem se manifestar de
acordo com a intensidade do estressor, o prolongamento da exposição e ao enfrentamento de
cada indivíduo, ou seja, como cada pessoa lida frente a uma situação de estresse.
Estes achados são similares aos encontrados no estudo de Elias e Navarro (2006),
quando abordaram a relação entre o trabalho, a saúde e as condições de vida em trabalhadores
de enfermagem. Estes autores relataram que, inicialmente, a maioria dos entrevistados negou
a ocorrência de problemas de saúde. Entretanto, no decorrer das entrevistas, muitos relataram
a ocorrência de episódios de enxaqueca, estresse, irritação, desgaste físico, depressão, dores
nas pernas, varizes e pressão alta.
De acordo com Aquino, Araújo e Menezes (1993), as difíceis condições de trabalho e
de vida podem estar correlacionadas com a ocorrência de transtornos mentais como a
ansiedade e a depressão, freqüentes entre auxiliares de enfermagem.
A Síndrome de Adaptação Geral, proposta por Selye (1956), divide didaticamente em
fases as manifestações do organismo após ser agredido por um estressor. São três as fases da
SAG: alarme ou alerta, resistência ou adaptação, e exaustão.
Segundo Lipp (2003) as pessoas entram freqüentemente na fase de alerta, a qual não
causa em si grandes problemas e rapidamente o indivíduo pode sair dela, basta afastar-se do
estressor. A autora lembra que nesta fase, há produção de adrenalina e o indivíduo deve
utilizar esta fase para aumentar a produtividade, pois o ânimo estará presente para iniciar
117 novos projetos, realizar viagens, etc. Os sintomas desta fase caracterizam-se por sudorese,
dores musculares, taquicardia, ansiedade, epigastralgia, entre outros.
A segunda fase, de resistência, tem como características o aparecimento de sinais e
sintomas como a perda súbita de memória, sensação de desgaste sem motivo aparente e
inclusive o aparecimento de algumas doenças como o resfriado e herpes. Quando a duração de
tempo nesta fase é excessiva, podem ocorrer danos mais importantes ao organismo. (Lipp,
2003)
O estresse excessivo leva o indivíduo a apresentar sinais, sintomas e doenças graves
devido à fase de exaustão. Neste momento, há o aparecimento de hipertensão, gastrite,
desânimo, dificuldade de concentração, diminuição da libido e depressão. Nesta fase, segundo
Lipp (2003) é difícil o indivíduo sair dela sozinho, sendo necessário o acompanhamento de
especialistas, além do afastamento do agente estressor.
Pelo pressuposto acima, entende-se que os trabalhadores de enfermagem da unidade
de hemodiálise têm a visão das possíveis conseqüências que a exposição ao estresse pode
ocasionar ao organismo. Entretanto, este conhecimento deve existir também por parte da
chefia de enfermagem e direção do hospital, como estímulo para gerar estratégias de
prevenção ao estresse na unidade. Além disso, o serviço de saúde do trabalhador precisa estar
presente no dia-a-dia do trabalho, vivenciando junto aos trabalhadores as possíveis causas de
estresse, visando a melhoria do ambiente de trabalho.
4.4.2 – A exposição ao estresse versus doenças ocupacionais na unidade de hemodiálise
Atendendo ainda ao quarto objetivo desta pesquisa, foi realizado junto aos sujeitos o
questionamento quanto às possíveis repercussões do estresse na saúde destes, uma vez que a
exposição aos estressores existe no contexto de trabalho, segundo os próprios sujeitos.
118 Entre as respostas dadas nas entrevistas, surgiu esta categoria, onde os sujeitos
relataram que a exposição aos estressores na unidade de hemodiálise pode vir a desencadear
doenças ocupacionais, secundárias à exposição aos riscos ocupacionais presentes na unidade.
Estes riscos ocupacionais já são de conhecimento destes trabalhadores. Em pesquisa
realizada anteriormente na unidade de HD do hospital deste estudo, Silva e Zeitoune (2009)
concluíram que existem trabalhadores da equipe de enfermagem que conhecem os riscos
ocupacionais e as medidas de biossegurança como prevenção a estes riscos. Portanto, foi
esperado que surgissem na coleta de dados os relatos a respeito deste questionamento.
Segundo Chamorro e Zeitoune (1999), os riscos ocupacionais para saúde são
originados no processo de trabalho, e podem ser atribuídos a um conjunto de fatores presentes
no ambiente de trabalho, estando associados às suas condições de trabalho, em particular à
sua organização, natureza ou conteúdo da atividade. Os riscos para a saúde, no caso da
enfermagem, não podem ser atribuídos a causas simples, mas a um conjunto de fatores
presentes no local de trabalho, que podem levar à deterioração de sua saúde física e mental.
Segundo os sujeitos do estudo, a influência do estresse ocupacional na unidade de HD
pode vir a causar danos à sua saúde, como por exemplo, o surgimento de doenças
ocupacionais, especialmente os distúrbios osteomusculares, conforme se observa a seguir:
“[...] e a questão de peso, de postura [...] então problemas de coluna, essas
coisas eu acho que também.” (AUX 6)
“Eu acho que pode influenciar, porque quando você fica sob essa tensão
[...] é muito tempo trabalhando [...] aí você cai, você luxa um quadril, você
desloca o quadril e isso vai prejudicando você. (AUX 8)
“Pode influenciar com problemas de coluna [...]” (TEC 25)
“Primeiro, a coluna vai pro espaço, porque acaba com a coluna da gente.”
(AUX 30)
O contexto de trabalho na hemodiálise submete o trabalhador a uma carga de trabalho
repetitivo bastante acentuado, especialmente os auxiliares e técnicos de enfermagem. Existe
119 outra questão que deve ser ressaltada que é a falta de acomodações estruturais da unidade do
ponto de vista ergonômico.
Apesar de a unidade ter sido projetada com o acompanhamento da Chefa de
Enfermagem, algumas situações não foram devidamente planejadas como deveriam, devido a
falta de recursos financeiros do hospital. Com isso, encontramos atualmente bancadas de
reuso muito baixas para adaptar-se à estrutura física dos funcionários. As máquinas de
hemodiálise requerem o reabastecimento com galões de soluções ácidas e básicas, com peso
de cinco quilos cada uma, pelo menos uma vez a cada sessão de hemodiálise. Estes galões
localizam-se na parte inferior das máquinas, próximos ao chão, o que obriga os trabalhadores
a abaixar-se e levantar-se freqüentemente durante o período de trabalho.
As cadeiras que acomodam os pacientes durante a diálise são baixas, o que exige que o
trabalhador abaixe-se para verificar sinais vitais, puncionar acessos venosos, entre outras
atividades. Os trabalhadores são orientados a realizarem todos estes procedimentos sentados
em cadeiras apropriadas, porém a realidade mostra que, no corre-corre diário de trabalho,
muitos não utilizam tal recurso para proteger-se de futuras lesões osteomusculares.
Mendes (1988) já alertava que a posição incorreta no erguimento de pesos, em geral
associado ao trabalho pesado, agrava ou precipita o aparecimento de lesões musculares.
O aumento da carga de trabalho contínuo, movimentos repetitivos e inadequação dos
mobiliários têm contribuído para o aumento do número de trabalhadores com distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), que se constitui hoje um grande problema
de saúde pública em muitos países industrializados. (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2007)
Mendes (1988) corrobora quando relata que as afecções do aparelho locomotor
constituem importante causa de morbidade e de incapacidade de adultos, e que sua
120 importância médico-social e econômica tem chamado a atenção de planejadores e
administradores de saúde e seguridade social no mundo inteiro.
A NR-32, Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, infelizmente não
contempla as questões ergonômicas, como a NR-17 (Ergonomia) preconiza. Nesta situação,
cabe à Chefia de Enfermagem e aos próprios trabalhadores recorrerem ao serviço de saúde do
trabalhador da instituição, com o objetivo de alertar quanto às situações precárias de trabalho.
Assim como também é de responsabilidade do próprio serviço de saúde do trabalho fiscalizar
todos os setores do hospital, com vistas a identificar as inadequações encontradas.
Além do impacto da exposição ao estresse, trazendo como conseqüências os distúrbios
osteomusculares, os sujeitos desta pesquisa verbalizaram também a possibilidade de o estresse
contínuo aumentar a probabilidade em contaminar-se com materiais pérfuro-cortantes e
líquidos corpóreos, adquirindo assim doenças infecto-parasitárias, como se observa a seguir:
“[...] Eu acho que a contaminação por todas essas doenças
infectoparasitárias é muito alta. A chance para que esses fatores de estresse
se converta em doença é muito fácil, muito rápido. (AUX 16)
“Você pode se contaminar, tanto no reuso como na manipulação de um
sangue contaminado. Se não tiver uma boa técnica, você pode se contaminar
com material pérfuro-cortante.” (TEC 20)
A preocupação destes trabalhadores é uma realidade no trabalho da enfermagem, pois
a exposição a riscos biológicos é contínua, principalmente dos que exercem suas funções em
âmbito hospitalar.
Na hemodiálise não é diferente, e ainda tem o agravante de que os trabalhadores de
enfermagem lidam diretamente e continuamente com líquidos corpóreos devido a natureza do
tratamento dialítico. O último censo da SBN, em 2008, demonstrou a prevalência de 7,6% de
pacientes portadores de HCV, 1,9% portadores do vírus da hepatite B e 0,7% de pacientes
HIV positivos. Estes dados referem-se a pacientes que estão em programa de hemodiálise em
todo o território nacional.
121 Os acidentes ocasionados por acidente pérfuro-cortante com agulhas são responsáveis
por 80 a 90 % das transmissões de doenças infecciosas entre trabalhadores de saúde. O risco
de transmissão de infecção através de uma agulha contaminada é de 1 em 3 para hepatite B, 1
em 30 para hepatite C e 1 em 300 para HIV. (MARZIALE; NISHIMURA; FERREIRA,
2004)
Frente a esta problemática, entende-se melhor o relato dos sujeitos quando a possível
contaminação por líquidos corpóreos e por acidentes com material pérfuro-cortantes.
Na realidade do HUCFF os trabalhadores, especialmente os auxiliares e técnicos de
enfermagem, dialisam pacientes nos andares de clínica médica, emergência e unidades de
terapia intensiva muitas vezes por estarem em isolamento respiratório devido a alguma
patologia que o impede que se desloque até a sala de hemodiálise. Nestas ocasiões, os
trabalhadores necessitam utilizar EPI adequado à demanda de trabalho, porém algumas vezes
há falta de material no hospital, o que dificulta o andamento do trabalho. O relato a seguir
exemplifica bem esta realidade:
“Essa falta de material [...], por exemplo, falta de máscara N95 pra realizar
uma diálise externa [...] eu tô me expondo a uma doença [...] devido à falta
de material.” (AUX 22)
A orientação em apenas realizar os procedimentos com os EPIs adequados é feita
devidamente a todos os trabalhadores. Porém, as equipes de enfermagem deparam-se
freqüentemente com situações emergenciais onde o paciente necessita do tratamento e a falta
de EPI é notória. Neste momento, contamos com a colaboração de todos, desde a própria
equipe, chefia e supervisão de enfermagem, para solucionar o problema, tanto do paciente em
situação de emergência, quanto do trabalhador que tem o dever de proteger-se e direito de
utilizar EPI adequado ao trabalho.
Autores como Miranda (1998), Farias, Mauro e Zeitoune (2000) e Vieira (2001)
afirmam que no contexto organizacional, observa-se que trabalhadores estressados estão mais
122 susceptíveis à ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, bem como podem provocar o
desenvolvimento de atividades com ineficiência, desorganização do trabalho, insatisfação,
diminuição da produtividade, o que trará certamente conseqüências ao indivíduo e/ou à
população assistida.
O estresse quando presente no indivíduo pode desencadear uma série de doenças. Se
nada é feito para aliviar a tensão, a pessoa cada vez mais se sentirá exaurida, sem energia,
depressiva, com crises de ansiedade e desânimo. (MIQUELIM et. al., 2004). Na área física,
muitos tipos de doenças podem aparecer, dependendo da origem genética de cada pessoa. Não
é o estresse que causa estas doenças, mas ele propicia o desencadeamento daquelas para as
quais a pessoa já tinha uma predisposição ou, ao reduzir a defesa imunológica, ele abre espaço
para que doenças oportunistas apareçam. (LIPP, 1999)
123 CAPÍTULO V
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do estudo permitiram tecer algumas considerações acerca do estresse a
que estão submetidos os trabalhadores da unidade de hemodiálise, desde a identificação do
nível de estresse e dos estressores, perpassando pelos fatores impeditivos e facilitadores para a
prevenção do estresse, chegando até a influência do estresse na saúde destes trabalhadores.
A amostra caracterizou-se por ser majoritariamente feminina (90%), com idade entre
20-40 anos. Quanto à categoria profissional, a metade pertenceu ao grupo de técnicos de
enfermagem (50%), a maior parte dos trabalhadores de enfermagem possuía 10 anos de
experiência profissional (67,5%) e 90% trabalha na unidade de HD do HUCFF também há 10
anos. A experiência na especialidade de HD também foi de uma década para a maioria dos
entrevistados (87,5%).
O serviço diurno é exercido pela maioria dos sujeitos (55%), o vínculo empregatício
mais presente na unidade é o de servidor público (72,5%), com carga horária de 32 horas
semanais. 57,5 % relataram ter outro emprego.
Com relação ao nível de estresse, obteve-se o valor de 108,5 como valor de corte entre
baixo e alto estresse, o qual poderá ser utilizado em estudos futuros como valor comparativo.
Neste estudo, observou-se a divisão igualitária entre os níveis de estresse.
A média do grupo estudado foi 106,6, menor que a encontrada em outro estudo que
aplicou o IEE (112,5), embora somente em enfermeiros. Tal fato fez refletir e inferir que os
trabalhadores da unidade, incluindo auxiliares, técnicos e enfermeiros, estão menos
estressados que os enfermeiros do estudo das autoras Da Silva Brito e Pimenta Carvalho
(2004). Além disto, foi interessante identificar que, como a amostra do presente estudo foi
constituída, na sua maioria, por auxiliares e técnicos, esperava-se que a média de estresse
fosse maior, considerando todas as atividades exercidas por estas categorias. Desta forma, foi
124 possível concluir que, ao contrário do visto em estudos sobre estresse na enfermagem, a
equipe de enfermagem da unidade de HD do HUCFF consegue lidar com o estresse diário do
setor, apesar de todos os fatores estressantes conhecidamente presentes.
Quando comparados os níveis de estresse (baixo e alto) com variáveis adquiridas
através da entrevista semi-estruturada, obtiveram-se apontamentos de possíveis associações
estatisticamente relevantes, caso houvesse uma amostra maior. Entre os três fatores que
compõem o IEE, dois apareceram como mais relevantes nestas associações: Papéis
Estressores da Carreira (Fator 2) e Papéis Intrínsecos ao Trabalho (Fator 3), quando
associadas às variáveis sexo, faixa etária, carga horária, vínculo, cargo, tempo de formação,
tempo de serviço no HUCFF, ocorrência de acidente de trabalho e de outro vínculo
empregatício.
Somando-se aos dados quantitativos, os dados qualitativos apontaram alguns aspectos
positivos na prevenção do estresse no cotidiano da unidade, estando as relações interpessoais
entre a própria equipe de enfermagem em posição privilegiada (80%), visto que foi relatada
na maioria das entrevistas. Tal achado foi relacionado ao grupo de trabalhadores servidores
públicos que está há mais tempo na unidade, formando uma equipe coesa, assim como à
receptividade favorável àqueles com menor tempo de trabalho na unidade. Além disso, o fato
de ser o HU uma instituição vinculada à Universidade, tendo como um dos seus pilares o
ensino, torna o ambiente sempre repleto de pessoas novas, estimulando os trabalhadores a
novas relações de trabalho constantemente.
O relacionamento interpessoal visto como ponto favorável à prevenção do estresse
desperta interesse, especialmente por serem poucos os estudos que corroboram com este
resultado, podendo citar os autores Rocha e Glina (2000); Stacciarini e Tróccoli (2001); e
Bartram, Joiner e Staton (2004).
125 Outro fator facilitador relatado foi a estrutura física adequada (12,5%), devido
certamente à unidade ter pouco tempo de inauguração e também porque houve o
acompanhamento da Chefe de Enfermagem da unidade de HD durante a realização das obras,
o que facilitou a distribuição do espaço de acordo com as necessidades da unidade.
Os estressores identificados nas falas da equipe de enfermagem foram voltados à falta
de recursos materiais (70%) e humanos (37,5%), e também ao relacionamento interpessoal
(30%), porém desta vez mais relacionado à equipe multiprofissional e entre as categorias de
servidor público e terceirizados. Estes fatores geradores de tensão vão ao encontro de estudos
na enfermagem, o que faz pensar que as dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem
da hemodiálise são equivalentes aos de outros setores fontes de estudos sobre o estresse,
como unidade de terapia intensiva, emergência e oncologia.
Resumindo, os achados deste estudo estão de acordo com as demais pesquisas que
abordaram o estresse ocupacional da equipe de enfermagem, apontando a enfermagem como
uma profissão desgastante e potencialmente estressante. Entretanto, pode-se afirmar que a
relação interpessoal favorável entre a equipe de enfermagem da unidade de hemodiálise do
HUCFF ameniza o estresse ocupacional, atuando como protetor da tensão diária vivenciada
pelos trabalhadores.
Os níveis de estresse e os estressores identificados nesta pesquisa servem de ponto de
partida e reflexão acerca da qualidade de vida do trabalhador de enfermagem, relacionada às
condições de trabalho, organização do trabalho e valorização profissional. É de fundamental
importância o conhecimento da existência do estresse e de seus fatores desencadeantes, assim
como o investimento institucional na prevenção do estresse, contribuindo para um serviço de
saúde do trabalhador presente e eficaz nas medidas intervencionistas objetivando a melhoria
da saúde do trabalhador de enfermagem.
126 Recomendações Gerais:
Diante dos resultados que apontaram, especialmente, a presença do estresse
ocupacional na unidade estudada, os principais estressores e as conseqüências destes na saúde
dos trabalhadores da equipe de enfermagem recomendam-se:
• Que as faculdades e escolas de enfermagem discutam, nas disciplinas sobre saúde do
trabalhador, a abordagem do estresse ocupacional e o seu gerenciamento, enfatizando
o eustresse e o distresse;
• Que os órgãos de classe de enfermagem estimulem seus associados a lutarem por
melhores condições de trabalho;
• Novos estudos com maior abrangência sobre o estresse, sua conseqüência no
organismo humano e no desempenho do trabalho, prevenção, gerenciamento e fatores
estressores, com vistas a aprimorar a qualidade de vida e de trabalho da equipe de
enfermagem.
Recomendações à Chefia de Enfermagem da Hemodiálise do HUCFF:
• Amenizar ou até mesmo extinguir os principais fatores impeditivos da unidade, que se
resumem em aquisição de máquinas de diálise novas e recrutamento de pessoal
qualificado (auxiliares, técnicos e enfermeiros);
• Estimular a integração da equipe de enfermagem da unidade, através de reuniões e
encontros programados para consolidar a interação e favorecer o relacionamento
interpessoal;
• Estimular maior participação dos trabalhadores de enfermagem no planejamento,
organização e treinamento em serviço, visando a conscientização destes profissionais
quanto aos estressores da unidade, quanto à utilização dos fatores facilitadores em
favor da sua própria saúde, de seu melhor desempenho e satisfação no trabalho;
127 • Programas de prevenção e treinamento, em conjunto com o serviço de saúde do
trabalhador, abordando os estressores da unidade, objetivando o conhecimento e os
aspectos de prevenção e gerenciamento do estresse.
128 REFERÊNCIAS
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) 154, de 15 de junho de 2004.
ANSELMI, M. L.; ANGERAMI, L. S.; GOMES, E. L. R. Rotatividade dos trabalhadores de
enfermagem nos hospitais do município de Ribeirão Preto. Revista Panamericana de Saúde
Pública, v. 2, n. 3, p. 44-50, 1997.
AQUINO, E. M. L.; ARAÚJO, M. J.; MENEZES, G. M. Saúde e trabalho de mulheres
profissionais de enfermagem em um hospital público de Salvador, Bahia. Revista Brasileira
de Enfermagem, v.43, n.3/4, p. 245-57, 1993.
ARAÚJO, T.M. et al. Aspectos psicossociais do trabalho e distúrbios psíquicos entre
trabalhadores de enfermagem. Revista de Saúde Pública, v. 37, p. 424-33, 2003.
AVELLAR, L. Z.; IGLESIAS, A.; VALVERDE, P. F. Sofrimento psíquico em trabalhadores
de enfermagem de uma unidade de oncologia. Revista Psicologia em Estudo, v.12, n.3, p.
475-81, 2007.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
BARTRAM, T.; JOINER, T. A.; STATON, P. Factors affecting the job stress and job
satisfaction of Australian nurses: implications for recruitment and retention. Contemp Nurse,
v. 17, n.3, p. 293-304, 2004.
BATISTA, K. M.; BIANCHI, E. R. F. Estresse do enfermeiro em unidade de emergência.
Revista Latino-americana de Enfermagem, v.14, n. 4, p. 534-9, 2006.
BIANCHI, E.R.F. Stress entre enfermeiros hospitalares. [Livre docência]. São Paulo:
Escola de Enfermagem /USP, 1999.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma regulamentadora nº 9 - Programa de
prevenção de riscos ambientais. Portaria nº 3214 de 08 de junho de 1978.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma regulamentadora nº 32 – Segurança e
saúde no trabalho em estabelecimentos de assistência à saúde. Portaria nº 3214 de 08 de
junho de 1978.
CAMELO, S. H. H.; ANGERAMI, E. L. S. Sintomas de estresse nos trabalhadores atuantes
em cinco núcleos de saúde da família. Revista Latino-americana de Enfermagem, v.12,
n.1, p. 14-21, 2004.
CARTA DE OTTAWA. Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde.
Ottawa, novembro de 1986.
CARVALHO, D.L. et al. Enfermagem em setor fechado – estresse ocupacional. Revista
Mineira de Enfermagem, v. 8, n. 2, p. 290-294, abr./jun. 2004.
CHAMORRO, M. V.; ZEITOUNE, R. C. G. A enfermagem e os riscos ocupacionais no
serviço de quimioterapia. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v.3, n.3, 1999.
129 COSTA, J.R.A.; LIMA, J.V.; ALMEIDA, P.C. Stress no trabalho do enfermeiro. Revista da
Escola de Enfermagem da USP, v.37, n. 3, p. 63-71, 2003.
DA SILVA BRITTO, E.; PIMENTA CARVALHO, A. M. Stress, coping (enfrentamento) e
saúde geral dos enfermeiros que atuam em unidades de terapia intensiva e problemas renais.
Enfermería Global, n. 4, 2004.
DAUGIRDAS, J.T. Manual de diálise. 3.ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003.
DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 5ª edição.
São Paulo: Cortez, 1992.
DERMODY, K; BENNETT, P. N. Nurse stress in hospital and satellite haemodialysis units.
Jornal Renal Care, v.34, n. 1, p. 28-32, 2008.
ELIAS, M. A.; NAVARRO, V. L. A relação entre o trabalho, a saúde e as condições de vida:
negatividade e positividade no trabalho das profissionais de enfermagem de um hospital
escola. Revista Latino-americana de Enfermagem, v.14 , n. 4, p. 517-25, jul./ago. 2006.
FARIAS, S. N. P.; MAURO, M. Y. C.; ZEITOUNE, R. C. G. Questões legais sobre a saúde
do trabalhador de enfermagem. Revista de Enfermagem da UERJ, v.8, n.1, p.28-32, 2000.
FERRAREZE, M.V.G.; FERREIRA, V.; CARVALHO, A.M.P. Percepção do estresse entre
enfermeiros que atuam em terapia intensiva. Revista Acta Paulista de Enfermagem, v.19,
n.3, p. 310-15, 2006.
FERREIRA, L. R. C.; DE MARTINO, M. M. F. O estresse do enfermeiro: análise das
publicações sobre o tema. Revista Ciências Médicas, v. 15, n. 3, p. 241-8, 2006.
FIGUEROA, N. L. et al. Um instrumento para a avaliação de estressores psicossociais no
contexto de emprego. Revista Psicologia: reflexão e crítica, v. 14, n. 3, p. 653-9, 2001.
FILGUEIRAS, J. C.; HIPPERT, M. I. Estresse. In: Saúde mental e trabalho. Petrópolis:
Vozes, 2002.
FREUDENBERG, H. J. Stress management and burn out. Journal ocupational health
psychology, v.17, p. 262-321, 2000.
FUREGATO, A. R. F.; MORAIS, M. C. Bases do relacionamento interpessoal em
enfermagem. In: Programa de Atualização em Enfermagem: saúde do adulto. (PROENF).
Porto Alegre: Artmed/Panamericana Editora, 2006.
GAUTHIER, J. H. M. et al. Pesquisa em Enfermagem. Novas metodologias aplicadas. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
GODFR, K. Sharp practice. Nursing times. 97 (2): 22-4, 2001.
GOMES, C. M.; LACAZ, F. A. C. Saúde do trabalhador: novas-velhas questões. Ciência e
Saúde Coletiva, v.10, n.4, p.797-807, 2005.
GOMES, G. C.; LUNARDI FILHO, W. D.; ERDMANN, A. L. O sofrimento psíquico em
trabalhadores de UTI interferindo no seu modo de viver a enfermagem. Revista de
Enfermagem da UERJ, v.14, n.1, p. 93-109, 2006.
130 GUERRER, F. J. L.; BIANCHI, E. R. F. Caracterização do estresse nos enfermeiros de
unidade de terapia intensiva. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v.42, n.2, p. 35562, 2008.
GUIDO, L.A. Stress e Coping entre enfermeiros de centro cirúrgico e recuperação
anestésica. 2003. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2003.
HEALY, C. M.; MCKAY, M. F. Nursing stress: the effects of coping strategies and job
satisfaction in a sample of Australian nurse. Journal Adv Nursing. v.31, n.3, p. 681-8, 2000.
HOGA, L. A. K. Causas de estresse e mecanismos de promoção do bem-estar dos
profissionais de enfermagem de unidade neonatal. Revista de Enfermagem Acta Paulista,
v.15, n.2, p. 18-25, 2002.
HOUAISS, A.; VILLAR, M.S.; FRANCO, F.M. Dicionário da língua portuguesa. Rio de
Janeiro, 2001.
I.C.N. Internacional Council of Nurses. SEW NEWS. Ed. Nancy Vatré, set/out, 1998.
JACKSON FILHO, J. M. Considerações sobre o tema “saúde dos trabalhadores da saúde” e
breve apresentação. Editorial. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 33, n. 117, 2008.
KLEINMAN, M. J. Burnout: ocupational stress. New York: Plenum Press, 2003.
KRAFT, U. Com esforço e perseverança tudo se alcança, reza a lenda. Mas cuidado: o
excesso de trabalho e o stress prolongado podem causar a síndrome de burn out, provocando
dores, irritação e depressão. Revista Mente e Cérebro, p. 61-72, 2006.
LAZARUS, R.S.; FOLKMAN, S. Stress, appraisal and coping. Nova Iorque: Springer,
1984.
LAZARUS, R.S.; LAZARUS, B.N. Passion and Reason. Nova Iorque: Oxford U. Press,
1994.
LIPP, M.E.N. et al. Como enfrentar o stress. 4. ed. São Paulo: Ícone, 1998.
______. Mecanismos neuropsicofisiológicos do stress: teoria e aplicações clínicas. São
Paulo: Casa do Psicólogo: 2003.
______. Pesquisas sobre stress no Brasil. Saúde, ocupações e grupos de risco. Campinas,
SP: Papirus, 1996.
______.O stress está dentro de você. São Paulo: Contexto, 1999.
LIPP, M.E.N.; NOVAES, L.E. Conhecer e enfrentar o stress. 5. ed. São Paulo: Contexto,
2003.
LIPP, M. E. N.; TANGANELLI, M. S. Stress e qualidade de vida em magistrados da Justiça
do Trabalho: diferenças entre homens e mulheres. Revista Psicologia: Reflexão Crítica, v.
15, n. 3, p. 537-48, 2002.
131 MACEDO, L.E.T. et al. Estresse no trabalho e interrupção de atividades habituais, por
problemas de saúde, no Estudo Pró-Saúde. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.23,
n. 10, p. 2327-2336, out. 2007.
MASLACH, C. Entendendo o burn out. In: Stress e Qualidade de vida no trabalho,
perspectivas atuais da saúde ocupacional. São Paulo: Atlas, 2008.
MANETTI, M. L.; MARZIALE, M. H. P. Fatores associados à depressão relacionada ao
trabalho de enfermagem. Revista Estudos de Psicologia, v.12, n.1, p. 79-85, 2007.
MANGOLIN, E. G. M et. al. Avaliação do nível de estresse emocional na equipe de
enfermagem de Hospitais de Lins/SP. Saúde em Revista, v.5, n.10, p.21-28, 2003.
MARGIS, R. et. al. Relação entre estressores, estresse e ansiedade. Revista de Psiquiatria,
Rio Grande do Sul, v.25, n. 1, p. 65-74, abr. 2003.
MARTINS, L. M. M. et al. Agentes estressores no trabalho e sugestões para amenizá-los.
Revista da Escola de Enfermagem da USP, v.34, .1, p.52-8, 2000.
MARZIALE, M. H. P.; NICHIMURA, K. Y. N.; FERREIRA, M. M. Riscos de contaminação
ocasionados por acidentes de trabalho com material pérfuro-cortante entre trabalhadores de
enfermagem. Revista Latino-americana de Enfermagem, v.12, n.1, p.36-42, 2004.
McCONNELL, E. A. Burnout in the nursing profession. Coping strategies, causes and
costs. EUA: The C.V. Mosby Company, 1982.
MEDEIROS, S. M. et al. Condições de trabalho e enfermagem: a transversalidade do
sofrimento no cotidiano. Revista Eletrônica de Enfermagem, v.08, n.2, p.233-240, 2006.
MENDES, I. A. C. Editorial Convivendo e enfrentando situações de stress profissional.
Revista Latino-americana de Enfermagem, v.9, n.2, p.1, 2001.
MEIRELLES, N.F.; ZEITOUNE, R.C.G. Satisfação no trabalho e fatores de estresse na
equipe de enfermagem de um centro cirúrgico oncológico. Escola Anna Nery Revista de
Enfermagem, v.7, n.1, p.78-88, abr. 2003.
MENDES, R. O impacto dos efeitos da ocupação sobre a saúde de trabalhadores. Revista de
Saúde Pública, v.22, n.4, 1988.
MINAYO, M.C.S.; SANCHES, O. Métodos quantitativo e qualitativo: oposição ou
complementaridade? Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 9, n.3. jul./set. 1993.
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. LER/DORT – Norma
técnica de avaliação de incapacidade para fins de benefícios previdenciários – INSS.
Disponível em www.saudeemmovimento.com.br/conteudos. Acesso em julho de 2007.
MIQUELIM, J. D. L. et al. Estresse nos profissionais de enfermagem que atuam em uma
unidade de pacientes portadores de HIV-AIDS. Jornal de Doenças Sexualmente
Transmissíveis, v. 16, n.3, p. 24-31, 2004.
MIRANDA, A. F. Estresse ocupacional: inimigo invisível do enfermeiro [dissertação].
Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 1998.
132 MIRANDA, C.M.L; GARCIA, T.R.; SOBRAL, V.R.S. Um estudo sobre a construção da
identidade profissional da enfermeira. R Enferm UERJ, Rio de Janeiro, v. 4, p.117-124, abr.
1996.
MONTANHOLI, L.L.; TAVARES, D.M.S.; OLIVEIRA, G.R. Estresse: fatores de risco no
trabalho de enfermeiro hospitalar. Revista Brasileira de Enfermagem, v.59, n.5, p. 661-5,
set.-out. 2006.
MUROFUSE, N.T.; ABRANCHES, S.S.; NAPOLEÃO, A.A. Reflexões sobre estresse e
burnout e a relação com a enfermagem. Revista Latino-americana de Enfermagem, v. 13,
n. 2, p. 255-61, mar./abr. 2005.
MURTA, S. G.; TRÓCCOLI, B. T. Avaliação de intervenção em estresse ocupacional.
Revista de Psicologia: Teoria e Pesquisa, v.20, n.1, p. 39-47, 2004.
Organização Internacional do Trabalho. Factores Psicosociales em el Trabajo. Ginebra:
Oficina Internacioal del Trabajo, 1986.
ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE – OPAS. Promoção da Saúde: Cartas de
Ottawa, Adelaide, Sundsvall e Santa Fé de Bogotá. In: Ministério da Saúde/Fiocruz.
[Resumos] Brasília: MS/IEC, 1996.
ORTIZ, G. C. M.; PATIÑO, N. A. M. El estress y su relación con lãs condiciones de trabajo
Del personal de enfermería. Revista Investigacion y Educación em Enfermería.
Medellín/Colombia, v.9, n.2, p. 83-99, 1991.
PAFARO, R. C. Estudo do stress do enfermeiro com dupla jornada de trabalho em um
hospital de oncologia pediátrica de Campinas [dissertação]. Campinas: Universidade
Estadual de Campinas, 2002.
PEDUZZI, M.; ANSELMI, M.L. O processo de enfermagem: a cisão entre planejamento e
execução do cuidado. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 55, p. 392-8, 2002.
PENICHE, A.C.G.; NUNES, L. M. Estresse-ansiedade do enfermeiro em sala de recuperação
anestésica. Revista SOBECC, v.6, n.3, p.19-23, 2001.
PITTA, A. Hospital, dor e morte como ofício. 5ª ed. São Paulo: Annablume/Hacitec, 2003.
ROBAZZI, M. L. C. C.; MARZIALE, M. H. P. A norma regulamentadora 32 e suas
implicações sobre os trabalhadores de enfermagem. Revista Latino-americana de
Enfermagem, v.12, n.5, p. 834-6, 2004.
ROCHA, L. G.; GLINA, D. M. R. Distúrbios psíquicos relacionados ao trabalho. In: Saúde
no trabalho. São Paulo: Roca, 2000.
ROCHA, L. E.; RIGOTTO, R. M.; BUSCHINELLI, J. T. P. Isto é trabalho de gente. Vida,
doença e trabalho no Brasil. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1994.
RODRIGUES, A. B.; CHAVES, E. C. Fatores estressantes e mecanismos de coping dos
enfermeiros atuantes em oncologia. Revista Latino-americana de Enfermagem, v.16, n.1,
2008.
133 ROSSI, A. M. Homens x mulheres: o preço do stress. Trabalho apresentado no IV Congresso
de Stress da ISMA-BR e VI Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho.
Porto Alegre, 2004.
ROSSI, A. M.; PERREWÉ, P. L.; SAUTER, S. L. Stress e qualidade de vida no trabalho.
Perspectivas atuais da saúde ocupacional. São Paulo: Atlas, 2008.
SANTOS, J. M.; OLIVEIRA, E. B.; MOREIRA, A. C. Estresse, fator de risco para a saúde do
enfermeiro em centro de terapia intensiva. Revista de Enfermagem da UERJ, v.14, n.4. p.
580-5, 2006.
SCHOR, N. Nefrologia. Guias de medicina ambulatorial e hospitalar. Barueri (SP):
Manole, 2002.
SELYE, H. The stress of life. New York: McGraw-Hill, 1956.
SELYE, H. Stress, a tensão da vida. 2ª ed. São Paulo: Ibrasa, 1959.
SELYE, H. Stress without distress. New York: Harper and Row: 1975.
SHIMIZU, H.E.; CIAMPONE, M.H.T. Sofrimento e prazer no trabalho vivenciados pelas
enfermeiras que trabalham em unidades de terapia intensiva em um hospital escola. Revista
da Escola de Enfermagem da USP, v.33, n.1, p. 95-106, 1999.
SILVA, J. J. S. Estresse, o impulso da vida. São Caetano do Sul: Yendis, 2005.
SILVA, M.K.D.; ZEITOUNE, R.C.G. Riscos ocupacionais em um setor de hemodiálise na
perspectiva dos trabalhadores da equipe de enfermagem. Escola Anna Nery Revista de
Enfermagem, v.13, n.2, p. 279-86, 2009.
SPINDOLA, T.; MARTINS, E.R.C. O estresse e a enfermagem – a percepção das auxiliares
de enfermagem de uma instituição pública. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem,
v.11, n.2, p. 212-9, 2007.
SPINDOLA, T.; SANTOS, R.S. Mulher e trabalho: a história de vida de mães trabalhadoras
de enfermagem. Revista Latino-americana de Enfermagem. Ribeirão Preto, v.11, n.5, p.
593-600, 2003
STACCIARINI, J.M.R.; TRÓCCOLI, B.T. Instrumento para mensurar o estresse
ocupacional: inventário de estresse em enfermeiros (IEE). Revista Latino-americana de
Enfermagem, Ribeirão Preto, v.8, n.6, p. 40-49, dez. 2000.
STACCIARINI, J.M.R.; TRÓCCOLI, B.T. O estresse na atividade ocupacional do
enfermeiro. Revista Latino-americana de Enfermagem, v. 9, n.2, p. 17-25, 2001.
VERAS, V. S. D. Aumento da jornada de trabalho: qual a repercussão na vida dos
trabalhadores de enfermagem? [Dissertação]. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, 2003.
VIEIRA, L. C. Estresse ocupacional em enfermeiros de um hospital universitário da cidade de
Campinas. [Dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2001.
134 APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA
T
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O ESTRESSE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO
DA HEMODIÁLISE
Você foi selecionado e está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “O estresse da equipe
de enfermagem no contexto da hemodiálise”, que tem por objetivos: Identificar os níveis de estresse dos
trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de HD; descrever, na percepção dos trabalhadores da equipe
de enfermagem, os fatores de risco, no trabalho, para o estresse a que estão submetidos na unidade de
hemodiálise; analisar os fatores facilitadores e impeditivos de ações de prevenção de estresse para os
trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de hemodiálise; e discutir as implicações do estresse na
saúde dos trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de hemodiálise.
A pesquisa trará benefícios para a equipe de enfermagem, visto que permitirá a reflexão acerca dos
fatores de estresse existentes em seu local de trabalho assim como das implicações destes na sua saúde enquanto
trabalhador, possibilitando conseqüentemente a discussão junto com as chefias e no contexto de trabalho
buscando a melhoria de sua qualidade de vida no trabalho e da assistência de enfermagem e o repasse de tais
informações para outros profissionais.
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será
divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas para a pesquisa,
podendo ser utilizado também para estudos futuros e publicação em periódicos e eventos científicos. O material
proveniente da entrevista e o questionário ficará em poder da pesquisadora e após cinco anos será incinerado.
A sua participação é voluntária, isto é, qualquer momento poderá recusar-se a responder qualquer
pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento, sem sofrer qualquer tipo de punição ou
constrangimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder ao Inventário de Estresse em Enfermeiros e a
uma entrevista semi-estruturada, a qual será gravada em formato MP3. Em nenhum momento será exposto a
riscos devido a sua participação nesta pesquisa.
Informamos ainda que você não terá nenhum tipo de despesa e que não receberá nenhum tipo de
pagamento ou gratificação pela sua participação nesta pesquisa.
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço das pesquisadoras, podendo
tirar dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis da pesquisa:
Michele Karla Damacena da Silva
Endereço: Rua Magé, 74/301
Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-130
Regina Célia Gollner Zeitoune
Rua Pereira de Siqueira 20/101
Tijuca – Rio de Janeiro - CEP 20550-020
Telefone: 9889-9452 / 7825-5911
Telefone: 2293-8999
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP), sala 01D 46, 1º andar, tel: 2562-2480. E-mail: [email protected].
135 CONSENTIMENTO
Acredito ter sido suficientemente informado das informações sobre o estudo acima, que li ou que foi lido pra
mim. Ficaram claros pra mim quais são os objetivos do estudo, os procedimentos a serem realizados e a garantia
de confidencialidade, e ficou clara que a minha participação é isenta de despesas. Declaro estar ciente do teor
deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em participar do estudo proposto.
Rio de Janeiro, _____ de _______________________ de 200__.
____________________________________
Nome do sujeito do estudo
____________________________________
Assinatura do sujeito do estudo
_____________________________________
Assinatura da pesquisadora
136 APÊNDICE B – CARTA DE AUTORIZAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVER A PESQUISA NO HOSPITAL
Eu, aluna do Curso de Pós-graduação Strictu Sensu em Enfermagem, da instituição supracitada,
tenho por objetivos desenvolver uma pesquisa que se destina a identificar os níveis de estresse dos
trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de HD; descrever os fatores de risco para o
estresse a que estão submetidos os trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de hemodiálise
(HD), na perspectiva do trabalhador; analisar os fatores facilitadores e impeditivos de ações de
prevenção de estresse para os trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de HD; e discutir as
implicações do estresse na saúde dos trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de HD do
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho.
Solicito através deste, o seu consentimento para que possa coletar os dados da pesquisa nesta
Instituição, que será através da realização de questionário e entrevista. A coleta dos dados será
previamente agendada com os sujeitos do estudo, que serão os profissionais de enfermagem que atuam
no setor de hemodiálise desta instituição.
A citação do nome da Instituição está vinculada a esta autorização que poderá nela consentir ou não a
menção do nome da mesma.
O aceite da Instituição representará uma contribuição para a produção de conhecimento acerca da saúde
dos trabalhadores de enfermagem.
Rio de Janeiro, ______ de ____________________ de 2008.
_____________________________
Responsável da Instituição
______________________________
Pesquisadora
137 APÊNDICE C – INVENTÁRIO DE ESTRESSE EM ENFERMEIROS (IEE)
Fatores de estresse para o profissional da equipe de enfermagem
Leia cuidadosamente cada uma das sentenças listadas abaixo, que apontam situações comuns
à atuação dos trabalhadores da equipe de enfermagem.
Considerando o ambiente de trabalho onde se encontra no momento, indique se nos últimos
seis meses elas representaram para você fontes de tensão ou estresse, de acordo com a
seguinte escala:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
Fator 1 – Relações Interpessoais (17 itens)
01. Prestar assistência ao paciente:
(1) nunca
(2) raramente
02. Trabalhar em equipe:
(1) nunca
(2) raramente
03. Relacionamento com a chefia:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
04. Atender familiares de pacientes:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
05. Prestar assistência a pacientes graves:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
06. Relacionamento com os colegas de trabalho:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
07. Executar procedimentos rápidos:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
08. Relacionamento com a equipe médica:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
138 09. Dedicação exclusiva à profissão:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(5) sempre
(6) não se aplica
10. Especialidade em que trabalho:
(1) nunca
(2) raramente
11. Ensinar o aluno:
(1) nunca
(2) raramente
12. Atender um grande número de pessoas:
(1) nunca
(2) raramente
13. Manter-se atualizada:
(1) nunca
(2) raramente
14. Resolver imprevistos que acontecem no local de trabalho:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
15. Responsabilizar-se pela qualidade de serviço que a instituição presta:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(5) sempre
(6) não se aplica
16. Conciliar as questões profissionais com as familiares:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
17. Fazer um trabalho repetitivo:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
Fator 2 – Papéis Estressores da Carreira (11 itens)
18. Restrição à autonomia profissional:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
19. Indefinição do papel do enfermeiro:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
20. Interferência da política institucional no trabalho:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
139 21 Sentir-se impotente diante das tarefas a serem realizadas:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
22. Impossibilidade de prestar assistência direta ao paciente:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
23. Distanciamento entre teoria e prática:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
24. Trabalhar em clima de competitividade:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
25. Ter prazo curtos para cumprir as ordens:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
26. Trabalhar com pessoas despreparadas:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
27. Trabalhar em instalações físicas inadequadas:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
28. Trabalhar em ambiente insalubre:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
Fator 3 – Fatores Intrínsecos ao Trabalho (10 itens)
29. Responder a mais de uma função neste emprego:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
30. Desenvolver atividade além da minha função ocupacional:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
31. Cumprir na prática carga horária maior:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
32. Levar serviço para fazer em casa:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
140 33. Sentir desgaste emocional com o trabalho:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
(4) muitas vezes
(5) sempre
(6) não se aplica
34. Executar tarefas distintas simultaneamente:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
35. Falta de material necessário ao trabalho:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
36. Fazer esforço físico para cumprir o trabalho:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
(4) muitas vezes
37. Administrar ou supervisionar o trabalho de outras pessoas:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
38. Falta de recursos humanos:
(1) nunca
(2) raramente
(3) algumas vezes
141 APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA
1. Aspectos pessoais e profissionais:
1.1 – Iniciais:
1.2 – Idade:
1.3 – Sexo: (
) feminino
(
) masculino
1.4 – Categoria profissional: ( ) auxiliar de enfermagem ( ) técnico de enfermagem
( ) enfermeiro especialista em nefrologia ( ) enfermeiro não especialista em nefrologia
1.5 – Cargo nesta Instituição:
1.6 – Ano de formação profissional:
1.7 – Tempo de serviço nesta Instituição:
1.8 – Tempo de serviço na unidade de hemodiálise desta Instituição:
1.9 – Tempo de experiência em hemodiálise:
1.10 – Turno de trabalho:
1.11 – Carga horária semanal:
1.12 – Vínculo empregatício: ( ) Servidor Público ( ) Terceirizado
1.13 – Possui outro emprego: ( ) sim. Qual o setor?
(
) não
2. Aspectos relacionados à saúde do trabalhador durante seu trabalho no HUCFF:
2.1 – Já sofreu algum acidente de trabalho? ( ) sim ( ) não
Em caso afirmativo, teve afastamento do trabalho? ( ) sim ( ) não
2.2 – Já teve algum diagnóstico de doença relacionada ao trabalho? ( ) sim ( ) não
Em caso afirmativo, teve afastamento do trabalho? ( ) sim ( ) não
2.3 – Teve algum afastamento do trabalho por outros motivos? ( ) sim ( ) não
Especifique:
3. Entrevista:
2.1 – Com vistas à sua realidade de trabalho na unidade de HD, que fatores facilitam a
prevenção do estresse?
2.2 – E os que dificultam?
2.3 – Como você entende que estes fatores de estresse podem influenciar na sua saúde
enquanto trabalhador(a)?
142 APÊNDICE E – TABELA DE ASSOCIAÇÕES ESTRESSE x VARIÁVEIS
Fatores do IEE
Fator 1
Fator 2
Fator 3
Relações
Interpessoais
Papéis Estressores
da Carreira
Fatores Intrínsecos
ao Trabalho
n (%)
n (%)
n (%)
Estresse
Global
n (%)
Variáveis
Baixo
estresse
Sexo
Feminino
Masculino
Faixa Etária
< 38 anos
≥ 38 anos
Turno de trabalho
Diurno
Noturno
Carga horária
32 horas
40 horas
Vínculo
Servidor
Terceirizado
Cargo exercido
Aux + Técnicos
Enfermeiros
Tempo de formação
< 9 anos
≥ 9 anos
Tempo de serviço no HU
< 4 anos 6 meses
≥ 4 anos 6 meses
Baixo
estresse
p = 0,302
19 (52,8)
01 (25)
17 (47,2)
03 (75%)
09 (45)
11 (55)
11 (55)
09 (45)
19 (52,8)
02 (50)
08 (36,4)
11 (64,7)
09 (45)
12 (60)
14 (48,3)
06 (54,5)
12 (54,5)
09 (52,9)
14 (48,3)
06 (54,5)
13 (44,8)
08 (72,7)
15 (44,1)
05 (83,3)
13 (44,8)
08 (72,7)
13 (56,5)
07 (41,2)
18 (52,9)
03 (50)
10 (50)
10 (50)
10 (45,5)
08 (47,1)
16 (55,2)
03 (27,3)
16 (55,2)
03 (27,3)
16 (47,1)
03 (50)
09 (39,1)
12 (70,6)
14 (60,9)
05 (29,4)
14 (63,6)
07 (41,2)
09 (45)
10 (50)
15 (51,7)
06 (54,5)
12 (60)
07 (35)
08 (36,4)
10 (58,8)
14 (48,3)
05 (45,5)
15 (51,7)
06 (54,5)
14 (48,3)
05 (45,5)
09 (45)
13 (65)
14 (41,2)
05 (83,3)
15 (68,2)
07 (41,2)
13 (56,5)
06 (35,3)
15 (51,7)
07 (63,6)
9 (45)
10 (50)
14 (48,3)
04 (36,4)
p = 0,377
15 (51,7)
07 (63,6)
14 (48,3)
04 (36,4)
p = 0,238
20 (58,8)
02 (33,3)
14 (41,2)
04 (66,7)
p = 0,83
10 (43,5)
12 (70,6)
13 (56,5)
05 (29,4)
p = 0,624
p = 0,50
11 (55)
10 (50)
07 (31,8)
10 (58,8)
p = 0,377
p = 0,157
10 (43,5)
11 (64,7)
11 (55)
07 (35)
p = 0,87
p = 0,71
20 (58,8)
01 (16,7)
15 (41,7)
03 (75)
p = 0,170
p = 0,578
p = 0,50
p = 0,376
21 (58,3)
01 (25)
p = 0,578
p = 0,50
11 (55)
10 (50)
16 (44,4)
03 (75%)
Alto
estresse
p = 0,230
p = 0,142
p = 0,49
p = 0,624
10 (50)
10 (50)
08 (40)
13 (65)
p = 0,619
p = 0,262
10 (43,5)
10 (58,8)
11 (55)
08(40)
Baixo
estresse
p = 0,102
p = 0,110
p = 0,91
19 (55,9)
01 (16,7)
20 (55,6)
01 (25)
p = 0,110
p = 0,50
15 (51,7)
05 (45,5)
17 (47,2%)
02 (50%)
Alto
estresse
p = 0,265
p = 0,588
p = 0,50
15 (51,7)
05 (45,5)
Baixo
estresse
p = 0,264
p = 0,76
14 (63,6)
06 (35,3)
Alto
estresse
p = 0,658
p = 0,376
Tempo de serviço na HD do HU
< 3 anos 8 meses
≥ 3 anos 8 meses
Tempo de experiência HD
< 4 anos
≥ 4 anos
Acidente de trabalho no HU
Sim
Não
Possui outro emprego
Sim
Não
Alto
estresse
11 (55)
11 (55)
p = 0,50
9 (45)
9 (45)
p = 0,376
09 (45)
11 (55)
11 (55)
09 (45)
p = 0,50
10 (50)
11 (55)
10 (50)
09 (45)
p = 0,618
10 (50)
11 (55)
10 (50)
09 (45)
p = 0,618
10 (50)
12 (60)
10 (50)
08 (40)
p = 0,488
10 (47,6)
10 (52,6)
11 (52,4)
9 (47,4)
11 (52,4)
10 (52,6)
10 (47,6)
09 (47,4)
11 (52,4)
10 (52,6)
10 (47,6)
09 (47,4)
11 (52,4)
11 (57,9)
10 (47,6)
08 (42,1)
p = 0,55
14 (63,6)
6 (33,3)
08 (36,4)
12 (66,7)
07 (38,9)
14 (63,6)
p = 0,50
11 (47,8)
09 (52,9)
12 (52,2)
8 (47,1)
p = 0,30
p = 0,107
11 (61,1)
08 (36,4)
06 (33,3)
15 (68,2)
13 (56,5)
06 (35,3)
06 (33,3)
16 (72,7)
p = 0,607
p = 0,157
10 (43,5)
11(64,7)
12 (66,7)
07 (31,8)
p = 0,14
12 (52,2)
09 (52,9)
11 (47,8)
08 (47,1)
12 (66,7)
06 (27,3)
p = 0,538
13 (56,5)
09 (52,9)
10 (43,5)
08 (47,1)
143 APÊNDICE F – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/HUCFF
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Faculdade de Medicina
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP
CEP – MEMO – nº 003/09
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2009.
Da: Coordenadora do CEP
A(o): Sr. (a) Pesquisador (a): Enfª Michele Karla Damacena da Silva
Assunto: Parecer sobre projeto de pesquisa.
Sr (a) Pesquisador (a),
Informo que a V. Sa. que o CEP constituído nos Termos da Resolução nº 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde e, devidamente registrado na Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa, recebeu, analisou e emitiu parecer sobre a documentação referente ao protocolo de
pesquisa páginas 001 a 064 e seu respectivo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
conforme abaixo discriminado:
Protocolo de Pesquisa: 230/08 – CEP
Título: “O estresse da equipe de enfermagem e sua relação com o estresse no contexto
da hemodiálise”.
Pesquisador (a) responsável: Enfª Michele Karla Damacena da Silva
Data da apreciação do parecer: 15/12/2008
Parecer: “APROVADO”
Informo, ainda, que V. Sa. Deverá apresentar relatório semestral, previsto para
15/06/2009, anual e/ou relatório final para este Comitê acompanhar o desenvolvimento do
projeto. (item VII. 13.d., da Resolução nº 196/96 – CNS/MS)