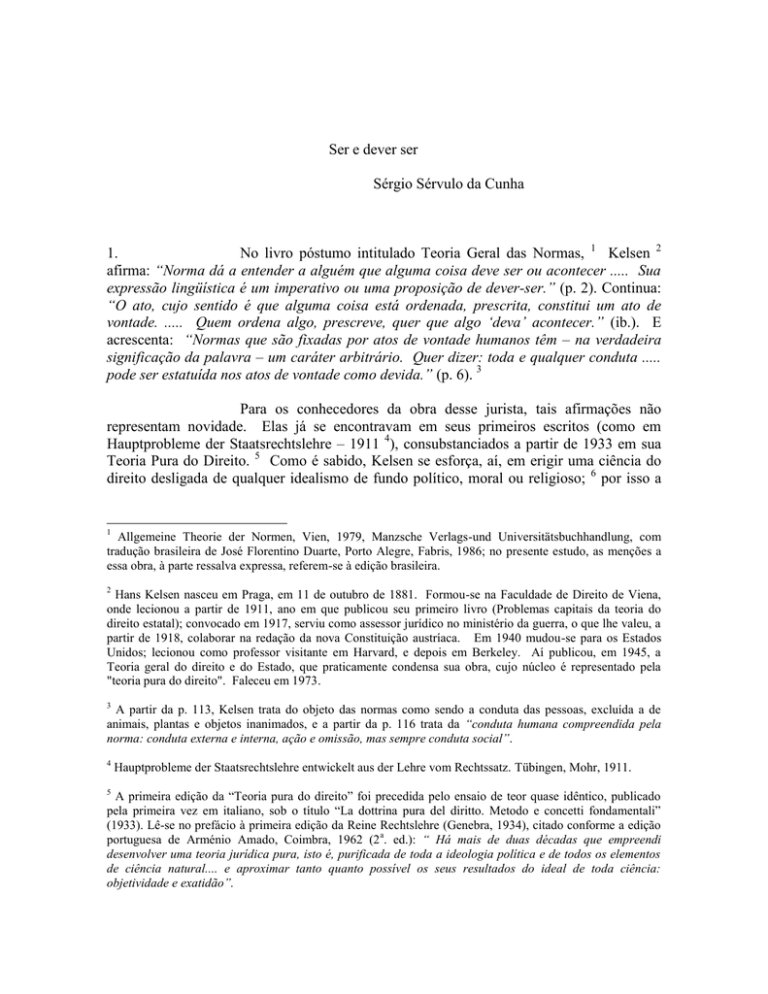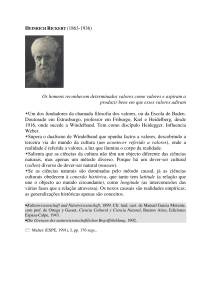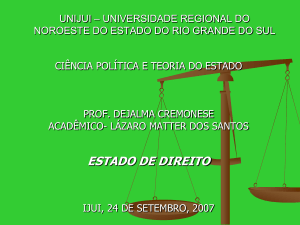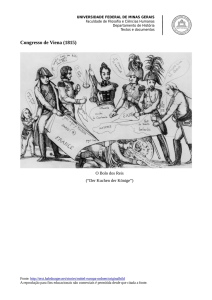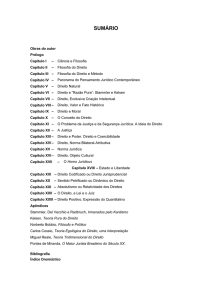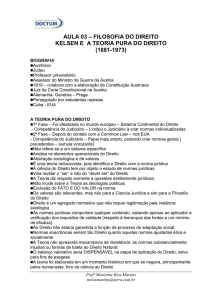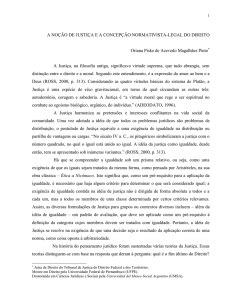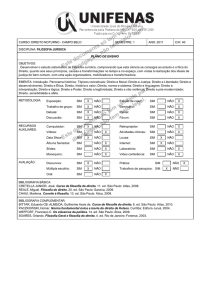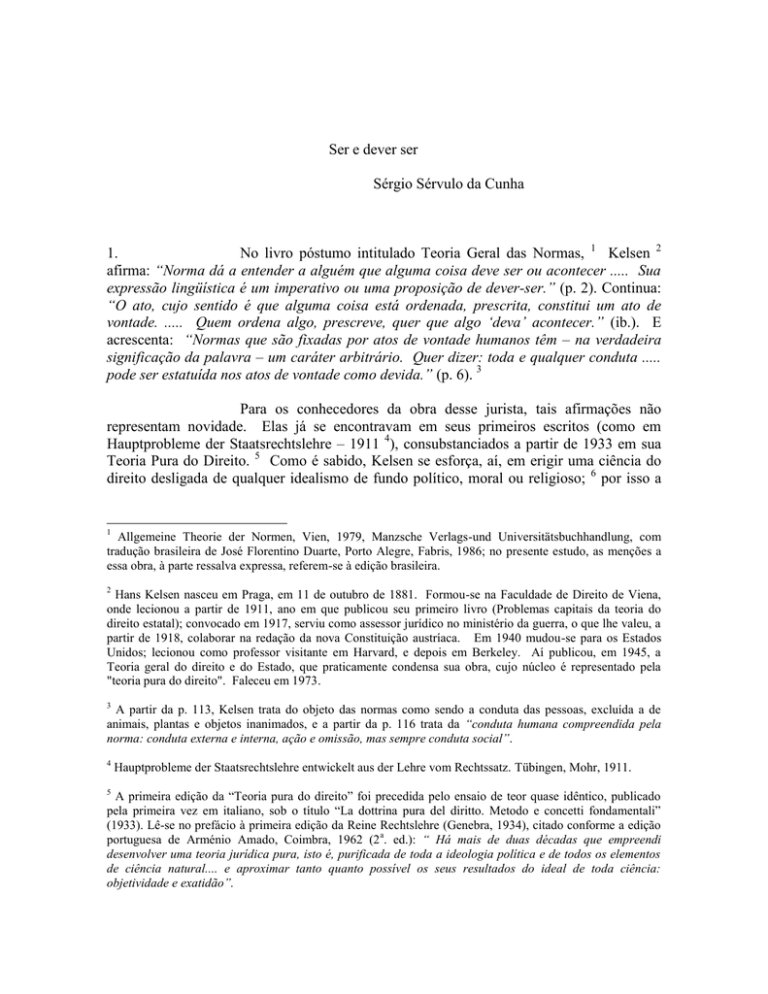
Ser e dever ser
Sérgio Sérvulo da Cunha
1.
No livro póstumo intitulado Teoria Geral das Normas, 1 Kelsen 2
afirma: “Norma dá a entender a alguém que alguma coisa deve ser ou acontecer ..... Sua
expressão lingüística é um imperativo ou uma proposição de dever-ser.” (p. 2). Continua:
“O ato, cujo sentido é que alguma coisa está ordenada, prescrita, constitui um ato de
vontade. ..... Quem ordena algo, prescreve, quer que algo „deva‟ acontecer.” (ib.). E
acrescenta: “Normas que são fixadas por atos de vontade humanos têm – na verdadeira
significação da palavra – um caráter arbitrário. Quer dizer: toda e qualquer conduta .....
pode ser estatuída nos atos de vontade como devida.” (p. 6). 3
Para os conhecedores da obra desse jurista, tais afirmações não
representam novidade. Elas já se encontravam em seus primeiros escritos (como em
Hauptprobleme der Staatsrechtslehre – 1911 4), consubstanciados a partir de 1933 em sua
Teoria Pura do Direito. 5 Como é sabido, Kelsen se esforça, aí, em erigir uma ciência do
direito desligada de qualquer idealismo de fundo político, moral ou religioso; 6 por isso a
1
Allgemeine Theorie der Normen, Vien, 1979, Manzsche Verlags-und Universitätsbuchhandlung, com
tradução brasileira de José Florentino Duarte, Porto Alegre, Fabris, 1986; no presente estudo, as menções a
essa obra, à parte ressalva expressa, referem-se à edição brasileira.
2
Hans Kelsen nasceu em Praga, em 11 de outubro de 1881. Formou-se na Faculdade de Direito de Viena,
onde lecionou a partir de 1911, ano em que publicou seu primeiro livro (Problemas capitais da teoria do
direito estatal); convocado em 1917, serviu como assessor jurídico no ministério da guerra, o que lhe valeu, a
partir de 1918, colaborar na redação da nova Constituição austríaca. Em 1940 mudou-se para os Estados
Unidos; lecionou como professor visitante em Harvard, e depois em Berkeley. Aí publicou, em 1945, a
Teoria geral do direito e do Estado, que praticamente condensa sua obra, cujo núcleo é representado pela
"teoria pura do direito". Faleceu em 1973.
3
A partir da p. 113, Kelsen trata do objeto das normas como sendo a conduta das pessoas, excluída a de
animais, plantas e objetos inanimados, e a partir da p. 116 trata da “conduta humana compreendida pela
norma: conduta externa e interna, ação e omissão, mas sempre conduta social”.
4
5
Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz. Tübingen, Mohr, 1911.
A primeira edição da “Teoria pura do direito” foi precedida pelo ensaio de teor quase idêntico, publicado
pela primeira vez em italiano, sob o título “La dottrina pura del diritto. Metodo e concetti fondamentali”
(1933). Lê-se no prefácio à primeira edição da Reine Rechtslehre (Genebra, 1934), citado conforme a edição
portuguesa de Arménio Amado, Coimbra, 1962 (2 a. ed.): “ Há mais de duas décadas que empreendi
desenvolver uma teoria jurídica pura, isto é, purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos
de ciência natural.... e aproximar tanto quanto possível os seus resultados do ideal de toda ciência:
objetividade e exatidão”.
norma jurídica e o respectivo ordenamento, vazios de conteúdo moral, apoiam-se segundo
ele sobre uma “norma fundamental” que representa uma pura atribuição de poder ou de
competência. 7
Os últimos anos de sua vida – que foi um intenso combate em defesa
de suas idéias 8 – Kelsen dedicou à justificação filosófica desse entendimento, como
revelam seja a “Teoria Geral das Normas”, seja “A ilusão da justiça”. 9 Nesta ele sustenta,
em síntese, que a idéia de justiça tem origem nas doutrinas órficas sobre a retribuição
(recompensa ou punição) após a morte; na primeira, afirma: “a suposição de que deve
acontecer o que em regra costuma acontecer, é natural de seres humanos religiosamente
orientados”, e enuncia o fundamento da sua tese, transcrita ao início destas linhas: “do fato
de que alguma coisa realmente em regra acontece, dever seguir-se que também deva
acontecer, é um sofisma. De um ser não pode logicamente resultar um dever-ser.” (p. 5).
2.
Dado o grande prestígio de que desfruta Kelsen no Brasil, 10 o
enunciado “do ser não pode logicamente resultar um dever-ser” ou “do ser não se pode
passar ao dever-ser”, costuma ser encontrado em muitos textos jurídicos, sem outra
6
“O teórico da sociedade” – diz ele – “como teórico da moral ou do direito, não é uma autoridade social. A
sua tarefa não é regulamentar a sociedade humana, mas conhecer, compreender a sociedade humana.” 6 À
primeira vista poderíamos dizer que, com essa afirmação, ele estava traçando um programa de modernização
do Direito semelhante àquele que Durkheim se havia proposto nas “Regras do método sociológico”, ou seja, o
de tratar os fatos sociais como coisas (v. Émile Durkheim, As regras do método sociológico, S. Paulo,
Companhia Editora Nacional, 1963). Essa, entretanto, é uma expectativa que não se confirma. Durkheim
pretende aplicar à sociologia o método das ciências naturais, mas entre estas e o Direito Kelsen afirma existir
um abismo.
7
“Dizer que uma norma que se refere à conduta de um indivíduo „vale‟ (é vigente), significa que ela é
vinculativa, que o indivíduo se deve conduzir do modo prescrito pela norma. Já anteriormente, num outro
contexto, explicamos que a questão do por que é que a norma vale – quer dizer: por que é que o indivíduo se
deve conduzir de tal forma – não pode ser respondida com a simples verificação de um fato da ordem do ser,
que o fundamento de validade de uma norma não pode ser um tal fato. Do fato de algo ser não pode seguirse que algo deve ser; assim como do fato de algo dever ser se não pode seguir que algo é. O fundamento de
validade de uma norma apenas pode ser a validade de uma outra norma. ........... Mas a indagação do
fundamento de validade de uma norma não pode, tal como a investigação da causa de um determinado efeito,
perder-se no interminável. Tem de terminar numa norma que se pressupõe como a última e a mais elevada.
Como norma mais elevada, ela tem de ser „pressuposta‟, visto que não pode ser posta por uma autoridade,
cuja competência teria de se fundar numa norma ainda mais elevada. ....Uma tal norma, pressuposta como a
mais elevada, será aqui designada como norma fundamental (Grundnorm).” (Teoria pura do Direito, II/1 a
4).
8
Vejam-se por exemplo o prefácio à primeira edição da Reine Rechtslehre e as inúmeras polêmicas – às
vezes intermináveis – em que se envolveu. Suas obras póstumas parecem um esforço apologético de oferecer
fundamentação filosófica às teses juvenis que jamais abandonou.
9
Die Illusion der Gerechtigkeit, Vien, 1985, Manzsche Verlags-und Universitätsbuchhandlung; tradução
brasileira (A ilusão da justiça) de Sérgio Tellaroli, S. Paulo, Martins Fontes, 1995.
10
Segundo Ricardo Lobo Torres, “os autores alemães já haviam observado na década de 60, com
perplexidade, que só no Japão e na América Latina ainda gozava de prestígio o pensamento de Kelsen”
(prefácio à obra Filosofia do Direito, de Nelson Saldanha, Rio de Janeiro, Renovar, 1998).
referência que não ao seu autor. Ele é repetido desavisadamente, sem que se dê conta do
que se pretende dizer com isso (que as normas têm um caráter arbitrário) e de quanto isso
se aproxima do “Führerprinzip”; 11 quando muito, faz-se menção ao filósofo David Hume
– o primeiro que o teria apresentado – ou à posição adversa, designada como “a falácia
naturalista”. 12
Não é apenas em textos jurídicos que se discute sobre “ser e dever
ser”. Como um rio de águas submersas, e sob diferentes expressões (indicativo e
imperativo; “nomos” e “physis”; juízos de realidade e juízos de valor; cognitivismo ou
decisionismo; ciência descritiva ou ciência normativa), essa é uma questão (ou tese) que
atravessa a ética e a metodologia científica. O que ela representa, em resumo – espero, com
essa síntese temerária, não tê-la falseado – é que não se pode encontrar, na experiência da
vida ou na consideração da realidade, o fundamento das nossas escolhas morais.
A maneira como a questão é abordada por Kelsen merece análise.
Primeiro ele acusa seus opositores de não se colocarem no terreno científico, mas no plano
religioso; 13 em seguida, situa-se como um cientista isento, postado no puro campo da
lógica; depois, ao afirmar que “de um ser não pode logicamente resultar um dever ser”,
induz que a tese adversa seria: “o que deve acontecer é o que costuma acontecer”; por fim,
e a partir daí, pode apresentá-la como uma falácia, ou um sofisma.
11
O chamado “Führerprinzip”, conceito inventado para justificar o poder de vida e morte atribuído a Adolfo
Hitler, reproduz o princípio do absolutismo monárquico: “quod principi placuit legis habet vigorem”
(Institutas, I, II, 6; Digesto, I, 4, fr. I, Ulpiano). Em março de 1933, após o incêndio do Reichstag, Hitler
recebeu poderes extraordinários para alterar a Constituição, para legislar e para suspender direitos e garantias
individuais. “Nossa Constituição” – afirmou o ministro da justiça Hans Frank – “é a vontade do Führer”, o
que foi repetido pelas cátedras de Direito. Em texto que procurava justificar execuções arbitrárias ocorridas na
“Noite dos longos punhais” (30 de junho de 1934), assim se expressou Carl Schmitt: “O Führer protege o
direito contra os piores abusos quando, no momento do perigo, em virtude das atribuições de supremo juiz
que como Führer lhe competem, cria diretamente o direito. O verdadeiro Führer é também sempre o juiz
(......) Em verdade, o ato do Führer é uma jurisdição autêntica, não se subordinando à justiça, pois seu ato é
mesmo justiça superior” (“Der Führer schützt das Recht”, cit. por Bernd Rüthers: Carl Schmitt im Dritten
Reich, cf. Ari Marcelo Solon: Teoria da soberania como problema da norma jurídica e da decisão, Porto
Alegre, Sérgio A. Fabris, 1997, p. 110).
12
A expressão “falácia naturalista” – para designar a posição daqueles que a partir da natureza estabelecem as
normas de comportamento – foi criada pelo eticista inglês G. E. Moore. Dentre os muitos autores que a
examinam, veja-se p. ex. William K. Frankena, Perspectives on morality, London, University of Notre Dame
Press, 1976, pp. 1 a 11 e 133 a 147.
13
Essa opinião parece ter sido mitigada em sua correspondência com Klug, em que afirma: “o essencial
daquilo que se chama de „Direito Natural‟ é a validade de normas que não têm o significado de atos da
vontade humana; portanto os valores que elas constituem não são absolutamente arbitrários, subjetivos e
relativos. Para responder à inquirição de como um homem deve proceder debaixo de determinadas condições
não é preciso – de acordo com a teoria do Direito Natural – saber se se trata de um ato de vontade de um
homem que aparece como legislador da Moral ou do Direito ou de um costume mediante o qual se
estabeleceu a norma procurada. A norma que se busca nesse caso resulta da natureza das coisas, com a
qual a norma se relaciona” (Kelsen-Klug. Normas jurídicas e análise lógica, Rio de Janeiro, 1984, Forense,
pp. 63-64).
Entretanto, a tese dialeticamente adversa (que formalmente seria “do
ser pode logicamente resultar um dever ser”) não é apenas a tese puramente naturalista (“o
que deve acontecer é o que costuma acontecer”), tampouco essa mesma tese na sua
expressão determinista (“o ser determina o dever ser”), mas também pode ser esta,
culturalista: para fazer o que quer que seja, os homens sempre se apoiam em juízos de
realidade; estes se acham à base de suas escolhas e de qualquer prescrição legítima.
Sendo uma atuação sobre a realidade, em busca de um resultado, toda ação racional
implica um conhecimento, sobre a realidade que se deseja transformar, sobre a natureza do
resultado que se espera, e sobre os meios aptos para alcançar esse resultado.
3.
Muitos autores, aceitando o repto negativista (cético, ou logicista, ou
irracionalista, ou voluntarista), põem-se a investigar se proposições assertóricas podem ser
convertidas em proposições modais ou deônticas, ou se enunciados descritivos envolvem
enunciados valorativos; é o que faz, por exemplo, John Searle, em Speech acts – an essay
in the philosophy of language. 14 Dado o que ficou dito acima, e independentemente de
qualquer outra consideração, tenho essas investigações como irrelevantes para a discussão
do tema no âmbito da filosofia do Direito; da abordagem lingüística creio suficiente, para
esse propósito, que revele alguns equívocos à base da polêmica, como, aliás, faz o próprio
Searle: “dizer que um argumento é válido envolve uma avaliação, e chega-se a essa
conclusão a partir de certos enunciados „descritivos‟ sobre ele.” 15
A essa observação acrescento o seguinte: a proposição “toda e
qualquer conduta.... pode ser estatuída nos atos de vontade como devida” (Teoria geral das
normas, p. 6) é contrária à proposição “nem toda e qualquer conduta pode ser estatuída nos
atos de vontade como devida”. Sob sua aparência descritiva ela é uma proposição de
dever-ser, formulada a partir do exame da realidade (a dupla característica do verbo „poder‟
aparece com mais evidência nas línguas alemã e inglesa, com a distinção entre “können” e
“dürfen”, entre “to can” e “to may”, assim como já se encontrava, no latim, com a distinção
entre “posse” e “licere”). Não precisamos ir a Kelsen 16 para saber que enunciados
14
Searle, John R. “Speech acts – an essay in the philosophy of language”. Cambridge, Cambridge University
Press, 1983 (1a. edição em 1969). Denunciando a “falácia da falácia naturalista” (p. 132) mediante vários
exemplos, ele nos chama a atenção para os seguintes enunciados: “1. Jones uttered the words „I hereby
promise to pay you, Smith, five dollars‟. 2. Jones promised to pay Smith five dollars. 3. Jones placed himself
under (undertook) the obligation to pay Smith five dollars. 4. Jones is under an obligation do pay Smith five
dollars. 5. Jones ougth to pay Smith five dollars” (p. 177).
15
“.... to call an argument valid is already to evaluate it and yet the statement that it is valid follows from
certain „descriptive‟ statements about it. The very notions of what is to be a valid argument, a cogent
argument, a good piece of reasoning are evaluative in the relevant sense because, e.g., they involve the
notions of what one is justified or right in concluding, given certain premisses. The irony, in short, lies in the
fact that the very terminology in which the thesis is expressed – the terminology of entailment, meaning, and
validity – presupposes the falsity of the thesis.” (ob. cit., p. 175). É isso que, conforme K. O. Apel, se
denomina “contradição performativa” (K. O. Apel, Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft, Frankfurt,
1973, 2/405 ss., cf. J. Habermas, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln (Consciência moral e agir
comunicativo), cf. a edição Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1989, pp. 102 e ss.). Habermas acrescenta a
oportuna observação de que, com isso, os cognitivistas éticos não ficam liberados do ônus da prova.
proibitivos – assim como enunciados permissivos – são enunciados normativos, ou seja,
enunciados de dever-ser. Ser proibido significa que algo não deve ser feito, e ser permitido
significa que algo não é proibido.
4.
O que Hume afirma – quer no Tratado sobre a natureza humana, quer
nas Investigações sobre o entendimento humano – é: do fato de que alguma coisa tenha
ocorrido, e independentemente do número de vezes em que haja ocorrido, não se pode
inferir que ocorrerá sempre, da mesma forma. Ou seja, o que ele põe em xeque são o
princípio da causalidade e o método da indução (na verdade, o princípio da regularidade da
natureza), como base do conhecimento científico. Segundo ele, todas as nossas conclusões
experimentais provêm de supor que o futuro será tal como o passado; contudo, se
considerarmos que o curso da natureza pode mudar, e que o passado não contém uma regra
para o futuro, toda experiência é inútil, e não dá lugar a qualquer inferência ou conclusão. 17
Kelsen leva em conta essa circunstância, ao assinalar: “a regra do
ser pode ter o caráter de uma lei causal, por conseguinte, sob certas condições, tem de
acontecer algo determinado. O „ter de‟ [müssen] expressa necessidade causal. 18 Remeto
o leitor ao capítulo 2 da Teoria Geral das Normas: à indagação “quê tenho de fazer para
dilatar um corpo metálico?” segue-se a resposta: “tens de aquecer o corpo metálico.”
“Com esta resposta indica-se o nexo causal que existe entre o aquecimento de um corpo
metálico e sua dilatação, e esta necessidade causal expressa-se no ter de.” Supõe-se que
também o „dever-ser‟ [sollen] expressa uma necessidade, então é preciso separar
claramente a necessidade causal da normativa” (p. 13).
5.
Antes de nos envolvermos na polêmica sobre ser e dever-ser, é
preciso nos entendermos a respeito daquilo sobre o que estamos falando.
Uma diferença relevante é a que existe entre o dever-ser da norma e o
dever-ser do conteúdo da norma. Um é o dever-ser expresso na norma (p. ex. “todos os
homens devem ser tratados igualmente perante a lei”), e outro o dever-ser da própria
norma, aquele em razão do qual a norma é uma norma, um preceito a ser cumprido. 19
16
São várias as passagens, na obra de Kelsen, em que está presente essa distinção, como, v.g., na Teoria geral
das normas, p.120: “Toda proibição pode ser descrita como uma imposição. ..... A proposição: „impõe-se
obedecer aos pais‟ é idêntica à proposição: „é proibido não obedecer aos pais‟ (“Jedes Verbot kann als ein
Gebot dargestellt werden.......Der Satz: „den Eltern gehorchen ist geboten‟ ist gleichbedeutend mit dem Satz:
„den Eltern nicht gehorchen ist verboten‟.” (Allgemeine Theorie der Normen, s.76).
17
Hume, David. “Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of morals”
(IV.II). (cf. edição Clarendon Press, Oxford, 2000, pp.23 e ss.)
18
“Die Seins-Regel kann den Charakter eines Kausalgesetzes haben, demzufolge unter bestimmten
Bedingungen etwas Bestimmtes geschehen muss. Das „Müssen‟ drückt die kausale Notwendigkeit aus.”
(Allgemeine Theorie der Normen, pp. 7 e 8).
Outra distinção, extremamente importante, é que o termo “dever-ser”
exprime uma necessidade (de A segue-se B) que se manifesta diversamente na física e na
moral. Uma é a discussão (melhor dizendo: um é o significado do termo “dever ser”) no
plano gnosiológico, e ela envolve o problema da indução, ou seja: se a partir de uma
enumeração concernente a fatos que se repetem do mesmo modo até aqui, podemos prever
com absoluta certeza os eventos possíveis a partir daqui. Outra é a discussão (e o
significado do termo “dever-ser”) no plano deontológico. Isso fica bem claro numa
instigante observação de Hermann Kantorowicz: “Não faz sentido aplicar a categoria do
dever a um comportamento que não poderia ser diverso daquilo que efetivamente é”. 20 De
fato, para a ciência o ser (“physis”) é o que é, sem reclamar justificação, cabendo-nos
apenas tentar explicá-lo. Ao passo que o que deve ser (“nomos”) exige justificação, porque
implica alternativas ou escolhas entre várias ações possíveis.
Portanto, tem razão Kelsen ao distinguir entre “ter de” (müssen) e
“dever-ser” (sollen). Na verdade, deveríamos abandonar desde já essa terminologia (a
oposição entre ser e dever-ser) e estabelecer que estamos falando sobre dois tipos diversos
de necessidade: a necessidade física por um lado, e a necessidade deontológica de outro.
Ao examinarmos essa distinção ressalta imediatamente, no campo da
filosofia do Direito, o caráter ideológico do par “ser e dever-ser”, da mesma forma como
ocorre com o termo “lei”. Designar como “lei” tanto uma prescrição da autoridade quanto
a regularidade da natureza significa atribuir a ambas o mesmo caráter necessitante,
conceber o comportamento humano (e possivelmente o universo social) como um
mecanismo idêntico ao da natureza. Nessa perspectiva, o “dever-ser” da lei posta pela
autoridade seria tão necessitante quanto o “dever-ser” da lei natural.
Na verdade, a questão “ser e dever-ser” é um vetor ideológico, que
introduz no âmago da ciência uma suspeita de parcialidade ou ausência de neutralidade; ela
não se manifesta apenas nos pares de opostos mencionados acima (indicativo-imperativo,
etc.), mas também em alguns outros que são mais evidentemente carregados de opções
políticas, éticas ou religiosas (v.g. positivistas v. jusnaturalistas, progressistas v.
conservadores). É porém devido à sua ambigüidade que ela pode ser denominada como um
“vetor ideológico”, e não como um “divisor de águas ideológico”, como se vê com mais
clareza na oposição, também nela implicada, entre determinismo e livre arbítrio. Com
efeito, se as escolhas humanas não são determinadas pela natureza, instaura-se a liberdade;
mas se nada houver na natureza que oriente as escolhas humanas, instauram-se ou o
convencionalismo ou a irracionalidade (a licença e o arbítrio).
A verdadeira questão ética é esta: se existe uma identidade tal entre
os homens que implique finalidades comuns a todos os homens; e a verdadeira questão
política é esta: se existe uma sociedade ideal que possa ser imposta indistintamente a todo e
qualquer homem. Creio que a resposta para ambas as questões é afirmativa, e é esta: cada
19
Segundo Friedrich Müller, a separação entre ser e dever-ser “é vítima de um engano fundamental, a saber,
da confusão da prescrição legal com o seu teor literal, isto é, da identificação de norma e texto da norma.”
(Direito, linguagem violência. Porto Alegre, Sérgio Fabris, 1995, p. 13).
20
Kantorowicz, Hermann. La definizione del diritto. Torino, G.Giappichelli, 1962, p 68.
homem é senhor dos seus próprios fins, e a sociedade ideal é aquela que garanta, a todo ser
humano, a persecução dos seus fins sem intercorrência dos demais. Donde a questão básica
do Direito: o que é possível exigir dos indivíduos sem ofensa à sua singularidade (isto é, à
capacidade de determinação e persecução dos seus próprios fins)?
6.
Também se costuma apontar Kant como responsável pela oposição
“ser-dever ser”, mas ela não se encontra na doutrina moral desse filósofo, ou ao menos não
se encontra nos mesmos termos. Enquanto a filosofia de Hume é o ápice do ceticismo, o
sistema de Kant é o ápice do racionalismo; ambos concordam em que é impossível fundar
na experiência um conhecimento seguro. 21 Contudo, se todo conhecimento fosse
impossível, como explicar a existência da ciência (tal, por exemplo, a física newtoniana)? A
filosofia crítica de Kant é uma tentativa de desfazer o impasse, ou de desatar o nó
gnosiológico amarrado por Hume, e a solução estaria em que a ciência da natureza contém
em si, como princípios, “juízos sintéticos a priori”. 22
Na busca da certeza, o filósofo não se satisfaz com conhecimentos
probabilísticos, particulares ou contingentes, cuja possibilidade, porém, não ignora: Diz
Hume: “Não obstante ninguém, a não ser um tolo ou um doido, ponha em dúvida a
autoridade da experiência, ou rejeite esse grande guia da vida humana, certamente podese permitir a um filósofo ter a curiosidade ao menos de examinar o princípio da natureza
humana, que confere à experiência tão grande autoridade.” (Investigações..., p. 36). Mas
reconhece que “se uma criança sentiu dor após tocar uma lamparina, cuidará de não
aproximar sua mão de qualquer outra.” (id., p. 39). 23
21
“De um princípio da experiência querer extrair a necessidade.... é uma contradição evidente” (Prefácio à
Crítica da razão prática. Na edição Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, p.117). “O dever [das Sollen]
exprime uma espécie de necessidade e de ligação com fundamentos que não ocorre em outra parte em toda a
natureza. O entendimento só pode conhecer desta o que é, foi ou será [was da ist, oder gewesen ist, oder sein
wird]. É impossível que aí alguma coisa deva ser diferente do que é, de fato, em todas estas relações de
tempo; o que é mais, o dever não tem qualquer significação se tivermos apenas diante dos olhos o curso da
natureza. Não podemos perguntar o que deverá acontecer na natureza, nem tão-pouco que propriedades
deverá ter um círculo; mas o que nela acontece, ou que propriedades este último possui” (Crítica da razão
pura, B 575, cf. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997).
22
Juízo “a priori” é o juízo independente da experiência. Juízo sintético é o juízo dependente da experiência,
pois o que nele se predica do sujeito não está contido implicitamente no sujeito. Juízo sintético “a priori” é o
juízo em que uma proposição sintética é pensada “a priori”. Eis o exemplo de juízo sintético “a priori”
fornecido por Kant: “em todas as modificações do mundo corpóreo a quantidade de matéria permanece
constante”; ...... “no conceito de matéria não penso a permanência, penso apenas a sua presença no espaço
que preenche. Ultrapasso assim o conceito de matéria para lhe acrescentar algo „a priori‟ que não pensei
nele.” (Crítica da razão pura, introdução, IV e V; na edição Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997,
pp. 42 a 49; na edição Felix Meiner, Hamburg, 1998, pp. 57 a 69).
23
“Nossa espécie conseguiu sobreviver fazendo conjeturas que se mostraram estatisticamente frutíferas”, diz
Umberto Eco. “A educação consiste em contar às crianças que tipo de conjeturas revelaram-se frutíferas no
passado. Messer, Feuer, Scherer, Licht – ist für kleine Kinder nicht! Não brinquem com fogo nem facas,
porque podem machucar: isto é verdade porque muitas crianças fizeram a conjetura oposta e morreram.”
(Interpretação e superinterpretação, S. Paulo, Martins Fontes, 2001, p. 169). “O homem realiza experiências e
a experiência do que é mau o avisou” , assinalava Hesíodo (cf. Werner Jäger, Paidéia. São Paulo, Herder,
Note-se o que diz Kant a esse propósito, na “Crítica da razão pura”:
“Não resta dúvida de que todo o nosso conhecimento começa pela experiência;
efetivamente, que outra coisa poderia despertar e pôr em ação a nossa capacidade de
conhecer senão os objetos que afetam os sentidos e que, por um lado, originam por si
mesmos as representações e, por outro lado, põem em movimento a nossa faculdade
intelectual e levam-na a compará-las, ligá-las ou separá-las, transformando assim a
matéria bruta das impressões sensíveis num conhecimento que se denomina experiência?
Assim, „na ordem do tempo‟, nenhum conhecimento precede em nós a experiência, e é com
esta que todo conhecimento tem o seu início.” 24
Tendo estabelecido essa verdade, ele avança, na “Fundamentação à
metafísica dos costumes”: “Todas as coisas na natureza operam segundo leis. Apenas um
ser racional possui a faculdade de agir segundo a representação das leis, isto é, segundo
princípios... Em resumo: nosso conhecimento começa pela experiência, de que se originam
nossas representações das constâncias naturais. A razão é que nos permite agir segundo
essas representações, influindo sobre a vontade. “A representação de um princípio objetivo,
na medida em que coage a vontade, denomina-se mandamento (da razão), e a fórmula do
mandamento chama-se imperativo.” 25 Mais: “todos os imperativos são expressos pelo
verbo dever, e indicam, por esse modo, a relação entre uma lei objetiva da razão e uma
vontade que, por sua condição subjetiva, não é necessariamente determinada por essa
lei...” 26
Vê-se bem como, a partir daí (a consideração de que a vontade é
imprevisível) Kant é levado a conceber a ética como um conhecimento “a priori”: “uma lei,
para possuir valor moral, isto é, para fundamentar uma obrigação, precisa implicar em si
uma absoluta necessidade......Por conseguinte, o princípio da obrigação não deve ser aqui
buscado na natureza do homem, nem nas circunstâncias em que ele se encontra situado no
mundo, mas „a priori‟ só nos conceitos da razão pura; e qualquer outra prescrição, que se
estribe nos princípios da simples experiência, mesmo que sob certos aspectos fosse
prescrição universal, por pouco que se apoie em razões empíricas, nem que seja por um
motivo apenas, pode ser denominada regra prática, nunca porém lei moral”. 27
O princípio da moralidade se expressa num tipo de mandamento
(imperativo) que Kant designa como “categórico”: “o imperativo categórico seria aquele
s.d., p. 218). A respeito das virtudes da experiência, os espanhóis dizem que “de los escarmentados nacen los
avisados”, e nós costumamos dizer que “gato escaldado tem medo de água fria”.
24
Kant, Immanuel. Crítica da razão pura, introdução, B l; cf. edição Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,
1997, p.36.
25
Kant, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, São Paulo, Companhia Editora Nacional,
1964, p. 74; na edição Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, p. 41.
26
id., ib.
27
id., p. 47; na edição Suhrkamp, p. 13.
que representa uma ação por si mesma, sem relação com nenhum outro escopo, como
objetivamente necessária”. 28
Além do imperativo categórico, porém, e tratando-se de ações que
não são consideradas na perspectiva da moral, existem os imperativos hipotéticos, que
“representam a necessidade de uma ação possível, como meio para alcançar alguma coisa
que se pretende”. Ou seja: se eu quero alcançar determinado fim, preciso perfazer o meio
que conduz a esse fim. De modo que “quando a ação não é boa senão como meio de obter
alguma outra coisa, o imperativo é hipotético; mas quando a ação é representada como
boa em si, e portanto como necessária numa vontade conforme em si mesma à razão
considerada como princípio do querer, então o imperativo é categórico.” 29
A síntese conclusiva encontra-se na “Crítica da razão prática”: “Em
ciência natural, os princípios do que acontece..... são ao mesmo tempo leis naturais;
porque o uso da razão aí é teórico e determinado pela natureza do objeto. Mas “no
conhecimento prático, que tem a ver com a determinação da vontade, os princípios que
assumimos não são leis a que estejamos inevitavelmente subordinados, porque a razão, na
prática, tem a ver com uma subjetividade e especialmente com sua faculdade de desejar”.
Por isso “a regra prática é sempre um produto da razão, que prescreve a ação como meio
de produzir o efeito que é seu objetivo”, mas como a razão não é o único determinante da
vontade, essa regra apenas sinaliza “um dever que indica a necessidade objetiva da ação”,
e a ação nem sempre se desenrola segundo a regra. 30
7.
Com essa concepção de dever moral nada tem a ver a concepção
kelseniana de dever-ser. Para a “Teoria geral das normas”, com o termo “dever ser” apenas
pode ser designado “o sentido do meu ato de vontade dirigido à conduta de um outro, o
sentido de um ato de comando”....... “Eu quero essa conduta como devida e o é ainda antes
de ela ser, quer dizer: antes que o outro obedeça a minha ordem” (p. 41). Por fim: “uma
norma da Moral autoriza o pai a dar ordens obrigatórias a seu filho. Uma norma do
28
Kant, ob. cit., p.75; na edição Suhrkamp, p. 43: “Der kategorische Imperativ würde der sein, welcher eine
Handlung für sich selbst, ohne Beziehung auf einen andern Zweck, als objektiv-notwendig vorstellte”.
29
id.; respectivamente pp. 75-76 e 43. Sobre “norma hipotética”, “norma técnica”, e “enunciado
anankástico”, v. G. Henrik von Wright, Norm and action, a logical enquiry, cf. a edição Tecnos, Madrid,
1979, p.29.
30
“In der Naturerkenntnis sind die Prinzipien dessen, was geschieht ..... zugleich Gesetze der Natur; denn der
Gebrauch der Vernunft ist dort theoretisch und durch die Beschaffenheit des Objekts bestimmt. In der
praktischen Erkenntnis, d.i. derjenigen, welche es bloss mit Bestimmungsgründen des Willens zu tun hat, sind
Grundsätze, die man sich macht, darum noch nicht Gesetze, darunter man unvermeidlich stehe, weil die
Vernunft im Praktischen es mit dem Subjekte zu tun hat, nämlich dem Begehrungsvermögen..... Die
praktische Regel ist jederzeit ein Produkt der Vernunft, weil sie Handlung, als Mittel zur Wirkung, als Absicht
vorschreibt. Diese Regel ist aber für ein Wesen, bei dem Vernunft nicht ganz allein Bestimmungsgrund des
Willens ist, ein Imperativ, d.i. eine Regel, die durch ein Sollen, welches die objektive Nötigung der Handlung
ausdrückt, bezeichnet wird, und bedeutet, dass, wenn die Vernunft den Willen gänzlich bestimmete, die
Handlung unausbleiblich nach dieser Regel geschehen würde” (Kritik der praktischen Vernunft, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 1998, s. 125-126).
Direito autoriza pessoas determinadas a produzirem normas jurídicas ou aplicarem-nas.
.......Apenas pessoas, às quais o ordenamento jurídico confere este poder podem produzir
ou aplicar normas de Direito” (p. 129).
Não é no campo da filosofia moral, mas no campo da doutrina do
Direito tal como tratada por Kant na “Metafísica dos costumes”, que se situam os pontos de
contacto entre Kelsen e Kant.
O Direito, para Kant, faz parte dos costumes (Sitte): é jurídica a
norma cuja obediência leva em conta outros motivos, que não o próprio dever tal como
considerado moralmente. 31 Assim, não parece absolutamente adequado, nesse contexto,
traduzir-se “Sitte” por “moral” (quando muito, por “moralidade social”), nem considerar-se
(v. Bobbio 32) como simplesmente formal a distinção feita por Kant entre moral e Direito.
Mesmo porque o próprio Bobbio reconhece que, segundo Kant, “ação moral é a que é
realizada não para obedecer a uma certa atitude sensível, a um certo interesse material,
mas somente para obedecer à lei do dever”. 33
O dever-ser, para Kelsen, se confunde com a existência de uma
obrigação legal, e o fundamento da obrigação é a norma (comando, ou ordem) editada pela
autoridade. À filosofia, entretanto, não basta essa resposta. 34 Essa poderia até ser uma
explicação aceitável para a existência da norma jurídica – se a confundirmos com uma
ordem – mas não consegue ser um fundamento suficiente para que ela deva ser obedecida,
ou seja, para o próprio dever-ser. Daí que a discussão filosófica sobre o dever-ser começa
na verdade onde termina a explanação de Kelsen. 35
31
“Alle Gesetzgebung also (....) kann doch in Ansehung der Triebfedern unterschieden sein. Diejenige,
welche eine Handlung zur Pflicht, und diese Pflicht zugleich zur Triebfeder macht, ist ethisch. Diejenige
aber, welche das letztere nicht im Gesetze mit einschliesst, mithin auch eine andere Triebfeder, als die Idee
der Pflicht selbst, zulässt, ist juridisch” (Die Metaphysik der Sitten, Surhkamp, 1977, 324 [Einleitung, III]).
32
Direito e Estado no pensamento de Emanuel Kant, Brasília, UnB, 1995, p. 55.
33
id., p. 54.
34
Kelsen sabe disso, mas em busca de justificação não consegue ir, na “Teoria geral das normas”, além do
que assentara na “Teoria pura do direito”: a) “apenas uma autoridade competente pode estabelecer normas
válidas, e uma tal competência somente se pode apoiar sobre uma norma que confira poder para fixar
normas. Como norma mais elevada ela tem de ser pressuposta, visto que não pode ser posta por uma
autoridade, cuja competência teria de se fundamentar numa norma mais elevada” (p. 3); b) “a sociedade,
como objeto de uma ciência social normativa, é uma ordem normativa da conduta dos homens uns em face
dos outros. Estes pertencem a uma sociedade na medida em que a sua conduta é regulada por uma tal ordem,
é prescrita, é autorizada ou é positivamente permitida por essa ordem. Quando dizemos que uma sociedade
determinada é constituída através de uma ordem normativa que regula a conduta recíproca de uma
pluralidade de indivíduos, devemos ter consciência de que ordem e sociedade não são coisas diferentes uma
da outra, mas uma e a mesma coisa, de que a sociedade não consiste senão nesta ordem...” (p. 170).
35
Segundo Tércio Sampaio Ferraz Jr., as explicações de Kelsen mostram “que o caminho positivista nos
conduz a um momento de „irracionalidade‟ (no sentido positivista da palavra) no sentido de fazer a
imperatividade das normas repousar não num „conhecimento‟ (Erkenntnis), nem num „reconhecimento‟
(Anerkennung), mas num ato de crença (Bekenntnis). (Teoria da norma jurídica, Rio de Janeiro, Forense,
Essa é uma questão que impregna toda a ética, e põe-se além dos
limites do presente estudo. 36 Basta-nos por ora para encerrá-lo – no que concerne à
filosofia do Direito e a uma teoria geral das normas – conceituar a razão prática não como
razão pura prática à maneira kantiana, mas como “a razão que guia a práxis humana e a
especifica como práxis razoável e sensata”. 37
Ainda que não se consiga definir o Direito, uma coisa é certa: ele é o
contrário do arbítrio, e é nula toda norma arbitrária. Assim, qualquer teoria geral das
normas precisa ter início com uma indagação sobre a justificação da norma: não apenas a
questão sobre por que a norma jurídica deva ser obedecida, mas a questão sobre por que
qualquer norma jurídica particular é ou não adequada. A abordagem de Kelsen contribui
para a oclusão desse aspecto fundamental: que toda e qualquer norma tem uma finalidade, e
que a adequação da norma, como meio para a consecução de um fim, deve ser apreensível
num ato da inteligência; por isso a norma não é uma ordem, seu resultado não é a
obediência irrestrita, o juiz e o destinatário da norma não são o braço mecânico do
legislador; eles são, ao contrário, seres humanos livres, aos quais cabe o direito e a
responsabilidade das respectivas escolhas morais.
A autoridade de quem edita e impõe normas jurídicas (por outra, a
legitimidade do governo) não decorre exclusivamente de sua origem, mas também do seu
exercício. Àquilo que se costumava designar como “onipotência do legislador” (baseada
modernamente nas teorias da soberania popular, da representatividade, e do governo da
maioria), opõe-se mais recentemente o controle da constitucionalidade formal e material do
ato legislativo; o legislador está vinculado ao devido processo legal – em que se incluem as
normas sobre processo legislativo – e aos objetivos gerais de governo conforme definidos
na Constituição.
8.
Por fim, algumas considerações de ordem metodológica.
É inadmissível que continuemos a designar com o mesmo nome
coisas tão distintas quanto o dever moral e o dever jurídico. Se para Kelsen o “dever ser” se
confunde com a obrigação legal, é conveniente que, onde faz referência a dever jurídico, se
passe a ler “obrigação”. 38 São três portanto os tipos de necessidade; 39 são três, e não duas,
1978, p. 129). O irracionalismo de Kelsen também é assinalado por Mario G. Losano: Teoría pura del
derecho. Evolución y puntos cruciales (cit. conforme edição em espanhol: Bogotá, Temis, 1992, p. 62).
36
Ao início das mais de cem páginas (sob o título “La valoración moral del derecho”) em que examina as
propostas de várias teorias éticas, pontua com felicidade Carlos Santiago Nino: “El desarrollo de una
jurisprudencia normativa – o sea de una labor intelectual frente al derecho que no se limite a describirlo y
sistematizarlo, sino que encare también en forma abierta la justificación de sus regulaciones y la propuesta
de interpretaciones valorativamente satisfactorias deve enfrentar dois problemas filosóficos fundamentais, a
saber: se há procedimentos racionais para justificar a validade dos juízos de valor, e quais são os princípios de
justiça e moralidade social que permitem estabelecer as regulações e instituições jurídicas (Introducción al
análisis del derecho, Buenos Aires, Astrea, 1987, p. 353).
37
Vaz, Henrique C. de Lima. “Introdução à ética filosófica 2”, São Paulo, Loyola, 2000, p. 141.
as categorias ocultas até aqui pelo mesmo termo “dever ser”: “ter de” (causalidade física) ,
“dever-ser” (moral) e “ser obrigado a” (Direito).
É também inadmissível, pela mesma razão, que em deontologia e
principalmente na lógica das normas, não se faça a distinção entre norma moral e norma
jurídica, continuando-se a utilizar as mesmas locuções seja para o que representa um
imperativo categórico (o da norma moral), seja para o que representa outro tipo de
imperativo (o da norma jurídica, que a meu ver é um imperativo hipotético). À falta dessa
distinção, a norma jurídica adquire uma autoridade que não lhe é própria, e borram-se os
limites entre moral e Direito.
Santos, 19 de janeiro de 2002
38
Na melhor terminologia da dogmática jurídica (v. Pontes de Miranda), utiliza-se o termo “dever” como
correlato a “direito”, e o termo “obrigação” como correlato a “pretensão”, ou seja, a exigibilidade do direito
(assim, antes do vencimento existe “débito”, mas não existe ainda “obrigação”). Mas também se costuma
dizer “Direito das o brigações”, e não “Direito dos deveres”, o que soaria bem estranho. Parece adequado que
se passe a utilizar o termo “obrigação” como correlato a direito, e que se designe de outra forma
(possivelmente como “obrigação exigível”) a obrigação correlata ao “direito exigível” (pretensão).
39
E, conseqüentemente, três os tipos de implicação, cada um deles com sua lógica específica.