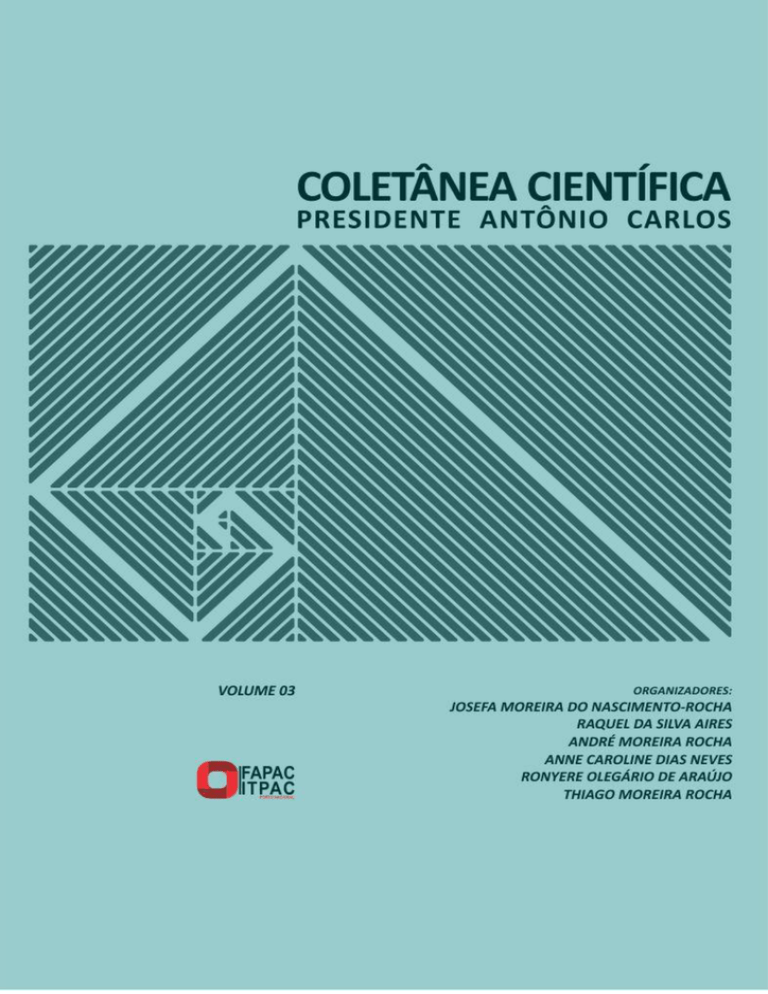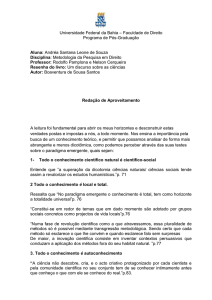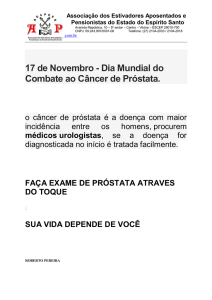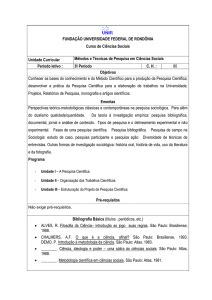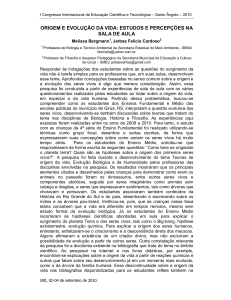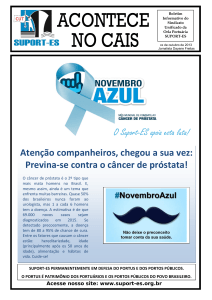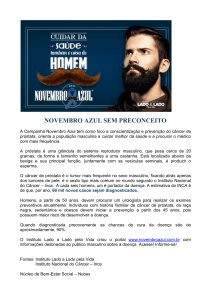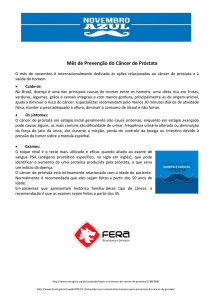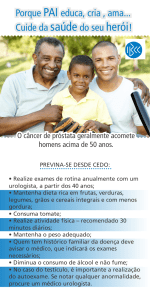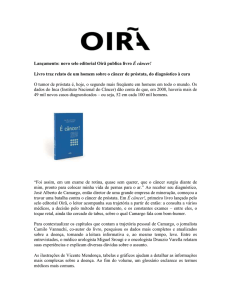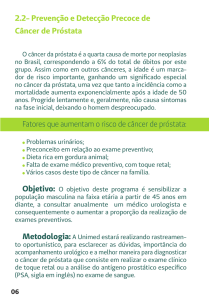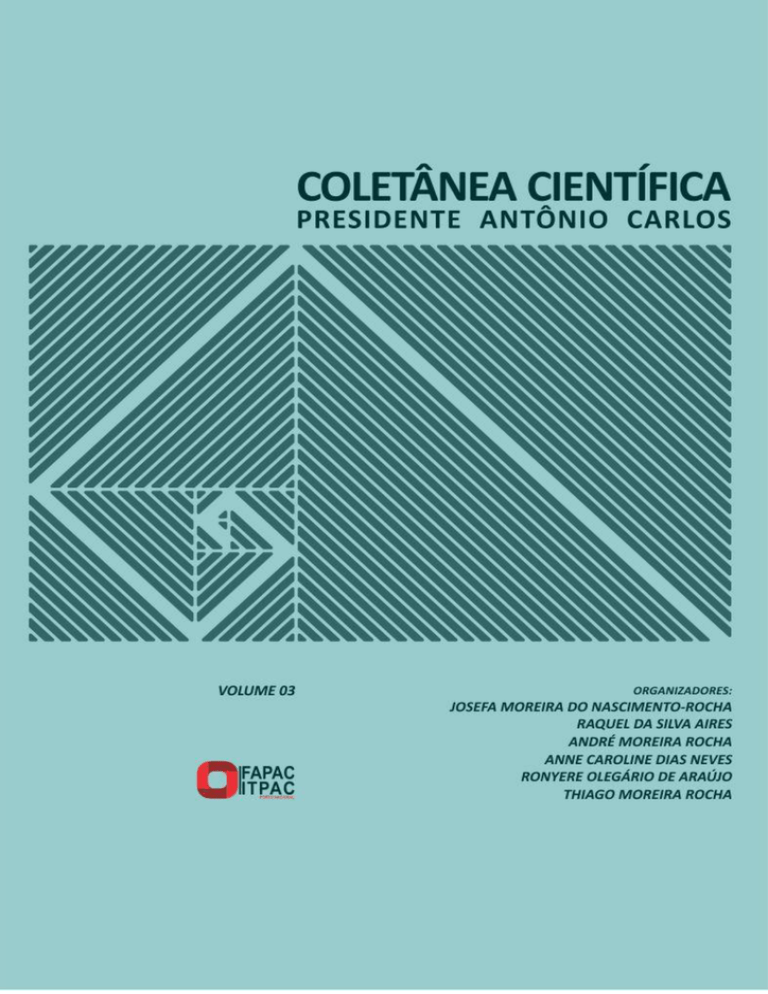
2016©ITPAC Porto Nacional
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
COLETÂNEA CIENTÍFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Publicação
FAPAC – Faculdade Presidente Antônio Carlos
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto Ltda
Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso
Diretoria Geral
Cleber Decarli de Assis
[email protected]
Diretoria Acadêmica
Maria Rosa Arantes Pavel
[email protected]
Medicina
Dr. Cristiano da Silva Granadier
[email protected]
Enfermagem
Karine Kummer Gemelli
[email protected]
Odontologia
Ana Paula Mundim
[email protected]
Coordenação de Laboratórios da Saúde
Carina Scolari Gosch
[email protected]
CoPPEX
Talita Caroline Miranda
[email protected]
Clínica Odontológica
Bruna Mirelly Simões Vieira
[email protected]
Biblioteca
Raquel Modesto
Ludmila Parreiras Pacheco Leite
[email protected] /
[email protected]
Rua 02, Quadra07, S/N, Jardim dos Ipês
CEP: 77500-Porto Nacional - TO
Tel.: (63) 3363-9600 E-mail: www.itpacporto.com.br
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Biblioteca FAPAC – Itpac Porto Nacional
C694
Coletânea Cientifica Presidente Antônio Carlos: revisão da literatura científica./ Josefa Moreira
do Nascimento – Rocha et al. Porto Nacional - TO: FAPAC – Itpac Porto Nacional, 2016.
In
ISBN 978-8569629-07-8
276-437 p. (v.3)
1. Trabalhos científicos 2. Coletânea 3. Revisão I. Título
CDD (22ª) 610
Responsável:
Processamento Técnico Biblioteca FAPAC – Itpac Porto Nacional
TERESA RAQUEL FRANCO DA CONCEIÇÃO CRB 2 – 1291
SUMÁRIO
A ABSORÇÃO DO FLÚOR NAS DIVERSAS FONTES E SUAS CONSEQUÊNCIAS – Revisão de Literatura
....................................................................................................................................................................... 276
Élber Silva Coelho1; Bruno Arlindo de Oliveira Costa2; Ana Paula Alves Gonçalves Lacerda2; Laura Souza
de Castro2; Carina Scolari Gosch2; Anne Caroline Dias Neves2; Ozenilde Alves Rocha Martins²; Obede
Rodrigues Ferreira². ................................................................................................................................... 276
A GENÊTICA E O CÂNCER DE PRÓSTATA – Uma revisão de literatura .................................................. 282
Paula Silva Aragão¹; Larissa Brito Pereira¹; Rarifela do Carmo Cutrim¹; Days Batista Gomes¹; Tálita Silva
Aragão²; Arthur Alves Borges de Carvalho³; Asterio Souza Magalhães Filho³; Ana Carolina Camargo
Rocha³. ...................................................................................................................................................... 282
A HISTÓRIA, A EVOLUÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA FLUORETAÇÃO NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 50 ANOS
– Revisão de Literatura.................................................................................................................................. 287
Ana Caroline Morais Peres 1; Ana Paula Alves Gonçalves Lacerda2; Ana Paula Mundim 2; Bruno Arlindo de
Oliveira Costa2; Anne Caroline Dias Neves2; Raquel da Silva Aires2; Ozenilde Alves Rocha Martins²; Tiago
Farret Gemelli². .......................................................................................................................................... 287
A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA IDENTIFICAÇÃO HUMANA POR MEIO DA
CRANIOMETRIA ........................................................................................................................................... 293
Bruna Jordana S. Rocha¹; Kássia Candido Pereira¹; Ana Paula Pedroso Brito²; Joelcy Pereira Tavares²;
Ronyere Olegário de Araujo²; Jonas Eraldo de Lima Júnior²; Raymundo do Espirito Santo Pedreira²;
Andriele Gasparetto². ................................................................................................................................. 293
ACONDROPLASIA: REVISÃO DO PROCESSO MORFOGENÉTICO ........................................................ 298
Alexandre Arguelio Souto¹; Kesley Albuquerque¹; MoniellyStivalPoloniato¹; Sabrina Bastos e Costa¹; Tiago
Farret Gemelli²; Raymundo do Espirito Santo Pedreira²; Viviane Tiemi Kenmoti²; Flavio Dias Silva²; Andriele
Gasparetto². ............................................................................................................................................... 298
ALIMENTAÇÃO HIPOPROTEICA NA GESTAÇÃO: Consequências Relacionadas à Saúde da Mãe e da Prole
– Revisão de Literatura.................................................................................................................................. 302
Amanda Moreira Portes¹; Dom Leonardo Di Coimbra Lira Fontes¹; Larissa Cury Rad Melo¹; Andriele
Gasparetto²; Flávio Dias Silva²; Nelzir Martins Costa²; Anne Caroline Dias Neves²; Raquel da Silva Aires²;
Flavio Dias Silva². ...................................................................................................................................... 302
ALTERAÇÕES BUCAIS QUE ACOMETEM PACIENTES EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO ........... 306
Andreia De Sousa Riciardi¹; Felipe Camargo Munhoz²; André Machado de Senna²; Elyne Regiane dos
Santos Gomes²; Ronyere Olegário de Araujo³; Raimundo Célio Pedreira³; Nelzir Martins Costa²; Raquel da
Silva Aires². ................................................................................................................................................ 306
ALTERAÇÕES FACIAIS APÓS TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA PARA BRUXISMO ............ 311
Patrícia Rodrigues Dias Pita¹; Rafael Vinícius da Rocha²; Obede Rodrigues Ferreira²; Renato Pichini de
Oliveira²; Ronyere Olegário de Araujo²; Anne Caroline Dias Neves²; Raquel da Silva Aires²; Joelcy Pereira
Tavares². ................................................................................................................................................... 311
ANÁLISE CRÍTICA DA FALSEABILIDADE DAS ALEGAÇÕES DA BIOCIBERNÉTICA BUCAL ................ 317
Eduardo Ferreira Basílio¹; Luma Lorrany Pereira Felizardo¹; Felipe Camargo Munhoz²; Larissa Jacome B
Silvestre²; Ronyere Olegário de Araujo²; Jonas Eraldo de Lima Júnior²; Larissa Jacome B Silvestre²; Jonas
Eraldo de Lima Júnior²............................................................................................................................... 317
ANÁLISE DOS ERROS QUE CONTRIBUEM PARA IATROGENIAS NO PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO
DE MEDICAMENTOS PELA ENFERMAGEM .............................................................................................. 329
Luciene Dias Ribeiro1, Lucinete Aires Cunha1, Gabriela Ortega Coelho Thomazi2; Flavio Dias Silva²;
Raimundo Célio Pedreira²; Larissa Jacome B Silvestre²; Flavio Dias Silva²; Tiago Farret Gemelli². ....... 329
ANATOMIA ÓSSEA E AS CONSEQUÊNCIAS EM DECORRÊNCIA DA OSTEOARTROSE - Revisão de
literatura ......................................................................................................................................................... 336
José Antônio Rodrigues de Carvalho¹; Heitor da Mata Xavier¹; Matheus Cardoso Neves¹; Murilo Póvoa
Oliveira Lustosa¹; Raymundo do Espirito Santo Pedreira²; Asterio Souza Magalhães Filho²; Flávio Dias
Silva². ......................................................................................................................................................... 336
AS IMPLICAÇÕES CLÍNICAS RESULTANTES DO TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE ........................ 339
Aline Pasqualli¹; Bruna Vieira Dias¹; Days Batista Gomes¹; Laura Borges Mendes Alcanfôr¹; Asterio Souza
Magalhães Filho²; Tiago Farret Gemelli²; Andriele Gasparetto²; Raymundo do Espirito Santo Pedreira²;
Flavio Dias Silva². ...................................................................................................................................... 339
ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICOS E CIRÚRGICOS DA TETRALOGIA DE FALLOT: Revisão de
Literatura ........................................................................................................................................................ 344
Andressa Faria Vilela Ferreira¹; Gabriella Torrano Carvalho Pimentel¹; Meire Aparecida Jacinto Gundim¹;
Albeliggia Barroso Vicentine²; Paulo Roberto Gonçalves Lima²; Andriele Gasparetto²; Raymundo do Espirito
Santo Pedreira². ......................................................................................................................................... 344
ATENDIMENTO E CONDICIONAMENTO
DE PACIENTES ESPECIAIS COM PROBLEMAS
NEUROLÓGICOS NA ODONTOPEDIATRIA. ............................................................................................ 349
Bruna Ítala; Renata Albernaz; Luciana Marquez; Ana Carolina Camargo Rocha; Ana Paula Faria
Moraes; Nelzir Martins Costa²; Flavio Dias Silva²; Andriele Gasparetto². ............................................. 349
CUIDADOS COM PACIENTES DIABÉTICOS NA ODONTOLOGIA ............................................................ 355
Cristiano Shiguemi Amorim¹; Mailson Sales dos Santos¹; Luciana Marquez²; Vanessa Regina Maciel Uzan²;
Viviane Tiemi Kenmoti²; Raimundo Célio Pedreira²; Nelzir Martins Costa²; Carina Scolari Gosch². ........ 356
CONCEITOS EM SAÚDE BUCAL INDÍGENA.............................................................................................. 360
Divino Warley Araújo Soares¹; Adriano Castorino²; Larissa Jacome B Silvestre²; Fernanda Silva
Magalhaes²; Flavio Dias Silva²; Nelzir Martins Costa²; Carina Scolari Gosch²; Ozenilde Alves Rocha
Martins². ..................................................................................................................................................... 360
CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM PACIENTES FALCÊMICOS ........................................................... 369
Aléxia Dchamps dos Santos Paula1, Poliana Andrade de Oliveira Izoton2, Gabriela Ortega Coelho Thomazi2;
Tania Maria Aires Gomes Rocha²; Valdir Francisco Odorizzi²; Nelzir Martins Costa²; Jonas Eraldo de Lima
Júnior². ....................................................................................................................................................... 369
DEFEITOS NA EMBRIOGÊNESE DO TUBO NEURAL: ASPECTOS NUTRICIONAIS ENVOLVIDOS –
REVISÃO ....................................................................................................................................................... 378
Bruna Silva Resende1, Cintya Alves de Oliveira¹, Glaucia Feitosa de Sousa¹, Leticia Santos de Carvalho
Teixeira¹, Ozenilde Alves Rocha Martins²; Paulo Roberto Gonçalves Lima²; Jonas Eraldo de Lima Júnior²;
Jandrei Rogério Markus². .......................................................................................................................... 378
DISCRIMINAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DE NEOPLASIAS EPITELIAIS MALIGNAS GÁSTRICAS .......... 384
Gabriela Wodzik Martins¹, Iêda Maria Silva Ribeiro¹, Maísa Muniz¹, Rafaela Soares Azevedo Mundim Rios¹,
Andriele Gasparetto²; Flávio Dias Silva²; Viviane Tiemi Kenmoti²; Carina Scolari Gosch². ...................... 384
DOR OROFACIAL E SEU IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA: REVISÃO SISTEMÁTICA ..................... 388
Josilleya Damacena Simao¹, Felipe Camargo Munhoz²; Carllini Vicentine Barroso²; Sergio Ricardo
Campos Maia²; Joelcy Pereira Tavares²; Tania Maria Aires Gomes Rocha²; Carina Scolari Gosc h²;
Raymundo do Espirito Santo Pedreira². ................................................................................................. 388
HIPERTENSÃO EM ADOLESCENTE........................................................................................................... 393
Ayrton Cardoso da Costa¹, Bruno Tavares Alves¹, Thompson de Oliveira Turíbio²; Ronyere Olegário de
Araujo2; Vanessa Regina Maciel Uzan2; Tiago Farret Gemelli²; Carlos Eduardo Bezerra do Amaral Silva².
................................................................................................................................................................... 393
O GENE SEX-DETERMINING REGION OF THE Y CHROMOSOME E A DETERMINAÇÃO SEXUAL EM
EMBRIÕES HUMANOS – REVISÃO ............................................................................................................ 405
Nathalie Adamoglu de Mendonça¹; Marco Aurélio Leão Beltrami¹; Carlos Augusto Bucar Neto¹; Natália
Beltrami¹; Days Batista Gomes¹; André Moreira Rocha²; Josefa Moreira do Nascimento-Rocha²; Paulo
Roberto Gonçalves Lima² .......................................................................................................................... 405
OBSERVAÇÃO COMPORTAMENTAL DA CRIANÇA E DA MÃE DURANTE O TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO COM O ODONTOPEDIATRA ......................................................................................... 410
Jhenniffer Coelho da Silva¹; Luciana Marquez²; Mariana Vargas Lindemaier²; Tânia Maria Aires Gomes
Rocha²; Ana Carolina Camargo Rocha²; Felipe Camargo Munhoz²; Nelzir Martins Costa²; Ana Carolina
Camargo Rocha². ...................................................................................................................................... 410
ONCOGENES E MUTAÇÕES GENÉTICAS RELACIONADAS AO CÂNCER DE PRÓSTATA: Revisão de
Literatura ........................................................................................................................................................ 415
Ana Margarete Souza Pedreira¹; Anna Carmela Araujo Benoliel Vasconcelos¹; Núbia Ferreira Da Silva
Tavares¹; Asterio Souza Magalhães Filho²; Andriele Gasparetto²; Flávio Dias Silva²; Anne Caroline Dias
Neves²........................................................................................................................................................ 415
OS DISTÚRBIOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS NA CRIANÇA PELA DESCOBERTA DO CÂNCER: Revisão
Sistemática .................................................................................................................................................... 420
Pedro Henrique Ferreira Aguiar¹; Vicente De Paula Freire Da Silva Junior¹; Yuri Rigueti Barboza¹; Ana
Carolina Camargo Rocha²; Paulo Roberto Gonçalves Lima²; Albeliggia Barroso Vicentine²; Carlos Eduardo
Bezerra do Amaral Silva². .......................................................................................................................... 420
PARACOCCIDIOIDOMICOSE NA CAVIDADE ORAL.................................................................................. 425
Sabrina Da Rocha Sabino Barros; Obede Rodrigues Ferreira; Carina Gosh; Raquel Da Silva Aires2;
Ronyere Olegário de Araujo2; Anne Caroline Dias Neves² ...................................................................... 425
PERFIL CLÍNICO DOS PACIENTES ACIDENTADOS POR RAIAS ............................................................ 430
Geanne Aguiar Rodrigues1, Pryscila F. Lopes Carvalho Lassance1, Raquel da Silva Aires2; Thompson de
Oliveira Turibio²; Carina Scolari Gosch²; Raymundo do Espirito Santo Pedreira²; Andriele Gasparetto²;
Tania Maria Aires Gomes Rocha². ............................................................................................................ 430
ABSTRACT: Introduction -This article is a literature review on the Fluorine, an abundant element
in nature, this in the air, water and soil, and its concentration varies widely. With the discovery of its
preventive effect, it has become the primary means of preventing tooth decay worldwide. Objective
- The purpose of this is to share with future dentists the various sources of absorption, benefits and
harmful effects of fluoride in the general population. so knowing all the ways of man be willing to
contact with this element, and show the importance of eating constantly, is mainly know the dangers
of excessive use of this. Thus showing that fluoride is very important in human life, both children and
adults due to reduction in caries prevalence. Methods - This as a literature review was conducted
in databases as Medicine®, PubMed, Google Scholar. Results - Were used articles from 1916 to
2013. Conclusion - Concluding that the Fluorine brings many benefits to humans.
Key-words: Fluoridation. Water. Fluorosis.
1 INTRODUÇÃO
O flúor é o 13° elemento mais abundante da natureza, possui maior capacidade de reagir
com outros elementos químicos e formar compostos orgânicos e inorgânicos. Está presente no ar,
solo e água (MURRAY, 1986).
O primeiro estudo sobre o flúor no Brasil mais abrangente foi publicado em 1950 por Yaro
Ribeiro Gandra (GANDRA, 1950). O flúor é amplamente distribuído na natureza, mas é encontrado
em maiores quantidades nas águas subterrâneas por passar em jazidas minerais deste elemento.
É encontrado tanto no reino animal, como no reino vegetal, sendo em poucas quantidades nos
ossos e dentes de animais, no reino vegetal encontrado em maiores quantidades em chás, aveia,
espinafre dentre outras (GANDRA, 1950).
O Flúor como um dos elementos mais abundantes da natureza, tem como benefício à
redução da cárie dentária, encontrado em várias fontes, principalmente no abastecimento de água,
ele pode ser prejudicial quando ingerido de forma excessiva na época de formação dos dentes.
Essa fluoretação e obrigatória por Lei Federal e estabelecida por normas de qualidade para o uso
do ser humano.
É reconhecido como um dos elementos fisiológicos fundamentais para o desenvolvimento
276
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
RESUMO: Introdução - Este artigo é uma revisão bibliográfica sobre o Flúor, um elemento
abundante na natureza, Esta presente no ar, na água e no solo, e sua concentração variam
largamente. Com a descoberta do seu efeito preventivo, ele tornou-se o principal meio de prevenção
da cárie dentária em todo o mundo. Objetivo - O objetivo deste é compartilhar com os futuros
cirurgiões-dentistas as diversas fontes de absorção, benefícios e malefícios do flúor na população
geral. Sabendo assim todos os modos do ser humano estar disposto em entrar em contato com
esse elemento, e mostrar a importância de ingerir constantemente, é saber principalmente os
malefícios pelo uso excessivo deste. Mostrando então que o flúor tem grande importância na vida
do ser humano, tanto das crianças quanto aos adultos devido à redução do índice de cárie. Métodos
- Este como uma revisão bibliográfica foi desenvolvido em bases de dados como Bireme, PubMed,
Google Acadêmico. Resultados - Foram usados artigos de 1916 a 2013. Conclusão - Concluindo
que o Flúor traz muitos benefícios ao ser humano.
Palavra-chave: Fluoretação. Abastecimento de água. Fluorose.
v. 03
Élber Silva Coelho1; Bruno Arlindo de Oliveira Costa2; Ana Paula Alves Gonçalves Lacerda2; Laura Souza
de Castro2; Carina Scolari Gosch2; Anne Caroline Dias Neves2; Ozenilde Alves Rocha Martins²; Obede
Rodrigues Ferreira².
_________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
n. 01
FLUORINE ABSORPTION IN VARIOUS SOURCES AND THEIR CONSEQUENCES - Review
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
A ABSORÇÃO DO FLÚOR NAS DIVERSAS FONTES E SUAS CONSEQUÊNCIAS – Revisão
de Literatura
2 METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Esta foi desenvolvida através de
busca em bases de dados (Bireme, PubMed, Google Acadêmico), formando um levantamento
bibliográfico.
A seleção do conteúdo foi determinada através do objetivo proposto, que foi realizar uma
revisão de literatura sobre o Flúor, suas diversas fontes, seus benefícios, malefícios.
Foram empregados os seguintes descritores para busca de dados: “fluorose dentária”,
277
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
normal e crescimentos dos seres humanos, tanto em jovens como adultos de meia idade, quando
ingerido esse fluoreto, por exemplo, na água de abastecimento, ocorre a absorção e circulação na
corrente sanguínea, sendo que 50% dessa quantidade ingerida vai para os tecidos calcificados e o
restante é eliminada pelo sistema renal, e a elevada concentração de fluoretos pode causar
toxicidade aguda ou crônica (DHAR e BHATNAGAR, 2009).
O flúor é facilmente absorvido pelo estômago e pelo intestino delgado, e alguns fatores
podem interferir nessa absorção como, acidez estomacal, a rapidez no esvaziamento do estômago,
e outros (FURTADO et al. 2009).
Seu metabolismo ocorre quando o flúor entra em contato com a cavidade bucal, uma parte
reage nas estruturas dentais, e outra parte é absorvida pela corrente sanguínea através da mucosa,
durante esse trajeto pelo trato gastrointestinal uma parte se acumula nos ossos e o restante é
excretado (WHITFORD, 1996).
O efeito do flúor não tem eficácia na formação dos dentes, ou seja, no suposto pré-eruptivo,
e sim local, ou seja, na cavidade oral no suposto efeito pós-eruptivo, e como esse efeito não é
permanente, depende de exposições frequentes ao longo da vida (RAMIRES e BUZALAF, 2007;
PIZZO et al. 2007).
O efeito tóxico do Flúor mais comum é a fluorose dentária, que são deformações no esmalte,
que aumenta a porosidade, opacidade, manchas e erosão do esmalte. Causam mudanças
estéticas, manchas brancas, marrons e até pretas, deformações anatômicas podendo causar perda
dental. Esse problema ocorre devido uso acima do limite por períodos prolongados de Flúor,
principalmente na época de formação dos dentes (WHO, 1984 apud FEJERSKOV et. al. 1991).
Flúor, fluorose e redução da cárie dentária foram correlacionados no início do século XX, a
água de abastecimento teve papel fundamental para essa descoberta. Com a descoberta dessa
relação, foi estudado um modo de estabelecer a concentração do flúor que conseguisse produzir o
máximo de benefício e prevenção às cáries e evitasse o máximo a fluorose dentária (RAMIRES e
BUZALAF, 2007).
No Brasil esse método tornou-se o principal dispositivo de saúde odontológica nacional.
Assim na década de 1950 varias cidades adotaram esse método por iniciativa do poder municipal.
Em 1974 a fluoretação tornou-se obrigatória por meio da Lei Federal 6.050 (BRASIL, 1974), logo
depois regulamentada por decreto federal 76.872 (BRASIL, 1975ª), e suas normas padrões
aprovadas pela portaria nº 635 do ministério da saúde (BRASIL, 1975b).
O poder preventivo da água fluoretada ocorreu devido a disponibilidade de outras fontes de
Flúor (PEREIRA et al. 2003; MULLEN, 2005; KALAMATIANOS e NARVAI, 2006; PIZZO et al. 2007).
Quando ingerido de forma excessiva na época da formação dos dentes ocorre a fluorose dentária,
podendo apresentar defeitos e manchas nos dentes (NEVILLE et al. 2004). Pode afetar tanto a
dentição decídua quanto a permanente, devido uma série de fatores (PINTO, 2008). Com a adoção
da fluoretação da água e as fontes alternativas, vem se observando um aumento na prevalência de
fluorose dentária, em menor severidade (MCDONAGH et al. 2000).
No contexto este trabalho tem como finalidade fazer o estudo do flúor, para mostrar a
influência deste sobre a saúde do ser humano, enfatizando as fontes onde podem ser encontrado,
os benefícios que traz as pessoas e os malefícios com o uso incorreto.
278
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
3 RESULTADOS
O primeiro a relacionar o Flúor com cárie dentária foi McKay, que observou em Colorado
Springs que muitas crianças apresentavam esmalte manchado e baixa prevalência de cárie
(OMS,1972). Esse mérito foi devido perceber que crianças de certa região tinha alto nível de cáries,
e em outras regiões prevalência as manchas nos dentes, levando assim a ideia que só a água
ingerida entre ambos os grupos eram a única diferença, devido alguns grupos usarem águas
retiradas de poços bem profundos, assim tendo um teor de Flúor maior (MCKAY & BLACK, 1916;
MCKAY, 1928).
O Flúor foi usado como meio preventivo terapêutico para a cárie em 1945 e 1946 nos
Estados Unidos e no Canadá, após alguns estudos comprovaram a eficácia com a redução de 50%
da prevalência de cárie. Depois de comprovada eficácia, o método foi recomendado pela
Organização Mundial de Saúde e as principais instituições mundiais da área de saúde, assim se
expandindo. E no século XXI vem beneficiando 53 países (NUNN; STEELE, 2003).
O fluoreto foi utilizado como meio preventivo e terapêutico para a cárie dentária em 1945 e
1946, nos Estados Unidos e Canadá tendo quatro estudos pioneiros com o principal objetivo de
descobrir sua real efetividade (BURT e EKLUND, 1999). Em 1951 os Estados Unidos adotou a
política de fluoretação no abastecimento de água, e logo em 1960 já beneficiava 50 milhões de
residentes, e no ano de 2006 já atingia 60% da população, considerada uma das dez medidas de
saúde pública (CDC, 1999).
A fundação Sesp foi a responsável no Brasil pela adição de fluoretos na primeira cidade que
foi em Baixo Guandu no Espírito Santo em 1953. Alguns estudos nos Estados Unidos na metade
do século XX foram de extrema importância na correlação sobre os teores de fluoretos no
abastecimento de água, a não diminuição de dentes atacados pela cárie, e o aumento da fluorose
(BURT, 1999).
Na década de 80 foram desenvolvidos os primeiros sistemas de vigilância de teores do flúor
nas águas de abastecimento público com o objetivo de monitorar o processo de fluoretação
(SCHNEIDER et al. 1992).
O flúor classificado como halogênico e o décimo terceiro elemento mais abundante da
natureza. Possui grande capacidade de reagir com outros elementos, pode se formar compostos
orgânicos e inorgânicos, é encontrado no meio ambiente como fluoretos. Pode apresentar diferentes
concentrações, é encontrado tanto no solo, como no ar e nas águas (MURRAY, 1986).
Está na lista de nutrientes essenciais para o desenvolvimento normal e crescimento dos
seres humanos (DHAR e BHATNAGAR, 2009).O primeiro estudo sobre o Flúor mais abrangente no
Brasil foi feito em 1950, para medir seu teor na água, outras fontes, e suas implicações para o ser
humano (GANDRA, 1950).
O flúor não se encontra livre na natureza, pois á mais concentrado em regiões fosfáticas. É
encontrado nas águas em maior quantidade, devido passar em jazidas minerais deste elemento,
onde se enriquece. As águas de poços artesianos são as mais ricas deste elemento, devido a
profundeza dos poços, estando assim em contato maior com as jazidas minerais de flúor. É
encontrado tanto em animais como vegetais, mas em poucas quantidades. Nos animais é
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
“absorção do flúor”, “fontes do flúor”, “história do flúor”, “fluoretação das águas”, “metabolismo do
flúor”. A busca de artigos compreendeu o período entre 1916 a 2013.
Como critério de inclusão, consideram-se artigos publicados no idioma português, cujos textos
completos estavam disponíveis online gratuitamente. Além disso, a temática dos artigos deveria
estar centrada na absorção do flúor, associada em seus vários aspectos: fontes de flúor,
metabolismo do flúor, fluoretação das águas, fluorose dentária. Foram excluídos os artigos que,
mesmo relacionados aos aspectos acima citados só mencionavam fluoretação da água, vigilância
sanitária e dentifrícios.
279
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
encontrado nos ossos e nos dentes, já no reino vegetal é encontrado em maiores quantidades em
chás, aveia, pão, dentre outros (GANDRA, 1950).
Ocorre-se um efeito similar quando o flúor é absorvido de maneira natural ou quando
adicionado água ou outros componentes, devido á matéria prima vir da própria natureza (CREMER;
BUTTNER, 1970).
Para formar o ácido fluorídrico, que é um ácido fraco, o flúor combina com íons hidrogênio.
O comportamento do flúor pode ser explica com base na difusibilidada do ácido fluorídrico devido
ser polar e sua membrana plasmática ser limitada. Com a queda do pH, uma parte do íon flúor
combina com o íon hidrogênio, assim formando o ácido fluorídrico, sendo que sua polaridade facilita
a absorção das células. Com isso, uma vez dentro da célula o ácido fluorídrico se dissocia liberando
o íon flúor. Então quanto menor o pH, maior reação para formação de ácido fluorídrico, aumentando
a migração do flúor, tornando assim o maior o potencial de toxicidade (WHITFORD, 1996). A
distribuição do flúor é dependente do pH, onde a migração do íon ocorre na forma de ácido
fluorídrico devido a diferença de acidez entre compartimentos de fluídos corporais. O Flúor é
absorvido em cerca de 30 minutos pelo trato gastrointestinal, e após essa absorção os níveis
plasmáticos de flúor aumentam bastante atingindo um pico de 20 a 60 minutos. Mostrando assim
que o íon é rapidamente absorvido pelo estômago, sendo um fato que se diferencia dos demais
halógenos e outras substâncias (WHITFORD, 1996). Ao término desse pico, as concentrações de
flúor declinam rápido, assim ocorrendo a diminuição da absorção, devido a contínua incorporação
do flúor ao osso e excreção urinária (EKSTRAND, 1996; WHITFORD, 1996).
Mesmo o flúor sendo absorvido rapidamente pelo estômago, sua absorção total é
determinada pela acidez gástrica, conteúdo gástrico e rapidez no esvaziamento gástrico do intestino
delgado (FURTADO et al. 2009). A absorção no intestino é independentemente do pH, e ocorre na
forma de íon de flúor que atravessam o epitélio intestinal via canais paracelulares das junções
intercelulares. Tem absorção do flúor de 25% no estômago, enquanto 75% ocorrem no intestino
delgado. Esta grande absorção no intestino delgado pode compensar a baixa absorção gástrica no
alto pH (MESSER e OPHAUG, 1993).
O flúor se distribui muito rápido no organismo, tendo o plasma como principal compartimento
de distribuição, assim sendo subsequentemente redistribuído e eliminado. Para uma dose de flúor
ingerida pelo adulto, parte é excretada na urina, e outra parte é incorporada nos tecidos
mineralizados, sendo o principal os ossos (BUZALAF e CARDOSO, 2008).
Desde que se descobriu o efeito preventivo do flúor, durante alguns anos acreditou-se que
a eficácia preventiva decorria da capacidade que o íon teria de formar fluorapatita ao invés de
hidroxiapatita, no processo de formação do esmalte dentário (CHAVES, 1977). Com isso decorria
a aceitação de que, uma vez exposto ao flúor no período de formação dos dentes, o benefício
preventivo seria de longa duração para o indivíduo (VIEGAS 1989). Mais se sabe que isso não
ocorre, pois apesar de formar certa quantidade de apatita fluoretada no processo de mineralização,
o mecanismo pelo qual o flúor confere maior resistência ao esmalte dentário ocorre na superfície
dessa estrutura, ao longo de toda a vida, através de vários episódios de desmineralização e
remineralização superficial, devido a queda de pH ocasionados pela produção de ácidos a partir de
carboidratos. Com isso sabe-se que e indispensável para o efeito preventivo essas pequenas
quantidades de flúor no meio bucal ao longo de toda a vida do indivíduo, se manifeste, com a
formação de fluoreto de cálcio na etapa de remineralização (CURY, 1992).
A fluoretação no abastecimento de água no Brasil começou a ser obrigatória desde 1974
devido a Lei Federal 6.050, e em 12 de dezembro de 2011 por meio da Portaria 2.914 foi
estabelecido padrões para operar a medida, incluindo os limites de concentração de flúor em razão
das médias de temperaturas diárias. É apoiada tanto pelas liberações aprovadas nas Conferências
de Saúde e de Saúde Bucal, pelo Ministério da Saúde, e principais entidades profissionais na área
de Odontologia e de Saúde coletiva em âmbito Nacional (NARVAI, 2000; BRASIL, 2011; BRASIL,
4 DISCUSSÃO
A utilização dos fluoretos como meio preventivo da cárie se iniciou em 1945 e 1946 nos
Estados Unidos e Canadá, sendo estudado para investigar sua efetividade (BURT et.al, 1999). Mais
só em 1951 a fluoretação se tornou política oficial nos Estados Unidos, e apenas em 1960 a
população começou a se beneficiar (CDC, 1999).
A fluoretação no Brasil iniciou-se em 1953 na cidade de Baixo Guandu mostrando resultados
semelhantes aos Estados Unidos e Canadá (PINTO, 2001), Mas apenas em 1980 se tornou Lei
Federal, com tudo isso o Brasil apresentou importante redução no índice de cárie em 1986 e 2003,
reduzindo de 6,7 para 2,8 dentes atingidos (NARVAI, 2006).
Embora seja um fato concreto, o uso do flúor tem promovido significativas melhorias na
saúde bucal e na qualidade de vida reduzindo os índices de cárie (BRASIL, 1996; NARVAI et al.,
1999; WIDSTRÖM et al., 2001). Porém, a prevalência da fluorose dental tem uma tendência inversa
a redução de cárie, devida não só causar alterações estéticas e manchas, quando há uma ingestão
de altas doses o indivíduo pode ter alterações esqueléticas, articulares, neurológicas e nefrológicas,
entre outras (GONÇALVES et al., 2013).
280
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
Para se obter o teor ótimo do fluoreto é levado em consideração a média da temperatura de
cada região, sendo assim a dosagem adequada 0,7 a 1,2 mg F/L, devido as temperaturas oscilarem
de 10,9 a 29,6°. A primeira Lei Federal em 1977 adotou como teor padrão 1,7 mg F/L, mais
atualmente e padronizado em 1,5 mg F/L em todo território nacional (WHO, 2004).
A fluoretação da água é de extrema importância para as estratégias de promoção de saúde,
é um eixo norteador a Política Nacional de Saúde Bucal sendo inserida em um conceito amplo no
setor odontológico, integrando a saúde bucal e as praticas de saúde coletiva (BRASIL, 2004). O
teor ótimo do flúor é de 0,7 mg/L, sua variação pode ser de 0,1 mg/L para mais ou para menos com
relação a sua concentração ótima, assim considerada ainda aceitável (NARVAI, 2001).
Considera-se que a fluoretação no abastecimento de água pública, e a medida mais efetiva
e com melhor custo-benefício para a redução da cárie. Assim somando suas características de
segurança e frequência de consumo se torna o melhor método de exposição do flúor (NARVAI,
2000).
No Brasil a fluoretação se expandiu na década de 80, em 2006 o benefício já atingia cerca
de 100 milhões de pessoas, entre 1986 a 2003 o índice de cárie em crianças aos 12 anos diminuiu
de 6,7 para 2,8 dentes (NARVAI, 2006).
A melhor evidência disponível para a fluoretação no abastecimento de água é que reduz a
prevalência da cárie, tanto em relação à porcentagem de crianças livres, quanto em relação aos
índices de CPO-D (MCDONAGH et al. 2000). Acreditava-se que o flúor só tinha seu efeito na
formação do esmalte dentário, tornando-o mais resistente, hoje se sabe que esse efeito depende
da presença constante do fluoreto no meio ambiente bucal que é a saliva, placa bacteriana dentária
e superfície do esmalte, que pode ser garantida pelo uso sistêmico de flúor encontrado na água e
no sal de cozinha, tanto como no uso tópico que é encontrado em creme dental, enxaguatório, gel
e verniz (CURY, 2003).
A Fluorose dentária é o malefício mais comum pelo uso do flúor em excesso, caracteriza-se
por deformações no esmalte que provocam um aumento de porosidade, opacidade, manchas,
erosão do esmalte, causando mudanças estéticas nos dentes devido a manchas brancas, marrons
e até pretas que podem levar a perda dos dentes. Essa doença ocorre devido a ingestão exagerada
desse elemento. (WHO, 1984 apud FEJERSKOV et al.1991). Apesar de seus efeitos terapêuticos,
o flúor quando consumido de maneira inadequada seus efeitos variam entre fluorose dentária,
distúrbios gástricos reversíveis e reduções transitórias na capacidade de concentração urinária até
a fluorose esquelética levando até mesmo a morte (CURY, 1992).
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
2006)
REFERÊNCIAS
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Portaria N° 518, de 25 de março de 2004. Controle e
vigilância da qualidade da água para consumo
humano e seu padrão de potabilidade. Ministério da
Saúde, Brasília, 2004. 15 p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional
de Saúde Bucal. Brasil Sorridente. Brasília, (s.d). [online]
Disponível
na
Internet
via
WWW.URL:http://dab.saude.gov.br/cnsb/outras_acoes.p
hp/. Arquivos consultados em 03 de maio de 2010
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em
Saúde. Vigilância e controle da qualidade da água
para consumo humano. Brasília: Ministério da Saúde,
2006.
BRASIL. Portaria nº 2914 de 12 de dezembro de 2011
do Ministério da Saúde. Dispõe sobre os procedimentos
de controle e de vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 14 dez. 2011.
BURT BA, Eklund SA. Dentistry, dental practice and the
community. 5. ed. Philadelphia: WB Saunders; 1999.
BUZALAF, M. A. e CARDOSO, V. E. S. Destinos do
fluoreto no organismo. In: M. A. BUZALAF (Ed.).
Fluoreto e Saúde Bucal. Bauru, 2008. Destinos do
fluoreto no organismo
CARMO CD , ALVES CM , CAVALCANTE PR , RIBEIRO
CC. Avaliação da fluoretação da água do sistema de
abastecimento público na Ilha de São Luís, Maranhão,
Brasil. : Ciênc. saúde coletiva(online) . Rio de Janeiro,
15(supl.1):1835-1840, 2010.
CARVALHO TS, KEHRLE HM, SAMPAIO FC.
Prevalence and severity of dental fluorosis among
students from João Pessoa PB, Brazil. Braz Oral Res
21(3):198- 203, 2007.
Centers for Disease Control and Prevention.
Achievements in public Health, 1900-1999: fl uoridation
of drinking water to prevent dental caries. MMWR
Morb Mortal Wkly Rep. 1999;48(41):933-40.
CHAVES MM 1977. Odontologia social. 2.ed. Labor,
Riode Janeiro.
KALAMATIANOS, P.A.; NARVAI, P.C. Aspectos éticos do
uso de produtos fluorados no Brasil: uma visão dos
formuladores de políticas públicas de saúde. Ciência e
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 63-69, 2006.
Lei n° 6.050 de 24 de maio de 1974. Dispõe sobre a
fluoretação da água em sistemas de abastecimentos
quando existir estação de tratamento. Brasília, 1974.
MCDONAGH, M.S. et al. Systematic review of water
fluoridation. British Medical Journal, v. 321, n. 7265, p.
855-859, 2000.
MCKAY FS & BLACK GV 1916. An investigation of mottled
teeth: an endemic developmental imperfection of the enamel
of the teeth, heretofore unknown in the literature of dentistry.
Dental Cosmos, 58:477-484.
MES SER, H. H. e OPHAUG, R. H. Influence of gastric
acidity on fluoride absorption in rats. J Dent Res, v.72, n.3,
p.619-22, Mar. 1993.
Ministério da Saúde. Portaria n° 635/BSB de 26 de
dezembro de 1975. Brasília, 1975b.
Ministério da Saúde. Portaria n° 518 de 25 de março de
2004. Estabelece os procedimentos e responsabilidades
relativos ao controle de vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seu padrão de potalidade. Brasília,
2004ª.
MULLEN, J. History of Water Fluoridation. British Dental
Journal, v. 199, n. 7, [supl], p. 1-4, 2005.
MURRAY JJ 1986. O uso correto de fluoretos na saúde
pública. Organização Mundial da Saúde-Ed. Santos, São
Paulo,131 pp. (edição brasileira de 1992).
NARVAI, P.C.; FRAZÃO, P.; CASTELLANOS, R.A. Declínio
na experiência de cárie em dentes permanentes de
escolares brasileiros no final do século XX. Odontol Soc.;
v.1, n.(1/2), p. 25-29, 1999.
NARVAI, P.C. Cárie dentária e flúor: uma relação do
século XX. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 5,
n. 2, p. 381-392, 2000.
NARVAI PC. Cárie dentária e fl úor: uma relação do
século XX. Cienc Saude Coletiva. 2000;5(2):381-92.
DOI:10.1590/S1413-81232000000200011 World Health
Organization. Guidelines for drinkingwater quality:
281
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
5 CONCLUSÃO
É possível concluir que o flúor traz muitos benefícios ao ser humano, devido à facilidade de
ser encontrado, como nas águas, nos dentifrícios, em muitos alimentos, auxiliando na saúde bucal,
reduzindo a cárie dental da população, sendo uma das maiores conquistas da saúde pública. Ao
mesmo tempo, se usado de maneira inadequada traz riscos como fluorose dentária.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
O aumento da prevalência da fluorose tem sido associado ao uso precoce de dentifrícios
fluoretados (HOROWITZ 2003; HOROWITZ 1996).
A Lei Federal nº 6.050 de 24 de maio de 1974 no dispõe sobre a obrigatoriedade da
fluoretação das águas, quando da existência de estação de tratamento. Os teores de flúor
considerados “ótimos” são de 0,7 mg de flúor por litro, podendo variar em 0,1 mg para mais ou
menos para a prevenção da cárie dental, na maior parte do território brasileiro (NUNES et al., 2004;
CARVALHO, KEHRLE, SAMPAIO, 2007, CARMO, et al ., 2011 ).
O metabolismo do fluoreto compreende absorção, a distribuição e excreção. Para
compreender melhor, requer conhecimentos de suas propriedades químicas, e sua distribuição no
organismo do humano (BRASIL, 2012; EKSTRAND, 1996).
O flúor tem rápida absorção no estômago, sua absorção total é determinada pela acidez
gástrica, pelo conteúdo gástrico e pela rapidez no esvaziamento gástrico para o intestino delgado
(SILVA, 2003; FURTADO et al. 2009).
A GENÊTICA E O CÂNCER DE PRÓSTATA – Uma revisão de literatura
THE GENETICS AND PROSTATE CANCER - Literature review
Paula Silva Aragão¹; Larissa Brito Pereira¹; Rarifela do Carmo Cutrim¹; Days Batista Gomes¹; Tálita Silva
Aragão²; Arthur Alves Borges de Carvalho³; Asterio Souza Magalhães Filho³; Ana Carolina Camargo
Rocha³.
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 - Biomedica. Departamento de Biomedicina / UFG
3 – Docentes ITPAC Porto Nacional
Resumo: O câncer é um problema de saúde pública e sua incidência vem aumentando
consideravelmente nos últimos anos. Essa neoplasia maligna é a sexta mais comum no mundo e a
que mais acomete os homens. Realizou-se uma revisão literária de artigos científicos em bases de
dados eletrônicas incluindo os anos 2000 a 2013 com o objetivo de relatar medidas de rastreamento,
tratamento e os aspectos genéticos do câncer prostático. Observou-se que o conhecimento sobre
a incidência e medidas de prevenção do câncer prostático é primordial para diminuição da
mortalidade de pacientes portadores desta neoplasia. Através do levantamento de informações,
nota-se que o rastreamento do câncer de próstata é realizado por meio do toque retal, sendo a
282
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
recommendations. 3. ed. Geneva; 2004.v.1. Os autores
NEVILLE, B. W. et al. Patologia Oral e Maxilofacial. 2 . ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, 798 p., p. 53-54.
NUNN, J. F.; STEELE, J. G. Fluorides and dental caries. In:
Murray , J. J. Prevention of Oral Disease. 4th ed. Oxford:
Oxford University Press, 2003. p.35-60.
NUNES TV, OLIVEIRA CC, SANTOS AA, GONÇALVES
SR. Aspectos da fluoretação das águas e a fluorose revisão de literatura. Odontologia Clín.-Científ., Recife,
3(2): 97-101, maio/ago., 2004.
Organización Mundial de la Salud, 1972. Fluoruros y salud.
Ginebra: OMS.
PEREIRA, A.C. et.al. Odontologia em saúde coletiva:
planejando ações e promovendo saúde. Porto Alegre:
Artmed, 2003, 440 p., 265-274.
PINTO, V. G. Saúde Bucal Coletiva. 5. ed. São Paulo:
Santos, 2008, 635 p., p. 202-206, 421-433.
PIZZO, G . et al. Community water fluoridation and caries
prevention: a critical review. Clinical Oral Investigations,
v. 11, n. 3, p. 189-193, 2007
RAMIRES, I.; BUZALAF, M.A.R.A Fluoretação da água de
abastecimento público e seus benefícios no controle da
cárie dentária – cinquenta anos no Brasil . Ciência e Saúde
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, p. 1057-1065, 2007
SCHNEIDER Filho DA, Prado IT, Narvai PC, Barbosa SR,
Fluoretação da água: Como fazer a vigilância sanitária?
Cadernos de Saúde Bucal; Rio de Janeiro: Cedros, 1992
SILVA, M. F. A.. Flúor: Metabolismo, toxicologia,
fluorose e cárie dental. In: KRIGER, L. (coord.). Promoção
de Saúde Bucal. 3ª edição. São Paulo: Aboprev, Artes
Médicas, 2003. p 153 – 180
VIEGAS AR 1989. Fluoretação da água de abastecimento
público. Revista Brasileira de Medicina, 46(6):209-216.
WIDSTRÖM E. et al. Oral healthcare in transition in Eastern
Europe. Br Dent J. v.190, n.11, p. 580-584, 2001.
World Health Organization 1984. Fluorine and fluorides.
WHO, Geneva
WHITFORD, G. M. The metabolism and toxicity of
fluoride. Monogr Oral Sci, v.16 n.2, p.1-153. 1996.
WHITFORD, G. M.: Intake and metabolism of fluoride.
Adv Dent Res 1994; 8:5-14
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
CREMER, H.; BUTTNER, W. Absorption of fluorides. In:
FLUORIDES and human health. Geneva: WHO, 1970.
CURY JA 1992. Flúor: dos 8 aos 80?, pp. 375-82. In
Bottino MA, Feller C (org.). Atualização na clínica
odontológica. Artes Médicas, São Paulo
CURY JA, Tabchoury CPM. Determination of
appropriate exposure to fl uoride in non-EME
countries in the future. J Appl Oral Sci. 2003;11(2):8395.
Decreto n° 76.872 de 22 de dezembro de 1975.
Regulamenta a Lei n° 6.050/74, que dispõe sobre a
fluoretação da água. Brasília, 1975ª.
DHAR, V.; BHATNAGAR, M. Physiology and toxicity of
fluoride. Indian Journal of Dental Research, v. 20, n. 3,
p.350-355, 2009
EKSTRAND, J. Fluoride Metabolism. In: O. E.
FEJERSKOV, J.; BURT,B.A. (Ed.). Fluoride in
dentistry, 1996. Fluoride Metabolism, p.55-68.
FEJESKOV, O.; YANAGISAWA, T.; TOHDA, H.
Posteruptive changes in human dental fluorosis- a
histological and ultrastructural study. Proc. Finn. Dent.
Soc., v. 87, n. 4, p. 607-619, 1991.
FURTADO, A; TRAEBERT, J.L; MARCENES, W.S.
Prevalência de doenças bucais e necessidade de
tratamento em Capão Alto, Santa Catarina. Rev ABO
Nac, São Paulo, v.7, n.4, p.226-230, ago./set. 2009.
GANDRA YR. Contribuição para o conhecimento do teor
de flúor de água do Estado de São Paulo – significação
sanitária do problema. Arquivos da Faculdade de
Higiene Pública da Universidade de São Paulo 1950, 4
(2): 135-83. [Tese de livre Docência – Faculdade de
Higiene e Saúde Pública, Universidade de São Paulo].
GONÇALVES, A. L. et al. Estudo da prevalência da
fluorose dentária em um grupo de escolares de Belém,
Estado do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude; v.4n .4,
p.37-42,2013.
HOROWITZ HS. The effectives of community water
fluoridation in the United States. J Public Health Dent
1996; 56(5):253-8.
HOROWITZ HS. The 2001 CDC recommendations for
using fluoride to prevent and control dental caries in
United States. J Public Health Dent 2003; 63(1):3-10.
283
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
1 INTRODUÇÃO
O câncer tem aumentado consideravelmente no mundo inteiro, desde o século passado
(GUERRA; GALLO E MENDONÇA, 2005). Em relação ao câncer de próstata nota-se que a
mortalidade é relativamente baixa (MEDEIROS; MENEZES e NAPOLEÃO, 2011).
Segundo Calvete et al. (2003), Guerra; Gallo e Mendonça (2005), Gomes et al. (2008),
Gonçalves; Gomes (2008), Padovani e Popim (2008), Rodrigues e Ferreira (2010); Moscheta e
Santos (2011) e Vieira; Araújo e Vargas (2012) o câncer é um problema de saúde pública. Estudos
revelam que nos Estados Unidos no ano de 2002 há uma estimativa de que foram diagnosticados
189.000 novos casos, e dentre estes 30.000 homens morreram de câncer de próstata (AMORIM et
al., 2011).
Por outro lado Dini e Koff (2006) afirmam que o câncer de próstata não está somente ligado
como um problema de saúde pública mas também pelo impacto socioeconômico sobre a população.
Essa doença é a sexta neoplasia maligna mais comum no mundo, de acordo com Rhoden e
Averbeck (2010).
A neoplasia em questão o tipo de câncer mais incidente em homens segundo relatos de
Vieira; Araújo e Vargas (2012) e Moscheta e Santos (2011). Sua incidência é sempre subestimada
pois muitos tumores permanecem assintomáticos durante toda a vida do indivíduo, e geralmente
são diagnosticados apenas em procedimentos de necropsia (GONÇALVES; PADOVANI e POPIM,
2008).
De acordo com Gonçalves (2008), Vieira (2008) e Dornas (2008) o principal fator de risco
descrito para o desenvolvimento do câncer de próstata é a idade avançada. Este câncer tem
crescimento gradativo e antes dos 50 anos de idade é raro. Sendo que, 85% dos casos são
diagnosticados após os 65 anos. Sua historia natural ainda é pouco conhecida (AMORIM et al.,
2011).
É importante atenção especial dos profissionais à saúde do homem, adotando medidas e
modelos assistenciais envolvendo estratégias educativas com o objetivo de promover a saúde e a
qualidade de vida, além de incorporar em sua prática profissional diretriz emanada das políticas
públicas de saúde (VIEIRA; ARAÚJO e VARGAS, 2012). Os grupos de apoio vêm se consolidando
como uma modalidade de cuidado eficaz. Apresentam uma demanda crescente no contexto
nacional e internacional (MOSCHETA E SANTOS, 2011).
De acordo com o pesquisador Dantas et al. (2009), o aconselhamento genético é utilizado
como uma ação de saúde pública, que reduz a mortalidade de homens que possuem o risco
aumentado para câncer de próstata. A próstata produz uma glicoproteína denominada PSA, quando
seu nível está elevado na corre nte sanguínea este é considerado um marcador biológico para
algumas doenças da próstata, como o câncer (AMORIM et al., 2011).
O PSA é considerado por Calvete et al, (2003), o mais importante marcador para detectar,
n. 01
ABSTRACT: Cancer is a public health problem and its incidence has increased considerably in
recent years. This malignancy is the sixth most common in the world and that affects more men. We
conducted a literature review of scientific articles in electronic databases including the years 2000 to
2013 in order to report tracking measures, treatment and genetic aspects of prostate cancer. It was
observed that knowledge about the incidence of prostate cancer and prevention measures is
essential to decrease mortality of patients with this cancer. Through the collection of information, it
is noted that screening for prostate cancer is done through digital rectal examination, and the dosage
of Specific Antigen Prostate (PSA) baste useful in diagnosis. The GSTP1 gene has become a marker
present in patient urine samples with prostate cancer.
Keywords: prostate cancer, GSTP1 gene, prostate-specific antigen.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
dosagem do Antígeno Específico Prostático (PSA) baste útil no diagnostico. O gene GSTP1 tem-se
tornado um marcador presente em amostras de urina de pacientes com câncer de próstata.
Palavras-chave: câncer de próstata, gene GSTP1, antígeno específico prostático.
284
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Guerra; Gallo e Mendonça (2005) a distribuição epidemiológica do câncer no Brasil
sugere uma transição em andamento, envolvendo um aumento entre os tipos de câncer
normalmente associados a alto status socioeconômico - câncer de mama, próstata e cólon e reto e, simultaneamente, a presença de taxas de incidência persistentemente elevadas de tumores
geralmente associados com nível socioeconômico inferior – câncer de colo de útero, pênis,
estômago e cavidade oral.
A próstata é uma glândula exclusivamente masculina, situada logo abaixo da bexiga, de
aparência e volume muito semelhante a uma castanha. É responsável pela produção de boa parte
do líquido seminal. Com o envelhecimento a próstata está sujeita a duas condições: aumento
benigno (HPB - hiperplasia prostática benigna) e câncer de próstata. (TOFANI e VAZ, 2007).
O câncer de próstata ocupa um elevado lugar em ordem de frequência no mundo e é o mais
prevalente em homens, representando cerca de 10% do total das neoplasias malignas sendo que
a taxa de incidência é cerca de 6 vezes maior nos países desenvolvidos, quando comparados aos
países subdesenvolvidos (MARON et al, 2010).
O câncer de próstata é um tumor de crescimento lento, com progressão não linear (ABREU
et al, 2005) sendo assintomático nas fases iniciais e ocorre preferencialmente na zona periférica da
próstata (CASTRO et al, 2011).
Segundo Santos e Bruns (2006) essa neoplasia é a segunda
causa de óbitos por câncer em homens, sendo superado apenas pelo de pulmão. Caracteriza-se
como uma doença do homem idoso, devido ao aumento da sobrevida humana (ABREU et al, 2005).
Vale destacar que, em estudo conduzido com a finalidade de verificar as diferenças no perfil
de mortalidade proporcional por câncer em militares da Marinha do Brasil, o câncer de próstata
apresentou-se como uma das três causas de maior mortalidade na população estudada, sendo mais
comum em militares do que na população geral de referência (SILVA; SANTANA e LOOMIS, 2000).
O papel da hereditariedade parece ser real, sendo que indivíduos com história familiar de
pai ou irmão com câncer, o risco de desenvolver a doença é duas vezes maior. Outro fator de risco
relevante é o racial, visto que essa neoplasia é 60% mais frequente em negros que em brancos
(DANTAS et al, 2009). Sendo que os filhos de indivíduos com hiperplasia da próstata têm de três a
quatro vezes mais chance de serem submetidos à cirurgia prostática por crescimento benigno local
(SROUGI et al, 2008).
O papel dos fatores ambientais na gênese do câncer de próstata permanece, ainda, não
muito bem compreendido, sendo que alguns estudos associa essa doença com componentes
dietéticos específicos, sendo o maior risco associado ao consumo de gorduras e carnes (GUERRA;
GALLO e MENDONÇA, 2005). Por outro lado segundo Gomes et al (2006) os fatores de rico para
essa neoplasia são, na maioria desconhecidos e inevitáveis.
De acordo com Medeiros; Menezes e Napoleão (2011) alguns nutrientes encontrados nos
n. 01
2 METODOLOGIA
Trata-se de um trabalho descritivo realizado através de levantamento bibliográfico em
publicações científicas disponíveis em bases de dados eletrônicas, como: Portal de Periódicos da
Capes, Scientific Electronic Library Online, Springer Journals e Google Acadêmico, englobando o
período de 2000 a 2013. Foram usadas terminologias como: PSA, neoplasia prostática, gene
GSTP1.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
estagiar e monitorizar o câncer de próstata. O tempo de duplicação tumoral varia de dois a cinco
anos (RHODEN e AVERBECK, 2010).
O presente artigo objetiva-se relatar a epidemiológica, o diagnóstico, o rastreamento, a
prevenção e o tratamento do câncer de próstata. Realizar estudos sobre o sequenciamento do gene
GSTP1 e sua relação com o câncer.
285
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
alimentos podem ter um efeito protetor como as vitaminas A, D, E, o selênio, licopeno, Ômega,
vitamina C. São também citados os fito-estrógenos, isoflavonóides, flavonóides, e lignanas.
O local mais comum de disseminação hematogênica do câncer de próstata é o osso
(DORNAS et al, 2008). A prevalência ou não de metástase óssea depende do estágio do
diagnóstico, sendo fundamental para o tratamento e prognostico do individuo acometido (ABREU
et al, 2005). De acordo com Calvete et al (2003) 16% desses canceres têm metástases à distância,
a maioria assintomática ou com sintomas de obstrução urinária baixa.
Com base nos estudos realizados por Dantas et al (2009) os loci do câncer de próstata foram
mapeados nos cromossomos 1q24-25, 1q42, Xq27-28, 1p36 e 20q13. No câncer de próstata vários
genes mutados estão sendo encontrados, tais como: TP53, PTEN, RB ras, CDKN2, AR (receptor
de andrógenos) e CTNNB1. A principal mutação foi observada no gene TP53, presente em estágios
avançados da doença. Os genes MSH2 e PMS2 também foram observados com mutação na
linhagem celular do câncer de próstata e foi determinado a partir do estudo de famílias com câncer
de próstata.
A hipermetilação na região promotora de GSTP-1 está presente em mais de 90% dos
pacientes com câncer de próstata e pode ser avaliada através de técnicas de PCR.O sangue
recuperado na cirurgia oncológica pode estar livre de células tumorais após a utilização de filtros
para remoção de leucócitos e irradiação, através da hipermetilação do promotor de GSTP-1 como
marcador.
De acordo com Cairns et al (2001) em estudos realizados em humanos, foram analisadas
28 próstatas de pacientes com câncer prestes a se submeter a prostatectômica. Notou-se que a
maioria dos tumores da próstata ocorre na zona periférica que contém três quartos das glândulas.
A urina dos pacientes com câncer pode, portanto, conter grupos de células neoplásicas ou
fragmentos DNA. Estudou-se também o sequenciamento do gene GSTP1 e foi observado que esse
é um marcador de simples amostras de urina. Além do mais, o sequenciamento de tal gene consiste
na alteração genética mais comum até agora identificado.
Durante as últimas décadas, com a disseminação da dosagem sérica do antígeno prostático
específico (PSA) e da biópsia prostática trans-retal guiada por ultrassonografia, ocorreu um
aumento no diagnóstico do câncer de próstata, principalmente com casos de doença clinicamente
localizada (ANDRADE et al, 2010) e (FONSECA et al, 2007). Segundo Abreu et al (2005) a
disseminação desses programas para detecção precoce e a introdução do teste de PSA têm
aumentado a taxa de diagnóstico em fases mais iniciais.
O rastreamento do câncer de próstata também é realizado por meio do toque retal. Esse é
utilizado para avaliar o tamanho, a forma e a consistência da próstata no sentido de verificar a
presença de nódulos, mas sabe-se que este exame apresenta algumas limitações, uma vez que
somente possibilita a palpação das regiões posterior e lateral da próstata, deixando 40% a 50% de
possíveis tumores fora do seu alcance; depende também do treinamento e experiência do
examinador e ainda existe a resistência e rejeição de parcela importante dos indivíduos em relação
a esse tipo de exame (AMORIM et al, 2011).
Em relação ao tratamento, o câncer de próstata apresenta várias possibilidades terapêuticas
como radioterapia/braquiterapia, prostatectomia, bloqueio androgênico e até mesmo conduta
expectante em situações especiais, dependendo do estado clínico da doença, da avaliação de
agressividade do tumor, das comorbidades e da expectativa de vida do paciente (RIBEIRO et al,
2010).
Os tratamentos para o câncer de próstata são definidos em função de dois aspectos: a
perspectiva de vida do paciente, uma vez que se o estado de saúde geral for bom, recomenda-se
tratamentos mais agressivos, porém mais eficientes, como a cirurgia ou a radioterapia; caso a saúde
esteja debilitada, recomenda-se tratamentos mais simples, como o uso de hormônios (SANTOS e
BRUNS, 2006).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABREU, Benedita Andrade Leal d et al. Cintilografia óssea
no câncer de próstata. Radiol Bras, São Paulo, v. 38, n.
5, 2005 .
AMORIM, Vivian Mae Schmidt Lima et al. Fatores
associados à realização dos exames de rastreamento
para o câncer de próstata: um estudo de base
populacional. Cad. Saúde Pública., v.27, n.2, p. 356,
2011.
ANDRADE, Rógerson Tenório et al. O Percentual de
Fragmentos Acometidos na Biópsia como Preditor da
Extensão do Câncer de Próstata: Revisão Sistemática.
Revista Brasileira de Cancerologia, p. 359-366, 2010.
CAIRE, Licia Ferreira. Hipnose em pacientes oncológicos:
um estudo psicossomático em pacientes com câncer de
próstata. Psico-USF, Itatiba, v. 17, n. 1, abr. 2012 .
CAIRNS, Paul; ESTELLER, Mane; HERMAN, James G. et
al. Molecular Detection of Prostate Cancer in Urine by
GSTP1 Hypermethylation. Clinical Cancer Research,
2001.
CALVETE,
Antonio
Carlos;
SROUGI,
Miguel;
NESRALLAH, Luciano João; DALL’OGLIO, Marcos
Francisco; ORTIZ, Valdemar. Avaliação da extensão da
neoplasia em câncer da próstata: valor do PSA, da
percentagem de fragmentos positivos e da escala de
Gleason. Rev. Assoc. Med. Bras. V.49, n.3, p. 250-254,
2003.
CASTRO, Hugo Alexandre Sócrates de et al. Contribuição
da densidade do PSA para predizer o câncer da próstata
em pacientes com valores de PSA entre 2,6 e 10,0 ng/ml.
Radiol Bras, São Paulo, v. 44, n. 4, 2011 .
DANTAS, Élida Lívia Rafael et al. Genética do Câncer
Hereditário. Revista Brasileira de Cancerologia, p. 263269, 2009.
DINI, Leonardo I.; KOFF, Walter J. Perfil do câncer de
próstata no hospital de clínicas de Porto Alegre. Rev.
Assoc. Med. Bras. São Paulo , v. 52, n. 1, fev. 2006 .
DORNAS, Maria C.; et al. Câncer de Próstata. Revista do
GONCALVES, Ivana Regina; PADOVANI, Carlos; POPIM,
Regina Célia. Caracterização epidemiológica e
demográfica de homens com câncer de próstata. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, Aug. 2008 .
FLEMING, Neubiara de Lima Fischer; SOUZA, Rosângela
de; DUARTE, Diego Andreazzi; Índice de Câncer de
Próstata em uma Cidade de Pequeno Porte do Sul de
Minas Gerais. REAS, Revista Eletrônica Acervo Saúde,
V. 3, p.145-15, 2011.
JURBERG, Claudia; GOUVEIA, Maria Emmerick;
BELISÁRIO, Camila. Na mira do câncer: o papel da mídia
brasileira. Revista Brasileira de Cancerologia, p. 139146, 2006.
MARON, Paulo Eduardo Goulart; et al. Fatores
anatomopatológicos
preditivos
para
recorrência
bioquímica do câncer de próstata após prostatectomia
radical. Arquivos Médicos do Hospital da Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa São Paulo, p. 48-51,
2010.
MEDEIROS, Adriane Pinto de; MENEZES, Maria de
Fátima Batalha de; NAPOLEAO, Anamaria Alves. Fatores
de risco e medidas de prevenção do câncer de próstata:
subsídios para a enfermagem. Rev. bras. enferm.
Brasília, v. 64, n. 2, Apr. 2011 .
RHODEN, E.L. de e AVERBECK M. A. do. Câncer de
próstata localizado; Revista da Associação Médica do
Rio Grande do sul. Vol. 54, n. 1, p. 92-99, 2010.
RIBEIRO, Adriano Freitas et al. Riscos cardiovasculares
do bloqueio androgênico. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo
, v. 95, n. 3, Sept. 2010 .
RODRIGUES, Juliana Stoppa Menezes; FERREIRA,
Noeli Marchioro Liston Andrade. Caracterização do Perfil
Epidemiológico do Câncer em uma Cidade do Interior
Paulista: Conhecer para Intervir; Revista Brasileira de
Cancerologia, p. 431-441, 2010.
SANTOS, Rosita Barral; BRUNS, Maria Alves de Toledo.
Homens com câncer de próstata: um estudo da
286
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Brasil é o segundo pais das Américas a promover a política nacional da saúde do homem.
No entanto a maior parte dos homens com câncer de próstata, quando procura atendimento, sua
condição de saúde já está a nível secundário, precisando de cuidados especiais, portanto já estão
com morbidades alojadas (FLEMING; SOUZA e DUARTE, 2011).
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) o Brasil é a referência para o serviço público,
coordena e desenvolve ações nas cinco áreas estratégicas para o controle do câncer, que são:
prevenção, assistência médico-hospitalar, pesquisa, educação e informação (GOMES et al, 2008).
O conhecimento da patologia e o acesso aos serviços preventivos e de diagnósticos são
considerados pontos chaves na prática preventiva (MIRANDA et al, 2004). Por outro lado Medeiros;
Menezes e Napoleão (2011) afirmam que ainda não existem meios comprovadamente conhecidos
para se prevenir este tipo de câncer.
Testes genéticos preventivos serão vitais para a estratégia de prevenção desse tipo de
câncer, os quais incluem: mudanças dietéticas, uso de suplementos nutricionais ou de agentes
químico-preventivos para alterar a história natural de homens com alto risco de desenvolver câncer
de próstata. O aconselhamento genético pode ser utilizado como uma ação de saúde pública para
reduzir a morbidade e mortalidade de homens com risco aumentado para câncer de próstata
(DANTAS et al, 2009).
Os resultados e os avanços nas pesquisas em câncer são objetivos principais da área
biomédica. Este é o motivo pelo qual cada reportagem sobre o tema suscita um grande interesse
por parte da mídia (JURBERG; GOUVEIA e BELISARO, 2006) e por parte dos cientistas que
estudam a área da oncologia.
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
sexualidade à luz da perspectiva heideggeriana. FFCLRP
– Departamento de psicologia e educação; Programa de
pós-graduação em psicologia, Ribeirão Preto – São Paulo,
p. 243, 2006.
SILVA, Marlene; SANTANA, Vilma S; LOOMIS, Dana.
Mortalidade por câncer em militares da Marinha do Brasil.
Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 34, n. 4, Aug. 2000.
SROUGI, Miguel et al. Doenças da próstata. Seção
Aprendendo - Rev Med, São Paulo, p. 166-77, 2008.
TOFANI, Ana C. A.; VAZ, Cícero E.. Câncer de próstata,
sentimento de impotência e fracassos ante os cartões IV
e VI do Rorschach. Interam. j. psychol., Porto Alegre , v.
41, n. 2, ago. 2007 .
VIEIRA, Luiza Jane Eyre de Souza et al. Prevenção do
câncer de próstata na ótica do usuário portador de
hipertensão e diabetes. Ciênc. saúde coletiva, Rio de
Janeiro, v. 13, n. 1, Feb. 2008 .
VIEIRA, C. G. et al. O homem e o câncer de próstata:
prováveis reações diante de um possível diagnóstico.
Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.5, n.1, Janeiro
2012.
A HISTÓRIA, A EVOLUÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA FLUORETAÇÃO NO BRASIL NOS
ÚLTIMOS 50 ANOS – Revisão de Literatura
HISTORY, EVOLUTION AND FLUORIDATION IMPORTANCE IN BRAZIL IN THE LAST 50
YEARS - Review
Ana Caroline Morais Peres1; Ana Paula Alves Gonçalves Lacerda2; Ana Paula Mundim 2; Bruno Arlindo de
Oliveira Costa2; Anne Caroline Dias Neves2; Raquel da Silva Aires2; Ozenilde Alves Rocha Martins²; Tiago
Farret Gemelli².
_________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO: Introdução - A fluoretação da água de abastecimento público representa uma das
principais e mais importantes medidas de saúde pública, pois o flúor é o elemento mais eficiente na
prevenção da cárie dentária, sendo o método da fluoretação da água de abastecimento público o
mais recomendado para a prevenção da mesma, tratando-se de um importante avanço no século
XX. Objetivo - Esse trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica. Métodos - Desenvolvida através
de um levantamento de dados bibliográfico, objetivando assim mostrar a importância, o alcance da
fluoretação no Brasil e a sua evolução através de uma revisão de literatura. Resultados Constatou-se que nos últimos 50 anos é possível apresentar uma evolução da fluoretação e houve
um acesso muito grande das pessoas a água fluoretada. Conclusão - Com isso conclui-se que a
fluoretação da água de abastecimento público é um meio de prevenção da doença cárie.
Palavra-chave: Fluoretação. Cárie dentária. Abastecimento público.
ABSTRACT: Introduction - Fluoridation of the public water supply is one of the main and most
important public health measures because fluoride is the most effective element in preventing tooth
decay, the method of the public water supply fluoridation the most recommended for the prevention
of same, in the case of a major breakthrough in the twentieth century. Objective - This work it is a
literature review. Methods - Developed through a survey of bibliographic data, thus aiming to show
the importance, the scope of fluoridation in Brazil and its evolution through a literature review.
Results - It was found that in the last 50 years is possible to present an evolution of fluoridation and
there was a very large people access to fluoridated water. Conclusion - It concluded that the
287
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Hospital Universitário Pedro Ernesto, UERJ, Ano 7,
Janeiro/Junho, 2008.
FONSECA, Roberto Porto; et al. Recidiva bioquímica em
câncer de próstata: artigo de revisão. Revista Brasileira
de Cancerologia, p. 167-172, 2007.
GUERRA, Maximiliano Ribeiro; GALLO, Cláudia Vitória de
Moura; MENDONÇA, Gulnar Azevedo e Silva. Risco de
câncer no Brasil: tendências e estudos epidemiológicos
mais recentes. Revista Brasileira de Cancerologia, Rio
de Janeiro, v, 51, n. 3, p. 227-234, jul./set. 2005.
GOMES, Cláudio Henrique Rebello et al. Avaliação do
Conhecimento sobre Detecção Precoce do Câncer dos
Estudantes de Medicina de uma Universidade Pública.
Revista Brasileira de Cancerologia, p. 25-30, 2008.
GOMES, Romeu; REBELLO, Lúcia Emilia Figueiredo de
Sousa; ARAUJO, Fábio Carvalho de and NASCIMENTO,
Elaine Ferreira do. A prevenção do câncer de próstata:
uma revisão da literatura. Ciênc. saúde coletiva. Vol.13,
n.1, p. 246, 2006.
MIRANDA, Paulo Sérgio Carneiro et al. Práticas de
diagnóstico precoce de câncer de próstata entre
professores da faculdade de medicina - UFMG. Rev.
Assoc. Med. Bras. São Paulo, v. 50, n. 3, set. 2004 .
MOSCHETA, Murilo dos Santos; SANTOS, Manoel
Antônio dos. Grupos de apoio para homens com câncer
de próstata: revisão integrativa da literatura. Ciênc. saúde
coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 5, May 2012.
288
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
1 INTRODUÇÃO
A fluoretação é a adição controlada de flúor à água de abastecimento público com a
finalidade de elevar a concentração deste íon a um teor predeterminado, e desta forma atuar no
controle e prevenção da cárie dentária. Assim desde 1945, o flúor tem sido utilizado, resultando em
uma melhora significante na saúde bucal da população (RAMIRES; BUZALAF, 2007).
O primeiro movimento da fluoretação de águas de abastecimento público no Brasil foi no
estado do Rio Grande do Sul no ano de 1944, mais o primeiro serviço de fluoretação foi implantado
em 31 de outubro de 1953, no município de Baixo Ghandú, Espírito Santo, que estabeleceu um teor
ótimo de adição do flúor de 0,8 ppm (partes por milhão). A concentração de flúor depende de
algumas variáveis para ser considerado ótimo. Uma delas é o clima, o qual influência diretamente
o consumo de água, e para países de clima tropical como o Brasil, a concentração deve ser mais
baixa, algo variando entre 0,7 a 1,0 ppm (partes por milhão) de flúor por litro (ARAÚJO MT. et al.,
2002). O serviço de fluoretação foi ser aprovado em Lei 3125, no dia 18 de junho de 1957, que
obrigava realizar fluoretação em localidades operadas pelo Estado, e também que possuíssem
estação para tratamento da água (FUNASA, 2012).
A implantação da fluoretação ocorreu um ano após esta recomendação no X Congresso
Brasileiro de Higiene realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais em 1953, e foi o primeiro a
comprovar os benefícios obtidos na cárie dentária. Posteriormente vários municípios brasileiros
passam a adotar a fluoretação das águas de abastecimento público, e a partir do ano de 1974,
passou a ser obrigatório no Brasil onde existisse a Estação de Tratamento de Água de
Abastecimento Público, teria que ser regulamentada por meio de legislação na Lei Federal nº 6.050,
de 24 de maio de1974 que dispõe sobre a fluoretação das águas, sendo devidamente
regulamentado pelo Decreto Federal nº 76.872, de 22 de dezembro de 1975 que fala sobre a
obrigatoriedade da fluoretação (RAMIRES; BUZALAF, 2007).
O Ministério da Saúde em ação conjunta com entidades e órgãos oficiais reconhecidos pelo
Poder Público, promoveram medidas de implementação da fluoretação, capacitando os recursos
humanos que seriam os custos benefícios com o objetivo de melhorar a saúde dental da população.
Em 2004 o governo lançou o Programa Brasil Sorridente - a saúde bucal levado a sério, e a
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) empregando a implantação da fluoretação da água de
sistemas públicos de abastecimento (FUNASA, 2012). Esta representa uma das principais e mais
importantes medidas de saúde pública, podendo ser considerada como método de controle da cárie
dentária mais efetiva, quando ainda considerada em abrangência coletiva (KOZLOWSKI; PEREIRA,
2003).
Como método de prevenção da cárie dentária, tem sido utilizado o ajuste de teor de fluoreto
nas águas de consumo em vários países. Desde 1945 a fluoretação tem sido considerado como
uma das dez grandes conquistas da saúde pública no século XX (CDC, 2001). O controle da
qualidade da água consumida pela população no Brasil é de atribuição do Programa Nacional de
Vigilância em Saúde Ambiental (VIGIAGUA), coordenado pela a Secretaria de Vigilância em Saúde
do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011).
A fluoretação da água é uma tecnologia vantajosa e de intervenção em saúde pública que
se iniciou há mais de meio século e recebeu determinação legal no Brasil a mais de 30 anos. Sua
efetivação é totalmente desigual no País e sua intervenção avançou mais no Sul e no Sudeste
sendo insuficiente no Norte e Nordeste. Embora seja compreensível que a fluoretação tenha
ocorrido primeiro nos municípios de maior porte populacional, com mais recursos para a gestão dos
interesses públicos, o fato de sua expansão ser tão demorada a ponto de, em pleno século XXI o
serviço de implantação não ter chegado a todos os municípios brasileiros, este demanda ajustes na
gestão dessa política pública (NARVAI, 2000). Assim objetiva-se com este trabalho mostrar a
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
fluoridation of the public water supply is a means of preventing caries.
Key-words: Fluoridation. Dental Caries. Public Supply.
3 RESULTADOS
A Organização Mundial da Saúde em 1958 reconheceu a importância da fluoretação da água
de abastecimento público e o Comitê de Peritos em fluoretação da água instituiu em seu primeiro
relatório um parecer favorável, indicando como uma medida de saúde pública. A partir daí o mesmo
comitê sugeriu que novas pesquisas e de outros métodos e meios de aplicação tópica de flúor
fossem desenvolvidas, para ser utilizadas e permitir o uso em locais onde a fluoretação não pudesse
ser implantada. Em 1966 a mesma recomendação foi feita aos Estados membros na 22ª Assembleia
Mundial de Saúde (RAMIRES; BUZALAF, 2007).
No ano de 1975, foi apresentado um programa para promoção da fluoretação da água de
abastecimento público em comunidades, desenvolvido pela a Organização Mundial da Saúde, onde
ressalta que o problema cárie não seria resolvido só por métodos curativos, e então na 25ª
Assembleia Mundial de Saúde, foi aprovado o programa que enfatizou a importância de se utilizar
concentrações de flúor adequado nas águas de abastecimento, e o mesmo programa teve
aprovação unânime dos 148 países membros. Na Conferência sobre Fluoretos no ano de 1982 a
Federação Dentária Internacional (FDI), Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Fundação
Kellogg (FK), concluíram que a fluoretação da agua de abastecimento público é uma ação de saúde
pública para o controle da cárie dentária em países onde existe tratamento de água, pois esta é
uma medida de controle efetiva e segura, portanto deve ser implantada e mantida (RAMIRES;
BUZALAF, 2007).
Na cidade do Rio Grande do Sul no ano de 1944, foi quando surgiu o primeiro movimento
de fluoretação de águas de abastecimento público, sendo aprovado em Lei 3125, dia 18 de junho
de 1957, onde obrigava a fluoretação das águas de abastecimento em localidades operadas pelo o
Estado e que possuíssem estação de tratamento de água (FUNASA, 2012).
O primeiro serviço de fluoretação implantado no Brasil foi em 31 de outubro de 1953, na
cidade de Baixo Ghandú, no Espirito Santo, que foi o primeiro município brasileiro que adicionou o
flúor nas águas de abastecimento público, onde estabeleceu um teor ótimo de flúor de 0,8ppm
(partes por milhão). Um ano após esta recomendação ocorreu à implantação da fluoretação no X
Congresso Brasileiro de Higiene e foi o primeiro a comprovar os benefícios obtidos na cárie dentária.
Podendo ver nos estudos a redução clara de 67% do índice de CPO-D das crianças na faixa etária
de 6 a 12 anos após quatorze anos iniciada a fluoretação desde 1967 (RAMIRES; BUZALAF, 2007).
289
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
2 METODOLOGIA
Este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica realizada sobre a fluoretação de água de
abastecimento público, e a sua evolução no Brasil, onde foi utilizado para a pesquisa o portal CAPS,
revistas científicas, artigos sobre fluoretação, google acadêmico e Scielo. Tendo como descritivos
as seguintes palavras chaves: Fluoretação, Cárie Dentária e Abastecimento Público. Com o intuito
de enriquecer o trabalho foi procurado vários artigos com os mesmos critérios estabelecidos
anteriormente. A seleção do conteúdo foi de acordo com os artigos publicados sobre fluoretação no
Brasil, artigos nos últimos 50 anos, e os que ditam a base de fluoretação, o critério de exclusão dos
artigos eram aqueles que tratavam sobre absorção, fluorose, meios e métodos de absorção. O
beneficio desse trabalho é poder elucidar a evolução da fluoretação no dia-a-dia da população
brasileira, comprovar através do referencial teórico que este artigo traz melhorias e evoluções
pertinentes. O resultado desse trabalho é propor ao cirurgião dentista um conhecimento mais amplo
sobre a história, evolução e a importância da fluoretação.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
história da Fluoretação nos últimos 50 anos no Brasil, mostrando a sua evolução, e sua importância
no abastecimento de água pública. Justificando assim um alcance de controle efetivo de cárie
dentária na cavidade bucal, pois a fluoretação da água é um importante fator para o declínio de
prevalência da cárie dentária.
4 DISCUSSÃO
Alguns requisitos básicos devem ser preenchidos para que uma medida de saúde pública
seja adotada como um fator no controle da doença cárie, medidas nas quais se tem características
de segurança, efetividade, facilidade na administração, baixo custo e sua abrangência populacional
(CURY, 2001).
Por mais que nem toda a população tenha acesso aos benefícios da fluoretação, tem-se
visto um aumento na prevalência e uma diminuição de menor extensão da fluorose dentária nas
comunidades que possuiu ou não a fluoretação. Isto porque há várias fontes de flúor adicionais
disponíveis atualmente, e na década de 40 e 50 não existiam quando se introduziu a fluoretação
como método de prevenção. Porém o uso precoce de dentifrícios fluoretados, suplementos
fluoretados, consumo prolongado de fórmulas infantis, tem sido associado ao aumento da fluorose
290
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Posteriormente vários municípios brasileiros começam a adotar a, fluoretação das águas de
abastecimento público, em 1956 Marília iniciou a fluoretação (KOZLOWSKI, PEREIRA, 2003),
Campinas – 1961 (VIEGAS AR et al., 1987); Araraquara – 1962 (VERTUAN, 1986), Piracicaba
(BASTING; PEREIRA; MENEGHIM,1997) e Barretos (VIEGAS; VIEGAS, 1988) ambos em 1971,
Bauru (BASTOS, FREITAS, 1991) Belo Horizonte (OLIVEIRA; ASSIS; FERREIRA, 1995) e Santos
(SALES, 2001) em 1975, Paulínia – 1980 (MOREIRA BHW et al., 1996) Vitória – 1982 (FERREIRA,
1999) , São Paulo em 1985 e foi implantada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo (SABESP) (NARVAI, 2001).
No Brasil passou a ser obrigatório em 1974 onde existisse Estação de Tratamento de Água
tinha que ser adotado a fluoretação, e regulamentado por meio de legislação (Lei Federal nº 6.050,
de 24 de maio de1974), sendo devidamente regulamentado pelo (Decreto Federal nº 76.872, de 22
de dezembro de 1975) que regulamenta sobre a obrigatoriedade da fluoretação (RAMIRES;
BUZALAF, 2007). Assim a fluoretação se expandiu no Brasil de forma gradual, em 1972 era 3,3
milhões de habitantes beneficiados; em 1982 subiu para 25,7 milhões; no ano de 1989 60,4 milhões
de habitantes, em 1996 aumentou para 68 milhões (PINTO, 1993) e em 2003 mais de 70 milhões
(NARVAI , 2001).
Segundo (PINTO, 2000), a fluoretação da água de abastecimento e o uso dos dentifrícios
são medidas que podem permitir a universalização do uso do flúor no país e contribuir para o
controle da cárie dentária na população. Entretanto para garantir o seu uso seguro, os sanitaristas
preconizam que sejam adotadas medidas adequadas, considerando que o excesso de flúor pode
levar à fluorose dentária.
O responsável por estabelecer as normas e os padrões de fluoretação das águas no território
nacional, estabelecer as concentrações recomendadas de flúor, as concentrações e métodos de
análises, equipamentos e técnicas utilizadas na fluoretação das águas, levando em consideração
os teores naturais de flúor e determinar o perfil dental da população é o Ministério da Saúde, também
é o responsável pela fiscalização, cumprimento das normas e por aprovar os planos e os estudos
dos projetos de fluoretação (FUNASA , 2012).
Com base em (FRAZÃO; PERES e CURY, 2011) O flúor na água em níveis normais em
relação à diminuição da cárie é de 40% a 70% e tem poder para reduzir as perdas de dentes em
adultos em 40% a 60%, e devido a isso, se dá a importância de manter o flúor na água com o nível
controlado evitando seus efeitos colaterais e obtendo êxito.
Com o objetivo de melhorar a saúde dental da população, o Ministério da Saúde em ação
conjunta com órgãos oficiais, promoveram medidas de implementação da fluoretação capacitando
recursos humanos buscando uma melhoria. Assim o governo lançou em 2004 o programa Brasil
Sorridente – a saúde bucal levado a sério, juntamente com a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) para empregar a implantação da fluoretação de sistemas públicos de abastecimento na
estação de tratamento de água (FUNASA, 2012).
291
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
dentária (HOROWITZ, 1996). Com isso a consequência de ingestão das diferentes fontes de flúor
que não só a água de abastecimento público se estima em 60% da fluorose observada (LEWIS;
BANTING, 1996)
É possível ver que a adição regular de pequenas quantidades de flúor na boca, desde a
erupção dentária, reduz o índice de cárie em cerca de 50% conforme informações de alguns dados
epidemiológicos realizados em laboratórios sobre a fluoretação da água e a administração de flúor
pós-eruptivo (CURY, 2001). No período de 1986-1996, 42% da população que recebeu água
fluoretada, a queda de prevalência de cárie em crianças de 12 anos de idade foi de 53% (NARVAI;
CASTELLANO; FRAZÄO, 2000). Em regiões com água fluoretada e cujos teores são mantidos
adequados, a redução da prevalência de cárie pode ser atribuída com essa medida (PAULETO;
PEREIRA; CYRINO, 2004) já estudos pioneiros realizados nos anos de 50 e 60 não condizem com
a eficácia preventiva da fluoretação das águas (NARVAI; CASTELLANOS; FRAZÄO, 2000).
No século XX a fluoretação da água de abastecimento público foi reconhecida como uma
das dez mais importantes conquistas da saúde pública, pelo o simples fato de beber com frequência
a água de abastecimento público ou utilizar em preparo de comidas e alimentos a população já
estava sendo beneficiada. Outra maneira do flúor ser ministrado é em aplicações tópicas em
consultórios odontológicos ou até mesmo pelo rotineiro uso de dentifrícios, que apesar de simples
há dificuldade de atingir a população de modo tão extenso quanto à água fluoretada (ANTUNES;
NARVAI , 2010).Apesar dos benefícios do abastecimento de água fluoretada ter sido comprovado
por diversos autores (Mc DONALD; AVERY, 2001), esta tem enfrentado grupos de oposição contra
à sua continuação. Vários argumentos de antifluoretação são citados, entre eles estariam à fratura
óssea, o câncer e o envelhecimento precoce, e a fluorose dentária. A fluoretação de água de
abastecimento público ainda foi considerada antiética, desnecessária, inefetiva e prejudicial
(DEMOS et al., 2001).
Entretanto, assim como o excesso de flúor na água de abastecimento pode provocar a
fluorose, da mesma forma que a sobre-doses de ingestão com a soma do flúor na água de
abastecimento como alimentos muito ricos em flúor ou erros na prescrição de sua suplementação
ou ainda o início precoce da escovação com dentifrício fluoretado também provoca (BUZALAF et
al., 2002).
Paralelamente com o declínio da incidência de cárie nos últimos anos, observa-se relatos de
caso de prevalência de fluorose dentária na população infantil, esta vem com a prescrição
inadequada de suplementos fluoretados e a ingestão excessiva de flúor de dentifrícios, que é
atualmente, um dos possíveis causadores desse aumento (CARVALHO; KEHRLE; SAMPAIO,
2007). O controle nacional, mais também a vigilância deste processo deve-se obter segurança, e
garantir os benefícios da fluoretação das águas, assim minimizar o risco de fluorose e evitar a falta
de regularidade que seria o uso inadequado no processo para que esse seja muito bem realizado
(BRASIL, 1999)
A fluoretação da água de abastecimento é reconhecidamente vantajosa, pois essa
tecnologia de intervenção em saúde pública desde que se iniciou, recebeu determinação legal no
Brasil e obrigatoriedade em toda localidade que há estação de tratamento há mais de 30 anos.
Apesar disso, sua efetivação é extremamente desigual no país, avançou mais nos estados do Sul
e Sudeste, onde se concentra a maior parte da riqueza do País, sendo insuficiente nas regiões
Norte e Nordeste (ANTUNES; NARVAI, 2010). A não-universalidade no acesso à água fluoretada
em todo o Brasil, mantém o extenso contingente populacional à margem deste benefício que é
eficaz e que apresenta expressiva relação de custo-efetividade. Embora seja compreensível que a
fluoretação ainda não tenha atingido toda a população e apenas cidades de grandes portes,
percebe-se a falta de recursos para a gestão dos interesses públicos, simplesmente pelo fato de
sua expansão ser tão demorada a ponto de, em pleno século XXI, muitos municípios brasileiros
ainda não terem adotado a medida, o que demanda ajustes na gestão dessa política pública (FRIAS
KOZLOWSKI FC, Pereira AC. Métodos de utilização de
flúor sistêmico. In: Pereira AC, organizador.
Odontologia em saúde coletiva. Porto Alegre: Editora
Artmed; 2003. p. 265-74.
LEWIS DW, Banting DW. Water fluoridation: current
effectiveness and dental fluorosis. Comm Denti Oral
Epidemiol 1994; 22(3):153-8
MC DONALD RE, AVERY DR. Cárie dentária na criança
e no adolescente. In:______ . Odontopediatria. 7. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, cap. 10, p.151- 177,
2001
MOREIRA BHW, et al. Avaliação odontológica do PIESE
de Paulínia, SP. Rev Saúde Pública 1996; 30(3):280-84
NARVAI PC. Cárie dentária e fl úor: uma relação do
século XX. Cienc Saude Coletiva. 2000;5(2):38192.DOI:10.1590/S1413-81232000000200011
NARVAI PC. Fluoretação da água: 50 anos. Disponível
em:
http://www.jornaldosite.com.br/arquivo/
anteriores/capel/artcapel74.htm
NARVAI PC. Vigilância Sanitária da fluoretação das
águas de abastecimento público no município de São
Paulo, Brasil, no período de 1990-1999 [tese]. São Paulo
(SP): Universidade de São Paulo; 2001
NARVAI PC, CASTELLANOS RA, FRAZÄO P.
Prevalência de cárie em dentes permanentes de escolares
do Município de São Paulo, SP, 1970-1996. Revista de
Saúde Pública, 34(2):196-200, 2000.
OLIVEIRA CMB, Assis D, Ferreira EF. Avaliação da
fluoretação da água de abastecimento público de Belo
Horizonte, MG, após 18 anos. Rev C R O Minas Gerais
1995; 1(2):62-6.
PAULETO AR, PEREIRA ML, CYRINO EG. Saúde bucal:
uma visão crítica sobre programações educativas
para escolares. Ciência e Saúde Coletiva, 9(1): 121
130,2004.
PAULO FRAZÃO, Marco A PERES; Qualidade da água
para consumo humano e concentração de fluoreto, Rev
Saúde Pública. Faculdade de Saúde Pública,
Universidade de São Paulo 2011 - Artigo disponível em
português e inglês em: www.scielo.br/rsp
PINTO VG.Revisão sobre o uso e segurança do flúor. Rev
Gaucha Odontol 1993; 41(5):263-6.
RAMIRES, I. ; BUZALAF, M. A. R. A fluoretação da Água
de Abastecimento Público e Seus Benefícios no
Controle da Cárie Dentária- Cinqüenta Anos no Brasil.
Ciência e Saúde Coletiva. v.2, n. 4, p.1057- 1065, julago.2007
SALES Peres SHC. Perfil epidemiológico de cárie
dentária, em cidades fluoretadas e não fluoretadas, na
região Centro-Oeste do Estado de São Paulo
[dissertação]. Bauru (SP): Universidade de São Paulo;
292
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
ANTUNES JL, NARVAI PC. Políticas de saúde bucal no
Brasil e seu impacto sobre as desigualdades em saúde
Rev. Saúde Pública, São Paulo, 44(2):2-6, apr. 2010
ARAÚJO MT, CAMPOS EJ, RODRIGUES CS,
SERRAVALLE LS, LIMA MJ, ARAÚJO, DB. Ação do
fluoreto de dentifrícios sobre o esmalte dentário. Rev. Ci.
Méd. Biol., Salvador, 1(1):16-32,2002b
BASTING RT, Pereira AC, Meneghim MC. Avaliação da
prevalência de cárie dentária em escolares do
município de Piracicaba, SP, Brasil, após 25 de
fluoretação das águas de abastecimento público. Ver
Odontol Univer São Paulo 1997; 11(4):287-92.
BASTOS JRM, Freitas SFT. Declínio da cárie dentária em
Bauru-SP, após 15 anos de fluoretação de água de
abastecimento público. Rev Facul Odontol Capixaba
1991;1 9(20):912.
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal nº 6050 de 24
de maio de 1974. Diário Oficial da União 1974.
BRASIL. Ministério da Saúde. Decreto nº 76.872 de 22
de dezembro de 1975. Regulamenta a lei nº 6050 de 24
de maio de 1974. Diário Oficial da União 1975ª
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de
Programas Especiais de Saúde. Divisão Nacional de
Saúde Bucal. Fundação de Serviços de Saúde
Pública. Levantamento epidemiológico em saúde bucal Brasil, Zona Urbana . Centro de Documentação do
Ministério da Saúde, Brasília, 1999
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no 2.914, de 12
de dezembro de 2011.
BUZALAF FM, BASTOS J, LAURIS J, ALMEIDA B,
AQUILANTE A. Association between the early use of the
thoopaste and other variables with dental fluorosis:A
retospective study. Rev Fac Odontol Bauru, 10(3): 196200. 2002.
CARVALHO TS, KEHRLE HM, SAMPAIO FC.
Prevalence and severity of dental fluorosis among
students from João Pessoa PB, Brazil. Braz Oral Res
21(3):198- 203, 2007.
CDC - Center for Disease Control and Prevention.
Recommendations for using fluoride to prevent and
control dental caries in the United States. MMWR
Recomm Rep. 2001).
CURY JA. Uso do flúor e controle da cárie como doença.
In: Baratieri LN, et al. Odontologia restauradora. São
Paulo: Ed. Santos; 2001. p.34-68.
DEMOS LL, KAZDA H, CICUTTINI FM, SINCLAIR MI,
FAIRLEY CK. Water fluoridation, osteoporosis, fractures –
recent developments. Australian Dental Journal
46(2):80-87, jun. 2001
FERREIRA HCG, Gomes AMM, Silva KRCS, Rodrigues
CRMD, Gomes AA. Avaliação do teor de flúor na água de
v. 03
REFERÊNCIAS
n. 01
5 CONCLUSÃO
A fluoretação da água de abastecimento público é reconhecida como um importante fator
para o declínio da prevalência da cárie dentária. Portanto o uso dentro dos padrões adequados é
inevitável, e deve ser controlado conforme verificado nos levantamentos epidemiológicos de saúde
bucal de âmbito nacional. Programas de políticas públicas devem garantir a implantação da
fluoretação das águas em municípios com sistemas de tratamento, possibilitando à população o
acesso aos benefícios do flúor.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
et al., 2006), uma vez que a política do Brasil Sorridente tem por objetivo melhorar as condições de
saúde bucal da população brasileira e, dentre as ações, consiste em garantir a fluoretação das
águas em 100% nos municípios que tenha o sistema de abastecimento.
A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA IDENTIFICAÇÃO HUMANA POR MEIO DA
CRANIOMETRIA
Prefixo Editorial: 69629
v. 03
THE IMPORTANCE OF DENTIST SURGEON IN HUMAN IDENTIFICATION THROUGH
CRANIOMETRY
ISBN 978-8569629-07-8
2001.
VERTUAN V. Redução de cáries com água fluoretada.
Rev Gaucha Odontol 1986; 34(6):469-71
VIEGAS AR, Viegas I, Castellanos RA , Rosa AGF.
Fluoretação da água de abastecimento público. Ver
Assoc Paul Cirurg Dent 1987; 41(4):2024
VIEGAS Y, Viegas AR. Prevalência de cárie dental em
Barretos, SP, Brasil, após dezesseis anos de fluoretação
da água de abastecimento público. Rev Saúde Pública
1988; 22(1):25-35
n. 01
Bruna Jordana S. Rocha¹; Kássia Candido Pereira¹; Ana Paula Pedroso Brito²; Joelcy Pereira Tavares²;
Ronyere Olegário de Araujo²; Jonas Eraldo de Lima Júnior²; Raymundo do Espirito Santo Pedreira²;
Andriele Gasparetto².
_________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO – Odontologia legal trata, dentre outras coisas, da investigação e identificação antmortem e post-mortem. É uma área de grande estudo e pesquisa na medicina e na odontologia
legal. O cirurgião-dentista deve estar-se apto a realizar uma análise de ossada, através dos
conhecimentos adquiridos durante seu curso de formação. A técnica da craniometria auxilia na
dissociação do sexo e proporciona a estimativa do cadáver. Essa técnica deve ser conhecida
pelo cirurgião-dentista que no uso de suas atribuições a realizar com a finalidade de proporcionar
uma resposta rápida e precisa de identificação. Isso porque o ser humano já nasce com um
conjunto de características e na dissociação essas características são estudadas juntamente
com seus pontos craniométricos que proporciona dados fundamentais para este estudo.
Palavras-chave: Odontologia legal. Craniometria. Post-mortem
ABSTRACT - Legal Dentistry deals with, among other things , research and ant- mortem
identification and post -mortem . It is an area of major study and research in medicine and forensic
dentistry. The dentist should be- aptitude for bones analysis, through the knowledge acquired
during their training course. The craniometry technical aids in dissociation of sex and provides an
estimate of the corpse. This technique should be known by the dental surgeon in the exercise of
its powers to carry out in order to provide a rapid response and accurate identification. That's
because the human being is born with a set of characteristics and decoupling these characteristics
are studied along with their craniometric points that provides fundamental data for this study
Key-Words: Forensic dentistry. Craniometry. Post mortem
1 INTRODUÇÃO
A utilização dos estudos cranianos na criminalística tem grande importância,
principalmente no que concerne aos propósitos de identificação, podendo ser utilizada também na
determinação das causas da morte. A identificação de vítimas e autores é parte fundamental, e na
maioria das vezes principal objetivo, da investigação de um crime. Apesar das ferramentas de
estudos genéticos e de biologia molecular serem muito utilizadas na atualidade, o uso desta linha
de abordagem se mostra ineficaz, dispendiosa em casos onde há muita degradação do material
biológico, como incêndios e exumações. Nestes casos, o uso das análises de crânio se mostra
importante, podendo ser a principal fonte de dados para identificação da causa da morte.
A identificação do sexo do ser humano é de suma importância, desde o nascer até seu
293
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
abastecimento público do município de Vitória-ES. Rev
Assoc Paul Cirurg Dent 1999; 53(6):455-9.
FRIAS AC, NARVAI PC, ARAÚJO ME, ZILBOVICIUS C,
ANTUNES JLF. Custo da fluoretação das águas de
abastecimento público, estudo de caso _ Município de
São Paulo, Brasil, período de 1985-2003. Cad Saúde
Pública. Rio de Janeiro, 22(6):1237-1246, jun, 2006.
FUNASA- Fundação Nacional de Saúde, Brasília , 2012
HOROWITZ HS. The effectives of community water
fluoridation in the United States. J Public Health Dent
1996; 56(5):253-8.
2 OBJETIVOS
Mostrar aos profissionais de odontologia a importância da identificação e o que a
técnica da craniometria pode oferecer: estimativa de idade, sexo; Mostrar aos profissionais a
importância da técnica da craniometria com a finalidade de dissociação do sexo, por meio dos
pontos craniométricos; Relatar aos profissionais a importância da técnica da craniometria com
a finalidade de estimar a idade por meio dos pontos craniométricos.
3 RESULTADO E DISCUSSÃO
A odontologia legal pericial destina-se a fazer subsídios que lhes são solicitados pelo
direito civil, penal, trabalhista e em certos casos até pelo direito administrativo4.
Desde os primórdios na Mesopotâmia por volta do século XVIII, vários métodos eram
usados para identificar criminosos, e em alguns casos também como punição, podendo ser em
forma de amputação dos membros, orelhas e até da língua. Atualmente essas técnicas
294
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
falecimento. Após o nascimento ou até mesmo antes, os órgãos genitais são características
únicas que vão determinar o sexo de um individuo. Quando se trata de um esqueleto fica
mais difícil se diferenciar a qual sexo ele Pertence².
A Odontologia legal surgiu depois de alguns acidentes, que apontaram a necessidade de
identificação de vítimas, que é umas das principais atividades desenvolvidas pela odontologia legal.
A estrutura dentária é a mais resistente do corpo humano, possuindo uma grande resistência ao
fogo. Não existem duas pessoas com a mesma arcada dentária, com isso resulta nas características
individualizadas em cada arcada, facilitando os procedimentos odontológicos com a finalidade de
identificação.³
A odontologia legal é uma área que trata, dentre outras coisas, da investigação e
identificação post-mortem. É uma área de grande estudo e pesquisa na medicina e na odontologia
legal, as duas trabalham com o corpo humano em vários estados como carbonizados, putrefeitos
e esqueletizados, tendo como uma de suas atribuições estabelecer a identidade humana. O
odontolegista pode ser nomeado pelo juiz para atuar em pericias criminais, direito civil, penal,
do trabalho, casos administrativos ou pode ser nomeado como assistente do réu ou da vítima4.
A análise das ossadas que são encaminhadas ao instituto médico legal (IML) para
serem identificada é bastante demorada, quando odontolegista está presente essa identificação
se torna mais rápida e eficaz, pois na maioria das vezes no qual visa obter dados e respostas.
O odontolegista trabalha com os ossos do neurocrânio e viscerocrânio, assumindo um
papel muito importante no IML, que é obter dados da identificação individual por meio da técnica
da craniométrica. Essa técnica é importante porque vai nos oferecer a estimativa de idade e a
dissociação do sexo. Para se obter um diagnostico diferenciado do sexo, têm algumas
características entre o crânio masculino e feminino. No primeiro, a glabela apresenta-se mais
saliente, já no segundo ela não se apresenta tão saliente. O crânio é a segunda estrutura para o
diagnóstico diferencial do sexo.
Sabendo-se que o cirurgião-dentista é o profissional responsável pela cabeça e
pescoço, se questiona a falta de preparações dos cirurgiões-dentistas em relação ao conhecimento
científico e prático para a realização de uma análise craniométrica. Contudo, com o passar dos
anos, observa-se um aprimoramento da odontologia no aspecto prático e tecnológico, mas
anatomicamente falando muitos desses profissionais saem das instituições de ensino superior com
deficiência no manuseio de ossada e na realização de técnicas como a da crâniometria, onde
muitos deles não sabem de que se trata.
Em razão da falta de conhecimento sobre a técnica da craniometria por parte dos
cirurgiões-dentistas e a escassez de material direcionado a esses profissionais é que esse trabalho
se justifica.
295
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
O odontolegista é um profissional importante na equipe de identificação humana nos
Institutos Médico Legais no Brasil, uma vez que, este profissional é quem melhor detém
conhecimentos acerca de dados presentes na cavidade oral. O dente, por apresentar considerável
resistência a fatores ambientais como calor, fogo e umidade, pode ser periciado em desastres ou
ser usado para esclarecimentos de casos criminais9.
A Odontologia Legal está intimamente relacionada com a identificação humana, seja
ela em acidentes comuns ou acidentes em massa. Muitos indivíduos são vítimas de homicídios ou
encontram-se desaparecidos, nestes casos se faz necessária a investigação esquelética,
sorológica e dentária na área correspondente4.
Na maioria dos casos as vítimas a serem identificadas estão esqueletizadas,
carbonizadas, decompostas, queimadas ou ainda mutiladas, por essas razões é bem comum a
dentição ser encontrada intacta, fornecendo preciosa informação genética4.
A estrutura dentária é indispensável para o processo de identificação humana.
Frequentemente ocorre a perda dentária devido a sua manipulação durante o ato da exumação.
Em um estudo realizado em um cemitério de Salvador e em um museu de anatomia da universidade
de São Paulo, de todos os grupos de dentes analisados, observou-se que os dentes incisivos têm
maior prevalência de perda dentária post mortem, devido às características desses dentes, em
segundo lugar ficaram
TABELA 1- Características que diferenciam um crânio masculino de um
os pré-molares6.
feminino.
As
PARTES ANATÔMICAS MASCULINO
FEMININO
estruturas
dentárias
Fronte
Inclinada
para
trás
Vertical
têm
características
Glabela
Saliente
Não salientes
importantes para a
Articulação frontonasal
Angulosa
Curva
identificação humana,
Rebordos supra-orbitários Rombos
Cortantes
ao se realizar um
Apófises mastoides
Proeminentes
Menos desenvolvidas
Peso
Crânio mais pesado
Crânio mais leve
exame
pericial
é
Mandíbula
Mais
robusta
Menos robusta
importante considerar
Côndilos occipitais
Longos e estreitos
Longos e estreitos
as ausências dentárias,
Apófises mastóides e
Maiores
Menores
e organizar se elas
estiloides
ocorreram antes ou FONTE: VANRELL, p.273, 2012
depois da morte. No
entanto, se a perca tiver ocorrido em vida, procura-se estimar o intervalo de tempo, antes do
falecimento, em que ela ocorreu.6
Em um estudo comparativo feito na arcada dentária superior e inferior observou-
n. 01
Art. 6º Compete ao cirurgião-dentista:
IX - utilizar, no exercício da função de perito-odontólogo, em casos de
necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça.
A odontologia Legal é uma especialidade odontológica, que podem atingir ou ter
atingido o individuo, ante-mortem e pos-mortem ou ossada, e mesmo fragmentado
ou vestígios, resultando em lesões parciais ou totais reversíveis ou irreversíveis.
(RESOLUÇÃO CFO-18\93 ART. 54).
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
caíram em desuso já que hoje se conta com técnicas modernas e menos invasivas tendo como
material para reconhecimento o DNA, íris, rugopalatinoscopia e dactiloscopia. O profissional perito
em odontologia legal recebe como material tanto um corpo todo quanto parte dele, e em
muitos casos esses fragmentos humanos também são passiveis de identificação6.
Legalmente, qualquer cirurgião-dentista possui a capacidade de realizar as pericias
odontológicas em seus diversos foros, conforme descrição dos incisos I, V e IX do Art.- 6° da Lei
Federal 5.081 de 24 de agosto de1966, que Regulamenta o Exercício da Odontologia no Brasil.
FONTE: http://www.malthus.com.br/mg_total.asp?id=314
296
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
se que a primeira teve maior porcentagem de perda dentária, devido ao posicionamento de
armazenagem do crânio. Os dentes da maxila estão mais sujeitos a gravidade, devido o apoio
do crânio sob a mandíbula, em busca de maior estabilidade. É necessário um maior cuidado durante
o manejo dos cadáveres, para que não ocorra perda dentária, pois a ausência dos elementos
dentários pode influenciar negativamente o processo de identificação humana6.
A estrutura dentária é um tecido duro, e como qualquer outro tecido é preservado
inadequadamente após a morte. Apesar das características dos dentes de uma pessoa mudar
ao longo da vida devido aos tratamentos odontológicos (dentes restaurados, dentes extraídos),
é possível haver uma comparação dos dados ante mortem e post mortem.6
A Craniometria é
Figura 01 - vista frontal do crânio Masculino e Feminino.
uma técnica que determina a
medição do crânio, nem todos
os pontos craniométricos estão
presentes no neurocrânio,
alguns pontos encontram-se no
viscerocrânio,
são
determinados locais ósseo que
vão servir como referencia para
o estudo da medição do crânio.
Dividem-se
em
pontos
medianos, em número de 16 e
pontos laterais, em número de
24 pares7.
O estudo do crânio
pode oferecer: sexo, idade,
grupo étnico e estatura. O
diagnóstico para determinar o
sexo, é realizado no crânio e na Fonte: Imagem google
mandíbula, onde algumas características diferenciais podem ser observadas, conforme tabela
abaixo 7:
A investigação do sexo pode ser realizada dentro de algumas situações, tais como:
indivíduos vivos, cadáver recente, cadáver em processo avançado de putrefação ou ainda
esqueletos completos ou parte deles e cadáver carbonizado. O crânio fornece elementos
importantes para esse tipo de identificação4.
Um dos quatro pilares do protocolo antropológico se enquadra na determinação
do sexo, que consiste na análise métrica e visual das características do esqueleto onde é
analisado o crânio e a pelvis 4. Contudo quanto mais dados contiver no laudo mais confiável será
o resultado 8.
Os
crânios FIGURA 02-Vista lateral do crânio masculino e feminino: a. fronte;
b. apófise mastóide
masculinos
apresentam
estruturas mais definidas, mais
grosseiras devido ao fato das
inserções musculares serem
mais rígidas, tais como, glabela,
processo mastoide, rebordo
orbitário,palato,
abertura
piriforme, extensão zigomática
e rugosidade supraorbitário 4.
Na maioria dos casos os
4 CONCLUSÃO
Conclui-se que a utilização da técnica
da craniometria, quando associado a outras
técnicas é possível auxiliar na identificação
humana trazendo respostas rápidas e precisas no
que se refere à dissociação do sexo e estimativa
de idade.
O cirurgião dentista é de suma importância no decorrer da identificação humana,
compreendendo que é o profissional responsável da cabeça e pescoço e quem melhor detém
conhecimentos nessa área.
REFERÊNCIAS
1. Nunes FB, Gonçalves PCA importância da craniometria
na criminalistica, revisão de literatura. 13(1), 2014.
2. Junior Roberto B,Silveira ABM, Dias MA,Teixeira E,
Paranhos VB,Linhares DV. Mensuração da espessura
crânio caudal do arco zigomatico temporal em crânios
humanos macerados. Rev. inpeo de odontologia cuiabá/ MT. 4 (2):
1-58, 2010
3.coralickRA.,BarbieriAA,MoraesZM,Francesquini
JúniorL,Daruge
JúniorE, NaressISCM. Identificação
humana por meio do estudo de imagens radiográficas
odontológicas: relato de caso. Rev. Odontol UNESP.
2013 ;
42(1) : 67-71.
4. Júnior Erasmo DA, AraújoTM,GalvãoLCC.Campos, P.
S. F. Investigação do sexo através de uma área
triangular facial formada pela interseção dos pontos:
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
crânios masculinos são em geral maiores que os femininos, dentre essas características
encontra-se a capacidade craniana, peso, diâmetro anteroposterior, diâmetro transverso,
altura craniana, largura bi zigomática e estrutura 4. Parte destas diferenças pode ser visto
na figura a baixo:
Uma das técnicas a ser estudada para a estimativa da idade pelo crânio é o fechamento
de suturas cranianas 7.
O crânio não é formado por um único osso. As fontanelas é um espaço membranoso
que separam os ossos do crânio dos recém-nascidos, no parto tem um papel importante, pois
diminuem o crânio, facilitando nesse procedimento, este processo não é definitivo, com o tempo
o crânio vão se unindo, formando então as Suturas 7.
As suturas cranianas tem um papel muito importante quando o assunto é a estimativa
de idade, as suturas coronária, sagital e lambdoide podem ser classificadas, cada uma delas, em
setores diferentes, em face da cronologia dessa
FIGURA 03- Idades da soldadura das suturas
ossificação 7.
cranianas: á esquerda, face
Quando as suturas do crânio estão
externa, á direita, face interna. Os
apagadas pode estimar que o individuo,
números indicam a idade em
provavelmente teria, mais de 80 anos . Quando as
anos em que se processa a
suturas estiverem presentes, provavelmente esse
sinostrose
individuo teria menos de 30 anos. O apagamento
das suturas se faz presente na superfície interna
do crânio e na face externa 7.
forame infraorbital direito, esquerdo e o próstio, em crânios secos
de adultos. R.C. I.méd.biol.2010; 9 (1) : 8-12.
5. Coutinho CGV, Ferreira CA, Queiroz LR, Gomes LO, Silva
UA.O papel do odontolegista nas perícias criminais. RFO, Passo
Fundo, 18(2): 217-23,2013.
6. Jobim LF, Costa LR, Silva M. Identificação Humana. Vol II.
Campinas/SP: Editora millenium.2006
7. Vanrell JP. Odontologia legal e antropologia forense. 2.ed., Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.Pg 388
8. ParanhosLR,
CaldasJCF,
Iwahita
AR,
ScanaviniMA,
PaschiniRDCA importância do prontuário odontológico nas pericias
de identificação humana. RFO, 14(1): 14-17, 2009.
9. Silveira ESZSFA importância do odontolegista dentro do
instituto médico legal. EMSZF/Ver Brasmed11(1):34-39,2013.
297
RESUMO – A acondroplasia é a forma mais comum de nanismo por encurtamento dos membros.
É uma síndrome hereditária de caráter autossômico dominante, que também pode ser causada por
novas mutações genéticas. A formação óssea endocondral é defeituosa e leva a alterações
craniofaciais e dentárias típicas. Os pacientes acometidos apresentam macroencefalia, calota
craniana volumosa, base do crânio encurtada, nariz em sela e estreitamento de vias aéreas, além
de retrognatia maxilar, discrepância entre arcos dentários e maloclusões acentuadas. O presente
artigo tem como objetivo apresentar as características craniofaciais e dentárias de pacientes
acondroplásicos, por meio de revisão de literatura.
Palavras-chave: Acondroplasia; Transtornos do crescimento/genética; Anormalidades
craniofaciais/genética; Anormalidades dentárias/genética
Abstract - Achondroplasia is the most common hereditary form of dwarfism. The syndrome is
inherited in an autosomal dominant manner but it can also be a result of a new gene mutation. The
defective endochondral bone formation causes typical craniofacial and dental features such as
enlarged calvarium, short posterior cranial base, depressed nasal bridge, short upper airway,
retrognathic maxilla and malocclusion. The aim of the present article is to introduce the craniofacial
and dental features of achondroplastic patients, by reviewing the literature.
Key words: Achondroplasia; Growth disorders/genetics; Craniofacial disorders/genetics; Tooth
abnormalities/genetics
1 INTRODUÇÃO
A acondroplasia, uma das formas de nanismo, é uma síndrome genética que se
manifesta através de uma displasia óssea acarretando o encurtamento dos ossos longos (braços e
pernas), crescimento cranial anormal (megalocefalia), hipoplasia da região maxilar, aumento da
lordose lombar e protusão abdominal. Em média,1 a cada 25.000 indivíduos são afetados, dentre
estes casos 80% a 90% ocorrem por mutações no gene FGFR3 (receptor do fator de crescimento do
fibroblasto tipo 3).Desta forma, os demais casos ocorrem em filhos de pais acondroplásicos já que
a acondroplasia é caracterizada como um distúrbio autossômico dominante.
Estudos recentes apontam que novas mutações que geram a acondroplasia são
herdadas exclusivamente do pai e ocorrem durante a espermatogênese podendo estar associadas
ao aumento da idade paterna (em média 35 anos), sendo assim, pessoas com acondroplasia podem
ser nascidas de pais normais. As mulheres, embora possam herdar e transmitir o gene mutante,
aparentementepossuem algum mecanismo que impede a mutação na ovogênese.
Esse distúrbio é causado em 95% dos casos por uma alteração no DNA de fibroblastos
que possuem uma cópia mutante e uma cópia normal do gene FGFR3, mais especificamente pela
troca de Guanina por Adenina ou Citosina no nucleotídeo responsável pelo controle da produção
de glicina que constitui o colágeno. Nessa troca, a glicina é substituída pelaarginina e estas mesmas
mutações são encontradas em praticamente todas as análises moleculares dessa patologia.
Esse transtorno causado por tal mutação responsável por codificar o receptor do fator
tipo três, se expressa pela hipertrofia dos condrócitos da placa de crescimento dos ossos afetando
assim a ossificação endocondral que resulta no crescimento insuficiente dos ossos tornando a linha
de ossificação irregular. As pessoas com acondroplasia têm baixa estatura, com altura média de
298
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
v. 03
Alexandre Arguelio Souto¹; Kesley Albuquerque¹; MoniellyStivalPoloniato¹; Sabrina Bastos e Costa¹; Tiago
Farret Gemelli²; Raymundo do Espirito Santo Pedreira²; Viviane Tiemi Kenmoti²; Flavio Dias Silva²; Andriele
Gasparetto².
n. 01
ACHONDROPLASIA: PROCESS REVIEW MORPHOGENETIC
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
ACONDROPLASIA: REVISÃO DO PROCESSO MORFOGENÉTICO
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Castro (2010), a Acondroplasia é a mais comum das displasias esqueléticas e 90%
dos casos se devem a novas mutações com frequência ao nascimento de 1:10.000 a 1:30.000.
Todavia Neves et al (2010), afirma que a acondroplasia é uma doença autossômica
dominante, com uma prevalência de 1:15000 a 1:40000 nascidos vivos, com variância geográfica.
Mutações “de novo” ocorrem em 75-80% dos casos e a distribuição e igual em ambos os sexos,
sem diferença racial.
Cardoso (2009) enriquece o contexto quando relata a história da acondroplasia afirmando
que a doença é a forma mais comum de nanismo por encurtamento dos membros e a síndrome que
apresenta registro mais antigo na História, sendo retratada no Egito Antigo, no Império Romano e
no período da Idade Média e Renascença. A evidência mais remota provém da Grã-Bretanha, onde
foi encontrado um esqueleto acondroplásico com mais de 7.000 anos, pertencente à Era Neolítica.
Também foram encontrados restos ósseos de índios americanos acondroplásicos na Flórida e no
Alabama, EUA, com idade estimada entre 2.000 e 3.000 anos.
“O gene afetado está localizado no cromossomo 4p16.3 e codifica o receptor FGFR3, sendo
responsável pelo ”selamento” precoce da zona de crescimento dos ossos longos e das suturas
cranianas.” (UEMURA, 2002, p.410)
Em geral determinou-se como caracteristicas da acondroplasia e que fazem o diagnostico:
baixa estatura, encurtamento proximal dos membros, mãos curtas e em tridente, hipoplasia do
maciço central da face com bossa frontal proeminente e macrocefalia, cifose toraco-lombar e
encurtamento caudal inter-pedicular.
Os indívíduos afetados apresentam as seguintes características:
• baixa estatura com desproporção tóraco-abdominal e membros, os homens
atingem em média 130 cm e as mulheres 120cm;
• mãos com dedos curtos e grossos em tridente;
• nariz em sela;
299
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
2 METODOLOGIA
Em fevereiro de 2015, foi realizada uma busca nas bases de dados eletrônicos
MEDLINE, LILACS, SCIELO e BVS englobando o período de 2003 a 2014. Foram utilizados os
seguintes descritores extraídos do vocabulário estruturado e trilíngue DeCS – Descritores em
Ciências da Saúde: Acondroplasia. Fibroblastos. Foram encontrados 66 artigos, dentre os quais
apenas 11 foram selecionados por abordar o processo morfogenético da acondroplasia,
complicações e diagnóstico precoce.
Dentre os 11 artigos selecionados 8 destes relatam sobre mutações genéticas como
também do processo morfológico e suas alterações, 2 diagnostico precoce e apenas um sobre
complicações. Nestes, 2 são relatos de caso clínicos. Os demais foram excluídos, utilizando os que
preenchiam os critérios de inclusão para extrair as informações necessárias para redação deste
trabalho por seus revisores.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
131 centímetros para o sexo masculino e 123 centímetros para o sexo feminino.
Apesar de apresentar um quadro clinico evidente, faz-se necessário saber diferenciar a
acondroplasia de outras displasias já que estas são acometidas pela falta do mesmo fator genético
(FGFR3). Além disto, observa-se que mesmo sendo de fácil detecção em fase pré-natal através da
ultrassonografia e tendo índice de recorrência considerável, são encontradas dificuldades pelos
acondroplásicos e suas famílias. Este ainda é um tema pouco explorado e encontra-se em fase de
novas pesquisas e testes científicos não obtendo tratamento específico capaz de reverter o
quadro.Esta revisão bibliográfica tem como objetivos ressaltar a necessidade do diagnóstico
precoce; esclarecer as alterações morfogenéticas; explorar as consequências da acondroplasia.
300
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
• macrocefalia com desproporção craniofacial; devido à origem membranosa a
calota craniana não é atingida; deve-se considerar ainda a hidrocefalia comunicante que raramente
gera comprometimento do intelecto;
• bossa frontal proeminente;
• tórax achatado; esta desproporção ântero-posterior gera dificuldades
respiratórias, cifose toracolombar e lordose lombar que associadas ao estreitamento do forame
magno podem gerar manifestações neurológicas;
• tendência a obesidade devido à dificuldade de prática de exercícios físicos;
• atraso no desenvolvimento motor;
• prognatismo mandibular aparente devido a hipoplasia do terço médio da face;
• respiração bucal;
• alterações dentais de número e forma;
• fenda palatal mole;
• atraso na erupção dental. (MUSTACHI e PEREZ, 2000, p.351)
A Academia Americana de Pediatria (1995) sugeriu um guia de recomendações para o
acompanhamento do desenvolvimento e tratamento de crianças com acondroplasia. Dentre as
recomendações estão incluídos monitoramento da altura, peso e circunferência craniana, utilizando
as curvas de crescimento estandartizadas para acondroplasia. Além disso, também é indicado o
controle da obesidade, exames neurológicos, avaliação da hipotonia muscular, pesquisa de apnéia
do sono, avaliações ortopédicas dos movimentos das pernas, avaliação da freqüência de infecções
no ouvido médio, avaliação ortodôntica (entre 4 e 5 anos) e observação do desenvolvimento
psicossocial.
Para Neves et al (2010) a Acondroplasia acompanha-se de uma elevada prevalência de
perturbação respiratória do sono, secundaria as características morfológicas particulares da
situação clinica. de uma prevalência elevada de perturbação respiratória do sono (PRS), incluindo
o síndrome de apnéia obstrutiva do sono (SAOS), secundária as características morfológicas
particulares da situação clinica.
Manifestando-se com maciço facial hipoplásico com conformação mais angulada das vias
aéreas superiores, condicionando uma hipertrofia adenoamigdalina “relativa” hipotonia da
musculatura faringea secundaria a estenose do canal do nervo hipoglosso (XII) e estenose do
forâmen jugular com compromisso dos nervos glossofaríngeo (IX e vago (X), hipotonia da cintura
escapular por compressão do nervo acessório (XI) no forâmen jugular, estenose do foramen
magnum que condiciona compressão cervico-medular e hidrocefalia progressiva, refluxo gastroesofagico, que, quando presente, agrava a clinica respiratória por microaspiracoes de conteúdo
gástrico (a compressão nervosa pode concorrer para este fato, como factor primário ou debilitando
os mecanismos de defesa anti-refluxo).
De acordo Kohan et al (1940), as clavículas, costelas e coluna são apresentados normais e
as deformações são perceptíveis nos membros e no crânio. Facilmente se comprova estas
alterações através do tamanho dos ossos longos e suas medidas (ver tabela 1) visualisados na fase
fetal do individuo.
Conforme Cardoso et al (2009), as características clínicas da acondroplasia são bem
específicas, tanto na criança quanto no adulto. Os portadores possuem faces típicas, caracterizadas
por calota craniana volumosa, base do crânio encurtada, ponte nasal larga e achatada, hipoplasia
do terço médio da face com proeminência da bossa frontal e prognatismo mandibular.
Em decorrência do crescimento e desenvolvimento alterados do condrocrânio, Kopits (1976)
citou que a bossa frontal e calota craniana volumosa podem levar ao diagnóstico de hidrocefalia
nestes pacientes. Relatou que a otite média é frequentemente observada, como conseqüência da
modificação da anatomia da base craniana e do terço médio da face, provocando alteração na forma
e direção dos tubos auditivos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que quando se
identifica a acondroplasia no pré- TABELA 1: Alterações através do tamanho dos ossos longos e
suas medidas fase feta
natal é realizado seu diagnóstico
precoce facilitando, assim, a
Osso
Acondroplásico
Embrião Normal
Úmero esquerdo
2,8cm
6,2cm
aceitação de tal anomalia pela
Ulna
esquerda
2,8cm
6cm
família que melhor se adapta para
Rádio esquerdo
2,7cm
5,2cm
receber este indivíduo. Desse
Fêmur esquerdo
3,5cm
8,3cm
modo,
há
um
melhor
acompanhamento
da
criança Fonte (Adaptado): KOHAN, R; GUZMAN, J. (1940)
sindromica evitando maiores danos decorrentes de tal anomalia, já que a detecção da doença é
facilmente realizada através da ultrassonografia durante o pré-natal, algo que esclarece as
alterações morfogenéticas. Embora seja claro e evidente a existência de concordância entre
autores, os quais reafirmam seus argumentos, nota-se poucas divergências. Contudo, se fez
esclarecedor às alterações que atingem a afetada pela devida má formação congênita. Em um
estudo de caso, verificou-se que os acondroplasicos, desde sua infância ate a fase adulta, além de
passarem por diversos processos psicológicos, têm facilidade de engordar devido as limitações
físicas, algo que impossibilita diversas atividades cotidianas, como a escovação dos dentes. Com
isso, por questão morfológica (o que diz respeito quanto à baixa estatura e encurtamento dos
membros superiores como principais exemplos), os afetados encontram grande dificuldade quanto
301
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Cardoso et al (2009) ainda
FIGURA 1: Conformação das vias aéreas superiores (linha
afirma
que,
historicamente,
a amarela). Abaixo via aérea da criança acondroplásica mais
acondroplasia tem merecido a atenção angulada.
dos estudiosos em função de suas
características sindrômicas envolvendo
enfoques variados, com atenção às
condições
genéticas,
clínicas,
estéticas, funcionais e psicológicas de
seus portadores.
Ainda
neste
seguimento,
Cardoso et al (2009), conclui que os
pacientes
acometidos
pela
acondroplasia apresentam alterações
craniofaciais e dentárias típicas, que
podem levar a problemas sérios, como
maloclusão, inflamação auditiva e
obstrução de
vias
aéreas.
É
imprescindível saber reconhecer essas
alterações e seus fatores limitantes, a
fim de proceder adequadamente
quanto ao tratamento e reabilitação do
paciente acondroplásico.
Motino et al (2012), concluiu Fonte: NEVES et al. 2010.
que a identificação precoce de
compressão da medula espinhal e sua descompressão imediata pode ajudar a prevenir
complicações graves, como insuficiência respiratória e morte súbita.
Alguns estudos vieram corraborar com as indiações mais recentes da Associação Americana
de Pediatria quanto aos cuidados obrigatórios para as crianças com acondroplasia.
ALIMENTAÇÃO HIPOPROTEICA NA GESTAÇÃO: Consequências Relacionadas à Saúde da
Mãe e da Prole – Revisão de Literatura
LOW PROTEIN DIET IN PREGNANCY: Consequences Related to Maternal and Offspring Literature Review
Amanda Moreira Portes¹; Dom Leonardo Di Coimbra Lira Fontes¹; Larissa Cury Rad Melo¹; Andriele
Gasparetto²; Flávio Dias Silva²; Nelzir Martins Costa²; Anne Caroline Dias Neves²; Raquel da Silva Aires²;
Flavio Dias Silva².
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO - Objetivo: Estudar o impacto dos transtornos alimentares nas funções reprodutivas,
problemas na gestação e puerpério, e dificuldades com a alimentação dos filhos. Métodos:
Realizou-se revisão da literatura nos últimos anos nos bancos de dados MedLine e Lilacs.
Combinaram-se os descritores anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtornos alimentares e
gestação. Resultados: Os estudos de revisão, estudos de caso e pesquisas realizadas com
gestantes apontam uma associação entre TA e uma variedade de complicações na gestação, no
parto, para o feto, com aumentado risco de morbidade perinatal, além de complicações na
alimentação futura da criança. Conclusões: Observa-se uma maior necessidade de
acompanhamento especializado, principalmente no pré-natal, em relação aos hábitos alimentares
e preocupação com peso e forma corporais – especialmente nas mulheres que apresentam ganho
ponderal inadequado, hiperêmese gravídica, picacismo, entre outros.
Palavras-chave: Anorexia, bulimia, gestação
ABSTRACT - Objective: The objective of this study was to show the impact of eating disorders on
reproductive functions, pregnancy and puerperium problems, and difficulties in feeding her babies.
Methods: Review of literature of last 28 years in MedLine and Lilacs database. The keywords used
were anorexia nervosa, bulimia nervosa, eating disorders and pregnancy. Results: Review and case
studies, and research made with eating disorders pregnant patients demonstrate that there are an
association between eating disorders and many pregnancy complications on birth, to the child with
302
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
MUSTACHI, Z.; PERES, S. Genética baseada em
evidências – síndromes e heranças. São Paulo: CID,
2000. Cap. 31, p.347-361.
NEVES, N.; ESTEVAO, M.H. Acondroplasia –
Caracterização
respiratória
do
sono
numa
populaçãopediátrica. Acta Pediatr Port. v.41, n.4, p.151154,2010.
POSADA, R.I.; ALVAREZ, K.T et al. Monitorización con
potenciales evocados somatosensoriales durante la
descompresión occipitocervical en un lactante con
acondroplasia: reporte de un caso. Iatreia. v.18, n.2, 2005.
UEMURA, S.T.; GONDO, S.; HAIK, L.; WANDERLEY,
M.T.; BUSSADORI, S.K. Acondroplasia-Relato de caso
clínico. J Bras Odontopediatr Odontol Bebê.v.5, n.27,
p.410-414, 2002.
XUE, Y.; SUN, A.; MEKIKIAN,P.B. FGFR3 mutation
frequency in 324 cases from the International Skeletal
Dysplasia Registry. Molecular Genetics & Genomic
Medicine.v.6, n.2, p.497-503, 2014.
v. 03
CARDOSO, R.; AIZEN, S.; SANTOS, K.C.P et al.
Características cranianas, faciais e dentárias em
indivíduos acondroplásicos. Rev Inst Ciênc Saúde. v.27,
n.2, p.171-5, 2009.
CASTRO, Á et al. Analisismutacional de la acondroplasia
en 20 pacientes colombianos. Rev. Fac. Med. v.58, n.3,
2010.
FRADE, L.Y.T.; DE OLIVEIRA, J.; DE JESUS,
J.A.L.Acondroplasia: diagnóstico clínico precoce. Brasília
Med. v.49, n.4, p.302-305, 2012.
HERNÁNDEZ-MONTIÑO, L.C et al. Acondroplasiaestenosis del canal medular- una complicación
Neurológica.Bol Med Hosp Infant Mex. v.69, n.1, p.4649, 2012.
KOHAN, R.; GUZMAN, J. Acondroplasia fetal atípica. Rev.
Chilena Pediatria. v.11, n.7, p.497-506, 1940.
MANCILLA, M.; POGGI, H.; REPETTO, G. Mutaciones del
gen del receptor 3 del Factorde Crecimiento de
Fibroblasto (FGFR3) en pacientes chilenos con talla baja
idiopática,hipocondroplasia y acondroplasia. Rev. Méd
Chile. n.131, p.1405-1410, 2003.
n. 01
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
à readaptação e necessitam de acompanhamento de uma equipe multiprofissional objetivando
minimização dos danos da anomalia em tais indivíduos.
303
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
1 INTRODUÇÃO
Uma boa alimentação durante a gravidez, regrada a dosagens saudáveis de
carboidratos, lipídios, e, sumariamente, proteínas, garantem benefícios impares à saúde da mãe e
do bebê.
Evidenciando o objeto de estudo em questão, as proteínas desempenham papeis
essências em toda a estrutura metabólica do ser vivo, estando estas envolvidas em praticamente
todas as funções do corpo humano. Algumas proteínas estão envolvidas no apoio estrutural,
enquanto outras estão envolvidas no movimento corporal, ou na defesa contra germes.
Proteínas variam em termos de estrutura, bem como função. Elas são construídas a
partir de um conjunto de 20 aminoácidos e têm distintas formas tridimensionais. Algumas funções
proteicas podem ser exemplificadas, como os anticorpos, que são proteínas especializadas
envolvidas na defesa do organismo a partir de antígenos (invasores). Uma forma dos anticorpos
destruírem antígenos é imobilizando-os de modo que eles podem ser destruídos por células brancas
do sangue. Tem-se também as proteínas contráteis, responsáveis pelo movimento, como actina e
miosina. Essas proteínas estão envolvidas no músculo nos processos de contração e movimento.
Outra forma proteica de agir no organismo é na forma enzimática, facilitando as reações
bioquímicas. Essas são muitas vezes referidas como catalisadores porque aceleram as reações
químicas.
E de numerosas funções se completam as atividades proteicas, entretanto, estas
necessitam de temperatura adequada para o seu funcionamento, e quando isso não ocorre, fala-se
em desnaturação proteica.
Por conseguinte, ficou evidenciado que dietas hipoprotéicas em gestantes provocam
mudanças metabólicas mãe-feto de altos riscos para a saúde de ambos. Em mães mal nutridas,
teoricamente falando, visualizou-se a incidência de um índice maior de obesidade do que em mães
que possuem uma alimentação equilibrada em proteínas, isso porque, a restrição proteica alterava
o equilíbrio materno, aumentando a resistência do organismo materno á leptina - hormônio
responsável pela inibição do apetite - sendo assim, o acuo desse hormônio desencadeava a
obesidade materna, sendo a curto ou longo prazo. Outra consequência notória foi a resposta à
insulina, uma vez que essa resposta diminuía, maior a minimização do desfalque no suprimento
proteico.
Contudo, tal privação proteica não gerava apenas patologias as progenitoras, tal ação
convergia diretamente no metabolismo fetal. Segundo Ballen et al (2009), as crias de mães dessa
classe compunham futuramente as estatísticas de doenças crônicas, dentre as principais eram a
diabetes mellitus tipo 1 e a obesidade.
Tais doenças, no Brasil, são auxiliadas pelo serviço único de saúde (SUS),
desembocando estrondosos gastos públicos por ano pelos medicamentos e tratamentos
concedidos anualmente aos seus usuários, sendo eminente a preocupação com esse assunto,
tendo em vista a necessidade de incentivar uma boa alimentação para as gestantes.
Objetiva-se conhecer qual é dieta mais adequada para a mulher durante o período
gestacional. Detalhar a repercussão de uma dieta hipoprotéica sobre o desenvolvimento do
concepto. Identificar quais são os fatores de risco relacionados a ingestão alimentar inadequado
durante a gestação.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
an increase risk of morbidity after the birth and some implications on food behavior of the child.
Conclusions: It was noticed a need for specialized treatment, especially before the pregnancy,
regarding eating habits and worries about weight and body shape, especially for women that present
inadequate weight gain, hyperemesis gravidarum, pica and other eating problems.
Keywords: Anorexia, bulimia, pregnancy.
Fonte: BALLEN et al (2009).
3
RESULTADOS
E
DISCURSSÃO
Foram selecionados artigos FIGURA 2 – Evolução ponderal, com análise comparativa do
peso corpóreo (g) entre os grupos de filhotes de
que versavam as consequências de
mães sedentárias nutridas e desnutridas e de
uma má nutrição proteica para uma
mães treinadas nutridas e desnutridas aos 21 dias,
gestante e sua prole. Tratam-se de
aos 45 dias, e aos 90 dias de vida, analisados
trabalhos de pesquisa, relatos de
estatisticamente pelo teste t de Student, sendo p
< 0,05.
casos, ensaios laboratoriais e clínicos.
Observou-se que Ballen et
al (2009) e Monteiro et al (2010)
concordam que a baixa ingestão de
proteínas durante o período gestacional
pode acarretar na diminuição da massa
placentária e do feto, o segundo autor
ainda afirma que podem aparecer
problemas na estrutura óssea fetal. A
seguir a figura exemplifica o resultado
deles através de uma experiência
realizada em ratas prenhes que tiveram
dietas diferenciadas.
FONTE: Monteiro et al (2010).
Passos
et
al
(2001)
evidenciam que a restrição proteica também é prejudicial durante a lactação, já que interfere na
composição do leite materno, e que isso pode acarretar em uma alteração no comportamento
304
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
2 METODOLOGIA
Durante fevereiro e março de 2015, foi conduzida uma busca na base de dados
eletrônicos Scielo englobando o período de 2001 a 2014. Foram utilizados os seguintes descritores:
Nutrição and Gestação. Alimentação na gravidez. Atividade física and Gravidez. Leptina. Gestação
and Diabete. Foram encontrados 256 artigos, dentre quais 12 foram selecionados por estarem
diretamente relacionados, por meio de desenvolvimento, avaliação, teste, tradução ou discussão
aos índices subjetivos atendendo aos objetivos de conhecer a dieta indicada para gestantes,
detalhar as consequências de uma alimentação hipoprotéica sobre o desenvolvimento fetal e
identificar seus fatores de risco. Optou-se por selecionar os artigos confirmados como versões
originais os quais apresentaram discussões realizadas por seus autores e a partir de testes
validados em português e inglês, tendo sido excluídos os estudos publicados nos demais idiomas,
os que fugiam da temática estipulada, assim como aqueles que disponibilizaram apenas resumos.
A extração de dados dos artigos selecionados foi realizada pelos revisores deste
trabalho, utilizando roteiro FIGURA 1 – Massa (g) da placenta (A), dos fetos (B) e número de fetos
(C) de ratas prenhes, tratadas com dieta-controle (CP) ou
pré-estruturado.
Foram
hipoprotéica (HP) durante 18 dias de gestação. Os valores
colhidas
as
seguintes
expressam média ± EPM de 7 animais.
informações dos artigos
selecionados: dieta mais
indicada durante período
gestacional,
alterações
fetais relacionadas a baixa
ingestão de proteínas pela
mãe, fatores de risco que
influenciam
uma
dieta
inapropriada.
Prefixo Editorial: 69629
QUADRO 1 - Erros no desenvolvimento mais encontrados nos fetos relacionados ao baixo consumo proteico
pelas mães.
Referência
Erro no desenvolvimento
Ballen
et
al Aumento na atividade lipogênica no fígado materno, modificação do perfil hormonal e
(2009)
interferência no desenvolvimento adequado da gravidez, redução da massa da
placenta e dos fetos.
Monteiro et al Prejuízos permanentes à estrutura óssea do filho, como diminuição no comprimento e
(2010)
no peso do fêmur.
Passos et al Alterações metabólicas e fisiológicas no comportamento alimentar da prole.
(2001)
Fonte: PORTES (2015).
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um equilíbrio no consumo de proteínas, entre outros nutrientes alimentícios, seria a
dieta mais adequada para mulheres no período gestacional. Ao detalhar a repercussão de uma
dieta hipoprotéica sobre o desenvolvimento humano observou-se as implicações na formação
óssea e na massa fetal. Identificou-se o risco de geração de doenças crônicas à mãe ou ao
concepto, relacionadas à alimentação inadequada durante a gestação.
REFERÊNCIAS
BALLEN, M. L. O.; MORETTO, V. L.; SANTOS, M. P.; et
al. Restrição proteica na prenhez – efeitos relacionados
ao metabolismo materno. Arquivos Brasileiros de
Endocrinologia e Metabologia. v. 53, n. 1, p. 87- 93.
2009.
BARROS, D. C.; PEREIRA, R. A.; GAMA, S. G. N.; et al.
O consumo alimentar de gestantes adolescentes no
Município do Rio de Janeiro. Cadernos de Saúde
Pública. v. 20, n. 1, p.121-129. 2004.
CALLEGARI, S. B. M.; RESENDE, E. A. M. R. de;
BARBOSA NETO, O.; et al. Obesidade e fatores de risco
cardiometabólicos durante a gravidez. Revista Brasileira
de Ginecologia e Obstetrícia. v. 36, n. 10. 2014.
CASTELLANO FILHO, D. S.; CORREA, J. O. A.; RAMOS,
P. S.; et al. Circunferência abdominal avaliada antes da
MARTINS, A. P. B.; BENICIO, M. H. A. Influência do
consumo alimentar na gestação sobre a retenção de peso
pós-parto. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 45, n.
5, p. 880-877. 2011.
MONTEIRO, A. C. T.; PAES, S. T.; SANTOS, J. A.; et al.
Repercussões do exercício físico durante a gestação e da
desnutrição proteica durante a gestação e lactação sobre
o desenvolvimento e crescimento do fêmur da prole.
Jornal de Pediatria. v. 86, n. 3, p. 233- 238. 2010.
PASSOS, M. C. F.; RAMOS, C. F.; TEIXEIRA, C. V.; et al.
Comportamento alimentar de ratos adultos submetidos à
restrição proteica cujas mães sofreram desnutrição
durante a lactação. Revista de Nutrição, Campinas. v.
14, p. 7-11. 2001.
ROMERO, C. E. M.; ZANESCO, A. O papel dos hormônios
305
n. 01
v. 03
ISBN 978-8569629-07-8
alimentar futuro da prole quando adulta, devido um descontrole hipotalâmico da seleção de
nutrientes.
Em semelhança, os artigos apresentaram que a leptinemia é elevada em gestantes com
restrição proteica, devido estar relacionada com a resistência à insulina na gestação. Romero e
Zanesco (2006) ressaltam a relação da hiperleptinemia com a obesidade e a diabete mellitus.
Barros et al (2004) apontam a necessidade de formas mais adequadas de transmissão
de conhecimento dos profissionais da saúde sobre uma alimentação saudável para as gestantes,
em especial as de “primeira viajem”.
Alguns autores, Monteiro et al (2010), Takito e Benínico (2010) e Domingues e Barros
(2007), apontaram a relação da prática de atividade físicas com uma boa alimentação. Segundo
eles ainda não há dados cientificamente comprovados da verdadeira interferência das atividades
físicas realizadas por gestantes, tem-se que exercícios realizados de forma inadequada ou de alta
intensidade podem prejudicar o desenvolvimento fetal, mas as atividades leves são recomendadas
por vários médicos. A figura a seguir representa exatamente isso e tem como amostragem ratos
filhotes de mãe sedentária nutrida (fm SN), filhotes de mãe sedentárias desnutrida (fm SD), filhotes
de mãe treinada nutrida (fm TN) e filhotes de mãe treinada desnutrida (fm TD). Observa-se um
déficit do peso corporal nos filhotes de mães com desnutrição proteica e pouca relação com a prática
de exercícios físicos.
O quadro abaixo compara os resultados de alguns autores, já discutidos anteriormente,
sobre o erro no desenvolvimento fetal causado pela má nutrição materna.
Andreia De Sousa Riciardi¹; Felipe Camargo Munhoz²; André Machado de Senna²; Elyne Regiane dos
Santos Gomes²; Ronyere Olegário de Araujo³; Raimundo Célio Pedreira³; Nelzir Martins Costa²; Raquel da
Silva Aires².
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO - Existe uma preocupação quanto ao grande número de pacientes oncológicos em
todo o mundo. Nesse cenário, o tratamento quimioterápico vem como uma alternativa de
interversão, o que causa inúmeras alterações na cavidade oral devido à queda de imunidade
causada por esses fármacos e devido à grande toxidade dos medicamentos utilizados no
tratamento. Diversos trabalhos na literatura mostram a correlação entre os tratamentos oncológicos
e as lesões orais, portanto, o cirurgião- dentista tem um papel fundamental e deve ser inserido no
tratamento multidisciplinar desse paciente, podendo minimizar a dor e proporcionar um maior
conforto na cavidade bucal durante o tratamento quimioterápico. Problemas bucais como mucosite,
xerostomia, infecções, sangramento bucal, infecções fúngicas, bacterianas e virais, além de
alterações no paladar e ligamento periodontal, estomatotoxicidade direta e indireta são
frequentes e causam grandes desgaste tanto físico como emocional no paciente, podendo
prejudicar o tratamento e trazer outros grandes problemas. Sendo assim, este trabalho teve como
objetivo realizar uma revisão de literatura sistemática dos artigos que falam da importância do
cirurgião-dentista para o paciente submetido à quimioterapia. Apesar da importância do tema, ainda
existem poucas de revisões de literatura sistematizadas e recentes a respeito dos efeitos da
quimioterapia na cavidade bucal. A xerostomia e a mucosite oral são as alterações bucais
predominantes em pacientes quimioterápicos. A partir desta revisão, pôde-se concluir que o sexo
feminino tem maior pré-disposição a alterações bucais. O acompanhamento do cirurgião-dentista
junto ao tratamento quimioterápico é de extrema importância, visando à saúde do paciente e sua
qualidade de vida. O cirurgião-dentista é extremamente importante para a equipe multidisciplinar
antes, durante e após a quimioterapia, para evitar que infecções da cavidade oral ajudem a
prejudicar o estado de saúde geral debilitado do paciente submetido a este tratamento.
Palavras-chave: Quimioterapia. Odontologia. Saúde bucal.
ABSTRACT - There is great concern about the large number of cancer patients worldwide. In this
scenario, chemotherapy comes as an alternative intervention, which causes numerous changes in
the oral cavity due to immunity drop caused by these drugs and because of the great toxicity of
the drugs used in the treatment. Several studies in the literature show correlation between cancer
treatments and oral lesion s, therefore, the dental surgeon has a key role and must be inserted in
the multidisciplinary treatment of this patient to minimize pain and provide comfort in the oral cavity
during the chemotherapy. Oral problems such as mucositis, xerostomia, infection, oral bleeding,
fungal, bacterial and viral infections, as well as changes in taste and periodontal ligament, direct
and indirect stomatotoxicity are frequent and can cause greater physical and emotional damage
in patients and jeopardize the treatment, bringing other major problems. Thus, this study aimed to
306
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
CHANGES ORAL AFFECTING PATIENTS UNDERGOING CHEMOTHERAPY
v. 03
ALTERAÇÕES BUCAIS QUE ACOMETEM PACIENTES EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO
n. 01
leptina e grelina na gênese da obesidade. Revista de
Nutrição, Campinas, v. 19, n. 1, p.85-91. 2006.
TAKITO, M. Y.; BENICIO, M. H. D. Physical activity during
pregnancy and fetal outcomes: a case-control
study. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 44, n. 1,
p.90-101. 2010.
VOLPATO, G. T.; DAMASCENO, D. C.; CAMPOS, K. E.;
et al. Avaliação do efeito do exercício físico no
metabolismo de ratas diabéticas prenhes. Revista
Brasileira de Medicina do Esporte. v. 12, n. 5, p. 229233. 2006.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
12ª semana de gestação: correlação com níveis séricos
de leptina. Revista Brasileira de Ginecologia e
Obstetrícia. v. 34, n. 6, p. 268-273. 2012.
CASTRO, F. C.; LEITE, H. V.; PEREIRA, A. K.; et al.
Associação entre a antropometria e a leptina circulante
nos compartimentos materno, fetal e placentário, na
gravidez normal. Revista Brasileira de Ginecologia e
Obstetrícia. v. 26, n. 9, p. 691-695. 2004.
DOMINGUES, M. R.; BARROS, A. J. D. Leisure-time
physical activity during pregnancy in the 2004 Pelotas
Birth Cohort Study. Revista de Saúde Pública, São
Paulo, v. 41, n. 2, p.173-180. 2007.
307
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
1 INTRODUÇÃO
O câncer é um importante problema de saúde pública, sendo responsável por mais de seis
milhões de óbitos a cada ano, representando cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo.
Embora as maiores taxas de incidência de câncer sejam encontradas em países desenvolvidos,
dos dez milhões de casos novos anuais de câncer, cinco milhões e meio são diagnosticados nos
países em desenvolvimento (GUERRA et al. 2004). Os tipos mais incidentes são os de próstata e
pulmão para o sexo masculino e para o sexo feminino de mama e colo de útero. (SAWADA et
al . 2008).
As modalidades de tratamento das neoplasias malignas mais comumente utilizadas são
três: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. O tratamento quimioterápico se constituiu de
medicamentos que controlam ou curam essa patologia, atuando na destruição de células malignas,
impedindo a formação de um novo DNA (ácido desoxirribonucleico), bloqueando funções
essenciais da célula ou induzindo a apoptose. Por ser um tratamento sistêmico, todos os tecidos
podem ser afetados, embora em graus diferentes (MORAIS et al. 2013).
Os quimioterápicos agridem intensamente o sistema digestório, provocando náuseas,
vômitos, anormalidades no paladar, alterações de preferências alimentares, mucosite, estomatite,
diarreia e constipação. Isto leva a uma diminuição da ingestão alimentar e consequentemente
depleção do estado nutricional, elevando assim os índices de morbi-mortalidade (JUNIOR, 2011).
Entretanto os efeitos terapêuticos e tóxicos dos agentes antineoplásicos dependem do tempo de
exposição e da concentração plasmática da droga, sendo que a toxicidade é variável para os
diversos tecidos e depende da droga utilizada (TARTARI et al. 2009).
A terapia do câncer apresenta muitos desafios para o dentista, antes, durante e depois do
tratamento. Juntamente com o médico, o cirurgião-dentista deve elaborar um protocolo de
abordagem que inclua a prevenção, o tratamento e o monitoramento. Diversos trabalhos na
literatura mostram a correlação entre tratamentos oncológicos e lesões orais, sendo que as
magnitudes desses efeitos dependem de uma série de fatores relacionados ao tratamento, ao
tumor e ao paciente. A correta compreensão desses sinais e sua correlação com sintomas e drogas
ou radiação utilizadas nos tratamentos oncológicos podem tornar esses tipos de manifestações
mais previsíveis, o que facilita a prevenção e o tratamento dessas condições e garante melhor
qualidade de vida a esses pacientes, sendo de grande importância a integração da odontologia na
equipe médica de oncologia (VIEIRA et al. 2013).
A cavidade oral é um sítio comum para a mucosite e várias outras complicações, como
xerostomia e osteorradionecrose. A mucosite oral é uma manifestação que surge após alguns dias
de terapia antineoplásica, que pode resultar em mielossupressão, citotoxicidade direta dos
quimioterápicos utilizados na terapia antineoplásica, supressão imunológica ou hiperreatividade.
Caracteriza-se pela inflamação e ulceração da mucosa oral, que se torna edemaciada, eritematosa
e friável, resultando em dor, desconforto, disfagia e debilidade sistêmica. Devido à neutropenia
decorrente do tratamento, infecções por micro-organismos oportunistas (Candida albicans, Herpes
Simples Vírus (HSV), citomegalovírus, varicela zoster) são frequentes e tendem a potencializar
os sinais e sintomas. Ainda, a hemorragia intra-oral é caracteristicamente secundária à
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
perform a systematic literature review of articles that discuss the importance of the dental
surgeon for patients undergoing chemotherapy. Despite the importance of the issue, there are still
few systematic and recent literature reviews of the effects of chemotherapy in the oral cavity. The
Xerostomia and oral mucositis are the predominant oral changes in these patients. From this review,
it was concluded that the female has a greater predisposition to oral alterations. The dental surgeon
follow up during chemotherapy is of utmost importance, aiming the patient's health and quality of
life. The dentist is extremely important for the multidisciplinary team before, during and after
chemotherapy to prevent infections in the oral cavity that can have harmfull effects in the general
health of the patient undergoing this treatment.
KEYWORDS: Chemotherapy. Dentistry. Oral health.
3 RESULTADO E DISCUSSÃO
Onze artigos com o assunto Alterações bucais em Pacientes Quimioterápicos, 3 artigos
com o assunto Mucosite oral, 2 sobre qualidade de vida do pacientes quimioterápico e 1 artigo
sobre manejo. Destes, artigos 5 são de revisão de literatura, 15 são de pesquisa e 1 de protocolo
clinico.
O tratamento quimioterápico depende do tipo de neoplasia, quando é realizada a seleção
da frequência e quantidade de seções quimioterápicas a serem executadas. ROSEMBERG, 1986
identificou que 70% dos pacientes com câncer fazem uso da quimioterapia no decorrer do
tratamento. Destes, cerca de 40% desenvolvem complicações bucais (SONIS E CLARK, 1991).
Hespanhol et al. (2007) afirmam que os quimioterápicos são drogas que agem sobre as células
tumorais, destruindo-as ou impedindo a sua reprodução, sendo que o dano aos tecidos normais é
inevitável, particularmente naqueles em que ocorre naturalmente uma rápida divisão celular
(cabelos, mucosas, sistema hematopoiético). Afirmam também que, os pacientes quimioterápicos
geralmente desenvolvem manifestações bucais em virtude da intensa imunossupressão obtida
através de quimioterapia. Essas manifestações podem ser graves e interferir nos resultados da
terapêutica médica, podendo levar à complicações sistêmicas, o que pode acarretar um maior
tempo de internação hospitalar e os custos do tratamento e afetar a qualidade de vida e bem estar
desses pacientes.
Kroetz e Czlusniak (2003), em sua revisão de literatura, verificaram que na cavidade bucal
os efeitos colaterais mais comumente encontrados da quimioterapia são a mucosite, xerostomia
temporária e imunodepressão, facilitando a instalação de infecções dentárias ou oportunistas.
(VIEIRA et al. 2003), em sua revisão de literatura, verificaram que a xerostomia é a alteração
que mais ocorre, afetando cerca de 50% dos pacientes em tratamento, seguido da mucosite que
acomete 25% dos pacientes. Verificaram também que as mulheres tem maior frequências de
efeitos colaterais no tratamento. Vieira et al. (2012) e Arisawa et al. (2005) em seus trabalhos de
pesquisa encontraram a xerostomia como o principal problema que afetou a cavidade bucal dos
pacientes pesquisados, principalmente em pacientes do sexo feminino (Figura 1). Já Hespanhol et
al. (2007), em seu estudo, verificaram que o principal problema encontrado nos pacientes
estudados foi a mucosite, em ambos os sexos, seguido da lesão aftosa e depois xerostomia que
mostrou-se presente também somente no sexo feminino (Figura 2). Entretanto, é importante
308
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
2 MÉTODOS
Este estudo foi desenvolvido através de levantamento bibliográfico, utilizando os
descritores: quimioterapia, odontologia e saúde bucal. Foram catalogadas pesquisas de autores
nacionais obtidas por meios de artigos que abordam os temas relacionados na base de dados
Google Acadêmico, Scielo e Pubmed. Foram utilizados como critério de inclusão os artigos mais
recentes, que estivessem disponíveis para download e os principais artigos relacionados a estes
trabalhos. Não foram incluídos artigos abaixo do ano de 2003. A partir destes descritores,
inicialmente, foram encontrados 2440 resultados. Foram então excluídos os artigos cujos títulos
ou resumos não estavam relacionados ao tratamento odontológico. Ao final, foram selecionados
os primeiros 21 artigos que se enquadravam nestes pré- requisitos.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
trombocitopenia pela supressão medular (HESPANHOL et al. 2007).
Apesar da importância do tema, ainda existem poucas de revisões de literatura
sistematizadas, recentes e em português a respeito dos efeitos da quimioterapia na cavidade bucal.
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sistemática dos
artigos em português disponíveis para download, verificando os artigos que mostrem evidências
dos efeitos da quimioterapia na cavidade bucal, assim como as explicações para estes fenômenos
e protocolos de conduta para os cirurgiões-dentistas frente essas situações (VIEIRA et al. 2013).
5 CONCLUSÃO
A Xerostomia e a Mucosite oral são as alterações bucais predominantes em pacientes
309
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
lembrar que, apesar de todos esses efeitos adversos da quimioterapia na cavidade bucal, Junior
et al. (2015) ressaltam que esses danos não são tão graves quanto os causados pela
terapêutica radioterápica.
Volpato et al. (2007) afirmam que a mucosite bucal é uma intercorrência freqüente e
muitas vezes debilitante em pacientes submetidos a químio e radioterapia para tratamento das
diversas neoplasias. Com o aumento do uso de regimes terapêuticos agressivos, a importância da
mucosite, como toxicidade limitante, vem aumentando, tornando seu controle uma prioridade na
oncologia clínica. As últimas décadas trouxeram avanços no conhecimento da patofisiologia dessa
alteração, entretanto ainda não existe consenso acerca da efetividade dos diversos agentes
sugeridos para a prevenção e tratamento da mucosite bucal. Assim, faz-se necessária a realização
de novos estudos clínicos bem estruturados objetivando a definição de uma terapêutica padrão
para o manejo da mucosite, aliviando a dor do paciente oncológico, bem como favorecendo sua
nutrição, visando proporcionar uma melhoria em sua qualidade de vida.
Sendo assim, Sonis et al. (1997) elaboraram um protocolo clínico para prevenir as
complicações bucais, ressaltando os passos que devem ser seguidos com cuidados especiais:
profilaxia, raspagem, instruções de higiene bucal, dieta pobre em sacarose, prescrição de
bochechos com soluções fluoretadas; confecção de moldeiras individuais para o tratamento
caseiro com fluoreto; prescrição de gel de fluoreto para uso diário nas moldeiras; eliminação das
cáries ativas; reparação ou eliminação de todas as fontes potenciais de irritação, próteses mal
adaptadas ou bandas ortodônticas; exame e profilaxia a cada seis ou oito semanas, com
restauração. Ainda segundo esses autores, em casos de xerostomia instalada, deve ser prescrita
a aplicação diária de um gel fluoretado.
Kroetz e Czlusniak (2003) citaram também em seu trabalho de revisão literária um
protocolo de atendimento criado por Ribeiro et al. (1997) para ser utilizado na pré-terapia antineoplásica. Consistem em diminuir fatores de riscos à que esses pacientes estão expostos,
podendo colaborar na diminuição de focos para possíveis agravos, que consiste na realização
de exodontias, tratamento endodôntico, curetagem de lesões cariosas e realização de profilaxia
dental antes do inicio do tratamento quimioterápico. Após o início do tratamento deve ser realizado
acompanhamento com bochechos de clorexidina a 0,12%. Por conta desses fatos, Santos et al.
(2009), em sua revisão de literatura, reforçaram a importância do cirurgião-dentista na equipe de
atendimento aos pacientes quimioterápicos, pelo seu importante papel na prevenção e na
adequação da cavidade bucal desses pacientes podendo assim oferecer um menor sofrimento à
esses pacientes.
Com esta revisão, ficou clara a importância do cirurgião dentista antes, durante e após
a terapia oncológica. Sendo assim, é importante analisar se os cirurgiões-dentistas possuem
compreensão dos fundamentos teóricos fundamentais para o tratamento de pacientes oncológicos.
Para investigar o nível de conhecimento dos cirurgiões-dentistas a respeito deste assunto, os
autores Mainali et al. (2012) desenvolveram um questionário para avaliar o nível de conhecimento
dos cirurgiões- dentistas a respeito do assunto. A partir da análise destes dados, é possível ter
uma ideia a respeito de como os cirurgiões-dentistas estão instruídos a respeito do assunto. É
importante que estudos como este sejam realizados em diferentes localizações para que se
possam diagnosticar possíveis falhas que poderiam ser corrigidas com programas instrucionais a
serem desenvolvidos com alunos de odontologia e profissionais formados. Como se trata de um
problema sério e que requer atenção multidisciplinar, estudos com esta finalidade serão sempre
muito importantes. Espera-se que esta revisão ajude o cirurgião-dentista a refletir sobre seu
importante papel no tratamento desses pacientes. Tradução e adaptação de questionário:
310
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
MAINALI, A; SUMANTH,K; ONGOLE, R; CEENA, D, Dental
consultation in patients planned for/undergoing/post
radiation therapy for head and neck cancers: A
questionnaire-based survey, 2012.
MARTINS, Adriane de Castro Martinez; CAÇADOR, Neli
Pialarissi; GAETI, Walderez Penteado. Complicações bucais
da quimioterapia antineoplásica, Maringá, v. 24, n. 3, p. 663670, 2002.
MORAIS, Everton Freitas; LIRA, Jadson Alexandre da Silva;
MACEDO, Rômulo Augusto de Paiva; SANTOS, Klaus
Steyllon; ELIAS, Cassandra Teixeira Valle.; MORAIS, Maria de
Lourdes Silva de Arruda. Oral manifestations resulting from
chemotherapy in children with acute lymphoblastic
leukemia, Braz J Otorhinolaryngol. ;80(1):78-85, 2014.
OSTERNE, Rafael Lima Verde; BRITO,Renata Galvão de
Matos; NOGUEIRA, Renato Luiz Maia; SOARES, Eduardo
Costa Etudart; ALVES, Ana Paula Negreiros Nunes; MOURA,
Jose Fernando Bastros ; HOLANDA, Rosangela Albuquerque
Ribeiro Rodrigues; SOUSA, Fabricio Bitu, Saude bucal em
pacientes portadores de neoplasias malignas: Estudo
Clinico- epidemiológico e analise de necessidades
odontológicas de 421 pacientes, Revista Brasileira
cancerologia ;54(3):221-226.2008.
RABELO, Gustavo Davi; QUEIROZ, Cristiane Inês; SANTOS,
Paulo Sérgio da Silva, Atendimento odontológico ao
pacientes em unidade de terapia intensiva, Arq Med Hosp
Fac Cienc Med Santa Casa São Paulo
2010; 55(2):67-70 2010.
SANTOS, Paulo Sérgio da Silva; MESSAGI, Ana Cristina;
MANTESSO, Andrea; MAGALHÃES, Marina Helena Cury
Gallotini. Mucosite oral: perspectivas atuais na prevenção e
tratamento RGO, Porto Alegre, v. 57, n.3, p. 339-344, jul./set.
2009.
SAW ADA, Namie Okino; NICOLUSSI, Adriana Cristina;
OKINO, Lyoko; CARDOZO, Fernanda Mara Coelho; ZAGO,
Marcia Maria Fontão. Avaliação da qualidade de vida de
pacientes com câncer submetidos à quimioterapia Revista
Esc enferm USP, 43(3):581-7, 2009.
TARTARI, Rafaela Festugatto; BUSNELLO, Fernanda
Michielin; NUNES, Claudia Helena Abreu, Perfil Nutricional
de Pacientes em Tratamento Quimioterápico em um
Ambulatório Especializado em Quimioterapia, Revista
Brasileira de Cancerologia ; 56(1): 43-50, 2010.
VIEIRA, Anna Clara Fontes; LOPES, Fernanda Ferreira,
Mucosite oral:
efeito adverso da terapia antineoplasica, R. Ci. méd. biol.,
Salvador, v. 5, n.
3, p. 268-274, set./dez. 2006.
VIEIRA, Danielle Leal; LEITE, André Ferreira; MELO, Nilce
Santos de;FIGUEIREDO; SOUSA, Paulo Tadeu . Tratamento
odontológico em pacientes oncológicos. Oral Sci., jul/dez.,
vol. 4, nº 2, p. 37-42, 2012.
VOLPATO, Luiz Evaristo Ricci; SILVA, Thiago Cruvinel;
OLIVEIRA, Thaís Marchini; SAKAI, Vivien Thiemy; MACHADO,
Maria Aparecida Andrade Moreira, Mucosite bucal rádio e
quimioinduzida,
REVISTA
BRASILEIRA
DE
OTORRINOLARINGOLOGIA 73 (4) JULHO/AGOSTO 2007
v. 03
ARISAW A, Emilia Angela Loschiavo; SILVA, Cláudia
Maria de Oliveira Monteiro, Efeitos colaterais da
terapia antitumoral em pacientes submetidos à
químio e à radioterapia, Rev. biociên, Taubaté,
v11, n.1-2. p
55-61, jan./jun. 2005.
ALPOZ, Esin; GUNERI, Pelin; EPSTEIN, Joel B;
ÇANKAYA, Hulya; OSMIC, Damir; BOYACIOGLU,
Hayal,
Dental
students
knowledge
of
characteristics and management of oral
complications of cancer therapy,
2013.
BARBOSA, Aline May; RIBEIRO, Dayane Machado;
TEIXEIRA,
Angela
Scarparo
Caldo-,
Conhecimentos e práticas em saúde bucal com
crianças hospitalizadas com câncer, Ciência &
Saúde Coletiva, 15(Supl. 1):11131122, 2010.
GOMES, Fabiana Caribé; KUSTNER, Eduardo
Chimenos; LÓPEZ, José López; ZUBELDIA,
Fernando Finestres; MELCIOR, Benjamín Guix,
Manejo odontológico de lãs complicaciones de
La radioterapia y quimioterapia en El câncer
oral, Med Oral;8:178-87, 2003.
GUERRA, Maximiliano Ribeiro; GALLO, Cláudia
Vitória de Moura; MENDONÇA, Gulnar Azevedo e
Silva, Risco de câncer no Brasil: tendências e
estudos epidemiológicos mais recentes Revista
Brasileira de Cancerologia 2004.
HESPLANHOL, Fernando LuizTINOCO, Eduardo
Muniz Barretto; TEIXEIRA, Henrique Guilherme de
Castro.; FALABELLA, Márcio Eduardo Vieira;
ASSIS, Neuza Maria de Souza Picorelli.
Manifestações bucais em pacientes submetidos
à quimioterapia Ciência & Saúde Coletiva,
15(Supl. 1):10851094, 2010.
JUNIOR, Anisio Domingos de Oliveira. Alterações
Dentárias
em
pacientes
submetidos
a
quimioterapia e radioterapia 2011.
JUNIOR, Arnaldo Caldas; BARBOSA, André; TETI,
Isabela Mergulhão; FRANÇA, Mona Lisa Maria
Silvestre; PAEGLE, Ana Cláudia Rodrigues de
Oliveira; CAUAS, Michelly. Alterações bucais em
pacientes
submetidos
ao
tratamento
quimioterápico de câncer na rede pública de
Recife- PE,Ciências biológicas e da saúde | Recife |
v. 2 | n. 2 | p. 37-46 | Dez 2015.
KROETZ, Fernanda Maria; CZLUSNIAK, Gislaine
Denise,
Alterações
bucais
e
condutas
terapêuticas em pacientes infanto- juvenis
submetidos a tratamentos anti-neoplásicos.
Publ. UEPG Ci. Biol. Saúde, Ponta Grossa, 9 (2): 4148, jun. 2003.
LIMA, Antonio Adilson Soares; FRANÇA, Beatriz
Helena Sotille; IGNÁCIO, Sérgio Aparecido; BAIONI,
Carla Spagliare, Conhecimento de aluno
universitários sobre câncer bucal, Revista
Brasileira de Cancerologia 2005; 51(4): 283-288.
2005
n. 01
REFERÊNCIAS
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
quimioterápicos. O sexo feminino tem maior pré-disposição à alterações bucais. O
acompanhamento do cirurgião-dentista junto ao tratamento quimioterápico é de extrema
importância, visando a saúde do paciente e sua qualidade de vida.
RESUMO - O bruxismo consiste em uma disfunção caracterizada pela atividade muscular
mastigatória irregular, pois provoca um transtorno involuntário e inconsciente de movimento, sendo
este caracterizado pela compressão excessiva e/ou ranger dos dentes, podendo ocorrer
principalmente durante o sono ou diuturnamente. O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações
faciais após tratamento com toxina botulínica para bruxismo. Foram realizadas pesquisas em site
de buscas como Google acadêmico, Google imagens, Scielo, Pubmed, Bireme, Livros, Artigos e
Revistas utilizando as seguintes palavras chaves: Toxina Botulínica, Bruxismo, Masseter
Hipertrófico. O uso da Toxina Botulínica tem sido estudada e utilizada para o tratamento do
bruxismo e também na injeção bilateral para os músculos masseter e temporal. Mesmo não sendo
conhecido qual o método mais eficaz, este tratamento pode proporcionar alívio durante quatro a
seis meses ou, em alguns casos, pode levar a resolução total do bruxismo. Os efeitos colaterais
incluem dor no local da injeção e leve salivação.Pôde-se observar por meio deste estudo que
a toxina botulínica tem a capacidade de, quando realizadas aplicações nos músculos masseter e
temporal, modificar o formato da face.
PALAVRAS-CHAVE: Toxina Botulínica. Bruxismo. Masseter Hipertrófico. Formato da Face.
ABSTRACT - Bruxism consists of a disorder characterized by irregular masticatory muscle activity,
and therefore causes an unconscious involuntary movement disorder, which is characterized by
excessive compression and / or grinding of teeth, which can occur mainly during sleep or
diuturnamente. The objective of this study was to evalua te the facial changes after treatment with
botulinum toxin for bruxism. surveys were conducted in search site like Google Scholar, Google
images, Scielo, Pubmed, Bireme, books, articles and magazines using the following key words:
Botulinum Toxin, Bruxism, Masseter Hypertrophic. The use of Botulinum toxin has been studied and
used for the treatment of bruxism and also in bilateral injection to the masseter and temporalis.
Although not known that the most effective method, this treatment can provide relief for four to
six months, or in some cases may lead to complete resolution of bruxism. Side effects include
pain at the injection site and mild salivation. It was observed by this study that botulinum toxin
is able to, when carried applications in masseter and temporalis muscles change the face shape.
KEYWORDS: Botulinum toxin. Bruxism. Masseter Hypertrophic. Face format.
INTRODUÇÃO
O uso da toxina botulínica é amplamente conhecido por sua utilização cosmética em
injeções intramusculares para auxílio e redução de rugas faciais, sendo sua principal aplicação
voltada ao uso terapêutico. O uso dessa toxina purificada em procedimentos cosméticos só foi
aprovada pela ANVISA no Brasil no ano 2000 e nos Estados Unidos, em 2002. Sua utilização
terapêutica foi primeiramente estudada por Scott e colaboradores em 1973. E no final da década
de 1970 a toxina foi introduzida como um agente terapêuti co para o tratamento do estrabismo.
Desde então suas aplicações terapêuticas têm se ampliado em diferentes campos (MAJID,
2009).
Já no ano de 1981 iniciou-se o desenvolvimento das neurotoxinas botulínicas (NBT)
como medicamentos, já com a descrição da injeção de TXB-A nos músculos dos olhos para o
tratamento do estrabismo. Em 1989, após exaustivos testes laboratoriais e clínicos, o Food and
311
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
_________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
v. 03
Patrícia Rodrigues Dias Pita¹; Rafael Vinícius da Rocha²; Obede Rodrigues Ferreira²; Renato Pichini de
Oliveira²; Ronyere Olegário de Araujo²; Anne Caroline Dias Neves²; Raquel da Silva Aires²; Joelcy Pereira
Tavares².
n. 01
FACIAL TREATMENT AFTER CHANGES WITH BOTULINUM TOXIN FOR BRUXISM Literature Review
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
ALTERAÇÕES FACIAIS APÓS TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA PARA BRUXISMO
2 MATERIAIS E MÉTODOS –
Foi realizada uma pesquisa exploratória de trabalhos científicos. A busca dos artigos
foi feita nas bases de dados do Google acadêmico, Google Imagens, SciELO,ProQuest e PubMed,
foram levados em consideração todos os trabalhados obtidos entre os anos de 1995 a 2015. Como
estratégia de busca utilizou-se os seguintes descritores: Toxina Botulínica, Masseter Hipertrófico e
312
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Drug Administration (FDA) aprovou o uso terapêutico do BOTOX, para outros tratamentos como
estrabismo, blefaroespasmo e espasmo hemifacial. E no ano de 2000 o FDA aprovou o BOTOX e
a toxina B (MyoblocTM, Elan Pharmaceuticals Inc., Morristown, NJ, USA) para distonia e BOTOX
Cosmetic para linhas faciais hipercinéticas (SPOSITO, 2009).
De acordo com Maturana e Camargo (2001), essa toxina é mais utilizada na área médica
como um tratamento eficaz para o preenchimento de expressões de envelhecimento. Essa toxina
é produzida pela bactéria Clostridium botulinium, sendo o tipo A (Allergan Inc., USA) o de uso mais
conhecido.
A atuação da toxina vem ganhando espaço não somente na área médica, mas em diversos
campos da saúde, sendo utilizada atualmente não somente na medicina estética, como também
com outros propósitos, buscando a saúde e o bem- estar do indivíduo, ressaltando que na área da
odontologia ela possui seu espaço cada vez maior (SCHWARTZ e FREUND, 2002).
Nas clínicas de odontologia, conforme Couto (2014), sua aplicação mais comum é no
tratamento do bruxismo, disfunção que afeta em média 30% dos brasileiros, caracterizada
pelo ranger de dentes durante o sono.
O tratamento com toxina botulínica tipo A pode apresenta-se como um tratamento
possível para pacientes com bruxismo. Há necessidade de maior número de estudos que sigam
critérios de qualidade para se chegar a uma conclusão definitiva quanto à eficácia e segurança
(MATTA, 2013).
Os estudos sobre o bruxismo são controversos, abrangendo associação com ansiedade,
estresse, depressão, tipos de personalidade,deficiências nutricionais, má oclusão dentária,
manipulação dentária inadequada, disfunção e/ou transtornos do sistema nervoso central, uso de
drogas com ação neuroquímica, propriocepção oral deficiente e fatores genéticos (MACIEL, 2010).
Nos últimos anos surgiu a tendência de dimensionar o bruxismo em um contexto muito
mais amplo: seus efeitos podem alcançar a musculatura do pescoço e do ombro e admite-se
que influenciem até mesmo a postura do corpo todo, acarretando em disfunções posturais
e/ou esqueléticas (BIASOTTO-GONZALEZ, 2005).
A fim de evitar estas complicações é importante que haja um diagnóstico precoce, bem
como o tratamento apropriado (MATTA, 2013). Quadros de bruxismo podem ainda produzir um
aumento do desgaste dental e disfunção temporomandibular, logo o tratamento tardio, em alguns
casos, pode resultar em luxação da articulação temporomandibular e artrite degenerativa desta
articulação (BHIDAYASIRI & TRUONG, 2006).
Cardoso et al. (2002), afirmam que o cirurgião dentista possui um amplo conhecimento
sobre as estruturas físicas da cabeça e pescoço, o mesmo pode tratar de determinadas afecções
da face e da cavidade oral de forma eficiente e segura com a utilização da toxina botulínica,
considerando seu treinamento específico e todo seu conhecimento. Salientando que as toxinas
botulínicas são o agente causal da doença chamada botulismo, que é um tipo de envenenamento
fatal, necessitando sempre ser utilizada por profissionais capacitados e treinados para este
procedimento. Entre as marcas conhecidas estão: Botox®, Dysport®, Xeomin® e Prosigne® são
nomes comerciais da toxina botulínica.
Deste modo, questiona-se: A toxina botulínica no tratamento do bruxismo tem a
capacidade de alterar o formato da face? O objetivo deste trabalho é verificar alterações de forma
facial em pacientes submetidos a tratamento para bruxismo com este medicamento.
313
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
3 RESULTADO E DISCUSSÃO
São encontrados mais de 8 tipos diferentes de toxina botulínica, sendo que a A e a B são
utilizadas para o tratamento da Disfunção Temporomandibular, sendo o do tipo B não autorizada
ainda sua utilização no Brasil. No que diz respeito a sua eficiência no tratamento das disfunções
temporomandibulares, a toxina se apresenta como uma ótima indicação devido a sua eficácia
quanto diminuição do processo álgico e ao relaxamento muscular. Sendo que esta ação ocorre nas
terminações nervosas onde são bloqueados os canais de cálcio que irão diminuir a liberação de
acetilcolina (DUTTON 1996).
Para Silva (1997), a toxina botulínica se mostra eficiente em diversos tratamentos
odontológicos em que a mesma é utilizada, e onde se faz eficaz na área de Ortodontia. Para Teive
et al. (2002), um aplicação da BTX em odontologia é no espasmo hemimastigatório, um distúrbio
de movimento raro, de origem desconhecida, devido a uma disfunção da porção motora do
trigêmeo. Essa disfunção é muitas vezes confundida com o espasmo hemifacial, um distúrbio
devido à disfunção do nervo facial. Um importante marco no tratamento do espasmo
hemimastigatório é utilização da toxina botulínica, que se tornou a alternativa de escolha
devido aos seus excelentes resultados.
Lobezoo et al. (2008) em seus estudos detectou que o tratamento do bruxismo é indicado
quando este traz consequências como: atrição dentária, hipertrofia dos músculos mastigatórios,
fraturas de restaurações e/ou implantes dentários, dor de cabeça e dor no sistema mastigatório.
Várias são as modalidades terapêuticas sugeridas, entretanto, não há um consenso sobre qual é
a mais eficiente.
O bruxismo é uma disfunção caracterizada pela atividade muscular mastigatória
parafuncional que provoca um transtorno involuntário e inconsciente de movimento, é caracterizado
pela compressão excessiva e/ou ranger dos dentes, podendo ocorrer principalmente durante o
sono. Constitui um dos mais difíceis desafios para a odontologia (BIASOTTO-GONZALEZ, 2005).
O bruxismo é considerada uma parassemia, as quais são desordens que se impõem ao
processo do sono, oriundas da ativação do SNC (Sistema Nervoso Central), transmitidas
através de músculos esqueléticos ou das vias do sistema nervoso. Atinge grande parte da
população, sendo adultos e crianças. Sua etiologia é baseada em teorias, onde estão os distúrbios
oclusais, distúrbios psicogênicos, distúrbios neurofisiológicos e a sua associação (GOUVEIA;
PESTANA; LOPES, 1996).
O bruxismo traz como consequência, além do desgaste dental, mobilidade, problemas
periodontais, fraturas dentais e de restaurações, dor de cabeça, dor na região de ouvido, podendo
ser confundido com otite entre outras (BIASOTTO- GONZALEZ, 2005).
No dia-a-dia das clínicas odontológicas, é comum observar um desgaste excessivo nas
faces oclusais e incisais das superfícies dentárias, geralmente na dentição decídua. Durante a
infância, o bruxismo ocorre mais frequente, principalmente nas crianças em idade pré-escolar
devido às características estruturais e funcionais dos dentes decíduos, embora também apareça
em crianças maiores e na dentição permanente (ALVES, 2003).
Já o bruxismo do sono se diferencia daquele diurno, pois envolve distintos estados de
consciência e estados fisiológicos com diferentes influências na excitabilidade oral motora. Deste
modo, o bruxismo diurno é caracterizado por uma atividade semi-voluntária da mandíbula, de
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Formato da Face. A busca foi conduzida a partir do ano de 2015. A seleção dos artigos baseou-se
na conformidade dos limites dos assuntos aos objetivos deste trabalho, tendo sido desconsiderados
aqueles que, apesar de aparecerem no resultado da busca, não abordavam assuntos associados
à Toxina botulínica, Bruxismo e Alterações Faciais. Foram considerados critérios de inclusão os
estudos de relatos de caso, caso- controle, ensaios clínicos/ estudos controlados que tenham
sido publicados em português, inglês ou espanhol.
314
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
apertar os dentes enquanto o indivíduo se encontra acordado, e está relacionado a um tique ou
hábito vicioso, como o ato de morder lápis, caneta, cachimbo, ou entre dentes, membrana e
mucosa, o ato de morder o lábio, língua, bochechas e chupar dedos, sendo caracterizado como
bruxismo cêntrico (GIMENES, 2008; MACEDO, 2008).
Outro tipo de bruxismo é o excêntrico, ou do sono, pois é uma atividade inconsciente de
ranger ou apertamento e deslizamento dos dentes nas posições protrusivas e latero-protrusivas,
com produção de sons, enquanto o indivíduo encontra-se dormindo. Também é chamado de
bruxismo noturno, mas o termo mais apropriado é bruxismo do sono, pois o ranger de dentes pode
também se desenvolver durante o sono diurno (MACEDO, 2008).
Diversos estudos revelam uma vasta prevalência de pacientes, como crianças e adultos
de ambos os sexos que são predispostos ao desenvolvimento do bruxismo. Os fatores locais,
sistêmicos, hereditários, ocupacionais, psicológicos, ansiedade, e situações emocionais, são
fortemente correlacionados a eventos de estresse experimentados pelos indivíduos (DINIZ – 2012;
GIMENES – 2008).
A predisposição genética também possui papel na origem do bruxismo, mas os
mecanismos exatos e o modo de transmissão ainda não são conhecidos. Sugere- se um efeito
genético na variação fenotípica que envolve o caminhar e falar durante o sono, pesadelos,
bruxismo e enurese, tão bem como efeitos genéticos compartilhados especialmente entre falar e
caminhar durante o sono, bruxismo e falar durante o sono, pesadelos e falar durante o sono
Hublin et al. (2003).
De acordo com Sposito 2009, a toxina botulínica basicamente inibe a liberação exocitótica
da acetilcolina nos terminais nervosos motores levando a uma diminuição da contração muscular.
Nosso cérebro é responsável por enviar mensagens elétricas a nossos músculos para que se
contraiam ou mexam. Essa mensagem é transmitida ao músculo através de uma substância
chamada acetilcolina. A toxina botulínica age bloqueando a liberação de acetilcolina e, e deste
modo, o músculo não recebe a mensagem para se contrair. Isto significa que os espasmos
musculares param ou reduzem após o uso. A toxina botulínica bloqueia a transmissão
neuromuscular por meio de um processo de três passos (ALLERGAN, 2005).
A Toxina Botulínica (BTX-A) é utilizada para uma variedade de tratamento de desordens
do movimento, inibindo a liberação exocitótica da acetilcolina nos terminais nervosos motores
levando a uma diminuição da contração muscular. Este processo a torna útil, clinica e
terapeuticamente, em uma série de condições onde existe excesso de contração muscular (MARX,
SAWATARI & FORTIN, 2003).
Recentes estudos demonstram que o bruxismo é causado por altos níveis de atividade
motora na musculatura da mandíbula, indicando que a redução da atividade muscular induzida
pelo uso da BTX-A pode ser benéfica nestes casos (MORAES & NAKONECHNYJ, 1990).
O efeito da BTX-A está relacionado com a localização da aplicação e dose a ser utilizada.
Com a aplicação de toxina botulínica tipo A, sua ação máxima ocorre entre o 7° e 14° dia e sua
duração pode chegar a 6 meses (média de 3 a 4 meses). Problemas podem ser encontrados
relacionados à falta de eficácia no relaxamento muscular, devido à utilização de dose
inadequada, erro técnico na apli cação do produto, resistência a BTX-A e alterações do produto
ou condições de armazenamento inadequadas de BTX-A (BUNCH et. al., 2003).
Gimenes (2008) em seus estudos realizados com doze indivíduos com bruxismo noturno
foram selecionados para um estudo clínico, onde seis deles foram injetados com toxina botulínica
em ambos os masseteres, e seis com solução salina. Os resultados sugeriram que a injeção de
toxina botulínica reduziu o número de eventos de bruxismo e suporta o uso da toxina como um
tratamento eficaz para o bruxismo noturno.
Hoque e Mc Andrew (2009), em um tratamento do bruxismo utilizou a injeção
bilateral de Botox para os músculos masseter e temporal. E em outro método incluiu a injeção de
315
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Botox bilateralmente, exclusivamente para o masseter na região imediatamente superior ao ângulo
da mandíbula. Mesmo não sendo conhecido qual o método mais eficaz, este tratamento pode
proporcionar alívio durante quatro a seis meses ou, em alguns casos, pode levar a resolução total
do bruxismo. Os efeitos colaterais incluem dor no local da injeção e leve salivação.
A toxina botulínica pode ser utilizada como método terapêutico pelos cirurgiões dentistas
para pacientes acometidos por DTM (disfunção temporomandibular), bruxismo, cefaléia tensional,
dor orofacial, sorriso gengival, queilite angular, sorriso assimétrico, hipertrofia de masseter, pósoperatório de implantes, e também na sialorréia (NEVILLE et al., 2009)
A hipertrofia do músculo masseter, também definido como hipertrofia benigna do
músculo masseter ou hipertrofia idiopática do músculo masseter, é considerado alteração rara,
que consiste no desenvolvimento excessivo dessa musculatura, de etiopatogenia ainda não
definida e que, na maioria dos casos, leva a certo desconforto estético. Muitos autores creditam a
Legg (1880) o primeiro caso relatado de hipertrofia dos músculos masseter e temporal (RONCEVIC,
1986).
Seu diagnóstico inicial geralmente clínico é realizado através do uso de imagens
radiográficas convencionais, tomografia computadorizada, ultrassonografia e ressonância
magnética, sendo fundamental para sua confirmação, descartando assim, a possibilidade de outras
doenças que acometem a região parotídeo- massetérica, tais como: cistos, hemangiomas, lipomas,
inflamação das glândulas parótidas, miosite ossificante e tumores malignos (RONCEVIC, 1986).
Seu diagnóstico e clinico e nos exames radiográficos evidencia-se uma excrescência
óssea ao nível do ângulo mandibular, denominado de esporão ósseo. Isso se explica pelo fato de
que havendo uma maior exigência muscular por parte do masseter, o tecido ósseo sofre uma
remodelação, para poder comportar o volume muscular aumentado e ter condições de absorver e
dissipar as força mastigatórias. Podendo esse sinal não estar presente ou aparecer em pacientes
não sem hipertrofia. As radiografias póstero-anterior de crânio e a ortopantomografia são as mais
indicadas (PEREIRA et al., 2006).
O tratamento da hipertrofia do masseter pode ser realizado através de métodos cirúrgicos
e não cirúrgicos. O tratamento cirúrgico envolve intervenções que são realizadas, apenas, na
musculatura comprometida e/ou na estrutura óssea do ângulo mandibular. A primeira correção
cirúrgica da hipertrofia do masseter aconteceu por Gurney, em 1947, que removeu 3/4 a 2/3 de
tecido muscular da f ace externa do masseter, por acesso extrabucal. No ano de 1949, Adams, foi
o primeiro que relatou a remoção óssea na região do ângulo mandibular, associada à
ressecção muscular de 2/3 da porção inferior e medial do masseter pela face interna, também por
acesso extrabucal. O acesso intra-bucal para correção da hipertrofia do masseter foi primeiramente
estudado por Ginestet; Frezieres; Pickrell em 1959 (TRUJILLO JR, 2002).
O aspecto facial “Masseter Hipertrófico” é característico de pessoas acometidas por
bruxismo, que faz com que o músculo masseter cresça, assim levando a uma rotura da
harmonia facial, causando em algumas mulheres um contorno quadrado/masculinizado (MATTA,
2013). Um dos procedimentos recentes utilizados é a aplicação de Toxina Botulínica em
pontos estratégicos do músculo masseter, pois proporciona um visível afinamento da face.
Deixando a anatomia facial mais delicada e estreita. (MATTA, 2013).
O autor afirma que com a terapia através da Toxina Botulínica Tipo A surge um método
alternativo ao tratamento conservador para o tratamento da hipertrofia do músculo masseter, sendo
considerada em geral como a modalidade menos invasiva que se propõe para esculpir
cosmeticamente a região inferior da face (MATTA, 2013).
O tratamento tradicional da hipertrofia do masseter envolve o uso de tranquilizantes,
relaxantes musculares, psicoterapia, além de ajustes oclusais, o uso de placas miorrelaxantes, e
medidas para restabelecer o hábito de mastigar bilateralmente (MANDEL, 2008). Considerado um
método eficaz neste tratamento é a utilização da injeção de toxina botulínica tipo A. Sua proteína
4 CONCLUSÃO
Com base neste estudo pode-se concluir que a toxina botulínica tem sido amplamente
utilizada em diversas áreas da odontologia, além disso tem se mostrado muito eficaz para o
tratamento de pacientes com Bruxismo; o músculo masseter, quando tratado com este
medicamento, deixa de ser hipertrófico e retorna ao estado normal de função, minimizando ou
eliminando a sintomatologia do bruxismo e/ou apertamento; em muitos casos, quando aplicada
para tratamento de bruxismo, a toxina botulínica tem a capacidade de modificar o formato e
aspecto da face do paciente.
REFERÊNCIAS
ALLERGAN Soluções em Saúde.Estética médica:
indicações. 2005. Disponível em:
<www.allergan.com.br> Acesso em 20 abril 2016.
AMANTÉA, D.V.; NOVAES, A.P.; CAMPOLONGO,
G.D.; PESSOA de BARROS, T. A utilização da toxina
botulínica tipo A na dor e disfunção temporomandibular.
JBA, Curitiba, v.3, n.10, p.170-173, abr./jun. 2003.
BHIDAYASIRI, R., CARDOSO, F., TRUONG, D.
D.
Botulinum
toxin
in blepharospasm and
oromandibular dystonia: comparing different botulinum
toxin preparations. Eur. J. Neurol. 2006, 13 (Suppl. 1):
S21-S29. New York, USA.
BIASOTTO-GONZALEZ,
D.
A.
Abordagem
Interdisciplinar
das
Disfunções
Temporomandibulares. São Paulo; Barueri: Manole,
2005. P. 43-8.
BUNCH, V.; HELLER, J. Comparison of two methods of
noninvasive anaerobicthreshold
determination
in
middleaged men. Sports Medicine Training and
Rehabilitation, Berkshire, v. 3, p. 87 – 94, 2003. New
York, USA.
CARDOSO, M.A.; BERTOZ, F.A.; REIS, S.A.B.. Estudo
das características oclusais em portadores de
padrão de face longa com indicação de tratamento
LOBBEZOO, Frank et al. Principles for the management of
bruxism. Journal Of Oral Rehabilitation, Amsterdan, p.
509-523. jul. 2008.
MACEDO, C. R. Bruxismo do sono.Revista Dental
PressOrtodonOrtop Facial, Mar/Abr, 2008, v, 13, 33: 7769. São Paulo.
MACIEL RN. Bruxismo – SP: Artes Médicas, 2010, 690p.
MAJID, O. W .. Clinical use of botulinum toxins in oral and
maxillofacial surgery. Int. J. Oral Maxillofac. Surg,
Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, College Of
Dentistry, University Of Mosul, Mosul, Iraq, p. 197-207. 2
dez. 2009.
MANDEL L, SURATTANONT F. Bilateral parotid swelling:
a review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Endod. 2008 Mar;93(3):221-37.New York, Ny, Usa.
MARX, R. E., CILLO Jr., J. E., ULLOA, J. J. Oral
Bisphosphonate-Induced Osteonecrosis: Risk Factors,
Prediction of Risk Using Serum CTX Testing,
Prevention, and Treatment.J. Oral Maxillofac. Surg. 2003;
65: 2397-410.New York, Ny, Usa.
MATTA, Jorge. Readequação facial com aplicação
de toxina botulínica no músculo masseter. 2013.
Disponível em: <http://www.eduardosucupira.com.br/ptbr/artigo/readequacao-facial-com-aplicacao-de-toxina-
316
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
catalisadora derivada de uma bactéria anaeróbia Gram positivo, o Clostridium botulinum, que
age nas terminações nervosas bloqueando os canais de cálcio, diminuindo assim a liberação de
acetilcolina, e, consequentemente, causando um bloqueio neuromuscular pré- sináptico
(AMANTÉA, 2003).
Sem a função muscular, a tendência do masseter é atrofiar. Porém, aos poucos vai
retornando, quando novas terminações axonais formam novos contatos pré-sinápticos com fibras
musculares adjacentes; onde o retorno parcial se dá em aproximadamente quatro meses, e o
completo retorno a função em até 6 meses (CASTRO, 2005). Entretanto, quando o resultado não
é de todo satisfatório, é necessário a reaplicação da toxina botulínica até chegar no resultado
desejado.
A Toxina Botulínica é mais conhecida como um tratamento eficaz para o tratamento de
expressões de envelhecimento, porém sua atuação vem sendo utilizada não somente na medicina
estética, como também com outros propósitos, buscando a saúde e o bem-estar do indivíduo.
Na odontologia ela possui um espaço cada vez maior (MATTA, 2013).
Conforme Matta (2013), um outro tipo de aplicação que pode ser feita, é em casos de
aspecto facial “Masseter Hipertrófico”, que consiste na hipertrofia do músculo, porém considerada
uma alteração rara, que consiste no desenvolvimento excessivo dessa musculatura. Os resultados
demonstram a nítida alteração no formato da face da paciente submetida ao tratamento. O
resultado da busca realizada no Google Imagens corrobora com os autores supracitados,
onde pode-se verificar a modificação do aspecto da face em pacientes tratados para bruxismo com
o uso da toxina botulínica.
ANÁLISE CRÍTICA DA FALSEABILIDADE DAS ALEGAÇÕES DA BIOCIBERNÉTICA BUCAL
CRITICAL ANALYSIS OF FALSIFIABILITY OF ALLEGATIONS OF MOUTH BIOCYBERNETIC
Eduardo Ferreira Basílio¹; Luma Lorrany Pereira Felizardo¹; Felipe Camargo Munhoz²; Larissa Jacome B
Silvestre²; Ronyere Olegário de Araujo²; Jonas Eraldo de Lima Júnior²; Larissa Jacome B Silvestre²; Jonas
Eraldo de Lima Júnior².
_________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO - Existe a necessidade de se compreender o paciente como um todo, não restringindo
apenas à boca. Com esta intenção, entretanto, alguns autores fazem algumas alegações sem
evidências no meio odontológico. Segundo os autores brasileiros que defendem a Biocibernética
Bucal, os dentes têm total ligação com as nossas emoções e até mesmo da nossa postura em
relação à relacionamentos e comportamentos. Cada dente representaria uma relação com a
personalidade da pessoa, além de representarem comportamentos especificamente masculinos ou
femininos diante da sociedade e da cultura. Os incisivos centrais, superiores e inferiores, estariam
relacionados com a inteligência e a personalidade. Os incisivos laterais estariam ligados ao
relacionamento. Eles também teriam relação com o sistema neural, porém em menor intensidade.
Caninos seriam os dentes correspondentes ao sistema circulatório; primeiros prémolares corresponderiam ao sistema excretor (rins e intestinos), e estariam relacionados ao
contexto emocional, à segurança. Segundos pré-molares corresponderiam ao sistema respiratório
317
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
botulinica-no-musculo- masseter> Acesso em: 02 maio
2016. Belo Horizonte.
MATURANA, C.S.; CAMARGO, E.A. Usos terapêuticos da
toxina botulínica tipo A. RBM Rev. Bras Med. v.58 n.10
p.766-73, Out. 2001. Araçatuba.
MORAES, S. L. C., NAKONECHNYJ, P. Questionário de
Saúde Sua Importância e Aplicação em Odontologia.RBO.
1990; 48 (1): 48-56. n. 2, p. 18-22. São Paulo.
NEVILLE, Brad W . et al. Patologia Oral e Maxilofacial.3ª
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. P. 972. Quintessence Int.
2002; 33: 776-9.
PEREIRA, Rafaelle Pessoa Alves et al. Bruxismo e
qualidade de vida. Revista Odonto Ciência, Porto Alegre,
v. 21, n. 52, p.185-190, jun. 2006.
RONCEVIC R. Masseter muscle hypertrophy: aetiology
and therapy. J Maxillofac Surg. 1986; na revista Paul
Pediatr. Mar. 2009, v.27, n.3, p.329-334.
SCHW ARTZ,
M.;
FREUND,
B.
Treatment
of
temporomandibular disorders with botulinum toxin.
Clin J Pain. v.18, n.6,p.198-203, Nov-Dec 2002.New
York, Ny, Usa.
SILVA, D.J.. Toxina botulínica: aplicações clínicas. Rev
Goiana Med v.42, n.1, p.35-43,1997. Goiânia-GO.
SPOSITO, Maria Matilde de Mello. Toxina Botulínica do
Tipo A: mecanismo de ação. Acta Fisiatr, Instituto de
Medicina Física e Reabilitação do Hospital Das Clínicas
Fmusp - Unidade Umarizal, São Paulo - Sp, n. , p.25-37,
2009
TEIVE, H. A. G.; PIOVESAN, E.J.; GERMINIANI, F. M. B.;
CAMARGO, C. H. A. Hemimasticatory spasm treated with
botulinum toxin. Arq. Neuropsiquiatr. São Paulo, v. 60,
n. 2-A, p. 288-289, 2002.
TRUJILLO JR. R, Fontao FN, Sousa SM. Unilateral
masseter muscle hypertrophy: a case report.2002.Braz
Dent J 17(4). São Paulo-SP
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
orto-cirúrgico. Rev. Dental Press Ortodon Ortop Facial.
V.7. 2007. Curitiba.
CASTRO W H, GOMEZ RS, DA SILVA OLIVEIRA J,
MOURA MD. Botulinum toxin type A in the management
of masseter muscle hypertrophy. J Oral Maxillofac
Surg. 2005 Jan;63(1):20-4. Londres.
COUTO, Rosemary. Uso da toxina botulínica em
odontologia.
2014.
Disponível
em:
<http://www.drcouto.com.br/uso-datoxina-botulinicaem-odontologia/> Acesso em: abril de 2014. Rio de
Janeiro-RJ.
DINIZ, M. B; SILVA, R. C. Bruxismo na infância: um
sinal de alerta para odontopediatras.
Rev
Paul
Pediatr 2009;27(3):329-34. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rpp/v27n3/15.pdf> Acesso em:
22/04/2012.
DUTTON, J.J. Botulinum-A toxin in the treatment of
craniocervical muscle spasms: short and long-term,
local and systemic effects. Surv Ophthalmol, Brookline,
v.41, n.1, p.51-65, Jul./Aug.1996.
GIMENES, M. C. M. Bruxismo aspectos clínicos e
tratamentos.Artigo publicado na Jan. 2008. Disponível
em
htt://WWW.portaleducação.com.br/odontologia/artigos/
2008/bruxismo aspectos clínicos. Acesso em: 22 out
2015.
GOUVEIA, M. M.; PESTANA, M. C.; LOPES, S.R.
Ranger de dentes durante o sono, in SONO- Estudo
Abrangente. Atheneu, São Paulo, r ed., c.36, p.365378, 1996.
GUSSON, D. G. D. Bruxismo em crianças. JBP,
Curitiba, v. 1, n.2, p.75-97. abLijun 1998.
HOQUE, A.; MCANDREW , M. Use of botulinum toxin
in dentistry. Ny State Dent J, New York, Ny, Usa, p.
52-55. nov. 2009
HUBLIN C, KAPRIO J. Genetic aspects and genetic
epidemiology of parasonias. Sleep Medicine Reiews.
2003;7(5):413-21.jan-dez 1997.New York, Ny, Usa.
1 INTRODUÇÃO
Quando se diz que algo é “provado cientificamente”, tem-se um significado
extremamente importante, convencendo as pessoas a tomar importantes decisões em suas vidas
quando buscam ajuda de um profissional de saúde que, em tese, deveria ser alguém que usa
princípios amplamente comprovados por autoridades no assunto ao redor do mundo, que gastam
milhões em seus laboratórios para chegar a essas conclusões.
De forma geral, acredita-se que teorias científicas deveriam ser derivadas da obtenção
de dados que possam ser adquiridos através da experiência. Opiniões ou preferências pessoais e
suposições especulativas não deveriam ter lugar na ciência, uma vez que, o conhecimento científico
só é confiável porque é, em tese, conhecimento provado objetivamente. Entretanto, sabe-se que o
contexto científico é variável e, sem dúvida, pode receber interferência do ambiente tanto local
quanto global1.
A atividade científica, tal como se conhece hoje, derivada do produto histórico cultural
de onde se originou, procura se aproximar ao máximo da realidade ao se submeter a outras formas
de apreensão da realidade, mesmo não tendo pretensões de ser absoluta. Para tal, exige uma
coerência interna e integral, que é constantemente interrogada. Para isso, formulações científicas
precisam ser validadas, estar em consonância e estabelecer nexos. Desta forma, a verdade
científica é refutável, o que significa que pode ser substituída por outras que se apresentem, mesmo
318
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
ABSTRACT - There is a need to understand the patient as a whole, not just restricted to the mouth.
With this intention, however, some authors make a number of claims without evidence in the dental
environment. According to the Brazilian authors who advocate oral biocybernetics, mouth and teeth
have full connection to our emotions and even our attitudes toward relationships and behaviors.
Each tooth represent a relationship with the person's personality, as well as represent specifically
masculine or feminine behavior before the society and culture. The central incisors, upper and lower,
were related with the intelligence and personality. The lateral incisors would be linked to the
relationship. They would also have relationship with the neural system, but at a lower intensity.
Canine teeth would be corresponding to the circulatory system; first premolars would correspond to
the excretory system (kidneys and intestines), and would be related to emotional context, to safety.
Second premolars correspond to the respiratory system and lungs to lower and upper airways, and
are related to freedom. First molars would correspond to the digestive system, and would be related
to self-sufficiency. Second molars would correspond to the hormonal process of the individual and
third molars would correspond to the lymphatic system. Moreover, it is possible to change systemic
psychological aspects, changing the position of the teeth. Analyzing this way, the extraction of teeth
for Orthodontical purposes would be totally contraindicated. The objective of this study was to
investigate, in a literature review, which of these claims verifiable and there is evidence to support
them. In addition, a literature review was conducted on the philosophy of science about the criteria
that define what science is and what pseudoscience is, so we could honestly examine those
particular situations and understand how biocybernetic builds their claims and whether they are
falsifiable theories.
Keywords: Byocybernetics. Evidence Based Dentistry. Holistic Dentistry Oral. Falseability.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
como pulmões até vias aéreas inferiores e superiores, e estariam relacionados à liberdade.
Primeiros molares corresponderiam ao sistema digestivo, e estariam relacionados à
autossuficiência. Segundos molares corresponderiam ao processo hormonal do indivíduo e
terceiros molares corresponderiam ao sistema linfático. Além disso, seria possível mudar aspectos
psicológicos e sistêmicos, mudando o posicionamento dos dentes. Analisando desta forma, a
extração de elementos dentários para finalidade ortodôntica estaria totalmente contraindicada. O
objetivo deste trabalho foi ao encontro do conceito estabelecido entre grandes filósofos acerca da
definição de ciência e pseudociência, além da realização de uma análise crítica e mais honesta
possível das principais teorias da Biocibernética Bucal e concluir a classificação da mesma diante
de sua falseabilidade ou não.
Palavras-chave: Biocibernética Bucal. Odontologia baseada em evidências. Odontologia holística.
Falseabilidade.
2 MÉTODOS
Este trabalho foi elaborado tendo como base, livros textos que são referência no estudo
da odontologia no Brasil, artigos armazenados em bases de dados on-line, e ainda endereços
eletrônicos de órgãos que regulamentam a profissão de odontologia.
Inicialmente
319
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
que aparentemente, mais próximas da realidade e mais coerentes2.
Karl Popper, grande filósofo do século XX considera que todo o nosso conhecimento
está sujeito a erros. Para ele, uma teoria científica deve ser falseável, ou seja, o cientista que a
propõe deve disponibilizar os meios para um possível falseamento. Popper defende que para uma
teoria ser científica a, falseabilidade, que é o meio devidamente proposto pela mesma de ser
falseável ou não, deve ser considerada, caso contrário esta seria classificada como uma
pseudociência3.
Uma pseudociência é uma disciplina que se faz passar por ciência, sem ser. São formas
de conhecimentos que não permitem as críticas da ciência, mas que se utiliza de teorias ou técnicas
científicas para validar suas conclusões ou promover uma falsa sensação de rigor cientifico4.
As pseudociências são matérias que, não utilizam métodos experimentais rigorosos em
suas investigações, carecem de uma armação conceitual contrastável, afirmam ter alcançado
resultados positivos, embora suas provas altamente questionáveis, e suas generalizações não
tenham sido corroboradas por investigadores imparciais5.
Entre outras disciplinas e práticas pseudocientíficas podemos citar a astrologia, a
quiromancia, o tarot, a numerologia, as medicinas alternativas (homeopatia, acupuntura, terapia do
toque, cromoterapia, aromaterapia), a parapsicologia, a ufologia, a grafologia, entre outros 4.
A biocibernética bucal possui relação com os dentes e as nossas emoções e até mesmo
da nossa postura em relação a relacionamentos e comportamentos. Cada dente representaria uma
relação com a personalidade da pessoa, além de representarem comportamentos especificamente
masculinos ou femininos diante da sociedade e da cultura.
Os incisivos centrais, superiores e inferiores, estariam relacionados com a inteligência
e a personalidade. Os incisivos laterais estariam ligados ao relacionamento. Eles também teriam
relação com o sistema neural, porém em menor intensidade.
Caninos seriam os dentes correspondentes ao sistema circulatório; primeiros prémolares corresponderiam ao sistema excretor (rins e intestinos), e estariam relacionados ao
contexto emocional, à segurança.
Segundos pré-molares corresponderiam ao sistema respiratório como pulmões até vias
aéreas inferiores e superiores, estariam relacionados à liberdade. Já os primeiros molares
corresponderiam ao sistema digestivo, e estariam ligados à autossuficiência.
Segundos molares corresponderiam ao processo hormonal do indivíduo e terceiros
molares corresponderiam ao sistema linfático (FIGURA 1). Além disso, seria possível mudar
aspectos psicológicos e sistêmicos, alterando o posicionamento dos dentes. Analisando desta
forma, a extração de elementos dentários para finalidade ortodôntica estaria totalmente
contraindicada.
Com isso, o objetivo deste trabalho De acordo com o conceito estabelecido entre
grandes filósofos acerca da definição de ciência e pseudociência, o objetivo deste trabalho foi
realizar uma análise crítica e mais honesta possível das principais teorias da Biocibernética Bucal
e concluir a classificação da mesma diante de sua falseabilidade ou não. Além disso, foi realizada
uma revisão de literatura a respeito de filosofia da ciência e os critérios que delimitam o que é ciência
do que é pseudociência, para que se possa analisar honestamente essas situações particulares e
compreender qual é a forma como a biocibernética constrói suas alegações e se são teorias
falseáveis. Desta forma, espera-se chegar às conclusões mais honestas possíveis com relação a
estas polêmicas questões.
320
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
3 RESULTADO E
DISCUSSÃO
A
“Ciência” é mais do
que uma instituição, é
uma atividade, um
processo.
É
um Fonte: Ventura (2015)
conceito abstrato. O que se conhece concretamente, são os cientistas e o resultado de seus
trabalhos. O cientista contemporâneo deveria saber que nada há de definitivo e indiscutível que
tenha sido assentado por homens.
O experimento científico como critério de cientificidade consiste num ponto fundamental
para o desenvolvimento das ciências modernas, mas o pensamento científico não se forma nem se
transforma apenas pelo experimento. Ao contrário, anterior à práxis científica está a ideia, o
pensamento, o conhecimento do conhecimento, a filosofia da ciência, que trazem à tona as
discussões em torno da epistemologia, dos paradigmas, da ética, da moral, da política, enfim,
características relacionadas ao desenvolvimento do conhecimento e aos possíveis desdobramentos
e consequências que possam trazer.
Conceitos que nascem no cotidiano, pelo senso comum, são aprimorados por meios
científicos e tornam-se científicos ao romperem com esse cotidiano, com esse senso comum. No
entanto, as crises dos paradigmas da ciência moderna, tem-se mostrado a aparente veracidade de
fenômenos que são anti-intuitivos, se refletem sobre uma nova estrutura cientifica pós-moderna,
onde a ciência volta-se contra o senso comum, considerando-o superficial, ilusório e falso1.
A primeira forma de conhecimento é o senso comum. Trata-se de uma forma de
conhecimento adquirido no cotidiano, empírico por excelência, normalmente adquirido por meio de
experiência. É um conhecimento produzido e aprendido por intuição, acidente ou uma observação
causal, mas pode também ser resultado de um esforço deliberado para a solução de um problema.
É um conhecimento limitado pois não é sistemático, nem eficiente e não permite identificar
conhecimentos complexos ou relações abstratas. Sendo o senso comum superficial, sensitivo,
subjetivo, assistemático e acrítico. Mas o senso comum também produz conhecimento, mesmo que
ele seja um conhecimento mistificador. E apesar de ser conservador, tem uma dimensão utópica e
libertadora que pode ser ampliada através do diálogo com o conhecimento científico9.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
realizou-se pesquisa no PUBMED, a qual não revelou nenhum artigo relacionando-se à
biocibernética, tal como é defendida no Brasil. Um único artigo foi encontrado utilizando o termo
Byocybernetics, mas a forma como abordava a questão em nada tinha a ver com a forma
preconizada pelos autores brasileiros5.
A pesquisa utilizando termos em português revelou que os mesmos artigos que eram
encontrados em bases de dados como Bireme, Scielo, Lilacs e Proquest também estavam
presentes no Google Acadêmico.
Identificou-se uma tese, que discute aspectos didáticos e filosóficos do ensino da
biocibernética e outra que fazia uma comparação sobre as diferentes filosofias ortodônticas. Sendo
assim, a maior base
FIGURA 1 – Mapa das relações dos dentes com o resto do organismo, de acordo com
para estudo foram
a biocibernética bucal
vídeos, artigos e
livros de filosofia da
ciência
e
de
biocibernética bucal,
todos
no
idioma
português 6,7.
321
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
O conhecimento científico advém da necessidade de buscar um conhecimento seguro.
É o resultado de uma verdadeira investigação científica que permite encontrar, não apenas a
solução de problemas cotidianos, mas também explicações sistemáticas que possam ser testadas,
criticadas, e verificadas empiricamente10.
A ciência usa uma linguagem com enunciados que possuem significados bem
determinados e específicos, e adota testes mais rigorosos que o senso comum. O conhecimento
para ser aceito pela comunidade científica tem que seguir um método, conhecido como método
científico. Não há um padrão único que defina o método científico, aceita-se em geral que ele é uma
forma crítica de se produzir o conhecimento científico, com intuito de criar hipóteses bem
fundamentadas e estruturadas, e que este conhecimento possa ser submetido a uma testagem
crítica severa e possível de aplicação pelos demais membros da comunidade científica5.
Um método pode ser definido como uma série de regras para tentar resolver um
problema. No caso de métodos científicos, estas regras são bem gerais. A ciência é um conjunto
de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente sistematizados e
verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza11,12.
O livro “O que é ciência afinal?”, sugere que a pergunta a que se refere o título de seu
livro é enganosa e arrogante, e conclui “não existe um conceito universal e atemporal de ciência ou
do método científico”13.
Apesar das dificuldades em definir o que seja ciência, diz que esta pode ser subdividida
em duas categorias: as ciências formais (lógica e matemática) e as factuais (naturais e sociais). As
ciências naturais englobam a física, a química, a biologia, a astronomia, a geologia, entre outros, e
as ciências sociais englobam a sociologia, a psicologia social, a economia, a antropologia cultural
e a política. Pode ser dividida em três períodos históricos: as concepções gregas, que se originaram
no século VI antes de Cristo e exerceram influência até o final do século XVI; as concepções
modernas, que ocorreram a partir do final do século XVI e exerceram influência até o final do século
XX; e as concepções contemporâneas; que tiveram origem no século XX e seguem até hoje5.
Os gregos promoveram as concepções primordiais da ciência, ao instituírem a filosofia.
Os filósofos gregos pré-socráticos (Tales de Mileto, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Demócrito,
Leucipo e outros), afastaram-se do mito e das crenças religiosas, onde se caracterizavam um
mundo sobrenatural e caótico e passaram a se questionar sobre a origem do mundo e do homem,
optando por uma nova visão de universo em ordem, livre de caprichos divinos, livre do sobrenatural.
Estes filósofos passaram a tentar compreender os princípios ordenados da natureza das coisas,
que eram fontes de erros e que não poderiam ser percebidos pelos sentidos, mas apenas pela
inteligência10.
Os sofistas transformaram o homem na medida de todas as coisas, onde a linguagem
era um instrumento de persuasão. Mas Sócrates, ao contrário, achava que a verdade poderia ser
conhecida, desde que fossem afastadas as ilusões dos sentidos e das palavras, usando o
pensamento.
Nessa busca de verdades, utilizou-se um método (ironia e maiêutica), que por meio de
perguntas e respostas rápidas levava os homens a perceberem seu falso conhecimento e
ignorância (“só sei que nada sei”), para que assim, desejassem a verdade pelo pensamento, livre
de ilusões dos sentidos, das palavras e das opiniões. Já para Platão, discípulo de Sócrates, havia
dois mundos, o mundo onde viviam os homens, sensível, das aparências, das opiniões, e o mundo
das ideias, imutável, eterno e verdadeiro. As crenças e opiniões deveriam ser afastados da filosofia.
A matemática seria a melhor preparação para o pensamento, com o intuito de se chegar a ideias
verdadeiras.
Aristóteles, discípulo de Platão, discordava de Platão quanto ao mundo das ideias. Ele
acreditava que a ciência envolvia a colaboração do entendimento com a experiência sensível, ou
seja, os sentidos deveriam, inclusive, vir em primeiro lugar na busca do conhecimento. Aristóteles
322
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
baseava-se no realismo, que afirmava que a realidade existe, independente do homem conhecê-la
ou não. A ciência Aristotélica baseava-se numa concepção qualitativa, onde os fatos e fenômenos
poderiam ser abstraídos a partir dos dados, inicialmente percebidos pelos sentidos, abstraídos em
seguida pelo discurso, pela argumentação racional, e não pela matemática e nem pela experiência.
O grande sucesso dessa concepção foi dividido à síntese efetivada por Santo Tomás de Aquino
onde validou o pensamento medieval teocêntrico.
A transição para a ciência moderna aconteceu em um período histórico chamado
renascimento, onde modelo medieval teocêntrico de admiração do mundo passa a ser substituído
pelo desejo de se conhecer racionalmente o mundo e o homem. O modelo de pensamento agora
passa a resgatar os ideais humanísticos clássicos, antropocêntricos, de independência de espírito
humano. As concepções cientificas aristotélicas e o dogmatismo religioso foram rejeitados por
concepções modernas propostos por renascentistas, que se consolidou uma verdadeira revolução
nos rumos da ciência. Disseminou-se, então, a crença de que o homem finalmente poderia atingir
conhecimento total e verdadeiro da natureza5.
A falta de uma postura crítica facilita com que muitas pessoas estejam, não somente a
mercê de charlatanismo e de outras formas conscientes ou não de embuste, mas também a
posturas nocivas a sociedade, ou mesmo fatais a um grupo de pessoas5.
A postura crítica da ciência permitiu muitos avanços em relação a crenças, posturas e
práticas, que influenciam no cotidiano das pessoas. A falta de conhecimento, do método da ciência,
do seu processo eterno da busca da verdade – não as verdades incontestáveis, mas alto corrigíveis,
segundo a ciência, é ilógica e irracional e, mesmo assim, impossíveis de serem refutadas. E a falta
de conhecimento de natureza empírica da ciência, é o que induz a pessoa à fácil aceitação de
alegações supostamente científicas.
A ciência é mais do que tudo, um modo de pensar. E o modo de pensar exige uma
atitude crítica, ou seja, exige confrontar as alegações com evidências empíricas, exige a busca
incessante da racionalidade, a confrontação de dogmas de fé ou crenças que se mantem
irrefutáveis, apesar de fortes evidências contrárias. Vários são os exemplos de que as pessoas não
têm conhecimento do pensar científico, da postura crítica da ciência. Um exemplo é a postura crítica
das pessoas frente às alegações pseudocientíficas14.
A distinção, em preto e branco, entre ciência e pseudociência, forneceria uma escala
contínua, desde teorias pobres, com uma baixa probabilidade de serem verdadeiras, até boas
teorias, com um elevado grau de probabilidade.
Uma teoria pode ser científica mesmo que não haja os mínimos dados a seu favor, e
pode ser pseudocientífica ainda que todos os dados disponíveis estejam a seu favor. Isto é, o caráter
científico ou não científico de uma teoria pode ser determinado independentemente dos fatos. Uma
teoria é científica se parte de especificar uma experiência ou observação crucial que possa ser
falsificada, e é pseudocientífica se houver recusa em aceitar essa falsificação potencial3.
A biocibernética bucal constitui uma corrente de pensamento odontológico desenvolvida
inicialmente por dois dentistas brasileiros, professores universitários da Faculdade de Odontologia
de Araçatuba (FOA-UNESP), Mário Baldani e Denisar Lopes de Figueiredo no final de 1960
(BALDANI; FIGUEIREDO, 1972). Procurando desenvolver uma visão sistêmica do paciente para
entendê-lo e julgá-lo como um todo, propuseram que as disfunções bucais estariam relacionadas
com alterações em todo o organismo do indivíduo15.
A boca seria um sistema que influenciaria diretamente no estado emocional e social do
indivíduo, já que o perfeito funcionamento implica positivamente em âmbitos respiratórios, que
influenciam o sono e a disposição, e funcionais estéticos, que determinam a socialização.
Baseando-se no princípio de que o corpo humano funciona como uma máquina, na qual todas as
peças precisam estar encaixadas corretamente para um perfeito funcionamento, segundo esses
autores, se algo estiver fora do lugar, ou alguma das peças estiver em falta, ocorrerá o
323
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
desencadeamento de problemas, distúrbios e doenças16.
Neste sentido, a Biocibernética Bucal abre novos horizontes para atuação do cirurgião
dentista no aspecto sistêmico, interpretando o indivíduo como um todo. Essa visão ampla do ser
humano permitiria ao profissional mapear cada problema na cavidade oral que influencia
diretamente no comportamento sócio psíquico do indivíduo17.
A odontologia convencional considera três dimensões intraorais, sendo elas: a
lateralidade, a altura e a profundidade, a biocibernética bucal descobriu a chamada quarta dimensão
bucal ou espaço-problema que é o espaço aéreo vazio da cavidade oral, esse vazio pode ser
alterado a partir de hábitos, como a sucção digital e o uso de chupetas. Todas essas medidas devem
estar em uma harmonia para que haja uma adequada acomodação da língua, pois quando esse
espaço é diminuído por algum distúrbio no crescimento oriundo de maus hábitos na infância, como
o uso da mamadeira, influenciará negativamente no crescimento e desenvolvimento dos maxilares,
o que levará a criança a desenvolver problemas respiratórios como a apneia do sono, que é uma
síndrome que provoca o fechamento da faringe durante o sono. Para evitar situações como esta, a
relação maxilar e mandibular deve ser perfeita17.
Esta alegação foi confirmada pelo estudo de Albertini realizado no Departamento de
Neurologia da Unicamp, que observou que as crianças que sofrem de apneia do sono têm os
maxilares pequenos e retraídos. Percebeu que essa alteração ocasiona uma diminuição no espaço
vazio aéreo da cavidade oral impedindo que o ar passe mecanicamente do nariz para a garganta e
prejudicando a qualidade de vida da criança, que terá dificuldade no sono, estimulação da
respiração bucal, diminuição do oxigênio no sangue e diminuição da oxigenação cerebral o que
pode levar a problemas emocionais e psicológicos. Pôde-se notar também que, ao estimular os
maxilares para frente com o uso de aparelhos orais usados com o intuito de recuperar o espaço
ideal intrabucal, os resultados foram satisfatórios18.
A biocibernética bucal se preocupa com o sono, pois para se ter uma vida saudável é
preciso ter uma boa qualidade de sono. Por esse motivo vem atuando decisivamente na solução de
dois dos seus principais distúrbios, que são a apneia obstrutiva do sono e o bruxismo. Através dos
aparelhos específicos instalados na cavidade oral, elimina-se por completo a apneia e o bruxismo,
eliminando o estresse acumulado através da melhoria da respiração que possibilita o indivíduo a ter
uma noite de sono realmente repousante, proporcionando saúde física e mental sem a necessidade
de máscaras pressurizadoras de oxigênio, que são usadas em tratamentos convencionais19.
O tratamento convencional, que envolve um procedimento de pressão aérea aplicada
através de um aparelho com uma máscara nasal firmemente aderida à face do paciente, promove
desconforto e favorece um tratamento descontinuo, comprovando sua ineficácia.
Há uma melhora respiratória com o aparelho, onde todos os pacientes apresentaram
alívio persistente dos sintomas após 12 a 30 meses de uso. Através deste estudo pôde-se concluir
que os aparelhos intrabucais podem ser considerados tratamento de primeira escolha para
pacientes com apneia obstrutiva do sono por apresentar uma melhora significativa do quadro20.
Em seu estudo sobre a mecânica dos aparelhos intrabucais chegou à conclusão de que
esse tratamento é uma opção simples, eficaz e bem menos invasiva que o tratamento
convencional21.
Ainda sobre os distúrbios intraorais durante o sono, foram avaliadas a ansiedade,
depressão e irritação em pacientes com bruxismo em comparação com pacientes que não
apresentavam a disfunção. Para tal, foram utilizados dados de prontuário e um questionário com
dados demográficos. Os resultados confirmaram a significância psicológica da região oral na
expressão dos afetos negativos e pôde-se notar que os bruxômanos apresentaram personalidade
mais ansiosa e depressiva que os não-bruxômanos, e os que sofrem desse distúrbio tendem a dirigir
a agressividade e a concentrar as tensões emocionais no próprio corpo, especificamente na região
bucofacial22.
324
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
O bruxismo é uma expressão do estresse mental, da agressividade e ansiedade, dentre
outros fatores psicológicos, além de se caracterizar como uma oclusão anormal23.
Esse distúrbio ocorra provavelmente devido a emoções reprimidas em períodos iniciais
da vida24.
Também existem evidências que confirmam algumas dessas alegações. Foram
avaliadas a atratividade do sorriso visando a autopercepção e a influência sobre a personalidade.
Para isso, foram analisados os aspectos da exibição do dente e da gengiva em relação ao
autojulgamento do indivíduo, assim como os aspectos do sorriso na autopercepção e satisfação
com o sorriso influenciando no ato de sorrir e consequentemente na autoestima. Os resultados
mostraram que, nos casos em que a linha do sorriso se posicionava de modo em que os dentes se
mostravam totalmente visíveis com apenas alguns milímetros de gengiva evidentes foram
considerados como os mais estéticos pelos participantes. Quando a linha do sorriso indicava desvio
deste padrão levou-se então a um julgamento menos favorável. A gengiva muito evidente
demonstrou relação direta com a baixa autoestima, assim como os dentes totalmente visíveis
demonstraram uma ligação com a dominância25.
Por outro lado, algumas hipóteses da biocibernética são baseadas em princípios que
vão além do que pode ser provado a partir de experimentos. O mais polêmico deles refere-se à
filosofia de nunca extrair dentes por motivos ortodônticos. Isso se deve à forma como a
biocibernética bucal resolve algumas questões referentes à gênese das deformações dentárias e
faciais, assim como suas repercussões sistêmicas.
Um dos motivos para a ocorrência das deformações faciais seria o fato de que as
sensações maternas seriam registradas pelo pequeno “computador cerebral” do bebê, que aos
poucos iria sedimentando as informações, ainda que não as conseguisse interpretar a princípio. E
pelo fato de as crianças serem, em boa parte, frutos de acidente sexual, como por exemplo, uma
falha no método anticoncepcional, isso faria com que o filho não planejado gerasse tensão familiar
e a criança poderia não ser bem vinda ou mesmo inconscientemente rejeitada. Obviamente, não é
possível projetar um experimento que prove ou falsifique a ideia de que fetos poderiam compreender
informações que ficaram arquivadas em seu cérebro durante seu período de formação. Muito menos
que isso pudesse influenciar na formação de seus maxilares ou o posicionamento de seus dentes16.
Ainda segundo esses autores, o sexo deveria ser evitado durante a gravidez, em sinal
de respeito a nova vida que estaria por vir. A descarga de adrenalina liberada durante a tensão
sexual excitaria os batimentos cardíacos do feto e comprometeria suas funções biológicas. Quando
a data do nascimento se aproxima, o pequeno “computador cerebral” da criança já teria registrado
todos os principais eventos e sensações experimentados por ele, os quais serão utilizados como
parâmetros, e quando a criança voltar a ter contato com essas sensações, vai manifestar emoções
e expressões. Isso levaria ao nascimento de crianças com pequenas ou grandes alterações. Neste
caso, o clínico estaria dando instruções de conduta ao casal baseado em informações para as quais
não existem nenhuma base empírica que as comprovasse.
De acordo com a biocibernética, a criança sofre sua primeira deformação na vida
extrauterina no momento da amamentação, pois a postura na qual é colocado para alimentar-se é
normalmente incorreta. Esta é a única fase na vida do homem em que ele se alimentaria deitado,
já que não pode opinar. No momento em que o bebê recém-nascido é colocado na posição de
amamentação, seu cérebro registraria uma postura errônea para alimentação. Nessa posição, o
bebê não teria condições de salivar o alimento, nem mesmo de pronunciar-se quando estivesse
satisfeito, gerando assim uma disfunção do processo hipotalâmico que regula a fome. O ser humano
é bípede, ou seja, fica em pé e tem a fome regulada pelo hipotálamo, glândula mestra do corpo
localizada no cérebro.
Além disso, a maxila seria um espelho da relação com a mãe ou tudo que se refere ao
universo feminino, enquanto a mandíbula seria da relação com o pai ou tudo que estivesse
325
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
relacionado com o universo masculino16.
A partir da observação do desenvolvimento bucal de suas filhas, observou-se que,
conforme o padrão familiar escolhido pelos pais há um tipo de desenvolvimento das arcadas16.
Quando o pai se dedica à maior parte do tempo ao trabalho e a vida social, delegando
a mãe decidir assuntos pertinentes às crianças, tem-se maior desenvolvimento da maxila em
detrimento ao da mandíbula. O mesmo padrão de crescimento é observado quando a mãe é do tipo
controladora e interfere frequentemente nas decisões do pai, muitas vezes não o deixando decidir
por conta própria.
No caso de pais com personalidade fraca, tem-se instalado um tipo de má oclusão
conhecida na biocibernética bucal como de classe II profunda, na qual se tem pouco
desenvolvimento de mandíbula e muito de maxila. Algumas mães de primeira viagem, por exemplo,
teriam medo de tomar alguma decisão sozinha e não fariam nada sem antes consultar o pai,
delegando a ele o poder de decisão. Neste caso, a criança desenvolveria, proporcionalmente, mais
a mandíbula que a maxila. Se essa mesma mãe for totalmente incapaz de decidir sozinha, teremos
então um desenvolvimento de maxila menor que o adequado, gerando o retrognatismo maxilar. O
mesmo tipo de desenvolvimento acontece quando o pai é a pessoa forte ou a mãe é de
personalidade fraca.
Quando o pai é do tipo que toma as decisões sempre sozinho e dificilmente volta atrás,
sendo irredutível, tem-se instalado o mesmo processo pelo qual simultaneamente ocorre o avanço
do queixo e a diminuição do maxilar superior. Agora, se o pai é um tipo de figura de personalidade
forte, mas distante das decisões pertinentes à criança, ter-se-ia desenvolvimento grande da base
mandibular com afundamento na região de implantação dos dentes e maxila em classe I.
Entretanto, diversos motivos poderiam estar relacionados às diferenças de padrões
faciais encontradas nas diferentes etnias. Trata-se de uma afirmação extraordinária, mas que neste
caso, poderia ser comprovada ou falseada por evidências. Será que testes de personalidade
aplicados a estas populações comprovariam estes resultados? Até o presente momento, não
encontramos dados que confirmem ou refutem tal ideia. Mesmo assim, segundo Furlan e Santos
(2006), pela análise da boca de uma pessoa seria possível saber se ela foi criada num padrão
oriental ou ocidental de educação, bastando para isso ver seu padrão de desenvolvimento16.
Os autores realizaram uma pesquisa com mais de trezentas pessoas, examinando-se o
perfil bucal e o padrão cultural e familiar. Concluiu-se que até os três anos de idade isso se processe
por meio de trocas energéticas, porque a criança, apesar de não entender, parece sentir e
reconhecer quem predomina, uma vez que os fatos indicam que o crescimento bucal está
diretamente relacionado ao poder de decisão da vida dela. Já nas crianças acima de quatro anos,
a compreensão parece ser determinante, pois é muito comum encontrar, numa mesma família, os
mais diversos padrões de desenvolvimento, tudo porque Deus nos teria dado o dom de ter opinião
própria e, como as opiniões divergem, assim também se processa o crescimento bucal16.
Entretanto, os dados dessa pesquisa provavelmente não foram publicados, pois não são citados
em sua publicação e também não são encontrados nos sites de busca.
Parece não ter preconceito algum com correntes pseudocientíficas quando cita os
“estudiosos da energia”, radiestesistas, que acreditam que o sol é a energia positiva que aquece,
enquanto a Terra, seria a energia negativa. Nesta analogia, o negativo representaria o feminino, o
“fio-terra”, enquanto que o positivo, seria o masculino, que seria a corrente. Assim, a mãe que
gerasse uma criança sem pai estaria gerando-a num útero “frio”, que não têm o calor no sentido
energético da polaridade masculina16.
Entretanto, para tudo o que foi dito até agora, nada disso teria grande significado clínico
que poderia mudar de forma negativa o planejamento de um cirurgião dentista. O mesmo não ocorre
em relação ao dilema que se refere à extração de dentes por motivos ortodônticos.
Para o Dr. Furlan e o Dr. Rogério Pavan cada dente corresponderia a um brilhante,
5 CONCLUSÃO
Além disso, em seu livro, os autores Furlan e Santos fazem alegações extremamente
específicas para cada conjunto de dentes e suas relações com sistemas do corpo. Sendo assim,
alterações realizadas nos dentes, iriam refletir-se nos sistemas correlacionados16.
Dessa forma, a deformação bucal serve de indício de que alguma coisa está errada no
sistema correspondente, podendo ainda a reciproca ser verdadeira. Assim, tanto o aparecimento
da cárie como o desalinhamento dos dentes teria sua origem em informações captadas pelo
cérebro, e corrigi-las sem ter isso em consideração poderia levar à recidiva ou ao insucesso do
tratamento.
De fato, hoje em dia, muito mais que na época em que esses autores fizeram seus
trabalhos, existem várias evidências de que o que acontece na boca pode ter reflexos no restante
do organismo e vice-versa. Por conta disto, vários hospitais perceberam a importância de se ter o
cirurgião dentista em sua equipe, o que levaria à significante redução de morbidade hospitalar.
No entanto, para a biocibernética, essas explicações viriam do fato de que os dentes
funcionariam como pontos de acupuntura, estimulando os “fluxos energéticos” dos medicamentos
a cada toque uns com os outros. Nas demais localidades do corpo, é preciso encontrar o ponto
exato, pois, caso contrário, os efeitos não ocorreriam como desejados.
Em relação aos dentes, o mesmo princípio deveria ser levado em conta, pois para que
ocorresse um estimulo adequado, eles precisariam estar em posição correta; assim, cada toque dos
dentes funcionaria como uma sessão de acupuntura. Como é muito raro um indivíduo com os dentes
posicionados corretamente, segundo a biocibernética bucal, os desequilíbrios seriam constantes.
Além do mais, o toque do maxilar superior com o inferior promoveria a despolarização
adequada, já que cada uma das arcadas teria polaridade diferente, de forma que, como foi dito, a
superior corresponderia ao feminino, que seria o polo negativo, e a inferior, ao masculino, que seria
o polo positivo. A correta oclusão possibilitaria a despolarização e, assim, ocorreria a formação da
“energia”, que não pode ser quantificada por nenhum aparelho disponível, o que leva o cético a
questionar se elas realmente existem.
326
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
mesmo porque, após muitas pesquisas (que não são citadas e nem se encontram presentes em
periódicos que podem ser consultados na internet), conseguiu-se relacionar cada quatro dentes a
um sistema biológico16.
As funções dos dentes na verdade seriam respiração, bioquímica e postura esquelética,
mastigação, fonética e, por fim, estética, consequência de uma função adequada. Porém, a principal
função dos dentes seria a de manter um padrão respiratório ideal pois eles trabalhariam como
colunas que sustentam o espaço para a língua e permitiriam uma respiração saudável. Essas
colunas corresponderiam ao “tempo”, o vazio corresponderia ao “espaço”; os dois formariam o
“templo”; e a língua o “verbo divino”.
A biocibernética bucal posiciona-se sempre contra as extrações para colocação de
aparelhos corretivos, porque discorda dos argumentos usados pela ortodontia clássica, que diz que
os dentes ficam apinhados porque houve um “mau casamento”, no qual o paciente herdou dentes
grandes do pai e arcada pequena da mãe16.
Pela análise desse autor, quando não houverem fatores dominantes, as chances seriam
de 50% para cada caso; então, teríamos 50% das pessoas com arcada pequena para dentes
grandes e os outros 50% de pessoas com arcadas grandes para dentes pequenos. Ficaria, portanto,
muito claro que isso não é verdade, pois a maioria das pessoas tem arcadas pequenas com dentes
apinhados, o que para a biocibernética bucal ocorre devido à deficiência de crescimento dos
maxilares ocasionada pelos fatores já citados. Além do mais, as extrações de dentes vão diminuir
o espaço interno da boca e consequentemente geraria problemas nas vias áreas respiratória e
digestiva.
327
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Ainda de acordo com essa corrente de pensamento, quando os dentes estão seguindo
a curva de spee, que é o seguimento de um círculo tendo o seu eixo no centro de rotação de glabela,
assim como a de Wilson, que é outro seguimento, atingindo o mesmo ponto, forma-se a uma esfera
perfeita, e por esse motivo a técnica é conhecida como escola esferoidal. O longo eixo dos dentes
deve direcionar-se para o centro de rotação de glabela, conhecido entre os hindus e esotéricos
como sexto chakra ou chackra cerebral, para que essa “energia” flua para ele (FIGURA 3). Caso
contrário, essa energia se dissiparia e, em casos mais acentuados, nos quais houvesse a inversão
das curvas, observar-se-ia o aparecimento de alterações psiquiatras, como esquizofrenia, delírios
persecutórios, podendo culminar com a loucura total.
O trato intestinal também estaria sujeito a diversos tipos de bactérias, e seu pH deveria
estar em torno de 8. Quando este ficasse ligeiramente ácido, as bactérias do meio iriam proliferarse e transformar os aminoácidos em “venenos” para a biologia e que, se alcançassem a corrente
sanguínea, criariam um processo semelhante à septicemia, que seria irreversível. Diante disso, ele
considera esse processo como provável origem da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).
Na verdade, o que ocorreria seria uma alteração intestinal provocada pela acidez local, juntamente
com o excesso de aminoácidos e bactérias que provocariam todo um processo de intoxicação, e
quando estas bactérias patogênicas invadissem o meio sanguíneo trariam consequências drásticas
como a AIDS. Em menor intensidade, levariam a processos mais simples, como colites e
hemorroidas. Obviamente, as evidências para a hipótese de que a AIDS seja causada por uma
infecção por retrovírus são muito mais abundantes, por isso é uma teoria científica, diferentemente
da hipótese levantada por este autor, que não possui respaldo em observações laboratoriais16.
A inclusão do cirurgião dentista na equipe médica aconteceu embasado por inúmeras
evidências em artigos que passaram por rigoroso processo de revisão por pares. Quando isso não
é feito, algumas alegações extraordinárias e outras absurdas podem ser facilmente aceitas pelo
público que não exercita seu ceticismo de maneira saudável. Em várias situações, esse tipo de
conhecimento pode não gerar malefícios para o tratamento clínico, mas em outras, como foi
mostrado, pode alterar completamente o plano de tratamento adotado pelo clínico e passar a ser
prejudicial para o paciente, que não tem a sua queixa resolvida, ou na pior das situações,
desenvolve algum outro problema que não estava ali antes. É preciso analisar com critério as
informações que são disseminadas, para que o conhecimento deturpado dos fatos não prejudique
a vida das pessoas que procuram ajuda de clínicos que passam confiança para a população ao
atestarem, através de diplomas que possuem “a ciência ao seu lado”.
A partir do século XX, o acesso às informações a respeito de literatura científica foi
facilitado, nos dias atuais, além dos livros e dos artigos publicados em revistas especializadas, a
tecnologia contribui com um valor significativo, já que as bases de dados bibliográficos por meio da
internet possibilitam acesso a um grande número de informações. Entretanto, do conteúdo
disponível, apenas 10 a 15% realmente possuem valor científico26.
Assim, com o aumento das informações, a prática odontológica tem sofrido
transformações ao longo dos anos. As tomadas de decisões devem ser pautadas pela discussão e
embasamento em estudos de qualidade.
Diante disso o cirurgião dentista se vê frente a desafios para escolher a conduta mais
adequada e segura para o seu paciente, levando em consideração basear-se na melhor evidência
disponível para abordagem clinica do paciente27.
No meio odontológico para que isso seja realizado da melhor maneira possível, devese levar em consideração a Odontologia Baseada em Evidências, permitindo assim que o
profissional tenha conhecimento dos fundamentos que baseiam a análise da literatura e, deste
modo, interfira positivamente na sua conduta clínica28.
Isso implica em uma abordagem importante pelo profissional, na qual o mesmo utiliza
da melhor evidência disponível para relacionar com o problema do paciente e decidir a melhor
328
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
18. ALBERTINI, F. R. O uso da telerradiografía em norma
lateral como auxiliar no diagnóstico dos distúrbios
obstrutivos respiratórios do sono em crianças com
TDA/H. 2009. Monografia (Dissertação). Faculdade de
Ciências Médicas da UNICAMP. 2009.
19. TORLONI, Luiz Orlando.; ANDRADE, Silvio Henrique.
Revista Sexto Sentido. 2001.
20. FRITSCH, K. M; ISELI, Angelo; RUSSI, Erich W; BLOCH,
Konrad E. Side effects of mandibular advancement devices
for sleep apnea treatment. Am J Respir Crit Care Med. USA,
v.169, n.9, 2001.
21. ALMEIDA, M. A. O.; TEIXEIRA, A. O. B.; VIEIRA, L. S.,
QUINTÃO, C. C. A. Tratamento da síndrome da apneia e
hipoapneia obstrutiva do sono com aparelhos intrabucais.
Rev Bras Otorrinolaringol. 72(5): 699-703. 2006.
22. SERRALTA, Fernanda Barcellos; FREITAS, Patricia Rosa
Rodrigues. Bruxismo e afetos negativos: um estudo sobre
ansiedade, depressão e raiva em pacientes bruxômanos.
JBA, Curitiba, v.2, n.5, 2002.
23. SEGER, Liliana. Odontologia e Psicologia, uma
abordagem integradora. São Paulo: Santos, 1998.
24.
MOLINA,
Omar.
Franklin.
Fisiopatologia
craniomandibular (oclusão e ATM). São Paulo: Pancast
Editorial, São Paulo, 1989.
25. GELD, V. D; OOSTERVELD, P; VAN HECK, G;
KUIJPERS-JAGTMAN A. Smile Attractiveness: Selfperception and Influence on Personality. Angle Orthodontist,
v.77, n. 5, 2007.
26. CRATO, Aline Nascimento; VIDAL, Leticia Ferreira;
BERNARDINO, Patrícia Andrade; CAMPOS, Humberto
Ribeiro Júnior; ZARZAR, Patrícia Maria Pereira Araújo;
PAIVA, Saul Martins; PORDEUS, Isabela Almeida. Como
realizar uma análise crítica de um artigo científico. Arquivos
em Odontologia. Belo Horizonte, v.40, n.1, 2004.
27. CLARKSON, J; HARRISON J; ISMAIL A; NEEDLEMAN I;
WORTHINGTON H. Evidence Based Dentistry for Effective
Practice. London: Martin Dunitz, 2003.
28. ESTRELA, C. Métodos e Técnicas de Ensino. In:
Metodologia Cientifica – Ensino e Pesquisa em Odontologia.
São Paulo: artes Médicas, 2001.
29. FABER, Jorge. Odontologia baseada em evidências: o
fundamento da decisão clínica. Revista Dental Press
Ortodon Ortop Facial. Maringá, v.13, n.1, 2008.
30. WANNMACHER, Lenita. Odontologia Baseada em
Evidências. In: WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C.
Farmacologia Clínica Para Dentistas. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1999.
31. VENTURA, Solange Christtine. Biocibernética bucal.
Disponível
em:
<http://www.curaeascensao.com.br/curaquantica_arquivos/
curaquantica340.html>. Acesso em: 15 nov. 2015.
32. ASTROCIÊNCIA. Astrodiagnose: a cura pelo
conhecimento.
Disponível
em:<
http://w
ww.casalperfeito.com.br/fotos/dentesesq.jpg>. Acesso em:
15 nov. 2015.
v. 03
1. FRANCELIN, M. M. Ciência, senso comum e
revoluções científicas: ressonâncias e paradoxos.
Cin. Inf. Brasília, v. 33, n. 3, 2004.
2. CAMPOS, Fernando Rosseto Gallego. Ciência
tecnologia e sociedade. Florianópolis-SC, 2010.
3. POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica.
São Paulo: Cultrix, 1975.
4. BUNGE, Mário. La ciência, su método y su
filosofia. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1989.
5. LEE, P. S. Ciências Naturais e Pseudociências
em confronto: uma forma prática de destacar a
ciência como atividade crítica e diminuir a credulidade
em estudantes do Ensino Médio. Florianópolis, 2002.
6. KIJAK, E; MARGIELEWICZ, J; GASKA, D; LIETZ,
K. D; WIECKIEWICZ, W. Identification of mastication
organ muscle forces in the biocybernetic
perspective. transport, v. 12, 1992.
7. TELES, Ana Maria Orofino. "Aspectos subjetivos no
ensino/aprendizagem de Bio Cibernética Bucal: uma
investigação em um curso online." 2011. Disponível
em: <http://biblioteca.versila.com/2669353>. Acesso
em 15 nov. 2015.
8. LOYER, Rodrigo Garcia. O tratamento
ortodôntico e ortopédico funcional segundo a
visão
sistêmica.
2009.
55p.
Monografia
(Especialização). Faculdade Unidas do Norte de
Minas, Rio de Janeiro, 2009.
9. ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. A ciência como
forma de conhecimento. Rev. Ciência & Cognição.
2006.
10. KOCHE, José Carlos. Fundamentos da
metodologia científica: teoria da ciência e prática da
pesquisa. Petrópolis-RJ, Editora: Vozes, 1997.
11. MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER,
Fernando. O método nas ciências naturais e
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São
Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2001.
12. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina
Andrade. Metodologia científica. São Paulo: Atlas,
1991.
13. CHALMERS, Alan F. O que é ciência afinal? São
Paulo: Brasiliense, 1993.
14. TAMBOSI, Orlando. Cruzadas contra as
ciências. Florianópolis-SC, 2002.
15. BALDANI, Mário; FIGUEIREDO, Denisar Lopes
de. Biocibernética bucal. São Paulo: Ciberata, 1972.
16. FURLAN, Ernesto; SANTOS, Rodrigo Pavan;
Biocibernética bucal: em busca da saúde perfeita.
São Paulo: Madras, 2006.
17. NOGUEIRA SÁ, Newton. A cura pelos dentes:
biocibernética bucal, uma revolução na saúde. São
Paulo: Ícone, 1990.
n. 01
REFERÊNCIAS
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
alternativa de tratamento, sendo que é necessário que o profissional desenvolva o hábito de realizar
leituras críticas da literatura científica e assim poder julgar a validade das teorias29.
Os paradigmas existentes sobre o pleno conhecimento e validação de estudos
científicos a partir da prática odontológica baseada em evidências, permite que os acadêmicos e
professores da comunidade acadêmica continuem questionando as suas práticas, o que resulta em
produções de estudos de qualidade e avaliações críticas e permanentemente desafia as verdades
“absolutas e imutáveis”30.
Palavras-chave: Administração de medicamentos. Enfermagem. Erros. Iatrogenia.
ABSTRACT: Introduction - The term iatrogenic is of Greek origin meaning the unwanted result of
unintentional action of health professionals to cause injury to the patient. It features a professional
fault for negligence related to observation, monitoring or therapeutic intervention. Objective: identify
scientific publications on the main errors that contribute to iatrogenic administration of medications
among nursing professionals in national healthcare journals in the period between 2009 and 2015.
Methods: consulted to SCIELO database. They used the keywords: iatrogenic, error, medication
administration, nursing. Was selected 18 articles. The findings revealed a predominance of studies
published in the years 2010 and 2011, developed in Nursing, under the framework of descriptive
methodology. Results: We found a set of factors related to the main mistakes that lead to iatrogenic
first appears overload of work, followed by a few professionals, lack of attention, lack of knowledge,
inappropriate prescriptions, stress, poor environment and lack of physical resources. Conclusion:
It was felt that there is need to implement more effective processes about medication administration,
with significant improvement of technical / scientific basis by the nursing universities.
Key-words: Medication administration. Nursing. Errors. Iatrogeny.
1 INTRODUÇÃO
Define como erro de medicação qualquer evento evitável que pode causar ou favorecer
329
v. 03
RESUMO: Introdução - O termo iatrogenia é de origem grega que significa o resultado indesejado
da ação não intencional dos profissionais de saúde de causar prejuízo ao paciente2.Caracterizando
uma falha profissional por negligência, relacionado à observação, monitorização ou intervenção
terapêutica. Objetivo - Identificar em publicações científicas sobre os principais erros que
contribuem para Iatrogenias na administração de medicamentos entre os profissionais de
Enfermagem em periódicos nacionais da área de saúde, no período compreendido entre 2009 e
2015. Métodos - Consultou-se a base de dados SCIELO. Utilizaram-se as palavras-chave:
iatrogenia, erro, administração de medicamentos, enfermagem. Selecionou-se 18 artigos. Os
achados revelaram predomínio de estudos publicados nos anos de 2010 e 2011, desenvolvidos na
área de Enfermagem, sob o referencial da metodologia descritiva. Resultados - Constatou-se um
conjunto de fatores relacionados aos principais erros que levam a iatrogenias em primeiro lugar
aparece a sobrecarga de trabalho, seguido por poucos profissionais, falta de atenção, conhecimento
insuficiente, prescrições inadequadas, estresse, ambiente desfavorável e falta de recursos físicos.
Conclusão: Percebeu-se que há também necessidade de implementação de processos mais
eficazes acerca da administração de medicamentos, com melhora significativa de embasamento
técnico/científico por parte das universidades de enfermagem.
n. 01
Luciene Dias Ribeiro1, Lucinete Aires Cunha1, Gabriela Ortega Coelho Thomazi2; Flavio Dias
Silva²; Raimundo Célio Pedreira²; Larissa Jacome B Silvestre²; Flavio Dias Silva²; Tiago Farret
Gemelli².
_________________
1
- Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2
– Docentes ITPAC Porto Nacional
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
ANALYSIS OF CONTRIBUTING TO ERRORS IN THE PROCESS OF ADMINISTRATION
IATROGENIC MEDICINES FOR NURSING
ISBN 978-8569629-07-8
Prefixo Editorial: 69629
ANÁLISE DOS ERROS QUE CONTRIBUEM PARA IATROGENIAS NO PROCESSO DE
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA ENFERMAGEM
330
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
prejuízo ao paciente enquanto o fármaco está sob o controle do profissional de saúde, paciente ou
consumidor. Tais situações estão ligados à prática profissional incluindo prescrição médica;
comunicação da equipe; descrição das embalagem e nomenclatura dos medicamentos; bem como
preparo, administração e monitoração do procedimento (PRAXEDES et al. 2009).
O termo iatrogenia é de origem grega que significa o resultado indesejado da ação não
intencional dos profissionais de saúde de causar prejuízo ao paciente. Isso caracteriza uma falha
profissional por negligência, relacionado à observação, monitorização ou intervenção terapêutica
(MAIA et al. 2009).
Considera-se que administração de medicamentos compõe umas das maiores
responsabilidades atribuída à enfermagem. Para o seu cumprimento é imprescindível a aplicação
de diversos princípios científicos que fundamentam a ação do enfermeiro, de maneira que promova
a segurança do paciente trazendo uma visão como um todo dos procedimentos técnicos e básicos
essenciais à profissão (SILVA e GARCIA, 2009).
A participação do enfermeiro é de grande importância em todo momento da assistência
oferecida ao paciente, para sua execução é necessária a aplicação de vários princípios científicos
que fundamentam a ação do enfermeiro, de forma a promover a segurança do paciente tendo uma
visão como um todo, sendo a administração de medicamentos um dos fatores mais propícios a
acontecimento de erros acarretando danos aos pacientes (SILVA e GARCIA, 2009). Essa situação
determina que essa prática seja realizada de forma segura e adequada para o paciente, logo, os
erros devem ser precavidos e evitados (SILVA e GARCIA, 2009).
Os processos envolvidos com os erros de medicamentos e eventos adversos no ambiente
de saúde estão relacionados à seleção dos medicamentos, prescrição médica, distribuição,
preparo, administração e ao monitoramento da ação ou reação do medicamento (SILVA e GARCIA,
2009; SANTOS et al. 2009). O preparo e administração dos medicamentos é uma das principais
funções da equipe de enfermagem, sempre sob supervisão do enfermeiro, onde deve ser
considerada a cultura dos “9 certos”, que se refere a paciente e horário certo, droga, via, dose,
documentação, ação da droga, forma e resposta certas. Por isso muitas vezes se tem um
pensamento equivocado de que esse profissional tem a obrigação de evitar o erro de medicação,
sem levar em consideração outros fatores relacionados à cadeia medicamentosa (SANTOS et al.
2009).
A prática segura é de suma importância, e para isso o profissional deve ter os conhecimentos
básicos para calcular as doses, preparar as soluções e realizar várias outras atividades para evitar
possíveis erros na administração de medicamento (SILVA e GARCIA, 2009; POTTER e PERRY,
2009). Dessa forma, esse procedimento deve ser realizado pelo enfermeiro ou supervisionado pelo
mesmo (SILVA e GARCIA, 2009). Vale ressaltar que a escolha da via e a quantidade de medicação
a ser injetada também são pontos que devem ser valorizados (POTTER e PERRY, 2009).
Mesmo a administração de medicamento sendo um procedimento de características de alta
complexidade na prática assistencial de enfermagem, na maioria das vezes essa atividade é
desempenhada por profissionais de nível médio – técnicos e auxiliares de enfermagem, sob
supervisão dos enfermeiros; Mesmo com funções delegadas à sua equipe a responsabilidade que
o enfermeiro tem nos atendimentos assistenciais e nos cuidados à saúde do paciente não se
minimiza (CORTEZ et al. 2010).
O Código de Ética do profissional de Enfermagem resolução COFEN 311/07 enfatiza
proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes da imperícia que incide na ação
sem conhecimentos técnicos apropriados ou com uso dos conhecimentos técnicos de forma
equivocada por falta de habilidade e conhecimento teórico científico do profissional da área
(PRAXEDES e TELLES FILHO, 2011). A imprudência se caracteriza pela precipitação, omissão,
ato impensado destituído da precaução necessária para a situação profissional; negligência revelase pela omissão, abstenção, indolência aos deveres que uma situação exigir (HOEFEL et al. 2009;
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na busca realizada nas bases de dados científicas foram inicialmente encontradas 61
publicações em português, com grande potencial de inclusão para esta revisão, pois abordam a
temática: análise dos erros que contribuem para iatrogenias no processo de administração de
medicamentos pela enfermagem, encontrados através das seguintes palavras-chaves:
administração de medicamentos, enfermagem, erros, iatrogenias. Desses artigos, 35 foram
considerados estudos com relevância para realização da seguinte pesquisa bibliográfica, os quais
331
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
2 METODOLOGIA
Este trabalho é um estudo bibliográfico do tipo revisão de literatura por meio de consulta
eletrônica, acerca dos principais erros que contribuem para iatrogenias cometidos na administração
de medicamentos pela enfermagem, a partir de artigos publicados acerca da temática.
Elaborado de acordo com as etapas metodológicas o estudo segue os seguintes critérios:
definição da pergunta científica; identificação das bases de dados a serem consultadas; definição
das palavras-chave; seleção dos artigos que abordam a temática; aplicação dos critérios de inclusão
e exclusão; avaliação crítica dos artigos selecionados; elaboração de um resumo crítico sintetizando
as informações dispostas nos artigos; apresentação de uma conclusão informando a evidência
sobre o assunto descrito no trabalho (SAMPAIO e MANCINI, 2007).
As bases de dados selecionadas para elaboração deste estudo foram: Biblioteca Científica
Eletrônica Online (Scielo).
O levantamento de dados ocorreu no período de março e abril de 2015. Foram consideradas
todas as publicações encontradas nas bases de dados mencionadas que abordassem o tema
relacionado aos principais erros que contribuem para iatrogenias no processo de administração de
medicamentos pela enfermagem, entre os anos de 2009 a 2015.
Com o intuito de averiguar quais os fatores que levam ao erro e contribuem para iatrogenias
no processo de administração de medicamentos pela equipe de enfermagem, a busca dos artigos
foi realizada a partir das palavras-chave contempladas na Biblioteca Virtual em Saúde – Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS): Administração de medicamentos, enfermagem, erro, iatrogenia.
Em princípio, a seleção dos artigos se deu após a leitura analítica dos resumos e a seleção
dos artigos foi realizada em duas fases. Na 1ª fase foi realizada uma pré-análise de exploração do
material onde se realizou a leitura do título e do resumo. Já na 2ª etapa, o material foi explorado de
forma abrangente e a análise baseou-se na leitura dos artigos completos na íntegra, artigos originais
e de revisão cujos objetivos principais se alinhavam com a averiguação dos principais erros que
contribuem para iatrogenias no processo de administração de medicamentos pela enfermagem,
publicados no idioma português.
A apreciação dos dados foi efetuada através da análise descritiva e analítica dos artigos. A
presente pesquisa respeitou os créditos dos autores visando o entendimento fidedigno das
informações contidas nos estudos analisados.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
PRAXEDES e TELLES FILHO, 2011).
Considerando-se que a administração de medicamento é uma das funções mais complexas
realizadas pela enfermagem, faz deste estudo relevante, por ter altos índices de mortalidade, pois
o profissional deve reconhecer as alterações no processo de administração, seus efeitos adversos
e possíveis sequelas em decorrência de técnicas errôneas, de forma que o paciente não desenvolva
maiores complicações que venham afetar a sua qualidade de vida.
Nesse sentido, o presente estudo objetivou avaliar quais são os principais fatores que levam
ao erro cometido pela equipe de enfermagem no processo de administração de medicamentos.
Levando em consideração que este estudo busca uma resposta a uma pergunta, sendo a pergunta
norteadora desse estudo: quais os fatores que levam ao erro e contribuem para iatrogenias no
processo de administração de medicamentos pela equipe de enfermagem?
332
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
foram analisados criteriosamente. Após a exclusão dos artigos que foram repetidos e os que não
abordavam a temática de forma satisfatória, foram selecionados 18 artigos, compondo a amostra
total a ser discutida nesse estudo. O Quadro 1 demonstra os estudos incluídos.
Fforam selecionados 18 artigos para integrar o estudo, mostrando autores, ano de
publicação, título, periódico e país de publicação. Destes trabalhos selecionados através dos
critérios de inclusão foram encontrados 03 artigos referentes a 2009, 05 publicados em 2010, 04
referentes a 2011, 01 artigo de 2012, 01 artigo de 2013, 03 artigos de 2014, 01 com publicação em
2015. Observou-se que o tema é bastante abordado no país, podendo-se notar várias publicações
sobre a temática, o que mostra a importância deste estudo por abordar os principais erros que levam
a iatrogenias relacionados ao cotidiano sendo este um fato que chama bastante atenção.
Considera-se que administração de medicamentos compõem umas das maiores
responsabilidades atribuída à enfermagem, que envolve não apenas a equipe de enfermagem, uma
vez que médicos e equipe de farmácia também são envolvidos e todo o processo está susceptível
a erros (CAMERINI e SILVA, 2011).
Pode-se perceber na literatura pesquisada que os estudos esclarecem que a administração
de medicamentos é alvo de grande incidência de erro e iatrogenias (MAIA et al. 2013). As principais
causas que levam a iatrogenias na administração de medicamento são: os erros que podem estar
relacionados à prática profissional, déficit de conhecimento, procedimentos, problemas de
comunicação, incluindo o uso de medicamento, sendo também abordada nos estudos a semelhança
dos medicamentos como um dos fatores de maior ocorrência de erros (SILVA e GARCIA, 2009;
POTTER e PERRY, 2009; OLIVEIRA e KANASHIRO, 2011).
Erro na medicação é definido como qualquer evento que pode ocasionar ou induzir ao uso
inadequado do medicamento podendo prejudicar o paciente enquanto o medicamento está sob a
responsabilidade do profissional de saúde, paciente ou consumidor (SILVA e GARCIA, 2009).
Verifica-se que a temática abordada é de suma importância por ser um tema bastante atual
e por ter grandes índices de erros no processo de administração de medicamentos logo, é
necessária maior atenção e requer um cuidado rigoroso da equipe de enfermagem, pois a
ocorrência de erros e iatrogenias estão direcionadas também ao ambiente profissional (MAIA et al.
2013).
Os erros são cometidos de várias formas, podendo acometer o paciente, dentre eles
destacam-se os principais erros, definidos resumidamente no Quadro 2. Acredita-se que o
procedimento realizado de maneira eficaz reduz os índices alarmantes de iatrogenias (SANTANA
et al. 2012). O enfermeiro deve supervisionar e executar as atividades de administração de
medicamentos, o que necessita de conhecimento sólido sobre as técnicas de administração,
reações adversas e interações medicamentosas (SILVA et al. 2015).
De modo que vários estudos demonstram ser necessário que o profissional de saúde esteja
sempre atento a possíveis complicações no processo de administração de medicamentos. Dessa
forma, surgiu a necessidade da padronização do processo de administração de medicamentos, para
que os profissionais de enfermagem saibam antecipar qualquer falha, uma vez seguida a ordem
dos “9 certos” que se refere a paciente e horário certo, droga, via, dose, documentação, ação da
droga, forma e resposta certas, como medidas de garantir a segurança do paciente (SANTOS et al.
2014).
Outro estudo de revisão de literatura, também aponta as definições mencionadas no Quadro
2. No que diz respeito à seleção do medicamento o estudo também aborda que os elevados índices
de iatrogenias podem estar relacionados com a demora na identificação dos eventos adversos o
que torna o fator preocupante (SANTOS et al. 2010).
De acordo com a análise realizada com os trabalhos averiguaram-se os fatores que
contribuem para incidência de erros no processo de administração de medicamentos. Notam-se nos
estudos avaliados, que os fatores descritos na Tabela 1 são os maiores causadores de óbitos em
333
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
unidades hospitalares, devido à alta taxa de morbidade.
UM estudo realizado com 72 profissionais de enfermagem, em Diamantina no estado de
Minas Gerais onde se constatou uma grande incidência de ocorrência de erros, no que se refere
aos fatores que contribuem para iatrogenias destacou-se com 22 (30%) muitos pacientes/excesso
de trabalho, com 16 (22%) relataram que há poucos profissionais e 15 (21%) falta de atenção dos
profissionais, seguida 8 (11%) com pouca experiência/conhecimento insuficiente, 5 (6%)
correspondendo a prescrições inadequadas, 3 (5%) abordou o cansaço/estresse fatores que
contribuem ao erro, bem como também tumulto/ambiente desfavorável 2 (4%) e a falta de recursos
físicos 1 - 1% (CAMERINI e SILVA, 2011). Comparando este estudo com outros estudos realizados
pode-se notar que a ocorrência de erros é o fator de maior destaque, tornando-se um fato comum
o que demonstra a necessidade de um ambiente seguro e tranquilo para a realização dos
procedimentos e contribuindo para um melhor desempenho da equipe no ambiente profissional
(POTTER e PERRY, 2009; BELELA et al. 2011).
Os artigos tratam dos mais variados tipos de iatrogenias, dentre os fatores analisados
destacaram-se 08 que abordam a relação da ocorrência desses eventos com a prática de
enfermagem. A figura 1 demostra a quantificação de artigos que citaram os fatores que contribuíram
para a ocorrência dos erros relacionados ao preparo e à administração dos medicamentos abordada
nos 18 artigos encontrados nas bases de dados pesquisadas., logo após a análise das informações
foram levantadas questões referentes aos fatores que contribuem para iatrogenias no processo
medicamentoso,
já
demonstrados na tabela 1, FIGURA 1 – Quantidade e porcentagem de artigos que citaram os
fatores que contribuem para iatrogenias no processo de
comparando com o gráfico 1
administração de medicamentos pela enfermagem
obtiveram
os
seguintes
resultados: 6 (32%) muitos
pacientes/excesso
de
20
18
18
trabalho, com 4 (22%)
16
relataram que há poucos
14
profissionais e 3 (17%)
12
10
destacou-se a falta de
8
6
atenção dos profissionais,
6
4
3
4
2
seguida 2 (11%) com pouca
32%
22% 17% 11% 1 6% 1 6% 1 6% 100%
2
experiência/conhecimento
0
insuficiente,
1
(6%)
correspondendo
a
prescrições inadequadas, 1
(6%)
abordou
o
quatidade
cansaço/estresse fatores que
porcentagem
contribuem ao erro, bem
como
também
Fonte: Dados da pesquisa
tumulto/ambiente
desfavorável 1 (6%) (CAMERINI e SILVA, 2011).
Observou-se nos estudos analisados que dos principais tipos de iatrogenias provocadas
pela equipe de enfermagem a que teve maior destaque foi à provocada por erros na administração
de medicamentos, o que torna o fato bastante preocupante por ser um procedimento de muita
responsabilidade por expor a segurança do paciente (SANTOS e CEOLIM, 2009; TEIXEIRA e
CASSIANI, 2010; SANTOS et al. 2014).
Sendo a enfermagem uma profissão que tem por essência o cuidado ao ser humano, sabese que os eventos adversos estão relacionados aos medicamentos e os erros podem ocorrer em
qualquer etapa do processo de administração de medicamento, desde a prescrição, transcrição,
334
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
distribuição, administração e monitorização das reações adversas. Neste processo a prescrição
medicamentosa tem papel fundamental na prevenção destes eventos e, atualmente, sabe-se que
prescrições ilegíveis ou incompletas, bem como a falta de uma padronização da nomenclatura de
medicamentos prescritos, uso de abreviaturas e a presença de rasuras são fatores que podem
contribuir significativamente com os eventos adversos (CORTEZ et al. 2010; PRAXEDES e TELLES
FILHO, 2011; SANTOS et al. 2014).
A legislação brasileira enfatiza que a prescrição médica deve ser descrita de forma legível,
clara e completa apresentando o nome do paciente, número de registro e leito do cliente, data,
nome do medicamento a ser administrado, dosagem, via, frequência e horário de administração, a
duração do tratamento, e ainda a assinatura legível do médico e o número de seu registro no
conselho de classe correspondente - CRM (CORTEZ et al. 2010).
No processo de administração de medicamento os atos inseguros e enganos, a
desatualização quanto aos avanços tecnológicos e científicos em procedimentos, bem como o
manuseio de equipamentos de forma inadequada e desatenta são fatos que levam a refletir sobre
a importância do conhecimento técnico-científico da equipe de enfermagem (OLIVEIRA e
KANASHIRO, 2010; BELELA et al. 2011).
Os fatores que levam a iatrogenias são diversos, entre eles se encontram: a deficiência da
formação acadêmica e a inexperiência que são fatores contribuintes ao erro, o que aponta o fator
humano como uma das causas principais o que torna o fato comum, pois está interligada a pouca
habilidade dos profissionais recém-formados (OLIVEIRA e KANASHIRO, 2010; MARTINS e
COSTA, 2014).
O ambiente hospitalar muitas vezes se apresenta de forma desorganizada, com falta de
recursos humanos, barulho, descumprimento aos padrões de assepsia, condições inadequadas de
estrutura como baixa luminosidade, são fatos rotineiros que também contribuem significativamente
para ocorrências de erros, sendo que todos em sua maioria são evitáveis (SOUZA et al. 2014).
Ao analisar os resultados de um estudo realizado em um hospital público municipal da rede
sentinela – ANVISA. Constatou-se uma taxa de erro elevada no preparo de medicamentos. No
estudo desse autor destacou-se como erro principal as falhas na organização da tarefa e na
identificação do medicamento, além da diluição coletiva durante o procedimento, como forma de
agilizar as tarefas destinadas aos profissionais de enfermagem (PRAXEDES e TELLES FILHO,
2011).
Outro aspecto bastante citado nos estudos analisados foi sobre as providências tomadas
pelas instituições mediantes ao erro no processo de administração de medicamentos, que enfatiza
como forma de prevenção dos erros ou correção de erros já cometidos, sendo a maneira mais viável
a notificação dos erros (GIMENES et al. 2009; FARIAS et al. 2010; SANTANA et al. 2012).
Porém outros estudos revelaram que há uma resistência dos profissionais como também
dessas instituições em reconhecer que houve a existência do erro, provocando assim uma
dificuldade na identificação precoce. Demonstrou-se a falta de preparo de algumas instituições em
elaborar estratégias na prevenção de técnicas errôneas como forma de evitá-los, bem como a
atualização frequente da equipe proporcionando conhecimentos sólidos em relação à administração
de medicamentos, como a educação permanente (SILVA e GARCIA, 2009; POTTER e PERRY,
2009; BELELA et al. 2011; MARTINS e COSTA, 2014).
A educação permanente é uma forma de incrementar os conhecimentos adquiridos na
formação curricular como também atualizações constantes, aprimoramento e reciclagem são
estratégias que auxiliam na redução das falhas durante o processo de administração de
medicamentos (MAIA et al. 2013). Para reduzir falha na execução da administração de
medicamentos é preciso utilizar algumas estratégias, como por exemplo, utilizar sempre os nove
certos. E o enfermeiro deve constantemente avaliar o processo de administração de medicamentos
junto a equipe e levantar as dificuldades no momento do preparo e aplicação das medicações
5 REFERÊNCIAS
BELELA ASC, PEDREIRA MLG, PETERLIN MAS. Erros
de medicação em Pediatria. Rev Bras Enferm, Brasília
2011 Mai/Jun; 64(3): 563-9.
CAMERINI FG, SILVA LD. Segurança do paciente:
análise do preparo de medicação intravenosa em
hospital da rede sentinela. Texto Contexto Enferm,
Florianópolis, 2011 Jan /Mar; 20(1): 41-9.
CORTEZ EA, SOARES GR, S.; SILVA ICM, CARMO TG,
CARMO TG. Preparo e administração venosa de
medicamentos e eventos adversos a medicamentos
pela equipe de enfermagem. Caderno de Graduação ros
sob a ótica da Resolução COFEN n° 311/07. Acta Paul
Enferm 2010;23(6):843-51.
FARIAS G.M, COSTA IKF, ROCHA KMM, FREITAS MCS,
DANTAS RAN. Iatrogenias na assistência de
enfermagem: características da produção científica
no período de 2000 a 2009. Revista cientifica
internacional. 2010 Jan/Fev; Ano 3 - N º 11.
FRANCO JN, RIBEIRO G, MARIA D’INNOCENZO M,
BARROS BPA. Percepção da equipe de enfermagem
sobre fatores causais de erros na administração de
medicamentos. Rev Bras Enferm, Brasília 2010 Nov/Dez;
63(6): 927-32. 927
GIMENES FRE, TEIXEIRA TCA, SILVA AEBC, OPTIZ
SP, MOTA MLS, CASSIANI SHB. Influência da redação
da prescrição médica na administração de
medicamentos em horários diferentes do prescrito.
Acta Paul Enferm. 2009;22(4):380-4.
Hoefel HHK; Magalhaes AMM, Falk MLR. Análise das
advertências geradas pelas chefias de enfermagem.
Rev Gaúcha Enferm. 2009;30(3):383-9.
MAIA LFS, BASTIAN JC. Iatrogenias: ações do
enfermeiro na prevenção de ocorrências iatrogênicas
em unidade de terapia intensiva. Revista Recien. 2013;
3(7):27-35.
MARTINS SA, COSTA GD. Fatores relacionados aos
POTTER PA, PERRY AG. Fundamentos de
Enfermagem. 7. ed., Rio de Janeiro: Elsivier, 2009, p.750753.
PRAXEDES MFS, TELLES FILHO PCP, GOBBO AFF.
Erros de medicação: o enfermeiro, o farmacêutico e
as ações educativas como estratégias de prevenção.
Perspectivas On Line 2009; 3(10):114-119.PRAXEDES
MFS, TELLES FILHO PCP. Erros e ações praticadas
pela instituição hospitalar no preparo e administração
de medicamentos. Rev Min Enferm 2011;15(3): 406-411.
SAMPAIO RF, MANCINI MC. Estudos de revisão
sistemática: um guia para síntese criteriosa da
evidencia cientifica. Rev Bras fisioter 2007 Jan/Fev;
v11.n1, p.83-89.
SANTANA JCB, SOUSA MA, SOARES HC, AVELINO
KSA. Fatores que influenciam e minimizam os erros na
administração de medicamentos pela equipe de
enfermagem. Revista Enfermagem. Belo Horizonte, v.15,
n.1, p.122-137, 2012.
SANTOS DM, SOUZA OV, NASCIMENTO ALS,
PEREIRA JS, SANTOS MJC, ALVES MC. Segurança do
paciente: fatores causais Ciências Biológicas e da Saúde
2014.
SANTOS JC, CEOLIM MF. Iatrogenias de Enfermagem
em pacientes idosos hospitalizados. Rev Esc Enferm
USP .2009;43(4):810-7.
SANTOS MRS, BIAGIONI BC, FARIA AL, SANTOS
TCMM. Iatrogenia medicamentosa: a culpa é humana, ou
o culpado é o sistema? Universidade do Vale do Paraíba
2010.
SILVA ALNV, SILVA MCF, DUARTE SJRH, SANTOS RM.
Infrações e ocorrências éticas cometidas pelos
profissionais de enfermagem: revisão integrativa. Rev
Enferm UFPE on line.2015 Jan; 9(1):201-11
SILVA GC, GARCIA CA. Erro de medicação:
estratégias e novos avanços para minimizar o erro.
335
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
4 CONCLUSÃO
Neste trabalho evidenciou-se que a maior concentração de artigos científicos foi sobre os
fatores que contribuem para iatrogenias, destacando a realidade vivida pelos enfermeiros. Após a
análise dos artigos pode-se responder à questão norteadora desse estudo, onde se pode evidenciar
que o principal erro que contribui para iatrogenias é a sobrecarga de trabalho, conduzindo os
profissionais de enfermagem a erros na administração de medicamentos. Sabendo que a
sobrecarga de trabalho é um dos fatores de maior destaque atrelado ao número reduzido de
profissionais no ambiente de trabalho, tal fato torna-se preocupante por comprometer a segurança
do paciente, sendo necessária a readequação das instituições para diminuição da sobrecarga de
trabalho dos profissionais visando o cuidado com o paciente, Percebeu-se também necessidade de
implementação de processos mais eficazes acerca da administração de medicamentos, com
melhora significativa de embasamento técnico/científico por parte das universidades de
enfermagem, para que o número de casos de erros de administração de medicamentos seja
minimizado.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
(FRANCO et al. 2010).
Também se pode evidenciar em relação à educação permanente e atualizações não sendo
um fato rotineiro na vida dos profissionais que foram avaliados através dos estudos, o que torna o
fato preocupante. As instituições de saúde é uma das principais contribuintes para esse processo
de aprendizado constante, ampliando o conhecimento dos profissionais desenvolvendo maiores
habilidades promovendo uma maior segurança do paciente bem como do próprio profissional
(SANTANA et al. 2012; MAIA et al. 2013).
ANATOMIA ÓSSEA E AS CONSEQUÊNCIAS EM DECORRÊNCIA DA OSTEOARTROSE Revisão de literatura
ANATOMY BONE AND CONSEQUENCES ARISING OUT OF OSTEOARTHROSIS - Literature
Review
Prefixo Editorial: 69629
v. 03
José Antônio Rodrigues de Carvalho¹; Heitor da Mata Xavier¹; Matheus Cardoso Neves¹; Murilo Póvoa
Oliveira Lustosa¹; Raymundo do Espirito Santo Pedreira²; Asterio Souza Magalhães Filho²; Flávio Dias
Silva².
ISBN 978-8569629-07-8
Rev Enferm UNISA 2009; 10(1) :22-6.
SOUZA FT, GARCIA MC, RANGEL PPS, ROCHA PK.
Percepção da enfermagem sobre os fatores de risco
que envolvem a segurança do paciente pediátrico. Rev
Enferm UFSM. 2014 Jan/Mar; 4(1):152-162
TEIXEIRA TCA, CASSIANI SHB. Análise de causa raiz:
avaliação de erros de medicação em um hospital
universitário. Rev Esc Enferm USP. 2010;44(1):139-46
n. 01
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO - Define-se a osteoartrose e/ou osteoartrite como uma doença assintomática e
degenerativa, que em sua evolução provoca a degeneração na cartilagem articular. Classificada
como uma doença multifatorial e progressiva leva a incapacidade funcional ao acometido. Sua
incidência maior é entre indivíduos acima de 65 anos de idade, com prevalência em indivíduos do
sexo feminino. No mundo, a osteoartrose de joelho atinge 15% da população laboral. No Brasil, o
INSS informa que 65% dos auxílios-doença são para esta patologia incapacitante. Objetivou-se
analisar quais os métodos mais eficazes no tratamento fisioterapêutico da Osteoartrose de joelho
em idosos. Os artigos utilizados foram obtidos por meio de uma pesquisa bibliográfica nas bases
de dados Medline, Lilacs e Google Acadêmico. Foram escolhidos trabalhos no período de 1979 a
2014; e foram selecionados 18 artigos publicados na língua portuguesa. Os critérios de exclusão
foram artigos que relatavam pacientes com idade inferior a 50 anos. O uso da fisioterapia
convencional assessorada por recursos de fisioterapia aquática, eletroterapia e controle da
obesidade obtive-se melhoras na qualidade de vida dos indivíduos portadores da osteoartrose de
joelho. Os métodos abordados, em sua maioria, melhoram o quadro álgico e a funcionalidade dos
indivíduos acometidos pela Osteoartrose de joelho, o que nos leva a concluir que um diagnóstico
precoce da Osteoartrose de joelho e uma intervenção, também, precoce com o fisioterapeuta e
outros profissionais de saúde visam prevenir danos e perda da função no indivíduo portador da
Osteoartrose de joelho.
Palavras chave: fisioterapia, osteoartrose, osteartrite, idoso, tratamento fisioterapêutico e dor.
ABSTRACT - It is defined osteoarthritis and/or osteoarthritis as an asymptomatic degenerative
disorder that, in its evolution, causes the degeneration of articular cartilage. Classified as a
multifactorial and progressive disease leads to the functional disability of the affected. Its incidence
is higher among individuals over 65 years of age, with a prevalence in females. Worldwide,
osteoarthritis of the knee, reaches 15% of the working population. In Brazil, the INSS reports that
65% of aid-disease are for this disabling disease. This study aimed to analyze what methods would
be most effective in physical therapy for knee osteoarthritis in the elderly, whose articles used were
obtained through a literature search in Medline, Lilacs and Google Scholar. Considering the period
from 1979 to 2014; in which we selected 18 articles published in Portuguese. The use of conventional
physical therapy advised by aquatic physiotherapy resources, electrotherapy and obesity control got
to improvements in the quality of life of individuals with knee osteoarthritis. Conclusion: The methods
discussed in, mostly improve pain symptoms, the functionality of individuals affected by osteoarthritis
of the knee; which leads us to conclude that an early diagnosis of knee osteoarthritis and an
intervention also early with physical therapists and other health professionals aim to prevent damage
and loss of function in the individual with knee osteoarthritis.
336
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
erros de administração de medicamentos entre
profissionais de enfermagem: revisão integrativa da
literatura. Revista iberoamericana de educación e
investigación en enfermería 2014; 4(2):54-62.
OLIVEIRA MCP, KANASHIRO CA. A responsabilidade
da equipe de enfermagem na administração
medicamentosa. Revista eletrônica multidisciplinar.2010;
vol.2.Nº3
337
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
1 INTRODUÇÃO
Segundo Coimbra et al (2004) a artrose além de ser uma doença multifatorial e crônica,
leva a uma incapacidade funcional progressiva. Sendo associada a aspectos mecânicos. Essa
patologia é a mais comum das doenças articulares, é caracterizada por baixa massa óssea e
decomposição da microarquitetura do tecido ósseo, resultando em um aumento da fragilidade óssea
e sensibilidade à fraturas. O abalo econômico é enorme, devido a incapacidade que provoca nos
pacientes como a dificuldade de realização de alguns trabalhos.
Artrose é um mal que atinge tanto mulheres quanto homens e sua incidência aumenta
com o peso anormal e idade avançada. Cerca de trinta e cinco (35) por cento das artroses ocorrem
nos joelhos de pessoas que possuem mais de trinta (30) anos de idade. As pessoas idosas são as
principais vítimas da doença, devido aos impactos já sofridos pela cartilagem, além do seu desgaste
natural devido à idade. A artrose pode chegar ao grau de Artrite, quando há uma inflamação nas
articulações, devido o atrito. Essa patologia é dividida basicamente em dois grupos: primária,
formada por indivíduos que já possuem um patrimônio genético e a secundária, formada por
pessoas que adquiriram a patologia em determinada fase da vida.
Artrose é um processo onde ocorre degeneração da cartilagem. Nas primeiras fases a
cartilagem torna-se mais áspera, fazendo com que aumente o atrito de dois ou mais ossos durante
o movimento da articulação. A manutenção do estado de dor se relaciona com o sistema nervoso
central e periférico. Inicialmente a hipersensibilidade apresenta-se apenas no local afetado. Porém,
com o avanço da patologia, mecanismos de sensibilização central e periférica influenciam na
manutenção e agravamento da dor. São exemplos de articulações acometidas pela artrose: os
joelhos, os tornozelos, os dedos da mão e dos pés, no quadril, nas vértebras da coluna, os ombros,
os cotovelos, os punhos, a mandíbula, entre outras. Porém, a artrose ocorre principalmente no
joelho e no quadril.
Existem três tipos de tratamento: farmacológico, não farmacológico e cirúrgico. O
farmacológico é fundamentado basicamente em analgésicos e anti-inflamatórios. O não
farmacológico objetiva programas educacionais. O tratamento cirúrgico normalmente é realizado
em artrose de grau 2 e 3, porém, é necessária a indicação de um ortopedista.
Com o crescimento e o envelhecimento da população mundial, o número de pessoas
idosas que se encontram na zona de risco para fraturas está aumentando significantemente. Dessa
forma, os estudos em artrose tem aumentado e despertado grande interesse em saúde pública.
Este artigo tem como principal finalidade, estimular a compreensão da sociedade sobre as
características, as formas de tratamento, as consequências e um melhor entendimento geral sobre
a doença, para que assim, o indivíduo possa procurar um especialista ao perceber alguns sintomas.
Essa revisão de literatura tem como objetivos, descrever as alterações anatômicas
sofridas pelo sistema ósseo em decorrência da artrose registradas nas pesquisas levantadas.
Conhecer que a população está mais exposta a problemas físicos relacionados a esta patologia.
Esclarecer as alterações relacionadas a doença que influenciam na qualidade de vida dos
indivíduos com a mesma.
2 METODOLOGIA
Entre fevereiro e março de 2015, foi conduzida uma busca nas bases de dados
eletrônicos Scielo, LILACS englobando o período de 2004 até 2013. Foram utilizados os seguintes
descritores extraídos do vocabulário estruturado e trilingue DeCS - Descritores em Ciências da
Saúde. Artrose. Osteoartrite. Arthrosis. Foram encontrados 41 artigos, dentre os quais 28 foram
selecionados por abordar as decorrências anatômicas em virtude dessa patologia assim como os
demais trabalhos relacionados as formas de tratamento mais utilizadas atualmente.
A partir da análise dos 28 artigos, foram identificados 10 que estavam diretamente
relacionados, por meio de desenvolvimento, avaliação teste, ou discussão aos índices subjetivos
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Keywords: physical therapy, osteoarthritis, elderly, physical therapy and pain.
Tabela 1. Formas de tratamento, duração e faixa etária de paciente em estudo sobre artrose
AUTORES
FORMAS
DE TEMPO
DE FAIXA
TRATAMENTO
TRATAMENTO
ESTUDADA
SANTOS, F.C. et al
MORGAN, C.R. et al
MASCARENHAS, G.L.
et al
Utilização
de
clonixinato de lisina
Estimulaçâo
elétrica
nervosa transcutânea
Fisioterapêutico
ETÁRIA
De 15 à 30 dias
Média de 72 anos
22 dias
Média de 67 anos
Não identificado
Acima de 60 anos
338
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos 11 artigos analisados,
Figura 1: Anatomia do Joelho com Artrose
que versavam sobre a anatomia óssea e as
consequências em decorrência da artrose,
baseou-se em casos clínicos e estudos
comparativos entre os sintomas e as formas de
tratamento utilizadas.
De acordo com Leite et al (2011) nos
pacientes idosos é mais comum a incidência de
artrose, normalmente coexistindo com outras
doenças crônicas, como: obesidade, síndrome
metabólica, depressão, dislipidemia, hipertensão
arterial sistêmica (HAS), entre outras.
Confirma-se os dados de que a
artrose é mais comum nos idosos com Santos et
al (2011). No tratamento dos idosos com essa
patologia utilizou-se o clonixinato de lisina (CL)
por um período de 15 e 30 dias, sendo obtido Fonte: Clínica ortobone (2015)
nesse último período, uma analgesia otimizada..
O tratamento foi compactuado com um menor consumo de analgésicos. O investigador
avaliou como boa ou excelente o uso do CL. A tolerabilidade do uso do clonixinato de lisina foi
razoável para os idosos
Morgan e Santos (2011) recomendam como complemento no tratamento de artrose em
pacientes idosos a estimulação elétrica transcutânea (TENS) que mitiga a dor e a rigidez,
especialmente em tratamento de curto prazo.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
atendendo aos objetivos de descrever as alterações anatômicas sofridas pelo sistema ósseo em
decorrência da artrose, conhecer que população esta mais exposta a problemas físicos
relacionados a esta patologia e esclarecer as alterações relacionadas a doença que influenciam na
qualidade de vida dos indivíduos. Optou-se por selecionar os artigos confirmados como versões
originais os quais apresentam discursões realizadas por seus autores e a partir de testes validados
para o estudo da artrose. Consideraram-se os artigos publicados em português, tendo sido
excluidos os estudos publicados em outros indiomas, assim como aqueles que disponibilizaram
apenas resumos.
A extração de dados dos artigos selecionados foi realizada pelos revisores deste
trabalho, utilizando roteito pré-estruturado.
Foram colhidas as seguintes informações: autores, ano de publicação, formas de
tratamento utilizadas, faixa etária abordada e alterações anatomicas proporcionadas em
decorrência dessa patologia.
Não identificado
Entre 40 e 85 anos
v. 03
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As alterações anatômicas em decorrência da artrose são bem visíveis ao exame de raiox, demostrando um desgaste acentuado da cartilagem, causando também desgastes no próprio
osso. Em síntese, observa-se que a população idosa é a mais acometida por essa patologia. Tal
doença influência também na qualidade de vida das vitimas, pois a dor é um dos principais
componentes observados na artrose. Pode-se citar também a dificuldade de realizar certos
movimentos, como problemas na locomoção quando a patologia acomete o joelho ou o quadril.
Não há cura para a artrose, há somente formas de mitigar a dor, como analgésicos, antiinflamatórios, fisioterapia e em determinados casos a cirurgia.
5 REFERÊNCIAS
SANTOS, F.C.; SOUZA, P.M.R.; TONIOLO NETO, J. et
al. Tratamento da dor associada à osteoartrose de joelho
em idosos: um ensaio clínico aleatório e duplamente
encoberto com o clonixinato de lisina. Revista Dor, São
Paulo, v.12, n.1, p.6-14, 2011.
LEITE, A.A.; COSTA, A.J.G.; LIMA, B.A.M. et al.
Comorbidades em pacientes com osteoartrite: frequência
e impacto na dor e na função física. Revista Brasileira de
Reumatologia, v.51,n.2, p. 113-123, 2011.
MORGAN, C.R.; SANTOS, F.S. Estudo da estimulação
elétrica nervosa transcutânea (TENS) nível sensório para
efeito de analgesia em pacientes com osteoartrose de
joelho. Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v.24, n.4, p.
637-646, 2011.
FIGUEIREDO NETO, E.M.; QUELUZ, T.T.; FREIRE,
B.F.A. Atividade física e suas associações com qualidade
de vida em pacientes com osteoartrite. Revista Brasileira
de Reumatologia, v.51, n.6, p.539-549, 2011.
DADALTO,
T.V.;
SOUZA,
C.P.; SILVA, E.B.
Eletroestimulação
neuromuscular,
exercícios
contrarresistência, força muscular, dor e função motora
em pacientes com osteoartrite primária de joelho.
Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v.26, n.4, p.777-789,
2013.
Prefixo Editorial: 69629
Acima de 38 anos
ISBN 978-8569629-07-8
NETO,
Entre 8 e 13 semanas
ALEXANDRE, T.S.; CORDEIRO, R.C.; RAMOS, L.R.
Fatores associados à qualidade de vida em idosos com
osteoartrite de joelho. Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo,
v.15, n.4, p.326-332, 2008.
FUKADA, V.O.; FUKADA, T.Y.; GUIMARÃES, M. et al.
Eficácia a curto prazo do laser de baixa intensidade em
pacientes com osteoartrite de joelho: ensaio clínico
aleatório, placeba-controlado e duplo-cego. Revista
Brasileira de Ortopedia, v.46, n.5, p.526-533, 2011.
COIMBRA, I.B.; PASTOR, E.M.; GREVE, J.M.D. et al.
Osteoartrite(artrose): Tratamento . Revista Brasileira de
Reumatologia, v.44, n.6, p.450-453, 2004.
MASCARENHAS, C.H.M.; CAMPOS, S.L.; AZEVEDO,
L.M. et al. Avaliação Funcional de idosos com osteoartrite
de joelho submetidas a tratamento fisioterapêutico.
Revista Brasileira de Saúde Pública, v.34, n.2, p.254-266,
2010.
CAMANHO, G.L.; VIEGAS, A.C.; CAMANHO, L.F.; et al.
Artroplastia unicompartimental no tratamento da artrose
medial do joelho. Revista Brasileira de Ortopedia, v.42, n9,
p.285-289, 2007.
Clínica ortobone (2015). Anatomia do Joelho com Artrose.
Disponível
em:http://www.clinicaortobone.com.br/orientacoes.php?id
=28 . Acessado em: 15/03/2015
AS IMPLICAÇÕES CLÍNICAS RESULTANTES DO TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE
THE CLINICAL IMPLICATIONS OF TREATING OSTEOPOROSIS
Aline Pasqualli¹; Bruna Vieira Dias¹; Days Batista Gomes¹; Laura Borges Mendes Alcanfôr¹; Asterio Souza
Magalhães Filho²; Tiago Farret Gemelli²; Andriele Gasparetto²; Raymundo do Espirito Santo Pedreira²;
Flavio Dias Silva².
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO - A osteoporose é uma doença prevalente nas mulheres que consiste em uma maior
fragilidade óssea e suscetibilidade à ocorrência de fraturas. Os objetivos desse trabalho são adquirir
um conhecimento sobre o tratamento e dimensionar suas implicações clínicas através de estudos
científicos. A metodologia foi sustentada através de revisão sistemática de literatura, com a
339
n. 01
FIGUEIREDO
E.M. et al
Fonte: Do autor
Fortalecimento
muscular
Orientação terapêutica
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
DADALTO, T.V. et al
2 MÉTODOLOGIA
O artigo foi embasado em uma revisão sistemática de literatura com a utilização das
340
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
1 INTRODUÇÃO
A osteoporose, doença metabólica do tecido ósseo, tem como principal característica
a progressiva perda de massa óssea, que fragiliza os mesmos por degeneração da microarquitetura
tecidual, tornando-os mais fracos e sujeitos a fraturas. A incapacidade de andar gerada pela perda
da independência funcional é o principal resultado da fratura de quadril, por limitação funcional ou
medo de quedas.¹
As causas para o aparecimento e desenvolvimento da osteoporose são múltiplas.
Define-se como osteoporose primária quando as causas são naturais (menopausa e senilidade), e
a osteoporose secundária quando há uma causa primária (certos medicamentos, outras doenças,
sedentarismo etc.). Já quando as causas são desconhecidas define como osteoporose idiopática.2
Na maioria das pessoas o maior nível de massa óssea não é atingido antes dos 30
anos e os hábitos são importantes fatores da probabilidade de se desenvolver posteriormente a
doença. A ausência de atividade física regular, terapia de reposição hormonal, fatores genéticos e
relacionados a dieta são fatores de risco.3
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), apesar de ser uma doença
prevalente nas mulheres também atinge os homens, sendo que 1/5 dos homens brancos após os
60 anos possuem 25% de chance de sofrer uma fratura osteoporótica. Já 1/3 das mulheres brancas
após os 65 anos são portadoras da doença.¹
Considera-se que as mulheres entre 30 e 40 anos após o início da menopausa, já
podem ter tido uma perda de 35% do osso cortical e 50% do osso trabecular. Na grande maioria
dos casos a descoberta da doença só se da após fratura.4
Devido ao fato de os homens alcançarem taxas mais elevadas de massa óssea que
as mulheres, além da perda de massa óssea como consequência da menopausa, elas acabam
sendo mais atingidas pela doença.4
Apesar de ainda não haver total entendimento da causa da remodelação anormal
óssea, o balanço de cálcio negativo pela maior eliminação do que ganho deste mineral ao esqueleto
é uma feição comum à osteoporose. Um fator de prevenção de uma futura desmineralização óssea
é a ingestão de cálcio a partir do nascimento, fundamentalmente na infância e juventude conjugada
ao exercício físico regular.3
Essa revisão proporciona uma ampla abrangência a cerca da osteoporose e fornece
uma atualização dos profissionais de saúde sobre a doença. Consequentemente, o presente
trabalho tem como objetivos adquirir um esclarecimento sobre o tratamento e dimensionar suas
implicações clínicas através de estudos científicos.
n. 01
SUMMARY - Osteoporosis is a prevalent disease in women consisting of bone fragility and an
increased susceptibility to the occurrence of fractures. The objectives of this project are to acquire
knowledge about treatment and scale its clinical implications through scientific studies. The
methodology was underpinned by systematic literature review, with the use of electronic data bases:
LILACS, SciELO and MEDLINE, with the selection of items that fulfilled the initial selection criteria.
In this study, was concluded that calcium is still the most used in the treatment of osteoporosis, it is
important to emphasize the need for clarification about the clinical implications of therapy.
Keywords: osteoporosis; osteoporotic fracture; calcium; bone density.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
utilização das bases de dado eletrônicas: LILACS, SciELO e MEDLINE, com a seleção dos artigos
que obedeceram os critérios iniciais de escolha. Neste estudo, conclui-se que o cálcio ainda é o
mais utilizado no tratamento da osteoporose, sendo importante ressaltar a necessidade de
esclarecimentos a cerca das implicações clínicas da terapêutica.
Palavras-chave: osteoporose; fraturas por osteoporose; cálcio; densidade óssea.
341
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os 150 artigos visualizados nas buscas 70% foram descartados por nao se
adequarem integralmente ao tema intensionado. Dos artigos selecionados tres retraram etiologia e
epidemiologia; seis retrataram fatores de risco e diagnostico; e treze retrataram tratamento e
prevenção. A maioria dos artigos selecionados tem grande enfoque nas mulheres, por ser uma
caracteristica de predisposição e fator de risco. Apesar da delimitação de idioma, três artigos de
origem inglesa foram utilizados, os demais encontram-se em língua portuguesa.
Enfermidade crônica de muitos fatores, a osteoporose está relacionada a fatores de
riscos modificáveis como o fumo, a baixa ingestão de vitamina D e cálcio, alto consumo de cafeína,
abuso de álcool, a exposição deficiente à luz solar, o sedentarismo, uso prolongado de corticoides,
stress, entre outros; e não modificáveis, como a idade avançada, sexo feminino, menopausa
precoce, genética, malignidade, intolerância à lactose e desordens osteometabólicas.5,6
É discutido que a redução da densidade mineral óssea de pacientes também pode
ser atribuída pelos fatores relacionados ao envelhecimento. Os dados demonstram que a deficiência
estrogênica e o hipoestrogenismo são considerados como importantes fatores de risco.7
Com o cessar da ovulação os ovários paralisam tornando a liberação de estrogênio
nula ou ínfima, concomitando com diminuição da absorção de cálcio pelo intestino, devido a redução
da produção da calcitonina, hormônio que impede a desmineralização óssea. A redução de
estrogênio no período da menopausa é um fator de importância na perda óssea, e quanto mais
precoce maior o risco de se desenvolver a doença.3
Os corticosteroides são fármacos utilizados amplamente para vários diagnósticos,
entretanto, a administração destes produz alterações no processo fisiológico de remodelação
óssea, conduzindo a uma diminuição da massa mineral óssea e consequente aumento da incidência
de fraturas. A osteoporose induzida por corticoides constitui a causa mais frequente de osteoporose
secundária, equivalendo a cerca de 25% de todas as causas de osteoporose.8
O diagnóstico deve basear-se na presença de fatores clínicos de risco, uma vez que
a doença é assintomática até o evento da fratura. O aumento da cifose torácica e a perda de estatura
talvez sejam os sinais mais suspeitos. Por sua natureza multifatorial, seu caráter sindrômico e suas
baixas manifestações clínicas, a osteoporose é difícil de diagnosticar. Quando diagnosticada pelos
ortopedistas, na maioria das vezes é devido a sua consequência mais deletéria, a fratura
osteoporótica.2
A anamnese quando realizada de forma correta, juntamente com um exame clinico
cuidadoso, ainda são as ferramentas mais importantes no diagnóstico. A partir dos dados
levantados pelo clinico, são indicados os exames necessários para a confirmação diagnóstica.9
Nos países pobres ou em desenvolvimento, onde os recursos disponíveis para a área
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
bases de dados eletrônicos National Library of Medicine (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e
do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO).
A escolha dos artigos científicos estabeleceu os seguintes critérios: apresentar como
objeto de estudo a osteoporose com informações sobre o conceito, etiologia, epidemiologia, fatores
de risco, diagnóstico, tratamento e prevenção.
Os procedimentos foram organizados na seguinte sequência: na primeira etapa,
realizou-se um levantamento de artigos encontrados com os descritores propostos que
corresponderam a aproximadamente 150 artigos científicos; na segunda, ocorreu uma leitura e
seleção criteriosa dos artigos para a formação de um banco de dados sistematizado com 45
downloads de artigos. Foram realizadas buscas com as seguintes palavras-chave: osteoporose,
epidemiologia, etiologia, fatores de risco, diagnóstico, tratamento, cálcio e prevenção.
Foram critérios de exclusão: trabalhos científicos divulgados em outras formatações,
configurados como materiais educativos e artigos com deficiência na descrição metodológica.
342
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
da saúde são restritos, a realização de exames como densitometria óssea não estão acessíveis a
todos. Por isso, nota-se a importância de uma boa avaliação clinica dos fatores de risco para a
osteoporose.10
As alterações radiológicas devido à osteoporose são tardias, por isso o uso da
radiografia simples de coluna torácica e lombar é importante para o diagnóstico e monitoração das
fraturas vertebrais, mas não deve ser usada para inferir sobre o diagnóstico da doença. O método
de diagnóstico mais utilizado é a densitometria óssea. Durante a avaliação inicial de rotina os
seguintes exames são solicitados para o estudo do metabolismo mineral e ósseo e para afastar
causas secundárias: cálcio total mais albumina ou cálcio iônico; fósforo; fosfatase alcalina; calciúria
de 24 horas; creatinina e depuração de creatinina; hemograma; Velocidade de Hemossedimentação
eletroforese de proteínas; urina tipo 1.11
Para o tratamento, é necessário diminuir a atividade dos osteoclastos, aumentar a
atividade dos osteoblastos ou se possível ambas.2,12 Os tratamentos que ativam os osteoblastos
são chamados de anabólicos e inclui o tratamento mais básico da doença que é associação de
cálcio + vitamina D. Além deste, são também anabólicos: atividade física, esteroides anabolizantes,
hormônio de crescimento, o paratormônio, e seu derivado, a teriparatida e o ranelato de estrôncio.
Os tratamentos que impedem a ação dos osteoclastos são também denominados de anticatabólicos
e compreendem: a atividade física, cálcio + vitamina D, os derivados ativos da vitamina D, as
terapias de reposição de estrógeno e de reposição hormonal, os SERMs (estimuladores seletivos
dos receptores de estrógeno), os bisfosfonatos, a osteoprotegerina e o ranelato de estrôncio.2
O cálcio é o nutriente mais utilizado e considerado de grande importância tanto na
prevenção quanto no tratamento para osteoporose.13 A vitamina D é responsável pela manutenção
dos níveis séricos de cálcio e fósforo a partir do aumento ou redução da absorção destes no intestino
delgado, além de estar envolvida na regulação do metabolismo ósseo.12 A quantidade diária
recomendada para suplementação no caso de ausência de exposição solar ou ingestão insuficiente
é de 800 a 1000 Ul em mulheres com mais de 50 anos.14 A vitamina D, diferente do cálcio parece
reduzir o risco de fraturas não vertebrais,15 por esse motivo, é importante associação entre ambos
para a tratamento.
O paratormônio é secretado pelas paratireoides em resposta ao baixo nível sérico de
cálcio e atua mobilizando o cálcio ósseo para a corrente sanguínea. Esse hormônio tem efeito na
atividade dos osteoblastos e age iniciando a formação óssea e posteriormente promove a própria
formação do osso. O tratamento com a teripatida diminui incidência de fraturas vertebrais e também
não vertebrais.16 O Ranelato de estrôncio funciona tanto como antiabsortivo quanto como próformador, diminuindo o risco de fraturas vertebrais e de quadril.2
Além do tratamento medicamentoso, há o fisioterapêutico que consiste em
hidroterapia, laser, ultrassom, eletroestimulação e vibração. Os resultados proporcionados são
melhora do equilíbrio, força e também propriocepção, além de melhoria da capacidade funcional
que implica em menor risco de fraturas.4
A ingestão de cálcio é um fator dietético de grande importância para prevenção da
doença. Além do leite e produtos lácteos, outros alimentos que possuem cálcio em sua composição
são: peixe sardinha, alimentos de origem animal, como vegetais de folhas verdes, amendoim,
castanha, ameixa, entre outros.17
Quando o consumo de cálcio é baixo, o consumo de alimentos contendo esse mineral
juntamente com a atividade física e exposição solar adequada são fortes preventivos contra a perda
da densidade óssea.17 O uso isolado de cálcio tende a diminuir fraturas de vértebras, porém, não é
comprovado se existe relação direta entre o mineral e fraturas não vertebrais.18
Outros fatores preventivos são os exercícios físicos. Os exercícios de força, carga, e
alto impacto em comparação aos de resistência se mostram mais eficientes. Quando são
associados ao suplemento de cálcio há uma considerável redução da perda óssea na região dos
4 CONCLUSÃO
Após as informações coletadas neste estudo, é possível concluir que a osteoporose
tem como principal característica a diminuição da densidade mineral óssea. Os fatores que mais
predispõem o desenvolvimento da doença são múltiplos e dependentes de cada indivíduo devido
às suas particularidades. O diagnóstico é baseado no exame clínico e radiológico. Para que a
prevenção seja eficiente é de suma importância que haja uma associação da atividade física, níveis
adequados de hormônios e nutrição, mantendo o consumo de vitamina D e cálcio equilibrados a
partir da primeira fase de vida. Apesar das divergências nos estudos encontrados, o cálcio ainda é
o mais utilizado no tratamento da osteoporose.
É evidente a necessidade de mais estudos para melhor definição das implicações
clínicas do tratamento da doença visto que existe uma escassez de pesquisas que inter-relacionam
os agentes terapêuticos e preventivos com a predisposição ou indução de quadros patológicos. O
enfoque no acompanhamento médico durante a terapêutica também é primordial para corrigir as
deficiências no conhecimento dessa doença que afeta milhões de pessoas.
REFERÊNCIAS
1.
Borges LMS, Faccin G. Exercício físico no
tratamento e prevenção de idosos com osteoporose: uma
revisão sistemática. Fisioter. mov. 2010; 23(2): 289-299.
2.
Souza MPG. Diagnóstico e tratamento da
osteoporose. Rev. bras. ortop. 2010; 45(3): 220-229.
3.
Lanzillotti HS, Lanzillotti RS, Trotte APR, Dias
AS, Bornand B, Costa EAMM. Osteoporose em mulheres
na pós-menopausa, cálcio dietético e outros fatores de
risco. Rev Nutrição. 2003;16(2):181-193
4.
Gomes MR, Marzo S. Tratamento da
osteoporose: uma revisão da literatura no período de 2001
a 2012. Revista Eletrônica Saúde: Pesquisa e Reflexões
2012; 2(1).
5.
Pinto CB, Plácido BJ, Cutrim LL, Brito BCLM.
Estudo epidemiológico da osteoporose pós-menopáusica
em mulheres que realizaram densitometria óssea em
Araguaína no ano de 2012. Revista Científica do ITPAC
Araguaína 2014; 7 (1).
6.
Faisal-Cury A, Zacchello KP. Osteoporose:
12. Bedani R, Rossi, EA. O consumo de cálcio e a
osteoporose. Semina: Ciências Biologicas e Saúde 2005;
26 (1):3-14.
13. NAS (National Academy of Sciences). Standing
Committee on the Scientific Evaluation of Dietary
Reference Intakes. Dietary reference intakes for calcium,
phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride.
Washington, DC: National Academy Science Press; 1997.
12. Fontes TMP, Araújo LFB, Soares PRG. Osteoporose
no climatério II: prevenção e tratamento. Femina
2012; 40 (4):218-33.
13. Chapuy MC, Arlot ME, Duboeuf F, Brun J, Crouzet B,
Arnaud S et al. Vitamin D3 and calcium to prevent hip
fractures in the elderly women. N Engl J Med 1992;
327:1637-42.
14. Khajuria DK, Razdan R, Mahapatra DR.
Medicamentos para o tratamento da osteoporose:
revisão. Rev Bras Reumatol 2011;51(4):365-82.
15. Brasil. Ministério da saude. Guia alimentar para a
343
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
Fica explícito que a suplementação de cálcio no tratamento da osteoporose é
extremamente relevante,3 contudo há duas ressalvas quanto às suas implicações clínicas. Pereira19
associa o aumento do risco de infarto agudo do miocárdio à suplementação, enquanto para Fontes
et al.,12 o uso não é recomendado para pacientes que apresentam hipercalcemia com risco de litíase
renal. Por esse motivo, recomenda-se que o cálcio seja adquirido pela dieta em quantidade
necessária que segundo a National Academy of Sciences é de aproximadamente 1200 mg por dia
em mulheres acima de 50 anos.14
Exercícios aeróbios são indicados na prevenção da osteoporose, e quando
associados aos exercícios de força, de alta resistência e complementados com a ingestão de cálcio
e vitamina D apresentam eficiência na prevenção da baixa densidade óssea.20 Em concordância,
Lanzilotti et al.3 afirma não ter nenhuma comprovação de que isoladamente o exercício é capaz de
reduzir a perda óssea.
Entre a primeira e a última menstruação, a mulher é exposta à ação dos estrogênios,
esses, por estimularem a ação dos osteoblastos são um dos mais importantes influenciadores da
massa óssea.5 A terapêutica de reposição de estrogênios logo após a menopausa no período de
uma década reduz à metade a incidência de fraturas por osteoporose.21 Porém, os maiores
problemas com o uso da terapia de reposição são câncer de mama, câncer endometrial e
fenômenos tromboembólicos.22
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
quadris.3
18.
19.
20.
Prefixo Editorial: 69629
17.
ISBN 978-8569629-07-8
16.
população brasileira: promovendo a alimentação
saudável. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
Shea B, Wells GA, Cranney A, Zytaruk N, Griffith L,
Hamel C, et al. Calcium supplementation on bone loss
in postmenopausal women. Cochrane Database Syst
Rev. 2006; (1).
Pereira CM. A suplementação de cálcio e o risco
cardovascular. Revista Factores de Risco. 2013;
29:26-9.
Santos ML, Borges GF. Exercício físico no tratamento
e prevenção de idosos com osteoporose: uma revisão
sistemática. Fisioter Mov. 2010; 23 (2):289-99.
Pardini D. Terapêutica de reposição hormonal na
osteoporose da pós menopausa. Arq Bras Endocrinol
Metab 1999; 43(6): 428-432.
Campiolo DJ, Medeiros SF. Tromboembolismo
venoso e terapia de reposição hormonal da
menopausa: uma análise clínico-epidemiológica. Arq
Bras Endocrinol Metab 2003; 47(5): 534 -542
v. 03
prevalência e fatores de risco em mulheres de clínica
privada maiores de 49 anos de idade. Acta ortop. bras.
2007; 15(3): 146-150.
7.
Buttros DAB, Nahas-Neto J, Nahas EAP,
Cangussu LM, Barral ABCR, Kawakami MS. Fatores de
risco para osteoporose em mulheres na pós-menopausa
do sudeste brasileiro. Rev. Bras. Ginecol. Obstet.
2011; 33(6): 295-302.
8.
Patrício JP, Oliveira P, Faria MT, Pérez MB,
Pereira J. Osteoporose induzida por corticóides. Arq Med.
2006; 20( 5-6 ): 173-178.
9.
Vieira
JGH.
Diagnóstico
laboratorial
e
monitoramento das doenças osteometabólicas. J. Bras.
Patol. Med. Lab. 2007; 43(2): 75-82.
10. Szejnfeld VL, Jennings F, Castro CHM, Pinheiro
MM, Lopes AC. Conhecimento dos médicos clínicos do
Brasil sobre as estratégias de prevenção e tratamento da
osteoporose. Rev. Bras. Reumatol. 2007; 47(4): 251-257.
11. Domiciano DS. Osteoporose. Rev. Assoc. Med.
Bras. 2011 Mai; 68 (5): 141-149.
n. 01
ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICOS E CIRÚRGICOS DA TETRALOGIA DE FALLOT:
Revisão de Literatura
Andressa Faria Vilela Ferreira¹; Gabriella Torrano Carvalho Pimentel¹; Meire Aparecida Jacinto Gundim¹;
Albeliggia Barroso Vicentine²; Paulo Roberto Gonçalves Lima²; Andriele Gasparetto²; Raymundo do Espirito
Santo Pedreira².
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO - Tetralogia de Fallot é a cardiopatia congênita cianótica mais frequente. Clinicamente,
os pacientes apresentam quatro características principais: Defeito do septo ventricular, obstrução
na via de saída do ventricular direito, aorta em dextroposição e hipertrofia do ventrículo direito.
Dentre as inúmeras complicações desta patologia está a hipóxia, a cianose e a policitemia. Nesse
sentido, o presente artigo realiza uma revisão sistemática da literatura sobre os principais conceitos
e aspectos clínicos relacionados a tetralogia de Fallot. Para isso, realizou-se uma pesquisa
bibliográfico-descritiva nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Verificou-se uma
ampla gama de artigos publicados sobre a temática em questão, porém não foram encontrados
dados específicos sobre a atuação da fisioterapia.
Palavras chave: Diagnóstico, Terapêutica, Tetralogia de Fallot.
ABSTRACT - Tetralogy of Fallot is the most common cyanotic congenital heart disease. Clinically,
patients have four main features: ventricular septal defect, obstruction in the outflow of the right
ventricle, aorta dextroposition and right ventricular hypertrophy. Among the many complications of
this condition is hypoxia, cyanosis and polycythemia. In this sense, this paper conducts a literature
review of key concepts and clinical aspects related to tetralogy of Fallot. For this, we performed a
study descriptive-bibliographic in the databases of Virtual Health Library (VHL). There was a wide
range of articles published on the theme in question, but found no specific data on the role of
physiotherapy.
Key words: Diagnosis, Therapeutics, Tetralogy of Fallot
1 INTRODUÇÃO
As cardiopatias congênitas são as malformações fetais mais freqüentes, com incidência
estimada de 3,5 a 12:1000 recém-nascidos vivos. Tais patologias podem acontecer em gestações
sem fator de risco (CARVALHO et al, 2006). Dentre essas, destaca-se a tetralogia de Fallot, cuja
344
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
CLINICAL FEATURES, DIAGNOSTIC AND SURGICAL OF TETRALOGY OF FALLOT:
Literature Review
2 METODOLOGIA
Para realização do presente estudo foi conduzida uma busca nas bases de dados
eletrônicos na biblioteca Virtual de Saúde-Bireme, Scielo, Lilacs e Google acadêmico no período de
345
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
incidência representa 10% de todas as cardiopatias congênitas (PFEIFFER, 2012).
A tetralogia de Fallot é uma cardiopatia congênita que apresenta quatro anormalidades
características: defeito do septo ventricular, hipertrofia do ventrículo direito, obstrução na via de
saída ventricular direita e aorta em dextroposição (ASSUNÇÃO et al, 2008).
Essa patologia foi inicialmente investigada pelo médico francês Étienne-Louis Arthur
Fallot, através de um minucioso e longo trabalho intitulado Contribuition à l’anatomiepathologique
de La maladie blue(cyanosecardiaque), publicado em 1888 na revista Marseille-Médical. Fallot
investigava a doença azul, que mais tarde ficou conhecida como Tetralogia de Fallot em sua
homenagem. Em seu trabalho descreve as características do coração de três pacientes portadores
da doença, e depois revisa 52 outros doentes. O trabalho permitiu correlacionar as quatro principais
características anatomoclínicas de tais pacientes e uniformizá-las em uma única patologia chamada
doença azul (ESPINOSA, 2013).
A etiologia precisa dessa malformação ainda é desconhecida, mas têm sido associados
à microdeleção da região q11 do cromossomo 22, encontrada em cerca de 25% dos pacientes
portadores da doença (ESPINOSA, 2013). No desenvolvido embrionário tem-se a anteriorização do
septo infundibular, com um estreitamento do infundíbulo do ventrículo direito e, assim, a obstrução
subvalvar pulmonar. Forma-se também uma comunicação interventricular e o desenvolvimento da
hipertrofia ventricular direita. Em conseqüência dessas anomalias o fluxo pulmonar se apresenta
menor (PFEIFFER, 2012).
A sintomatologia apresentada por esses pacientes se associa aos defeitos anatômicos
característicos, sendo primariamente relacionados ao sistema cardiovascular e pulmonar e, que
provoca alterações metabólicas diversas, impedindo a homeostasia.
Dentre as principais manifestações clínicas encontram-se a redução do aporte de
oxigênio, levando à cianose e policitemia. A hipóxia pode predispor o paciente a eventos
cerebrovasculares (ASSUNÇÃO et al, 2008).
Segundo Espinosa (2013), ao nascimento a maior parte das crianças não apresenta
cianose ou a apresenta de forma discreta. No entanto, a progressão da doença leva a acentuação
da estenose infundibular, causando a cianose e eventualmente à crise.
O diagnóstico dessa malformação é baseado inicialmente no exame clínico minucioso
do paciente e em exames complementares, principalmente a radiografia de tórax, o
eletrocardiograma e a ecocardiografia transtorácica, devendo esta ser realizada o mais
precocemente após a suspeita (ESPINOSA, 2013).
Os procedimentos terapêuticos são baseados nos cuidados clínicos e cirúrgicos. Os
cuidados clínicos auxiliam no controle da cianose, como o uso de betabloqueadores que melhoram
o fluxo pulmonar. A correção cirúrgica pode ser paliativa ou definitiva (PFEIFFER, 2012).
Em virtude de representar 10% de todas as cardiopatias congênitas a tetralogia de Fallot
se insere com grande destaque na medicina, sobretudo, na medicina especializada. Suas
manifestações clínicas são diversas e comuns em várias cardiopatias, sendo importante obter
diagnóstico preciso e precoce, uma vez que se torna necessário inserir o quanto antes a terapia
nesse paciente. Vale destacar ainda que, o conhecimento do método terapêutico mais adequado
se torna essencial para proporcionar ao cliente um atendimento de qualidade e o melhor prognóstico
possível.
A presente pesquisa busca identificar as principais manifestações clínicas em pacientes
com tetralogia de Fallot, apontar os principais métodos de diagnóstico nessa malformação e
demonstrar a correção cirúrgica mais indicada em pacientes portadores dessa anormalidade.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estudos recrutados foram devidamente analisados, identificando os métodos
diagnósticos, as principais manifestações clínicas e os métodos terapêuticos na tetralogia de Fallot.
Quando analisados quanto aos sintomas apresentados pelos pacientes portadores da
tetralogia de Fallot, sete dos 10 artigos(70%) citaram cianose, um não mencionou cianose e dois
não abordaram as manifestações clínicas. A hipóxia foi apresentada em 60% dos estudos. Baixo
peso, irritabilidade e dispneia foram encontrados em 30% dos estudos e baqueteamento digital foi
citado em apenas um (10%).
Através dos dados apresentados verifica-se a predominância da cianose em pacientes
portadores da Tetralogia de Fallot que se apresenta como uma manifestação externa da baixa
concentração de oxigênio do sangue (hipoxemia).
A tetralogia de Fallot é a forma mais comum de cardiopatia congênita cianótica, marcada
por quatro anormalidades anatômicas cardíacas: defeito do septo interventricular, dextroposição da
aorta (cavalgante), obstrução do fluxo sanguíneo do ventrículo direito e hipertrofia ventricular direita.
Em especial o defeito no septo interventricular permite uma mistura sanguínea, caracterizando a
redução da concentração de oxigênio no sangue (PFEIFFER, 2012). O quadro clínico também irá
depender do grau de obstrução do trato de saída do ventrículo direito, que pode estar modificado
em decorrência das anomalias associadas, variando em quadros discretos de hipóxia até crises
cianóticas (PFEIFFER et al, 2010).
Quanto aos meios diagnósticos, todos os 10 autores(100%) mencionaram o
ecocardiograma para diagnóstico da tetralogia de Fallot. A radiografia foi citada por sete das 10
pesquisas(70%), o Eletrocardiograma(ECG) mencionado por 5 (50%), o exame clínico mencionado
em apenas 40%, ou seja, quatro trabalhos, o cateterismo cardíaco foi apresentado como método
diagnóstico por 2 (20%) autores e o Holter foi citado em apenas 1 (10%) estudo.
Pôde-se observar a predominância de exames de imagem para realização do
diagnóstico. Isso pode ocorrer em função de se tratar de uma patologia com alterações anatômicas
importantes, identificadas nos exames imaginológicos.
346
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
março de 2015. Os Descritores em Ciências da Saúde(DeCS) utilizados para pesquisa foram:
Tetralogia de Fallot. Diagnóstico precoce. Sinais e sintomas. Com a devida permuta utilizando os
operadores boleanos and e or.
Foram encontrados inicialmente 7.431 estudos, dentre os quais 57 atenderam aos
critérios previamente estabelecidos. Destes, apenas 10 foram devidamente analisados e discutidos
por apresentarem diretamente os objetivos de identificar as manifestações clínicas em pacientes
com tetralogia de Fallot, apontar os principais meios diagnósticos e demonstrar a correção cirúrgica
mais indicada em pacientes portadores dessa anormalidade.
Os critérios de inclusão para seleção dos artigos foram: Artigos originais, dispostos na
íntegra, encontrados nas bases de dados mencionadas, publicados no período de 2000 a 2015, no
idioma português, que atendesse os objetivos propostos pelo estudo. Foram excluídos trabalhos de
revisão literária, cartas e estudos publicados em períodos distintos ao mencionado, artigos em
idioma diferente de português, não disponíveis na íntegra e aqueles que não atenderam os objetivos
propostos.
A extração de dados dos artigos recrutados foi realizada pelos revisores deste trabalho,
utilizando roteiro previamente estruturado.
Colheu-se as seguintes informações: ano de publicação, autores, periódico de
publicação, sintomas dos pacientes, métodos diagnósticos e tratamento cirúrgico indicado.
347
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
A radiografia do tórax permite
FIGURA1- Radiografia de tórax mostra cardiomegalia e
observar o aumento acentuado da área
trama vascular pulmonar aumentada condizente
cardíaca direita e da trama vascular
com cardiopatia com desvio de sangue da
pulmonar como pode ser observado na
esquerda para a direita, tipo comunicação
figura 1. Associado a isso tem-se os
interventricular.
achados
do
eletrocardiograma,
demonstrando principalmente na tetralogia
de Fallot um desvio do complexo QRS,. O
Ecocardiograma permite a visualização da
Comunicação Interventricular(CIV), a
dextroposição da aorta e o desvio anterior
do septo infundibular (ATIK, 2011).
Embora o ecocardiograma
tenha sido mencionado em todos os
estudos, segundo Moraes Neto; Santos e
Moraes
(2008),
a
ecocardiografia
transtorácica tem limitações e, muitas
vezes, falha no fornecimento de
informações hemodinâmicas e anatômicas
importantes.
Ressalta-se,
portanto,
a
importância do exame clínico minucioso do Fonte: Atik (2011).
paciente e da associação de métodos diagnósticos para o estabelecimento de um diagnóstico exato
e preciso, minimizando o risco de erros.
Quanto ao tipo de tratamento empregado na tetralogia de Fallot, todos os 10
estudos(100%) proporam a correção cirúrgica. Com relação aos tipos de cirurgias, 6 dos 10
estudos,60%, indicaram correção definitiva, e quatro correção paliativa, equivalendo a 40%,
conforme pode ser observado no quadro abaixo(quadro 1). A idade para realização do procedimento
foi unânime entre os autores, sendo que, todos os 10 estudos mantiveram posição favorável para a
realização precoce, preferencialmente no primeiro ano de vida. Porém, um dos 10 artigos relatou o
caso de uma paciente que mesmo sendo indicada cirurgia precoce a realizou quando adulta devido
a não autorização dos pais.
Observa-se através dos dados que a cirurgia definitiva têm sido a preferencialmente
realizada atualmente, contudo há muitas controvérsias entre os autores.
O tratamento cirúrgico na tetralogia de Fallot pode se apresentar como paliativo, através
da cirurgia de Blalock, que insere um tubo da subclávia para a artéria pulmonar, com o intuito de
aumentar o fluxo pulmonar, ou definitivo. A correção cirúrgica definitiva é realizada para o
fechamento da Comunicação Interventricular e desobstrução do trato de saída do ventrículo direito,
geralmente é realizada com circulação extracorpórea e hipotermia(geralmente em grau moderado)
(MORAES NETO, 2008).
Segundo Moraes Neto et al (2000), o manuseio cirúrgico da tetralogia de Fallot (TF) no
primeiro ano de vida é um assunto controverso, existindo os que advogam a correção em dois
tempos, paliativa nos primeiros anos de vida e definitiva em crianças maiores, e os que indicam a
correção definitiva primária precoce. Para ele, a paliação através da operação de Blalock-Taussig
é ainda a mais usada nos Centros de Cirurgia Cardíaca por exibir baixo risco, no entanto, relata que
as crianças apresentam melhora clínica e não se observam efeitos desfavoráveis quando da
correção total.
Porém, Pfeiffer (2010), cita que a correção total apesar de demonstrar bons resultados,
melhorando a qualidade de vida aos pacientes, pode apresentar a médio e longo prazo alterações
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASSUNÇÃO, C.M.; FALLEIROS, T.; GUGISH, R.C. et al.
Tetralogia de Fallot e sua repercussão na saúde bucal.
Revista Paulista de Pediatria, São Paulo. v.26, n.1, p.9193, 2008.
ATIK, E. Correlação clínico-radiográfica: caso 05/2011lactente de 17 meses de idade, com tetralogia de Fallot
em franca insuficiência cardíaca por dominância
hemodinâmica da comunicação interventricular. Arquivos
Brasileiros de Cardiologia, São Paulo. V.97, n.3, p.48-
ESPINOSA, A.E. Tetralogia de Fallot. Actualización Del
diagnóstico y tratamento. Revista Mexicana de
Cardiologia, Ixtapaluca. v.24, n.02, p.87-93, 2013.
LORENTZ, M.N.; GONTIJO FILHO, BAYARD. Anestesia
para correção da tetralogia de Fallor em paciente Adulto.
Relato de Caso. Revista Brasileira de Anestesiologia,
Belo Horizonte. v.57, n.5, p.525-532, 2007.
MORAES NETO, F.R.; GOMES, C.A.; LAPA, C. et al.
Tratamento cirúrgico da tetralogia de Fallot no primeiro
348
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
hemodinâmicas como arritmias que causam a maior morbimortalidade, chamadas de lesões
residuais. As arritmias cardíacas são consideradas a maior causa de morte súbita (MS) tardia, e se
associam à ocorrência de eventos graves, como taquicardia ventricular sustentada e fibrilação
ventricular.
Moraes Neto et al (2008),esclarece que, no início da experiência com a correção da
tetralogia de Fallot com circulação extracorpórea(definitiva), verificou-se uma alta mortalidade em
crianças menores, adotando–se universalmente a conduta da cirurgia em dois tempos: operação
de “shunt”, preferencialmente a operação de Blalock-Taussig inicial e, correção com circulação
extracorpórea nas crianças maiores. Porém, em 1973, Barratt-Boyes, Neutze e Starr et al, proporam
a correção definitiva no primeiro ano de vida, por atenuar os efeitos secundários de vários órgãos.
A partir daí, o reparo precoce tem sido realizado em diversos centros com baixa mortalidade.
Considera-se que a correção definitiva precoce protege a função neurológica, a função
ventricular esquerda e produz menos arritmias (MORAES NETO; SANTOS; MORAES, 2008). Em
seu estudo, Moraes Neto et al (2008), obteve morbidade e mortalidade semelhante em pacientes
que foram submetidos aos dois métodos cirúrgicos(6,6% na cirurgia definitiva e 7,6% na operação
de Blalock-Taussig) , porém, adverte que a decisão de corrigir a TF(Tetralogia de Fallot) no primeiro
ano de vida exige que o grupo cirúrgico tenha grande experiência no manuseio da doença e
disponha de condições adequadas, caso contrário, é mais prudente adotar-se a conduta da
correção da TF em dois tempos.
As vantagens da correção no primeiro ano de vida incluem normalização precoce do
fluxo e das pressões em todas as câmaras cardíacas, interrupção da hipertrofia do Ventrículo direito
que acontece quando o ventrículo trabalha na presença de estenose pulmonar, normalização
precoce da saturação arterial de oxigênio, necessidade de uma ressecção menos ampla do
infundíbulo, evitar as complicações provenientes de “shunt”, principalmente distorção das artérias e
desenvolvimento de hipertensão pulmonar e ainda, vantagens econômicas e psicossociais. No
entanto, existem fatores que contraindicam a correção cirúrgica noprimeiro ano de vida, como a
hipoplasia acentuada das artérias pulmonares e origem anômala da artéria descendente anterior
da coronária direita (MORAES NETO; SANTOS; MORAES, 2008).
4 CONCLUSÃO
Observou-se pela análise dos estudos que pacientes com tetralogia de Fallot
apresentam principalmente hipóxia, cianose e irritabilidade, que refletem fisiopatologicamente as
anormalidades anatômicas características dessa patologia.
O diagnóstico é baseado principalmente em exames de imagens, sendo a
ecocardiografia, o método de escolha primordial para um diagnóstico acertado. Ressalta-se que
majoritariamente é usado a associação de métodos diagnósticos.
A terapêutica de escolha na referida malformação é a correção cirúrgica. Observouse a cirurgia definitiva, geralmente realizada com a circulação extracorpórea e hipotermia moderada
como o método mais adequado, sendo indicada precocemente, uma vez que, a cirurgia paliativa
apresenta os mesmos riscos.
Percebe-se a necessidade de novos estudos e amplos estudos que forneça subsídios
norteadores para uma clínica de qualidade na assistência ao paciente com tetralogia de Fallot.
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
ano de vida. Revista Brasileira de Cardiologia,Rio de
Janeiro. v.15, n.2, p.143-153, 2000.
MORAES NETO; F.R.; SANTOS, C.C.L.; MORAES,
C.R.R. Correção intracardíaca da tetralogia de Fallot no
primeiro ano de vida. Resultados a curto e médio prazos.
Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, Recife.
v.23, n.2, p.216-223, 2008.
PFEIFFER, M.E.T.; ANDREA, E.M.; SERRA, S.M. et al.
Avaliação clínica e funcional tardia de arritmias em
crianças operadas de tetralogia de Fallot. Arquivos
Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro. v.95, n.3,p.
295-302, 2010.
PFEIFER, M.E.T. Avaliação funcional e capacidade de
exercício na tetralogia de Fallot. Revista do
Departamento de Ergonometria, Exercício e
Reabilitação Cardiovascular da Sociedade Brasileira
de Cardiologia, Rio de Janeiro. v.18, n.01, p.22-25, 2012.
SENZAKI, H.; ISHIDO, H.; IWAMOTO, Y. et al. O uso de
dexmedetomidina na sedação de crises hipercianóticas
em um recém-nascido com tetralogia.Jornal de Pediatria,
Rio de Janeiro. v.84, n.04, p.377-380, 2008.
ATENDIMENTO E CONDICIONAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS COM PROBLEMAS
NEUROLÓGICOS NA ODONTOPEDIATRIA.
CARE AND CONDITIONING OF PATIENTS WITH NEUROLOGICAL PROBLEMS IN
PEDIATRIC DENTISTRY
Bruna Ítala; Renata Albernaz; Luciana Marquez; Ana Carolina Camargo Rocha; Ana Paula Faria
Moraes; Nelzir Martins Costa²; Flavio Dias Silva²; Andriele Gasparetto².
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO - Esse artigo de revisão tem como objetivo salientar aos profissionais Cirurgiões
Dentistas, a importância de um bom condicionamento e atendimento aos pacientes com
necessidades neurológicas, visto que, há uma grande dificuldade por parte dos profissionais em
realizar um atendimento adequado e humanizado na clínica diária. É de suma importância o
conhecimento mais acurado do profissional, em detectar o tipo de necessidade para estabelecer
um plano de tratamento e atendimento mais adequado para o caso, pois alguns distúrbios, sejam
eles motor ou neurológico, pode-se utilizar de vários meios, como, o condicionamento por meio
de rotinas estabelecidas entre paciente e equipe, até mesmo, o de contenção para realização
dos procedimentos. Diante desse pressuposto, torna-se indispensável uma equipe
multidisciplinar preparada para tratar o paciente com necessidades especiais, melhorando o seu
quadro geral e proporcionando o seu bem-estar físico e mental.
Palavras-chave: Pacientes Especiais.
ABSTRACT - This review article aims to highlight the professionals Dental Surgeons, the
importance of a good conditioning and care of patients with neurological needs, since there is a
great difficulty by professionals in conduct proper and humane care in everyday practice. It is
very important the more accurate knowledge of the professional, to detect the type of need to
establish a treatment plan and more appropriate care to the case because some disorders whether
motor or neurological, can be used various means, such as conditioning through routines
established between patient and staff, even the contention for the procedures. Given this
assumption, it is essential to a multidisciplinary team prepared to treat the patient with special
349
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
49, 2011.
ATIK, E.Correlação clínico-radiográfica: caso 06-2004lactente de 14 meses com tetralogia de Fallot e com
discreto hiperfluxo pulmonar. Instituto do coração do
hospital das clínicas da FMUSP. Arquivos Brasileiros de
Cardiologia, São Paulo. v.82, n.6, p.567, 2004.
ATIK, E.; PASSOS, F.M.; ANDRADE, J.L. Correlação
clínico-radiográfica: caso 5/2010 - criança de 7 anos, do
sexo feminino, com tetralogia de Fallot e agenesia da
valva pulmonar. Arquivos Brasileiros de Cardiologia,
São Paulo. v.95, n.3, p.80-82, 2010.
AVONA, F.N.; MAISANO KOZAK, A.C.L.F.B.; CROTI,
U.A. et al. Correção total de tetralogia de Fallot em criança
com agenesia da artéria pulmonar esquerda. Revista
Brasileira de Cardiologia,São José do Rio Preto. v.24,
n.3, p.419-421, 2009.
CARVALHO, A.M.F.; DIÓGENES, T.C.P.; JUCÁ, E.R.M.
et al. Associação rara entre tetralogia de Fallot e
miocardiopatia hipertrófica. Arquivos Brasileiros de
Cardiologia, Fortaleza. v.80, n.2, p.214-216, 2003.
CARVALHO, S.R.M.; MENDES, C.M.; CAVALLI, R.C. et
al. Rastreamento e diagnóstico ecocardiográfico das
arritmias e cardiopatias congênitas fetais. Revista
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, São Paulo.
v.28, n.5, p.304-309, 2011.
Torna-se fundamental a integração de uma equipe multidisciplinar que vise a melhoria
do quadro de saúde geral do paciente, o que leva o cirurgião- dentista atuar fora de sua área
profissional, adquirindo conhecimentos indispensáveis para relacionar e solucionar os problemas
que envolvem a cavidade oral e a sua influência nos demais órgãos do organismo.
É um dos tipos de deficiência neuropsicomotoras, é caracterizada por distúrbios do tônus
musculares, postura e movimentação involuntária, sendo conhecida como um grupo de distúrbios
cerebrais de caráter estacionário, resultante de lesões ou anomalias do desenvolvimento cerebral
ocorrida durante a vida fetal ou nos primeiros meses de vida. É um tipo de alteração neurológica
que possui etiologia multifatorial, podendo ser classificadas em pré-natais, perinatais e pós- natais.
O portador de paralisia Cerebral (PC) apresenta padrões anormais de postura e
movimento e permanência dos reflexos orais primitivos, que podem ser interpretados pelo
profissional não familiarizado com o seu atendimento odontológico, como um comportamento não
colaborador, uma vez que o mesmo apresenta dificuldade de comunicação verbal. Oliveira et al
(2002) afirmaram que, os pacientes com deficiência podem ser classificados em três grupos,
segundo o grau de dificuldades que apresentam quando da realização do atendimento
odontológico. O primeiro grupo é composto por aqueles que se submetem sem resistência ao
atendimento. O segundo, pelos que precisam receber contenção física e/ou medicação sedativa
antes ou durante o atendimento. O terceiro grupo é formado pelos que necessitam receber
anestesia geral.
As crianças com atraso de desenvolvimento ou portadoras de deficiência mental trazem,
com frequência, problemas de comportamento no consultório. Por isso, algumas precisam de
contenção física ou química para que consigam receber atendimento odontológico (O’DONNELL,
1996; YILMAZ et al., 1999; OLIVEIRA, 2002). Entende-se por contenção qualquer método utilizado
com o objetivo de manter o paciente na cadeira odontológica em condições favoráveis para a
execução do atendimento. Tal contenção pode ser física ou química.
A contenção física é feita pelo profissional e auxiliares (contenção ativa). Pode ser
realizada também através de acessórios para imobilizar a criança (contenção passiva). A
contenção química se faz com drogas farmacológicas, sendo realizada através da sedação ou
anestesia geral (LIMA et al., 1974, OLIVEIRA, 2002).
350
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
1 INTRODUÇÃO
Há muito tempo, a sociedade encontra dificuldades frente ao tratamento de pacientes
portadores de necessidades especiais, os quais apresentam problemas físicos, sociais, mentais,
sensoriais, neurológicos e emocionais.
A assistência médica e odontológica aos portadores de deficiência mental apresenta
algumas características próprias. Isto acontece em razão de certas dificuldades e limitações que
esses pacientes normalmente apresentam. Alguns requerem medidas especiais de atendimento,
enquanto outros podem ser tratados de modo convencional (MINAS GERAIS, 1999; WEDDELL
et al., 2001; OLIVEIRA, 2002). O desenvolvimento deste atendimento estará diretamente
relacionado à atitude do profissional frente ao paciente (VAN GRUNSVEN & CARDOSO, 1995;
O’DONNELL, 1996).
As classificações das alterações de um paciente especial podem se dar em grupos,
sendo estes: alterações sistêmicas, alterações neurológicas, doenças congênitas dismórficas e
alterações comportamentais, onde o paciente pode estar incluído em mais de um grupo.
Os pacientes portadores de deficiências neuropsicomotoras, na maioria das vezes
apresentam doenças bucais por não possuírem habilidade necessária para promover uma higiene
oral satisfatória.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
needs, improving their general framework and providing your physical and mental well being.
Keywords: Patient Specials.
351
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Diante da complexidade do tratamento que envolve o paciente portador de
necessidades especiais, os cirurgiões-dentistas precisam estar aptos a realizarem da melhor
maneira a abordagem, em razão do pequeno número de especialistas na área, torna-se necessário
uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, com o objetivo de nortear o profissional quanto ao
conhecimento teórico que envolve o atendimento, bem como, o tratamento destes pacientes.
Diante da complexidade do tratamento que envolve o paciente portador de
necessidades especiais, os cirurgiões-dentistas precisam estar aptos a realizarem da melhor
maneira a abordagem, em razão do pequeno número de especialistas na área, torna-se necessário
uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, com o objetivo de nortear o profissional quanto ao
conhecimento teórico que envolve o atendimento, bem como, o tratamento destes pacientes.
Há muito tempo a sociedade encontra dificuldades em lidar com pacientes portadores de
necessidades especiais, por apresentarem problemas físicos, sociais, mentais, sensoriais,
neurológicos e emocionais. Tais dificuldades, são atribuídas à sociedade pela falta de informação,
gerando preconceito e despreparo da sociedade para atendê-los. (CARVALHO et al.,2004).
São considerados pacientes especiais aqueles que possuem alterações física, orgânica,
intelectual, social ou emocional, podendo apresentar como aguda ou crônica, simples ou
complexa, que necessitam de educação especial e instruções suplementares, temporárias ou
permanentes. (PERES et al., 2005., FORNIOL,1998).
Peres (2005), classifica os pacientes especiais de forma didática, como: Excepcionais:
são os pacientes portadores de deficiências mentais, paralisia cerebral e superdotados, Deficientes
físicos, Desvios comportamentais e sociais, Desvios psiquiátricos, neurológicos e psicológicos.
Alterações genéticas e congênitas. Alterações metabólicas. Deficiência sensorial. Doenças
sistêmicas crônicas. Doenças imunológicas. Gestantes. Idosos. Toxicômanos.
De acordo com Ortega et al., (2010), o atendimento a crianças com necessidades
especiais requer um cuidado diferenciado. Estes pacientes exibem alterações sistêmicas ou
neurológicas e ou comportamentais, que necessitam de um maior conhecimento por parte dos
profissionais cirurgiões-dentistas. Pode-se encontrar vários tipos de classificação de pacientes
com necessidades especiais, que se dividem em quatro grupos: Alterações sistêmicas, alterações
neurológicas, doenças genéticas dismórficas e alterações comportamentais. Dependendo da
condição clínica, a criança pode estar inserida em mais de um grupo.
Os portadores de deficiências neuropsicomotoras apresentam na maioria das vezes,
doenças bucais que comprometem os dentes, resultando em sua perda. São pacientes que não
possuem habilidades para promover uma higiene oral satisfatória, não permitindo que outras
pessoas a façam, ou quando fazem, fazem de maneira inadequada por possuírem um
comportamento agressivo ou por apresentarem movimentos involuntários, dificultando a
higienização. Estes pacientes geralmente possuem uma dieta pastosa ou usam mamadeira por
mais tempo, apresentando deglutição atípica. Utilizam medicamentos contendo em sua
composição a sacarose e outros medicamentos responsáveis por causar a xerostomia, o que
resulta no aparecimento de cáries. (REZENDE et al., 2004).
Diante destas condições, torna-se fundamental a integração de uma equipe
multidisciplinar, visando uma melhora no quadro de saúde geral do paciente, proporcionando ao
mesmo, um bem-estar físico e metal. Na odontologia é exigido do cirurgião-dentista maiores
conhecimentos fora de sua área profissional, adquirindo conhecimentos indispensáveis para
relacionar e solucionar os problemas que envolvem a cavidade oral e a sua influência nos demais
órgãos do organismo. O odontólogo é de fundamental importância na integração do paciente
especial à sociedade, permitindo o controle de patologias bucais que possam interferir no humor
do paciente e no seu bem-estar físico. (NETO, et al., 2009).
De acordo com Correia (2002), o aspecto financeiro, educacional, as tentativas frustradas
de encontrar cirurgiões-dentistas qualificados e, a pouca importância dada à saúde oral, são
352
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
algumas das causas que levam ao descuido com a saúde bucal. O cirurgião-dentista que irá
atender o paciente com necessidades especiais, antes de tudo, deve ter conhecimento, respeito
e amor pela criança que irá atender.
Desta maneira, o relacionamento entre o profissional e o paciente é muito importante,
devendo estar dotado de conhecimentos em sua área de atuação, assim como em áreas
multidisciplinares, porque há um elo de ligação exigido pela conjuntura. A participação do
profissional na área odontológica consiste na reabilitação e na integração desse paciente ao meio
social que é excluído indiscrimidamente. (SELESTE et al., 2010).
De acordo com Varellis (2013), dentre as principais síndromes neurológicas tem-se:
Paralisia Cerebral; que se baseia em um quadro permanente, uma lesão estável, não
progressiva, que ocorre antes dos dois anos de idade e que resulta em desenvolvimento motor
pobre e retardo mental, localizada em estruturas motoras, de etiologia multifatorial. É o resultado
de uma lesão no cérebro não hereditária, acarretando má postura e desenvolvimento motor
anormal, que se inicia nos períodos pré, peri e pós-natais.
Não sendo uma doença, e sim, uma condição médica especial que pode ocorrer antes,
durante ou logo após o parto a epilepsia; de acordo com Jackson 2010, a convulsão é definida
como uma descarga eventual excessiva e desordenada do tecido nervoso, sendo um estado
fisiológico alterado, que envolve o sistema nervoso central.
Fisiologicamente a crise epilética é uma alteração súbita de função do sistema nervoso
central, resultando de uma descarga elétrica paroxística de alta voltagem. Esta é uma aberração
cromossômica que acomete o cromossomo 21. Atualmente, evita-se a utilização do termo
mongoloide ou mongolismo, sendo substituída pela nomenclatura trissomia do cromossomo 21
ou apenas síndrome de Down. Esta pode ocorrer de três maneiras: a primeira ocorre em 96%
dos casos e é chamada de trissomia simples do cromossomo 21, que é o resultado de uma
não disjunção cromossômica na fase pré-zigomática. O segundo tipo de ocorrência é através da
migração de parte ou de um cromossomo inteiro que se liga a outro cromossomo, sendo chamada
de translocação. O terceiro acometendo o restante está o mosaicismo, que se caracteriza pela
distribuição de algumas células com 47 e outras com 46 cromossomos.
A principal etiologia desta anomalia cromossômica é a idade maternal avançada durante
a gravidez. As principais manifestações sistêmicas em pacientes com síndrome de Down são:
cardiopatias, disfunções na tireoide, problemas no sistema imunológico, alterações da articulação
atlantoaxial, problemas na audição, hipotonia muscular, alterações oculares e doença de
Alzheimer, podendo também apresentar manifestações orais como: doença periodontal, ausência
de dentes, problemas de oclusão, problemas na língua e cárie dentária.
Em muitos casos as pessoas portadoras de necessidades especiais podem apresentar
diferentes reações frente à consulta odontológica, variando de um bom comportamento até uma
reação completamente apática ao atendimento (FOURNIOL FILHO, 1996). Um paciente portador
de deficiência mental leve ou moderada pode conseguir ser cooperativo e responder bem a um
atendimento odontológico. Entretanto, uma pessoa com deficiência mental severa apresentará
uma maior dificuldade de manejo comportamental durante a consulta. Caberá ao profissional
analisar e julgar quais os melhores métodos para conduzir cada paciente, existem vários métodos
utilizados tais como, contenção, dizer mostrar fazer, musicalidade, jogos e dentre outros.
De acordo com o estudo realizado por Oliveira, et al., (2004), quanto ao uso de métodos
de contenção durante atendimentos médicos ou odontológicos de portadores de necessidades
especiais, com 209 pais de crianças com deficiência mental e idade inferior a 15 anos, foi
verificado, que 69% possuíam experiência com contenção física, 41% já tinham sido submetidos
à sedação e 31% à anestesia geral. Em contrapartida, Amorim, et al., (2003), em seu estudo
realizado com 120 voluntários, avaliaram o grau de concordância dos responsáveis com relação
às técnicas de controle do comportamento dos pacientes em idade pré-escolar, utilizando-se as
353
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
técnicas dizer-mostrar-fazer, comunicação verbal, controle da voz, contenção física, distração,
mão-sobre-a-boca e anestesia geral. A técnica de maior aceitação foi a distração, seguida de
dizer-mostrar-fazer e técnica de menor concordância foi a anestesia geral, seguida de mãosobre-a-boca. A comunicação verbal e o controle de voz foram aceitos pela maioria dos
pesquisadores. (PERES, et al., 2005).
Guedes (2003) relata a importância do condicionamento psicológico do paciente e do
envolvimento dos familiares durante o tratamento, pois estabelece um vínculo entre
profissional/paciente/família, fundamental para o sucesso do tratamento odontológico.
Mugayar (2000) afirma que, o método de contenção são formas auxiliares para realização
do tratamento odontológico. A contenção física pode ser feita com pedaços de faixas de pano,
coletes, camisolas, ataduras, lenções e outros artifícios que estão indicados para pacientes
deficientes mentais e paralíticos cerebrais, pois apresentam movimentos involuntários e constantes
que impedem seu posicionamento na cadeira odontológica. Uma outra forma de contenção seria
colocar o paciente no colo da mãe em posição horizontal para o tratamento, que é contida e
envolvida em seus movimentos pelo abraço. Este tipo de contenção é feito em crianças de faixa
etária de 3 anos.
Segundo Neder (1968), foi liberado aos cirurgiões-dentistas, o uso de pequenos
tranquilizantes, corroborados com a Portaria do Serviço Nacional de Fiscalização da medicina e
farmácia, quando finalmente, tranquilizantes maiores foram permitidos prescrever na Odontologia.
Neder (1980), ainda cita que, os tranquilizantes são drogas usadas para restabelecer a
normalidade, suprindo a confusão mental, minimizando a ansiedade e a tensão nervosa do
paciente, sem alterar sua consciência. Ressaltando que, o uso de Benzodiazepínicos estava
sendo utilizado na odontologia nos casos de pacientes nervosos, crianças e pacientes
excepcionais, este tipo de sedação induz o sono diminuindo a tensão física e emocional. O autor
ainda aborda que este tipo de sedação, permite ao cirurgião- dentista realizar os procedimentos
no paciente clinicamente comprometido, favorecendo sua saúde oral através da colaboração do
paciente que estará em estado de hipnose com drogas específicas e em doses adequadas.
Varellis (2005) afirma que, o condicionamento com anestésicos locais é de suma
importância, uma vez que, os pacientes com distúrbios psicomotores utilizam algum tipo de
medicamento, portanto, a anamnese é de fundamental importância para o tratamento e escolha
do anestésico a ser empregado. Guedes Pinto (2003) fala que, a contenção feita através de
anestesia geral tem provocado várias críticas e reflexões. Esta técnica é indicada para pacientes
que apresentam um grau de dificuldade intelectual severa, algum tipo de problema sistêmico ou
anomalia congênita que justifique o uso da anestesia geral. É importante ressaltar que, o uso da
anestesia geral em Odontologia tem um papel importante, desde que haja a real necessidade
da utilização desta técnica e não simplesmente ser usada como meio mais fácil para se
resolver um problema de imediato.
O Conselho Federal de Odontologia por meio de sua Resolução 22/2001, o Artigo 31,
normatiza a odontologia para pacientes com necessidades especiais como a especialidade que
tem como objetivo o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e o controle dos problemas de saúde
bucal dos pacientes que apresentam uma complexidade em seu sistema biológico ou psicológico
ou social, bem como percepção e atuação dentro de uma estrutura transdisciplinar com outros
profissionais de saúde e de áreas correlatas com o paciente.
Quanto a área de atuação de acordo com a Resolução 25/2002, cabe ao especialista em
odontologia para pacientes com necessidade especiais: 1) prestar atenção odontológica aos
pacientes com graves distúrbios de comportamento, emocionalmente perturbados; 2) prestar
atenção odontológica aos pacientes que apresentam condições incapacitantes, temporárias ou
definitivas, em nível ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; 3) aprofundar estudos e prestar atenção
aos pacientes que apresentam problemas especiais de saúde com repercussão na boca e
354
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
2 RESULTADO E DISCUSSÃO
A escolha por este tema foi determinada pela necessidade de utilização de métodos
de condicionamento e atendimento, em pacientes portadores de necessidades especiais
neurológicas, em diversas situações médicas e odontológicas.
Os pacientes com necessidades especiais exigem um atendimento odontológico
individualizado e humanizado, sendo fundamental a construção de uma relação de confiança
entre dentista-paciente-pais ou cuidadores. O atendimento odontológico desse grupo populacional
deve priorizar pela multidisciplinaridade, buscando em Odontologia a promoção de saúde bucal e
manutenção da mesma.
Os pacientes com deficiência mental e/ou disfunção neuro-motora podem apresentar
comportamento agressivo e resistência ao atendimento. Segundo alguns autores, nos portadores
de deficiência mental, mais frequentemente se faz uso de técnicas de contenção, inclusive para
proteger o profissional e a equipe de qualquer trauma ou injúria (WEDDELL et al., 2001;
OLIVEIRA, 2002).
Katz (2012), relata que a utilização da música e/ou seus elementos tem como principais
objetivos auxiliar no controle comportamental, ambientação do paciente ao espaço físico,
relaxamento, exteriorização das emoções, facilitando a interação do paciente com o cirurgiãodentista. A musicoterapia pode influenciar positivamente na reação comportamental e adaptação
desses pacientes no consultório odontológico, além de favorecer a sua ambientação e cooperação
durante o tratamento.
Jaccarino (2009), sugere que o condicionamento comportamental deve ser instituído
desde a primeira consulta, por meio da interação entre o cirurgião- dentista e os familiares, para
posteriormente ser iniciado no paciente especial. Destaca ainda que o tratamento odontológico
somente deve ser iniciado após o condicionamento inicial, o qual compreende o consentimento,
o aperfeiçoamento da comunicação e o uso de técnicas alternativas, como a musicoterapia.
O estresse psicológico está presente na vida do paciente com necessidades especiais e
da sua família, podendo ser considerado um fator que o afasta do tratamento odontológico, aliado
à baixa prioridade à saúde bucal dada pela família devido a numerosos problemas de saúde na
sua prática diária. A própria incapacidade desses pacientes em se comunicar claramente com
o profissional da saúde pode ainda aumentar a baixa procura pelo trabalho odontológico
preventivo.
É importante frisar que em alguns casos o atendimento hospitalar é preferível em relação
ao ambulatorial, em virtude do comportamento não colaborador do paciente com necessidade
n. 01
v. 03
estruturas anexas.
O dever do profissional é pela busca do melhor para o paciente, promovendo a saúde
bucal, sendo que, a primeira necessidade básica no atendimento odontológico a paciente com
necessidades especiais é o termo de consentimento livre e esclarecido, autorizado pelos pais ou
responsáveis pelo paciente. Este termo está de acordo com o Código Civil Brasileiro (2002)
em seu Artigo 3º.: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida
civil: II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento
para a prática destes atos”. Artigo 5º, em seu parágrafo único: “cessará, para os menores, a
incapacidade: I – pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento
público, independente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor
tiver dezesseis anos completos”. Para o planejamento terapêutico do paciente com necessidades
especiais, deve-se fazer presente uma anamnese completa abordando os mais diversos aspectos
como: aspectos gerais do paciente; tipo de gravidade da doença; medicamentos utilizados;
relacionamento multidisciplinar; avaliação dos riscos; avaliação do grau de estresse, medo e
ansiedade; métodos de contenção e procedimentos necessários. (PERES et al., 2005).
REFERÊNCIAS
1-BRASIL, Lei n. 10.406: institui o Código Civil Brasileiro.
10/jan/2002.
2-CELESTE R. K, et al., Atendimento a Pacientes
Especiais: Uma prática de inclusão social. Universidade
Luterana do Brasil, 2002.
3-CONSELHO
FEDERAL
DE
ODONTOLOGIA.
Resolução
CFO
25/2002.Disponível
em:
http://www.cfo.org.br.
4-CORREIA MSN, et al., Atendimento Odontopediátrico:
Aspectos psicológicos – A criança Portadora de
Necessidades Especiais – Aspectos Psicológicos Gerais.
Santos, cap. 28, p, 529 – 534, 2002.
5-FOUNIOL A. Pacientes Especiais em Odontologia.
São Paulo, Panamed; 1998.
6-GUEDES PINTO AC., Odontopediatria. 7. São Paulo:
2003, ed.,Santos.
7-MUGAYAR
FRL.,
Pacientes
portadores
de
necessidades especiais: manual de odontologia e saúde
oral. São Paulo, Pancast; 2000.
8-PERES AS, et al., Atendimento a Pacientes Especiais:
Reflexão Sobre os Aspectos Éticos e Legais. Ver. Fac.
Odontol. 17(1): 49-53, Piracicaba, 2005.
9-NEDER NUNN J.H., GORDON P.H., CARMICHAEL
C.L. Dental disease and current treatment needs in a
group of physically handicapped children. Community
Dent
Health. Dec;10(4), p. 389-96. 1993.
10-NETO J. S. E. A. et al., A Odontologia na Busca
de uma
Equipe
Multidisciplinar para
Melhor
Atendimento
às
Pessoas
com
Necessidades
educacionais Especiais – A.A. E. E. “Associação de
Atendimento Educacional Especializado. V Congresso
Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial. p.
363-368, 2009.
11-RESENDE V. L. S. et al., Atendimento odontológico a
Pacientes com Necessidades Especiais. Anais do 2º
Congresso Brasileiro de Extensão Universitária.
Belo Horizonte, 2004.
12-VARELLIS M. L. Z., O Paciente com Necessidades
Especiais na Odontologia- Manual Prático. 1. São Paulo,
2005, ed., Santos.
13-VARELLIS M. L. Z. O Paciente com Necessidades
Especiais na odontologia- Manual Prático. 2.ed. cap.07,
pag. 89-171, São Paulo, Santos 2013.
14-OLIVEIRA ACB, et al., Fatores relacionados ao uso
de diferentes métodos de contenção em pacientes
portadores de necessidades especiais. Cienc. Odontol.
Brasil. v. 7, n. 3, p. 52-59, jun- set. 2004
15-ORTEGA AOL, et al., Fundamentos de odontologia
– odontopediatria: A criança com Necessidades
Especiais; cap. 21, p. 415-436, São Paulo: Santos 2010
.
CUIDADOS COM PACIENTES DIABÉTICOS NA ODONTOLOGIA
355
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
3 CONCLUSÃO
Portanto diante dessa pesquisa possibilitou-nos perceber o quanto é importante a
adequação comportamental do paciente especial dentro da clínica odontológica, além do
estabelecimento do vínculo com ele e sua família. A musicalização, a contenção e os vários outros
métodos de condicionamento, mostrou-se eficaz para estabelecer o vínculo com a paciente e
adequar seu comportamento para realização do atendimento odontológico ambulatorial visando
promoção e estabelecimento da saúde bucal.
A revisão de literatura foi realizada utilizando, principalmente artigos publicados em
âmbito nacional, visando motivar o desenvolvimento da odontologia para pessoas com
deficiência no Brasil, destacando algumas políticas e condutas adotadas entre os profissionais
odontológicos.
A formação técnica dos profissionais é de extrema importância, para a elaboração de
planos de tratamentos e condicionamentos adequados e para o estabelecimento de uma boa
comunicação com a equipe multiprofissional envolvida no atendimento do paciente com
necessidades especiais.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
especial ou ainda pela falta de condicionamento. No entanto, uma das preocupações com relação
ao tratamento hospitalar realizado nesses pacientes diz respeito a sua incapacidade futura de
suportar o atendimento ambulatorial, pois o mesmo não foi condicionado ao ambiente odontológico
ambulatorial.
Rainey (2003), relata que a utilização da música e de seus elementos serve como um
fator motivador e facilitador para o paciente portador de necessidades especiais, uma vez que
modifica o seu comportamento, facilita os seus cuidados, a sua comunicação e o seu
relacionamento com os outros, obtendo resultado positivo para os pais/cuidadores e nesse caso,
para os cirurgiões dentistas.
ABSTRACT - Diabetes Mellitus and a chronic disease cause disturbance in insulin production no
pancreas. Can be divided into Type 1 diabetes makes (insulin dependent) and Type 2 diabetes do
(insulin dependent no). If not treated properly systemic way, it can cause oral changes, such as: dry
mouth, periodontitis, gingivitis, cavities, opportunistic infections and case of mucosal lesions difficult
healing, among other complications. According to the World Health Organization are 366 million
diabetics and in the world with 522 million expectancy 2030 as Brazil is the fifth placed in diabetic
patients with numbers in the world, about 12.4 million. Some topics proposed books authors articles
comes studying one way due treatment of diabetic patients. There are several treatments
available which, when followed correctly, increases many a life expectancy and health of the patient
with diabetes mellitus.
Keywords: Diabetes Mellitus. Systemic changes. Changes in the oral cavity.
1 - INTRODUÇÃO
Com os avanços da odontologia, especialmente no último século têm permitido uma maior
e melhor sobrevida de pacientes com doenças relacionadas à cavidade oral. A introdução de
medidas preventivas para a cárie e doença periodontal, além de técnicas restauradoras mais
conservadoras e apuradas têm propiciado aos indivíduos a manutenção dos dentes por muito mais
tempo. Assim, o aumento da expectativa de vida e a manutenção dos dentes naturais têm
aumentado a procura de tratamento odontológico por estes indivíduos, levando o dentista à
necessidade de maior conhecimento a respeito do tratamento de pacientes com doenças crônicas,
como é o caso da diabetes mellitus.
Conforme indicam as pesquisas, o número de pacientes portadores de diabetes mellitus
vem crescendo assustadoramente, com base nisso, a preocupação quanto ao tratamento desse
público vem aumentando. Os cirurgiões - dentistas vêm buscando conhecimentos sobre o
desenvolvimento da doença e possíveis distúrbios metabólicos que possam se manifestar durante
o tratamento de tal paciente.
Dessa maneira, é importante ressaltar algumas características bucais do paciente
diabético, que são: xerostomia, periodontite, gengivite, cárie, síndrome da ardência bucal,
desenvolvimento dentário acelerado ou retardado, alterações na microbiota normal, hálito cetônico,
alterações de forma, tamanho e textura da língua. A diabetes Mellitus é causada pela ausência total
356
v. 03
RESUMO - O Diabetes Mellitus é uma doença crônica que causa um distúrbio na produção de
insulina no pâncreas. Pode ser dividida em Diabetes do tipo 1 (insulino dependente) e Diabetes do
tipo 2 (insulino não dependente). Se não tratada de maneira sistêmica adequadamente, poderá
causar alterações bucais, tais como: xerostomia, periodontite, gengivite, cáries, infecções
oportunistas e caso haja lesões de mucosa serão de difícil cicatrização, dentre outras complicações.
Segundo a Organização Mundial de Saúde são 366 milhões de diabéticos no mundo e com
expectativa de 522 milhões até 2030, sendo o Brasil o quinto colocado em números de portadores
de diabéticos no mundo, cerca de 12,4 milhões. Alguns temas propostos por autores de livros e
artigos vêm estudando uma forma para o devido tratamento de pacientes diabéticos. Há vários
tratamentos disponíveis que, quando seguidos de forma correta, aumenta muito a expectativa de
vida e saúde do paciente portador da diabetes mellitus.
Palavras - chave: Diabetes Mellitus. Alterações Sistêmicas. Alterações da cavidade oral.
n. 01
_________________
1
- Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2
– Docentes ITPAC Porto Nacional
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Cristiano Shiguemi Amorim¹; Mailson Sales dos Santos¹; Luciana Marquez²; Vanessa Regina
Maciel Uzan²; Viviane Tiemi Kenmoti²; Raimundo Célio Pedreira²; Nelzir Martins Costa²; Carina
Scolari Gosch².
ISBN 978-8569629-07-8
Prefixo Editorial: 69629
CARE DIABETIC PATIENTS IN ODONTOLOGICO
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Andrade et al. (2000) relataram que, deve - se realizar uma anamnese muito criteriosa, com
um bom exame físico e clínico, indagar sobre a história familiar se há casos de pacientes
diabéticos, medicamentos que faz uso, estilo de vida, hábito alimentar, se é fumante, ingere bebida
alcoólica, se pratica algum exercício físico, assim sendo, o tratamento odontológico ao portador da
doença diabetes mellitus requer um controle e conhecimento do cirurgião - dentista sobre a doença
para se evitar possíveis complicações e minimizar os riscos ao paciente.
O tratamento da diabetes mellitus inclui a seguinte forma: educação alimentar e
modificações no estilo de vida como suspensão do fumo, aumento da atividade física e, se
necessário, uso de medicamentos. A ocorrência comum de excesso de peso em pacientes
diabéticos tipo 2, o tratamento da obesidade é essencial para o controle metabólico e pequenas
reduções de peso entre 5% a 10% levam a uma melhora significativa, além de auxiliar na
prevenção e controle de complicações cardiovasculares. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DIABETES 2000).
No que diz respeito aos cuidados ao paciente diabético, Magalhães et al. (1999) destaram
que, em paciente com gengivite se preconiza que o tratamento empregado deve ser a remoção do
cálculo gengival, orientação de higiene oral e bochechos diários de gluconato de clorexidina a
0,12%. Já a doença periodontal é a de maior incidência nesses pacientes, dessa maneira, tais
autores descreveram seus critérios para o atendimento dos pacientes diabéticos com base nos
riscos, classificaram:
- Risco pequeno: taxa de glicose sanguínea em jejum inferior a 200 mg/dl;
- Risco moderado: taxa inferior a 250 mg/dl, sem história recente de hipoglicemia ou
cetoacidose;
- Risco elevado: taxa superior a 250 mg/dl, com episódios frequentes de hipoglicêmia
e cetoacidose. Tais autores alertam que pacientes com risco elevado, não devem ser submetidos
a raspagens ou cirurgias periodontais, pois, corre o risco de desenvolver quadros de hiperglicemia
e hipoglicemia e que pode ocorrer um coma ou choque.
Para os casos com risco elevado, Magalhães et al. (1999) preconizam ainda que, o
tratamento inicial deve ser feito com irrigações e profilaxia complementada com orientações de
higiene oral e bochechos diários com gluconato de clorexidina
0,12%, 2 x ao dia durante 10 dias. A partir do controle glicêmico semanal do paciente e
357
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
2 OBJETIVOS
Realizar uma revisão da literatura para o atendimento a pacientes diabéticos no consultório
odontológico, visando mostrar a importância do conhecimento dessa doença para saber conduzir
um bom tratamento odontológico.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
ou parcial da insulina no sangue, isso causada pela deficiência da secreção da insulina pelas
células Beta Pancreáticas das Ilhotas de Langerhans localizadas no pâncreas que produzem a
insulina.
Existem dois tipos de Diabetes Mellitus, do tipo 1 e Diabetes Mellitus tipo 2. O Diabetes
Mellitus do tipo 1, é causada pela destruição total das células beta pancreáticas responsáveis pela
secreção da insulina, nesse tipo de doença a produção de insulina é nula, necessitando doses de
injeções diárias. Já o Diabetes Mellitus tipo 2, é mais frequente do que o Diabetes Mellitus do tipo
1, tem uma evolução lenta com fator predisponente a hereditariedade, idade acima de 40 anos e
dieta não balanceada, e o controle dessa doença é realizado através de hipoglicemiantes orais
diários e dieta ou ambos. O cirurgião-dentista deve estar atento às manifestações orais e
sistêmicas, como: poliúria, polifagia, polidipsia, emagrecimento, acetoacidose, entre outros
sintomas.
358
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
constatando a diminuição da glicemia a taxa inferior a 200 mg/dl poderá iniciar um tratamento como
remoção de tártaro, placa e restos necróticos. E quando o cirurgião - dentista não alcançar taxas
glicêmicas adequadas, deverá optar em realizar o tratamento em ambiente hospitalar. Já para
hiperplasia gengival o tratamento preconizado pelos mesmos, deve ser realizado em ambiente
hospitalar com taxa glicêmica inferior a 140 mg/dl. Para queilite angular o tratamento deve ser
realizado com nistatina, 1 x ao dia por 10 dias. E nos casos de candidíase o tratamento deve ser
realizado com bochechos de nistatina, 5 ml de solução, 2 vezes ao dia por 7 dias.
Grossi (2001) afirma em seu estudo que, o tratamento da doença periodontal
precocemente melhora e muito o controle da diabetes, pois, uma diabetes sem controle acarretará
em complicações microvasculares e macrovasculares.
Segundo Appolinário (2003), paciente com depressão tem mais susceptibilidade de ter um
descontrole glicêmico e podendo causar uma hiperglicemia. Os profissionais da área de saúde
devem ficar atentos a pacientes com a saúde emocional comprometida, sendo a diabetes mellitus
tipo 1 onde a aceitação e o controle da taxa é mais demorada e de difícil controle respectivamente.
A não adesão do paciente ao tratamento poderá prejudicar o controle da glicemia e aumentar o
risco de complicações da doença. Sendo assim de suma importância trabalhar com o emocional do
paciente antes de qualquer procedimento odontológico.
Fernandes et al. (2010) preconizam que, o atendimento ao paciente diabético seja pela
manhã, com o paciente alimentado e com a devida ingestão de insulina. Caso o paciente não esteja
alimentado pode ocorrer uma queda de glicose chamada de hipoglicemia. O cirurgião deve ficar
atento aos sintomas da hipoglicemia, que são: fraqueza, nervosismo, pele úmida e pálida. O
tratamento é oferecer alimentos ricos em glicose em caso de hipoglicemia e se não resolver,
administrar uma solução endovenosa de dextrose (50 ml), em casos de pacientes não cooperativos
administrar glucagon (1 mg intramuscular). Ainda ressaltam, que pacientes diabéticos controlados
podem realizar tratamento odontológico normalmente, como um paciente não diabético, com
apenas alguns cuidados, sempre realizando tratamento preventivo.
De acordo com Mistro (2003), os padrões normais de glicêmia de uma pessoa considerase normal entre 70 mg/dl a 110 mg/dl. Durante o atendimento odontológico em uma pessoa
diabética uma condição é a hipoglicemia que é quando a glicose do sangue cai abaixo de 45 mg/dl
necessitando urgente de glicose, a não administração pode acarretar em uma crise convulsiva.
Nesses casos tem que administrar urgentemente solução contendo glicose como: suco de laranja,
rapadura, coca - cola etc. A hipoglicemia pode ser provocada por uma dose excessiva de insulina
ou pela ausência de refeição matinal. Se ocorrer perda de consciência no paciente, o serviço médico
de emergência deverá ser contactado.
Segundo Pérusse et ai. (1992), as complicações tóxicas da adrenalina usada em
soluções anestésicas locais depende especialmente de fatores como concentração do
vasoconstritor e volume de solução anestésica empregados, velocidade de injeção ou injeção
intravascular acidental.
Quanto ao anestésico de primeira escolha, Andrade (2006) preconiza o uso dos que
contém epinefrina, tanto para os diabéticos dependentes de insulina ou não, desde que estejam
sistemicamente compensados. Já nos casos em que a doença não esteja sob controle e mesmo
assim, haja necessidade de intervenção odontológica, tal autor recomenda uma solução anestésica
que contenha felipressina.
Já Brandão (2011) indica a Prilocaína com Felipressina como solução anestésica de
primeira escolha por ser um vasoconstritor sintético, pois anestésicos como adrenalina causam uma
hiperglicemia resultando em um pós- operatório mais demorado.
Segundo Brandão (2011), as formas de tratamento nos diabéticos idosos devem ser de
acordo com a taxa glicêmica do paciente na hora do tratamento odontológico, dessa maneira, os
classificou como segue abaixo:
4 CONCLUSÃO
A diabetes mellitus é uma doença devastadora, de carácter hereditário, devendo ter certa
preocupação. Baseada na primeira consulta logo na anamnese, o cirurgião – dentista deve solicitar
ao paciente exames laboratoriais para comprovar realmente se o paciente está com a taxa glicêmica
aumentada, para daí, encaminha - lo o paciente para uma clínica médica para um correto
tratamento. As fases de tratamento citadas nesse estudo devem ser seguido de maneira criteriosa,
359
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
- Pacientes de Baixo Risco:
Glicose em jejum: < 200 mg/dL;
Bom controle metabólico, regime médico estável, ausência de cetoacidose e hipoglicemia;
Tratamento não invasivo: com atenção para orientações gerais aplicadas para todos os
pacientes diabéticos: exame/radiografias, instruções sobre higiene bucal, restaurações,
profilaxia supragengival e de próteses, raspagem e polimento radicular (subgengival) e
endodontia;
Tratamento invasivo: extrações simples ou múltiplas, gengivoplastia, cirurgia com retalho,
extração de dente incluso, apicectomia.
- Pacientes de Risco Moderado:
Glicose em jejum: < 250 mg/dL;
Sem história recente de cetoacidose ou hipoglicemia e poucas complicações do diabetes
mellitus tipo 2;
Tratamento não invasivo: com atenção para orientações gerais aplicadas para todos os
pacientes diabéticos: exame/radiografias, instruções sobre higiene bucal, hábitos alimentares e
prática de exercícios, restaurações, profilaxia supragengival, raspagem e polimento radicular
(subgengival) e endodontia;
Tratamento invasivo: extrações simples e gengivoplastia, que devem ser realizadas após ajuste
na dosagem de insulina, em comum acordo com um médico da unidade de atendimento ou do
próprio paciente e profilaxia antibiótica (amoxicilina 2 g, clindamicina 600 mg ou azitromicina
500 mg em alérgicos, uma hora antes do procedimento). Para os demais procedimentos
invasivos deve ser considerada a sua internação.
- Pacientes de Alto Risco:
Glicose em jejum: > 250 mg/dL;
Apresenta múltiplas complicações do diabetes mellitus tipo 2, com episódios de cetoacidose
ou hipoglicemia freqüente;
Somente podem ser realizados exame/radiografia, instruções sobre higiene bucal e
tratamentos paliativos. Demais procedimentos devem ser adiados até rigoroso controle do
estado metabólico, exceção feita nos casos de infecção dentária ativa, onde se devem
executar procedimentos mais simples para controle.
Brandão (2011) indica alguns cuidados que devem ser tomados quanto ao uso de
medicamentos como: analgésicos, anti-inflamtórios e antibióticos. Analgésicos: A dipirona é um
discreto hiperglicemiante, e o ácido acetilsalicílico pode sinergir com a insulina, provocando choque
hipoglicêmico. São indicados: paracetamol ou dipirona (tomando-se os cuidados necessários). Antiinflamatórios: como já foi exposto, deve-se evitar o uso de anti- inflamatórios corticóides como por
exemplo: hidrocortisona, predinisolona betametasona. Os anti - inflamatórios mais indicados para
pacientes diabéticos são benzidamina e diclofenaco. Antibióticos: podem ser prescritos sem
grandes contra - indicacões, salvo as do próprio antibiótico. Os mais indicados são as penicilinas
ou cefalosporinas, e, em casos de pacientes alérgicos, a eritromicina.
A presença de uma doença crônica degenerativa gera sentimentos diversos como
angústia, temor e incerteza nos diabéticos e em seus familiares. Muitas vezes, os portadores da
diabetes mellitus sentem-se frustados ou "esgotados" pelo desconforto diário do tratamento.
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
n. 01
MAGALHÃES, Marina H.C.G. et al. Estudo clínico das
alterações bucais de pacientes diabéticos insulinodependentes - proposta de protocolo de tratamento
odontológico. Diabetes Clínica. [S.l.]. 01. 1999. p. 56 - 60.
MISTRO, Forence. Diabetes mellitus: revisão e
considerações no tratamento odontológico. Revista
paulista de odontologia.[S.l.]. v.25, n.6, p.15 – 18,
nov./dez., 2003.
PÉRUSSE, R. et al. Contraindications to vasoconstrictors
in dentistry: part L Oral Surg Oral Med Oral Pathol, Saint
Louis, v.74, n.5, p. 679 - 686, nov.1992.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diagnóstico e
classificação do diabetes mellitus e tratamento do
diabetes mellitus tipo 2. São Paulo, 2000. 50p.
CONCEITOS EM SAÚDE BUCAL INDÍGENA
CONCEPTS IN ORAL HEALTH INDIGENOUS
Divino Warley Araújo Soares¹; Adriano Castorino²; Larissa Jacome B Silvestre²; Fernanda Silva Magalhaes²;
Flavio Dias Silva²; Nelzir Martins Costa²; Carina Scolari Gosch²; Ozenilde Alves Rocha Martins².
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO Os indígenas do Brasil perfazem um total de 547 mil, distribuídos em 4.200 comunidades,
abrangendo 225 etnias, sendo faladas mais de 170 línguas maternas. A atenção à saúde destes
povos, que apresentam características peculiares de organização social, politica, e cultural e
habitam regiões distantes e isoladas, se constitui uma das missões mais difíceis do Estado
Brasileiro. São muitos desafios a serem superados quando se trata de assistência à saúde
indígena, tais como culturais, linguísticos e geográficos. As populações indígenas brasileiras
recebem assistência à saúde através do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, integrado ao
Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com as diretrizes da Politica Nacional de Atenção Básica
dos Povos Indígenas, garantindo o atendimento e respeito às suas peculiaridades culturais. De
acordo com a Politica Nacional de Saúde Bucal, um de seus pilares e eixo estratégico é a Atenção
Básica de atendimento curativo e preventivo nas comunidades indígenas, enfatizando o foco de
melhoria na saúde bucal dessa população. Este trabalho tem como objetivo determinar como o
cirurgião-dentista vai atuar na coletividade com outros profissionais para atendimento nas aldeias
e se os mesmos estão aptos a receberem estes cuidados.
Palavras chave: Saúde Indígena. Comunidades Indígenas. Atenção Básica.
ABSTRACT The natives of Brazil make up a total of 547,000, distributed in 4,200 communi-ties,
including 225 ethnic groups, being spoken more than 170 mother tongues. The on-voltage to the
health of these people, which have peculiar features of social organi-zation, political, and cultural
and inhabiting distant and isolated regions, it is one of the most difficult missions of the Brazilian
State. There are many challenges to be overcome when it comes to assistance to indigenous health,
such as cultural, linguistic and geographical. Brazilian indigenous people receive health care through
360
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
ANDRADE, Eduardo Dias. et al. Pacientes que requerem
cuidados especiais. In: ANDRADE, E.D. Terapêutica
medicamentosa em odontologia. 2.ed. São Paulo: Artes
Médicas, 2000. cap.9, p. 93 -140.
APOLLINARIO, José. Diabetes mellitus e depressão: uma
revisão sistemática. Arquivo brasileiro de endocrinologia e
metabolismo.[S.l.]. v.47, n.1, fev., 2003.
BRANDÃO, Dayse Francis. et al. Relação bidirecional
entre a doença periodontal e a diabetes mellitus.
Odontol. Clín.-Cient., Recife, p. 117 - 120, abr/jun., 2011.
FERNANDES, Patrícia Motta. et al. Abordagem
odontológica em pacientes com diabetes mellitus tipo 1.
Pediatria, São Paulo. 2010, p. 274 - 280.
GROSSI, S. G. Treatimente of periodontal disease and
control of diabetes: na assissment of the evidence and
need for future research. Ann. Periodont., Chicago, v.6,
n.1, p. 138 – 145, 2001.
v. 03
possibilitando uma melhor forma para um correto tratamento odontológico satisfatório. A diabetes
mellitus quando não tratada de forma correta pode levar a complicações gravíssima, inclusive levar
o paciente a óbito.
Pacientes já sabidamente diabéticos necessitam de cuidados especiais, sendo importante
o contato com o médico que o acompanha, principalmente diante de procedimentos cirúrgicos mais
complicados, que exijam boas condições metabólicas desses pacientes.
REFERÊNCIAS
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Um trabalho dessa envergadura precisa perpassar por uma concepção de pesquisa
que seja mais ampla e mais humanística. Para isso, os pressupostos de pesquisa que instigaram
esse trabalho estão dentro da lógica de uma ecologia de saberes. Esse conceito de conhecimento
com ecologia de saberes é de Boaventura de Sousa Santos (2007). Para Santos, o conhecimento
ocidental é estratificado e disjuntivo, isso significa que as ciências, em especial as ditas ciências
duras, como são consideradas as exatas e as biológicas, operam sistemas de dissecção como se
conhecendo as partes significasse o saber do todo.
Ora, nas ciências sociais, em particular na antropologia, é justamente o contrário. Uma
pesquisa deve pressupor, sobretudo, os marcos conceituais com os quais se pretende dizer alguma
coisa. Por isso, neste trabalho o foco esteve nos documentos oficiais e nos textos de pesquisadores
que falam sobre saúde bucal indígena. Todavia, essa noção de trabalho acadêmico não pode ser
vista apenas como se fosse uma revisão, no sentido de repassar, conceitos, de ler sobre e relatar.
O trabalho aqui é denso também porque toma os conceitos e a partir deles elabora-se uma narrativa
com a qual este trabalho subsiste.
361
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
1 INTRODUÇÃO
Atualmente, é consenso mundial que o padrão de desenvolvimento de um país tem estreita
relação com a saúde de sua população. Embora os fatores biológicos sejam essenciais para o
aparecimento de várias doenças, muitas delas com comportamento endêmico. Quando se pensa
sobre a aplicabilidade de modelos eficientes de saúde num contexto sociocultural indígena,
percebe-se que a solução deve ir muito além da introdução urgente de profissionais de saúde
qualificados em suas especialidades nas aldeias.
Entre elas, destaca-se o desenvolvimento econômico, a forma de organização do governo
e dos serviços de saúde, o nível educacional da população, assim como os padrões de cultura e
tradição popular.
A Saúde Bucal, parcela imprescindível desse perfil de saúde desejado, é o foco deste
trabalho. No contexto dos povos indígenas que têm garantido pelo próprio Estado Nacional o direito
de se manterem em suas especificidades culturais, percebe-se um grande distanciamento entre a
odontologia ocidentalizada e os seus saberes tradicionais nessa área.
Os povos indígenas brasileiros recebem assistência à saúde através do Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena, integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e de acordo com as
diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, garantindo o respeito às
suas peculiaridades culturais. Formando uma relação dialógica e construtiva para uma odontologia
efetivamente viável e funcional na aldeia e, para tanto, apresenta profissionais de saúde bucal,
instituições competentes e interessados, uma noção antropológica do indígena e dos elementos
dentais em sua perspectiva.
Este estudo tem como objetivo apontar os aspectos relativos à saúde bucal nas
comunidades indígenas e mostrar a organização dos serviços, de acordo com o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena e com as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena,
destacando-se a evolução e os desafios de um modelo de assistência à saúde bucal.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
the subsystem of the Indigenous Healthcare, integrated into the Unified Health System (SUS) in
accordance with the guidelines of the National Primary Care of Indigenous Peoples policy, ensuring
compliance and respect their peculiarities cultural activities. According to the National Policy of Oral
Health, one of its pillars and strategic axis is the attention curative care and basic prevention in
indigenous communities, emphasizing the improvement of focus on oral health of this population.
This study aims to determine how the dentist will work in community with other professionals to
serve in the villages and if they are able to receive this care.
Keywords: Indigenous Health. Indigenous communities. Primar
362
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Sistema Único de Saúde-SUS pode ser entendido como uma “Política de Estado”,
materialização de uma decisão escolhida pelo Congresso Nacional, em 1988, na Constituição
cidadã, de considerar a Saúde como um “Direito de Cidadania e um dever do Estado” (TEIXEIRA,
2003).
O Sistema é o resultado de uma luta que teve início nos ano de 1970 e foi chamado de
Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira. Surgindo do princípio de que a defesa da saúde é
a defesa da própria vida. O movimento insistia que era preciso mudar o sistema de saúde para
torná-lo eficiente e disponível para toda a comunidade. O sistema de saúde vigente até a
promulgação da Constituição de 1988 garantia o atendimento aos trabalhadores que tinham carteira
de trabalho assinada. Naquela época à assistência pública á saúde era de responsabilidade do
Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS. As pessoas que não
faziam parte da classe de assalariados eram atendidas pelas Santas Casas de Misericórdia ou por
postos de saúde municipais, estaduais e hospitais universitários (BRASIL,
2001).
É preciso, portanto, entender o significado disso, em uma sociedade capitalista e periférica,
como a brasileira, na qual vicejam distintas concepções acerca do Estado, da Política, em suma,
da natureza das relações entre público e privado, e mais contemporaneamente, das relações entre
estatal público – privado (BOBBIO, 2000).
Nesse sentido, o SUS é um projeto que assume e consagra os princípios da
Universalidade, Equidade e Integralidade da atenção à saúde da população brasileira, o que implica
conceber como “imagem-objetivo” de um processo de reforma do sistema de saúde “herdado” do
período anterior, um “sistema de saúde”, capaz de garantir o acesso universal da população a bens
e serviços que garantam sua saúde e bem-estar, de forma equitativa e integral. Ademais, se
acrescenta aos chamados “princípios finalísticos”, que dizem respeito à natureza do sistema que
se pretende conformar, os chamados “princípios estratégicos”, que dizem respeito às diretrizes
políticas, organizativas e operacionais, que apontam “como” devem vir a ser construído o “sistema”
que se quer conformar, institucionalizar, tais princípios são a Descentralização, a Regionalização,
a Hierarquização e a Participação social (MACHADO, 2007).
Isso exige que se esclareça o sentido e o significado que se pretende e tem sido dado, aos
termos “SAÚDE”, “SISTEMA DE SAÚDE”, por Descentralização, Regionalização, Hierarquização e
a Participação social. É impossível nesse curto espaço de tempo, dar conta desse desafio. O que
se propõe a fazer, portanto, é apenas caracterizar, em grandes, linhas, o debate que vem se dando
em torno de cada um dos princípios “finalísticos”, tentando identificar sua fundamentação teórica e
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Assim, a parte prática desse trabalho, que tem como base livros textos que são referência
no estudo da odontologia no Brasil, artigos hospedados em bases de dados on-line, e ainda
endereços eletrônicos de órgãos de regulamentam a profissão de odontologia, não é
necessariamente a parte dura da pesquisa. É uma parte que complementa os pressupostos que
justificaram o trabalho, a saber, compreender a construção de uma política de atendimento em
saúde bucal específica para os povos indígenas.
Iniciou-se a pesquisa utilizando termos em português sobre saúde indígena, Política de
Saúde Indígena, revelou que os mesmos artigos que eram encontrados em bases de dados como
Bireme, Scielo, Lilacs e Proquest também estavam presentes no Google Acadêmico.
Além dessa varredura em textos, leis, decretos, portarias, foi também necessário um
trabalho de compreensão de alguns conceitos, entre os quais, o de cultura aplicado ao universo
indígena, saúde bucal específica, política de saúde. Para essa compreensão foi necessário muitas
horas de conversas com o orientador para que também fosse possível dar sentido ao material que
a pesquisa ia demonstrando.
363
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
política, como ponto de partida para que introduzam a reflexão sobre a dimensão ética embutida
na discussão de cada um deles (TEIXEIRA, 2005).
Princípios Básicos do SUS:
É universal, porque deve atender a todos, sem diferenciações, de acordo com suas
necessidades; e sem nenhum custo, sem levar em conta o poder aquisitivo ou se a pessoa contribui
ou não com a Previdência Social.
É integral, pois a saúde da pessoa não pode ser dividida e, sim, deve ser tratada como
um todo. Isso quer dizer que as ações de saúde devem estar direcionadas, ao mesmo tempo, para
a pessoa e para a comunidade, para a prevenção e tratamento, sempre respeitando a dignidade
humana.
Garante equidade, pois deve proporcionar os recursos de saúde de acordo com as
necessidades de cada um; dar mais para quem mais precisa.
É descentralizado, pois quem está perto dos cidadãos tem mais chances de acertar na
solução dos problemas de saúde. Assim, todas as ações e serviços que atendem a população de
um município devem ser municipais; as que servem e alcançam vários municípios devem ser
estaduais e aquelas que são dirigidas a todo o território nacional devem ser federais. O SUS tem
um gestor único em cada esfera de governo.
É regionalizado e hierarquizado: as questões menores devem ser realizadas nas unidades
básicas de saúde, passando pelas unidades especializadas, pelo hospital geral até chegar ao
hospital capacitado (TEIXEIRA, 2011).
O contexto no qual foi criada Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) demonstra
que tanto a as políticas públicas estavam longe de focar as populações indígenas quanto à
odontologia estava fora do rol de procedimentos a que estes povos tinham acesso. De acordo com
Bertanha et. al, (2012) “os indígenas do Brasil perfazem um total de 547 mil, distribuídos em
4.200 comunidades, abrangendo 225 etnias, sendo faladas mais de 170 línguas maternas”.
É neste contexto que a atenção em saúde bucal indígena se insere. Isso significa inúmeros
desafios, como conta Bertanha et. al, (2012): a atenção à saúde destes povos, que apresentam
características peculiares de organização social, política e cultural e habitam regiões distantes e
isoladas, se constitui uma das missões mais difíceis do Estado Brasileiro. São muitos os desafios
a serem superados quando se trata de assistência à saúde indígena, tais como culturais,
linguísticos e geográficos.
Nesse mesmo sentido, como diz Machado Jr. et al, (2012), um paciente indígena traz
consigo sua interpretação do mundo ao seu redor, da vida e da morte, das causas espirituais da
doença, da cura e, seguramente, um conceito de seu próprio “sistema de saúde” cultural.
Quando, então, o profissional de saúde desenvolve seu trabalho tratando do paciente
indígena como se este fosse um paciente de um contexto urbano, o choque ocorrerá, pois a relação
profissional-paciente é outra e, devido à diversidade das culturas envolvidas, é provável que ocorra
minimamente: (1) Descrédito do indígena quanto ao tratamento oferecido; (2) Não aceitação de um
tratamento contínuo tido por “demorado” aos olhos do paciente indígena por exigir vários retornos
ao dentista; e/ou (3) Não desenvolvimento de novos hábitos preventivos de saúde.
Como resposta a esses desafios, a DSEI tem entre suas metas a capacitação constante,
como o evento, transcrito a seguir, ocorrido em Brasília no ano de 2011
(http://dab.saude.gov.br/noticia/noticia_ret_detalhe.php?cod=1431).
A Secretaria Especial de
Saúde Indígena (SESAI) realiza entre os dias 29 de novembro a 2 de dezembro, em Brasília(DF),
a capacitação Brasil Sorridente Indígena. O objetivo é ampliar o acesso ao atendimento
odontológico nas aldeias, estruturando e qualificando os serviços de saúde bucal nos DSEIs. A
oficina vai contar com a participação de 50 profissionais de saúde bucal dos três Distritos Especiais
de Saúde Indígena (DSEIs) que farão parte da fase 1 do programa Brasil Sorridente Indígena. São
eles: DSEIs Xavante (MT), Alto Rio Solimões (AM) e Ato Rio Purus (AC).
364
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Essa é a primeira política nacional elaborada especificamente para tratar da saúde bucal
desses povos. O intuito principal desta capacitação é fornecer todo o insumo técnico e teórico para
o atendimento de qualidade. No lançamento do programa, em abril, o ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, destacou que serão investidos R$ 40,7 milhões (Fase 1 e Fase 2) para implantação e
estruturação desse programa para toda a população indígena do Brasil. A partir do ano que vem,
o valor de custeio passa a ser de R$ 36,5 milhões, por ano. O investimento engloba a contratação
de profissionais, aquisição de consultórios portáteis, equipamentos de apoio e material de consumo.
Fase 1 O programa será executado em duas etapas. Inicialmente, o Ministério da Saúde
adquiriu 37 consultórios odontológicos portáteis e 37 Kits de instrumental clínico odontológico. Com
duração de seis meses, esta fase irá zerar as necessidades das comunidades indígenas em três
DSEIs: Xavante (MT), Alto Rio Purus (AC/AM/RO) e Alto Rio Solimões (AM), que juntos, têm
uma população aproximada de 70 mil indígenas. São os três maiores Distritos do país. Nas aldeias,
os profissionais trabalharão para resolver os principais problemas bucais graves e urgentes,
incluindo o processo de reabilitação protética para quem já perdeu os dentes.
A equipe para esses três DSEIs é formada por 26 cirurgiões-dentistas, 11 auxiliares de
saúde bucal (ASB) e 10 técnicos de saúde bucal que receberão treinamento específico para
atendimento a essa população, observando um protocolo diferenciado para as especificidades e
características das etnias.
Além disso, a SESAI enviou aos três distritos 74 mil Kits de higiene bucal, composto
por escova dental adulto/infantil e creme dental fluoretado. O material será doado à população
indígena durante as atividades de promoção e prevenção.
O programa também pretende implantar nove Centros de Especialidades Odontológicas
(CEO) e nove Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), nos mesmos três DSEIs.
Fase 2 O Programa Brasil Sorridente Indígena reorganizará o atendimento integral em
saúde bucal em todos os 34 DSEI do país. Para tanto, o Ministério da Saúde iniciou o processo de
compra de consultórios portáteis e kits instrumentais para equipar as 514 equipes de saúde bucal
que atuarão quando o programa for estendido para todo o Brasil.
As medidas previstas no Brasil Sorridente Indígena são coordenadas pelo Ministério da
Saúde e executadas pelos DSEIs. O Distrito Sanitário é a unidade central do Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena. Ele é o responsável pelas atividades técnicas e qualificadas de atenção
básica à saúde. No Brasil, são 34 unidades, que não são divididas por estados, mas
estrategicamente com base à ocupação geográfica das comunidades indígenas. Além dos DSEIs,
a estrutura de atendimento conta com postos de saúde, com os Polos Bases e as Casas de
Saúde do Índio (CASAIS).
Consultórios portáteis: As localidades para intervenção nas aldeias são de difícil acesso
geográfico, podendo ser feito por barco e outros meios de transporte até as aldeias, e permitirão
atendimentos básicos e especializados. Cada Unidade Odontológica Móvel é composta por
cadeira odontológica, kit de pontas (“motorzinho do dentista”), cadeira, refletor, amalgamador,
fotopolimerizador (utilizado para preparar o material de restauração), raio-x odontológico e
autoclave (usado na esterilização do material). As unidades também possuem ar-condicionado, pia
para lavagem de mãos, reservatórios de água, armários e, acoplado ao veículo ou ao barco, um
gerador de energia).
Essa transcrição foi posta aqui para demonstrar como o desafio de atendimento a essas
populações. Além disso, nos interessa aqui também os conceitos que são elencados nessa política.
Um dos principais é o conceito de atendimento específico. Como esse trabalho aqui é sobre esse
escopo conceitual, é importante ressaltar a noção de atendimento específico.
Durante anos a odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. O
acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado. Esta demora na procura
ao atendimento, aliada aos poucos serviços odontológicos oferecidos faziam com que o principal
365
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
tratamento oferecido pela rede pública fosse à extração dentária, colocando a visão da
odontologia como mutiladora e do cirurgião-dentista com atuação apenas clínica (COSTA,
2004).
O Ministério da Saúde lançou no início de 2004 a Política Nacional de Saúde Bucal
(PNSB), marco inicial do extenso processo de debates e construção de estratégias que culminariam
com a realização da III Conferência Nacional de Saúde Bucal no mesmo ano. Este documento
fundamental nesta política apresenta o “conceito de cuidado como eixo de reorientação do modelo,
relacionado a uma concepção de saúde não mais centrada na assistência aos doentes mais na
promoção de boa qualidade de vida e na intervenção nos fatores que a colocam em risco, na
incorporação das ações programáticas de uma forma mais abrangente e no desenvolvimento das
ações intersetoriais” (BRASIL, 2004).
O programa Brasil Sorridente (SB) foi apresentado oficialmente como expressão de
uma política subsetorial consubstanciada no documento ‘Diretrizes da Política Nacional de Saúde
Bucal (PNSB)’ definida pelo governo Lula (2003-2006), no primeiro ano de governo e integrada ao
“Plano Nacional de Saúde: um pacto pela saúde no Brasil”. Nesse documento, foi enfatizada a
reorientação do modelo de atenção em saúde bucal, sublinhada a busca de articulação com os
setores da educação e da ciência e tecnologia, e identificados os princípios norteadores e as linhas
de ação previstas (BARTOLE, 2008).
Deve se ampliar e qualificar o acesso ao atendimento básico garantindo serviços
odontológicos em todas as unidades básicas de saúde, incluindo áreas rurais, de difícil acesso e
de fronteiras nacionais, com atendimentos em horários que possibilitem o acesso de adultos e
trabalhadores a esse tipo de assistência, inclusive com a implantação, pelo setor público, de
laboratórios de próteses dentárias de âmbito regional ou municipal. Foi enfatizada, ainda, a
importância de programar ações de saúde bucal junto às populações indígenas e remanescentes
de quilombos, após ampla discussão com as suas organizações, a fim de se garantir o
estabelecimento de um programa de atendimento de caráter não mutilador, universal, integral e
com equidade, e que considere as experiências e os valores culturais relacionados às práticas
higênicas e dietéticas de cada povo indígena ou quilombola (FREITAS et al., 2011).
Uma nova perspectiva para Política Nacional de Saúde (PNSB) foi aberta pelo Ministério
da Saúde (MS) com a portaria 1.444 de 28/12/2000, estabelecendo incentivo financeiro para
reorganização da atenção à saúde bucal prestada nos municípios por meio da Promoção Saúde
da Família (PSF) (BRASIL, 2000).
Monitorando a implantação do Programa Saúde da Família (PSF), no período de 2001 a
2002, observou-se que 7,2% das equipes de saúde bucal habilitadas atendiam exclusivamente
estudantes, em alguns estados, a cifra ultrapassava 15% das equipes. A partir de 2004 começaram
a serem instalados, em todos os estados brasileiros, com base na portaria no
1.570/GM, os Centros de Especialidades Odontológicos (CEO), com o objetivo de ampliar e
qualificar a oferta de serviços odontológicos especializadas. Os CEO são unidades de referência
para as unidades de saúde encarregadas da atenção odontológica básica, e estão integradas ao
processo de planejamento locorregional, sendo os custos para seu funcionamento compartilhados
por estados municípios e governo federal. O atendimento paciente com necessidades especiais e
as ações especializadas de periodontia, endodontia, diagnosticam bucais e cirurgias orais menor
integram o elenco ofertado minimamente em todos os CEO (BRASIL,
2002).
No período de 2002 a 2008, embora o número de equipes de saúde bucal (ESB) tenha
aumentado de 4.261 para 17.349, representando um potencial de cobertura de mais de 91 milhões
de habitantes, esse valor correspondia apenas um pouco mais de metade das Equipes de Saúde
da Família. Além disso, uma pequena proporção das ESB contava com técnico em higiene dental.
Ademais, dados sobre potencial de cobertura são importantes, mas, por se referirem à demanda
366
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
potencial e não à demanda efetiva, não esclarecem sobre o número de brasileiros que estão tendo
acesso às ações de saúde bucal e se beneficiando da PNSB. É de grande significado, contudo,
que equipes de saúde bucal esteja presente em 4.857 dos 5.564 municípios brasileiros, e que
nesse período, o potencial de cobertura tenha aumentado de cerca 15% para 44% (ALCÂNTARA,
2008).
No âmbito das ações preventivas, foram implantados por meio da Fundação Nacional
de Saúde (FUNASA), 205 novos sistemas de fluoretação da água de abastecimento público,
medida reconhecidamente efetiva na prevenção da carie dentária, sendo uma campanha da Política
Nacional de Saúde Bucal e Brasil Sorridente. Para que a PNSB, que se expressa operacionalmente
no Programa Brasil Sorridente, possa aproximar o conteúdo expresso em suas diretrizes das
necessidades dos brasileiros, traduzindo-se em ações concretas, não poderá ficar restrita nem
à saúde da família, no plano da atenção básica, nem aos CEO, na atenção secundária. Não há
dúvidas que o os CEO seja a face de maior visibilidade do Programa Brasil Sorridente, mas a PNSB
é muito mais do que o CEO, é concretizar isto é o principal desafio estratégico posto a essa política
pública, cujos maiores riscos são de um lado essa redução e de outra descontinuidade do
financiamento (NARVAI & FRAZÃO, 2006)
A responsabilidade pela gestão e direção da Política Nacional de Atenção à Saúde dos
Povos Indígenas cabe ao Ministério da Saúde. Até o ano de 2010, o órgão responsável pela
execução das ações relacionadas à saúde indígena era a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA),
por intermédio do Departamento de Saúde Indígena (DESAI), e pelos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEIs). A FUNASA tinha como atribuições e se estruturava da seguinte forma:
Estabelecer diretrizes e normas para a operacionalização da Política Nacional de Atenção
à Saúde dos Povos Indígenas;
Promover a articulação intersetorial e intrasetorial com as outras instâncias do Sistema
Único de Saúde;
Coordenar a execução das ações de saúde e exercer a responsabilidade sanitária sobre
todas as terras indígenas do país;
Implantar e coordenar o sistema de informações sobre a saúde indígena no país.
Porém, houve mudanças em relação à saúde indígena em 2010 e o órgão responsável
pelas ações deixou de ser a FUNASA. Foi criada uma secretaria dentro do Ministério da Saúde,
a Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, que passa agora a coordenar e avaliar as
ações de atenção à saúde no âmbito do Subsistema de Saúde Indígena (BRASIL, 2010).
De acordo com a Portaria MS n° 2607, de 10 de dezembro de 2004, os Distritos Sanitários
Especiais Indígenas são um modelo de organização de serviços, que contemplam um conjunto de
atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde,
promovendo a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades
administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência, com controle social (BRASIL,
2004).
Ainda no ano de 2009, os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) passaram
a ter autonomia administrativa. Os DSEIs passaram a funcionar como unidades gestoras
descentralizadas, responsáveis pelo atendimento e pelo saneamento básico em cada região. A
autonomia dos distritos desburocratiza a atenção à saúde indígena, que passa a estar integrada
e articulada com todo o Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta enviada pela Fundação ao
governo gerou o Decreto nº 6.878, assinado em 18 de junho de 2009, pelo presidente da
República, Luís Inácio Lula da Silva. A autonomia dos Distritos foi pleiteada pelas lideranças na IV
Conferência Nacional de Saúde Indígena, realizada em 2006 (BRASIL, 2009).
Pelo Decreto, o Ministério da Saúde, juntamente com a FUNASA, deverá adotar as
providências necessárias para que os 34 DSEIs estejam em plena capacidade operacional até
31 de dezembro de 2010. Enquanto isso as Coordenações Regionais da FUNASA darão suporte
367
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
administrativo até que os Distritos tenham unidades próprias instaladas (BRASIL, 2010).
A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada
por conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do
Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das
três esferas de governo. No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de
descentralização e capilaridade, acontecendo no local mais próximo da vida das pessoas. Ela
deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação
com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios
da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da
atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. As Unidades
Básicas de Saúde instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem
desempenham um papel importante na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde
de qualidade. Dotar estas unidades da infra estrutura necessária a este atendimento é um desafio
que o Brasil, único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes com um sistema de
saúde público, universal, integral e gratuita está enfrentando com os investimentos do Ministério da
Saúde. Essa missão faz parte da estratégia Saúde Mais Perto de Você, que enfrenta a expansão
e o desenvolvimento da Atenção Básica no País.
Uma Atenção Básica Fortalecida e Ordenadora das Redes de Atenção: a nova PNAB
atualizou conceitos na política e acrescentou elementos ligados ao papel desejado da AB na
ordenação das Redes de Atenção. Avançou na afirmação de uma AB acolhedora, resolutiva e que
avança na gestão e coordenação do cuidado do usuário nas demais Redes de Atenção. Avançou
no reconhecimento de um leque maior de modelagens de equipes para as diferentes populações e
realidades do Brasil.
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 Aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção
básica, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição e considerando a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 687, de 30 de março de 2006, que aprova a Política de
Promoção da Saúde; Considerando a Portaria nº 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, que
trata do processo de integração das ações de vigilância em saúde e atenção básica.
A Portaria nº 2.372/GM/MS, de 7 de outubro de 2009, que cria o plano de fornecimento
de equipamentos odontológicos para as equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família;
Considerando a Portaria nº 2.371/GM/MS, de 7 de outubro de 2009, que institui, no âmbito da
Política Nacional de Atenção Básica, o Componente Móvel da Atenção à Saúde Bucal – Unidade
Odontológica Móvel (BRASIL, 2012).
Considerando a pactuação na Reunião da Comissão Intergestores Tripartite do dia 29
de setembro de 2011, resolve: Art. 1º Aprovar a Política Nacional de Atenção Básica, com
vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, nos termos
constantes dos anexos a esta portaria.
A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes:
I Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação
descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação,
nos condicionantes e nos determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele
território, sempre em consonância com o princípio da equidade;
II Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos,
4 CONCLUSÃO
Esse trabalho é apenas uma iniciativa de compreensão de um tema amplo, complexo e
ainda muito pouco estudado nas escolas de odontologia. O exemplo está na própria formação, isto
é, não fosse ter surgido essa oportunidade eu não teria me detido nessa temática nem tampouco
tinha me interessado por essa pesquisa. Isso não significa dizer que os demais assuntos que são
tratados na odontologia não sejam importantes. São sim, claro. Mas também de ter abertura para
outros temas, para outras formas de cultura.
As leituras são iniciais e serviram para se ter uma compreensão mais detalhada dessa área
de atuação seria necessário ter mais tempo para se aprofundar mais nas leituras. Além disso, é
imprescindível que na formação os estudantes tenham oportunidade de fazer aula de campo nas
comunidades indígenas e quilombolas, por exemplo, porque isso ajudaria na compreensão das
368
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os
usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades
de saúde.
III Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as
equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade
do cuidado. A adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e
grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.
IV Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando as ações
programáticas e demanda espontânea; articulando as ações de promoção à saúde, prevenção de
agravo, tratamento e reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão
necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e coletividades; trabalhando de
forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do cuidado integral do
usuário e coordenando-o no conjunto da rede de atenção.
V Estimular a participação dos usuários como forma de aumentar sua autonomia e
capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no
enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos
serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social
(BRASIL, 2012).
A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro,
criado pela Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculado ao Ministério da Justiça. Sua missão
é coordenar e executar as políticas indigenistas do Governo Federal, protegendo e promovendo os
direitos dos povos indígenas. São também atribuições da FUNAI identificar, delimitar, demarcar,
regularizar e registrar as terras ocupadas pelos povos indígenas, promovendo políticas voltadas ao
desenvolvimento sustentável das populações indígenas, reduzindo possíveis impactos ambientais
promovidos por agentes externos.
A FUNAI também tem por atribuição, prover o acesso diferenciado aos direitos sociais e
de cidadania dos povos indígenas, como o direito à seguridade social e educação escolar indígena.
Embora projetada pelos intelectuais do CNPI para superar os antigos impasses do SPI, a
FUNAI acabou por reproduzi-los. Sua criação foi inserida no plano mais abrangente da ditadura
militar (1964-1985), que pretendia reformar a estrutura administrativa do Estado e promover a
expansão político-econômica para o interior do País, sobretudo para a região amazônica. As
políticas indigenistas foram integralmente subordinadas aos planos de defesa nacional,
construção de estradas e hidrelétricas, expansão de fazendas e extração de minérios. Sua
atuação foi mantida em plena afinidade com os aparelhos responsáveis por implementar essas
políticas: Conselho de Segurança Nacional (CSN), Plano de Integração Nacional (PIN), Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM).
CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM PACIENTES FALCÊMICOS
NURSING CARE OF PATIENTS SICKLE CELL
Aléxia Dchamps dos Santos Paula1, Poliana Andrade de Oliveira Izoton2, Gabriela Ortega Coelho
Thomazi2; Tania Maria Aires Gomes Rocha²; Valdir Francisco Odorizzi²; Nelzir Martins Costa²;
Jonas Eraldo de Lima Júnior².
_________________
1
- Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2
– Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO: Introdução - A doença falciforme junto com suas complicações clínicas possuem níveis
hierarquizados de complexidade, variando de período de bem-estar a urgência e emergência.
Quando ocorre desses pacientes e familiares procurarem as unidades de saúde observa-se a
quebra da assistência, profissionais inseguros, inadequadamente preparados para prestarem a
assistência adequada aos pacientes e seus familiares. Objetivo - Apontar os principais cuidados e
intervenções de enfermagem com pacientes falcêmicos que foram publicados no período de 2005
a 2015. Métodos - Trata-se de um estudo de caráter descritivo de revisão bibliográfica, acerca dos
369
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
FRAZÃO, Paulo; NARVAI, Paulo Capel.Promoção da
Saúde Bucal em Escolas.In: ARAÚJO, Maria Ercilia;
FRIAS, Antônio Carlos; JUNQUEIRA, Simone Rennó.
Odontologia em Saúde Bucal. São Paulo, 2009. p.21.
FREITAS, Daniel Antunes et al. SAÚDE E
COMUNIDADE QUILOMBOLAS: UMA REVISÃO DA
LITERATURA. Rev.CEFAC. 2011 Set-Out; 13(5):937943
MACHADO, Maria de Fátima Antero Sousa; et al.
Integralidade, formação de saúde, educação em
saúde e as propostas do SUS uma revisão
conceitual. Fortaleza-CE, 12(2):335342, 2007.
MACHADO JR., E. Odontologia na aldeia: a saúde
bucal indígena numa perspectiva antropológica.
Ano 4 – Volume 5 – Maio de 2012. Texto disponível e
m:
http://revista.antropos.com.br/downloads/maio2012/Arti
go7-OdontologianaAldeia.pdf
TEIXEIRA, Carmem. Equidade, Cidadania, Justiça e
Saúde. Paper elaborado para o Curso
Internacional sobre Desarrollo de Sistemas de Salud,
OPS-OMS/ASDI. Nicarágua, 17 de abril a
6 de maio de 2005.
TEIXEIRA, Carmem. O SUS e a Vigilância da Saúde.
PROFORMAR. FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 2003.
TEIXEIRA, Carmem. OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE. Texto de apoio elaborado para
subsidiar o debate nas Conferências Municipal e
Estadual de Saúde. Salvador, Bahia. Junho de 2011.
SANTOS, B. Para além do pensamento abissal: das
linhas globais a uma ecologia de saberes. Novos
estud. CEBRAP n.79 São Paulo Nov. 2007. Texto
disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S0101-33002007000300004
v. 03
ALCÂNTARA, Christian Mendez. A experiência do Paraná.
In Moysés ST, Kriger L, Moysés, SJ. Saúde bucal das
famílias: trabalhando com evidências. São Paulo.
Artes Médicas;
2008.
BARTOLE, MCS. Concepção e formulação de políticas e
programas com enfoque da integralidade: o exemplo da
política
nacional
de
saúde
bucal.
In:
Lopes
MGM,organizador.
Saúde
bucal
coletiva:
implementando idéias... Concebendo integralidade. Rio
de Janeiro: Rúbio;
2008. p.161-73.
BERTANHA, W. et all. Atenção à Saúde Bucal nas
Comunidades Indígenas: Evolução e Desafios – uma
Revisão de Literatura. Volume 16 Número 1 Páginas 105112
2012.
Texto
disponível
em:
http://periodicos.ufpb.br/index.php/rbcs/article/viewFile/101
16/7097
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Coordenação de
Projetos de Promoção de Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde. Departamento de Atenção Básica. BrasíliaDF,
2001
. Política Nacional de Atenção Básica. Secretaria
de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
BrasíliaDF, 2012.
. Política Nacional de Atenção Básica.
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. BrasíliaDF, 2004.
. Política Nacional de Atenção Básica.
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. BrasíliaDF, 2002.
. Secretaria de vigilância em saúde.
Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não
Transmissíveis e Promoção da Saúde –DANTPS. Minuta
da Portaria de revisão da Política Nacional de Promoção
da Saúde. Brasília-DF, 2004.
COSTA, Humberto; SOLLA, Jorge; SUASSUNA, Afra;
JUNIOR, Gilberto Alfredo Pucca Jr. DIRETRIZES DA
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL. Brasília, DF,
janeiro de 2004.
n. 01
REFERENCIAS
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
leituras.
1 INTRODUÇÃO
As hemoglobinopatias têm peculiar variabilidade genética, com predominância destas
variações entre negros e pardos. No Brasil, nascem por ano 3.500 crianças com doença falciforme
e 200.000 com traço falciforme (FELIX et al. 2010; VESPOLI et al. 2011).
A maioria das hemoglobinas variantes ocorre por alterações pontuais na molécula onde o
aminoácido é substituído por outro. A hemoglobina S (HbS) como resultante da mutação do gene
beta, na posição 6, onde o ácido glutâmico é substituído pela valina (REIS et al. 2006).
O traço falciforme (TF) é a forma heterozigota, com a presença de um único gene mutado,
de caráter assintomático na maioria das vezes. O TF ocorre quando a pessoa herda de um dos pais
a hemoglobina A (normal) e herda do outro a hemoglobina S (falcêmica), e então esta pessoa é
geneticamente HbAS. Quando ocorre a união de 2 pessoas com o traço falciforme, a cada gestação
tem 25% de chance de nascer uma criança com anemia falciforme, sendo geneticamente HbSS
(KIKUCHI, 2007; SIQUEIRA et al. 2009).
A doença falciforme junto com suas complicações clínicas possuem níveis hierarquizados
de complexidade, variando de período de bem-estar a urgência e emergência. Quando ocorre
desses pacientes e familiares procurarem as unidades de saúde observa-se a quebra da
assistência, profissionais inseguros, inadequadamente preparados para prestarem a assistência
370
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
ABSTRACT: Introduction - Sickle cell disease with clinical complications have hierarchical levels
of complexity, ranging from welfare to urgent and emergency period. When do these patients and
families seeking health facilities can observe the breakdown of assistance, unsecured professionals,
inadequately prepared to provide appropriate assistance to patients and their families. Objective To identify the main care and nursing interventions with sickle cell patients that were published from
2005 to 2015. Methods - This is a descriptive study of literature review about the nursing care of
sickle cell patients, ie, is a systematic study based on material published in electronic journals, the
Scientific databases Electronic Library on Line (Scielo), Lilacs (Latin American and Caribbean Health
Sciences) and Nursing Database (BDENF). RESULTS: The results show that sickle cell anemia is
a disease whose main symptoms and their nursing care: chronic pain, should conduct a thorough
assessment of pain; risk of infection, guide the patient and family about the signs and symptoms of
infection; Impaired tissue integrity, maintain hydration; avoid applying pressure or tourniquet to the
affected extremity; priapism, maintain adequate hydration and warm baths. Conclusion - consulted
nursing literature provides few jobs with approach on the subject. The nursing work is important, as
are the nurses who are in direct contact with the patient providing assistance. After identifying the
needs of sickle cell patients and show their real needs, nurses will intervened directly through care
planning. Early diagnosis and proper treatment represents an important role in reducing morbidity
and mortality of patients.
Key-words: Sickle cell Anemia. Nursing Care. Sickle Cell Trait.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
cuidados de enfermagem com pacientes falcêmicos, ou seja, é um estudo sistematizado baseado
em materiais publicados em revistas eletrônicas, nas bases de dados do Scientific Eletronic Library
on Line (Scielo), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Bases
de Dados de Enfermagem (BDENF). Resultados - Os resultados mostram que a anemia falciforme
é uma doença que tem como principais sintomas e seus cuidados de enfermagem: dor crônica,
deve realizar uma avaliação completa da dor; risco de infecção, orientar o paciente e a família sobre
os sinais e sintomas de infecção; integridade tissular prejudicada, manter uma hidratação; evitar
aplicar pressão ou torniquete à extremidade afetada; priapismo, manter uma hidratação adequada
e banhos mornos. Conclusão - A literatura especializada de enfermagem consultada disponibiliza
poucos trabalhos com abordagem sobre o tema. O trabalho de enfermagem é importante, pois são
os enfermeiros que estão em contato direto com o paciente prestando assistência. Após identificar
as necessidades dos pacientes falcêmicos e evidenciar suas reais necessidades, os enfermeiros
irão intervi diretamente através do planejamento da assistência. O diagnóstico precoce e o
tratamento adequado representam papel fundamental na redução da morbidade e mortalidade dos
pacientes.
Palavras-chave: Anemia Falciforme. Cuidados de Enfermagem. Traço Falciforme.
2 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caráter descritivo de revisão bibliográfica, acerca dos cuidados de
enfermagem com pacientes falcêmicos, ou seja, é um estudo sistematizado baseado em materiais
publicados em revistas eletrônicas. Tais materiais são de acesso ao público em geral e são
elaborados de forma que forneçam um instrumento analítico para qualquer tipo de pesquisa.
O estudo foi elaborado de acordo com as etapas metodológicas, descritas a seguir: definição
do problema/objeto do estudo, critérios de inclusão, busca dos estudos, avaliação crítica dos
estudos, coleta de dados e síntese dos dados7.
Assim, o levantamento de dados foi abrangente e baseou-se na análise de artigos, a partir
de pesquisas na internet em bases como: SCIELO, LILACS e BDENF, revistas científicas oficiais e
periódicos com as seguintes palavras-chaves: anemia falciforme, traço falciforme, cuidados de
enfermagem.
Os artigos selecionados para a elaboração deste estudo são referentes ao período
compreendido entre 2005 a 2015. Tendo como critério de inclusão todas as publicações presentes
em periódicos nacionais, escritos em português e que relatam sobre anemia falciforme, traço
falciforme, cuidados de enfermagem com pacientes falcêmicos.
Este levantamento bibliográfico teve duração de 30 dias e a leitura dos artigos foi realizada
após o período de coleta das informações. Após esta etapa, os artigos, foram separados para o
estudo por título, ano e autor, possibilitando assim melhor compreensão, identificação e análise.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na pesquisa realizada conforme a descrição metodológica, foram encontrados 34 artigos, e
destes artigos, 11 foram considerados aptos para realização da pesquisa bibliográfica). A partir de
uma análise criteriosa, 04 artigos foram selecionados, por se enquadrarem dentro dos critérios
371
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
adequada aos pacientes e seus familiares. Por este motivo foi importante a criação da Política
Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Doença Falciforme, que garante aos pacientes todos
os níveis de assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (KIKUCHI, 2007).
Os profissionais de enfermagem têm participação importante e intransferível na assistência
ao paciente falcêmico, especificamente no Programa Nacional de Triagem Neonatal, que consiste
em uma política pública que visa identificar portadores de doenças que se diagnosticadas e tratadas
precocemente, previne sequelas irreversíveis e evita o óbito, como a anemia falciforme. Essa
interação e acompanhamento começam no pré-natal, nas Unidades Básicas de Saúde, onde o
enfermeiro deve fazer orientações familiares, coleta precisa dos dados familiares, coleta de
amostras de sangue para a realização do exame, acondicionamento adequado e envio seguro ao
laboratório de referência, reconvocação dos afetados para novo exame (se necessário), busca ativa
intrafamiliar, orientações sobre a enfermidade e possibilidades de reincidência familiar (SILVA et al.
2003; KIKUCHI, 2007).
Os profissionais de enfermagem exercem papel relevante na longevidade e qualidade de
vida das pessoas com a doença falciforme, agindo como agentes políticos de transformação social.
Por isso é tão importante a busca de novos aprendizados, fazendo ligações entre o biológico, social
e educacional (KIKUCHI, 2007).
Este estudo justifica-se por apontar os cuidados da enfermagem com os pacientes
falcêmicos, para alertar os enfermeiros sobre a importância dos cuidados adequados nas crises da
doença falciforme, pois é uma doença genética que atinge muitos brasileiros, por causa da
miscigenação do país. O objetivo desse estudo é apontar os principais cuidados e intervenções de
enfermagem com pacientes falcêmicos que foram publicados no período de 2005 a 2015 nas bases
de dados do Scientific Eletronic Library on Line (Scielo), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde) e Bases de Dados de Enfermagem (BDENF).
QUADRO 2 – Complicações e cuidados de enfermagem com pacientes falcêmicos.
Complicações
Cuidados de Enfermagem
Infecções e febre
•Reorientar sobre a importância na redução das infecções de repetição;
•Nos casos em que se optar pelo uso de penicilina oral, reforçar a importância de
fazer corretamente as duas tomadas por dia, observando horário e não
interrompendo o tratamento;
•O doente falciforme deve receber as vacinas de rotina, mais as especiais, como
Hemophilus, pneumococos, hepatite B e outros, conforme recomendação médica;
•Febre em crianças com doença falciforme deve ser vista como um sinal de risco;
pode ser um indício de infecção grave;
•Crianças com temperatura de 38,5°C devem ser encaminhadas para um serviço de
saúde com maior resolutividade;
Dactilite
ou •Não fazer contensão do membro com faixa ou tala gessada;
síndrome mão e pé •Medicar, conforme prescrição médica;
•Orientar a ingerir bastante líquido;
•Febre persistente até 39ºC requer investigação de processo infeccioso (sepse) ou
osteomielite;
•Encaminhar para serviço de saúde com maior grau de resolutividade.
Crises dolorosas
•Não subestimar a dor;
372
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
QUADRO 1 - Diagnósticos e intervenções de enfermagem de acordo com NANDA e NIC.
Diagnósticos
Intervenções de enfermagem
NANDA
Risco de Infecção •Orientar o paciente sobre a lavagem das mãos;
•Orientar o paciente e a família sobre os sinais e sintomas de infecção;
Integridade
•Manter uma hidratação;
tissular
•Orientar o paciente sobre cuidado correto dos pés;
prejudicada
•Evitar aplicar pressão ou torniquete à extremidade afetada;
Perfusão tissular •Fazer uma avaliação completa da circulação periférica;
periférica ineficaz •Examinar a pele em busca de úlceras por estase e ruptura tissular;
•Proteger a extremidade contra lesão;
Risco de quedas
•Evitar acúmulo de objetos no assoalho;
•Monitorar o modo de andar, o equilíbrio e o nível de fadiga com a deambulação;
Dor crônica
•Realizar uma avaliação completa da dor;
•Considerar as influências culturais sobre a resposta à dor;
Interação social •Encorajar o paciente a mudar o ambiente;
prejudicada
•Promover o compartilhamento de problemas comuns com os outros; •Confrontar a
respeito de julgamento prejudicado, quando adequado;
Ansiedade
•Manter atitudes calmas e firmes;
•Sentar e conversar com o paciente;
Fonte: Vieira GB, Gonçalves PTC, Meirelles JR, Sória DAC. 20139
n. 01
v. 03
utilizados para serem validados e incluídos na pesquisa, por apontarem os principais cuidados de
enfermagem com pacientes falcêmicos.
Os autores levantaram os diagnósticos de enfermagem mais evidentes e suas respectivas
intervenções de acordo com Nursing Diagnostic Terminology (NANDA) e Nursing Interventions
Classification (NIC), em um estudo no qual teve seu desenho metodológico baseado na vivência
dos autores no ambulatório de curativo de um Hospital Estadual especializado em hematologia,
como parte do programa de residência em enfermagem.
No segundo artigo selecionado, os autores elencaram os cuidados de enfermagem conforme
as necessidades do paciente acompanhado durante 33 dias na Clínica Médica do Hospital
Universitário Lauro Wanderley, Hospital-escola da Universidade Federal da Paraíba – UFPB,
localizada na cidade de João Pessoa – PB, onde os cuidados de enfermagem foram traçados
conforme as complicações que o paciente apresentou durante o período de internação.
Conforme o terceiro trabalho selecionado, os cuidados de enfermagem foram traçados de
forma geral para pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde, pois a autora relatou os
cuidados relevantes para as principais complicações dos pacientes falcêmicos.
Já no último trabalho selecionado, foram evidenciadas as ações e intervenções que podem
ser realizadas pela equipe de enfermagem a fim de minimizar a dor nesses pacientes).
Com o intuito de corresponder ao objetivo deste trabalho, serão apontados e discutidos os
principais cuidados e intervenções de enfermagem com pacientes falcêmicos encontrados nos
373
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
•Ampliar a oferta de líquidos via oral, dependendo do caso será prescrita hidratação
parenteral;
•Considerar que, além da dor, haverá ainda o estresse causado pelo ambiente
hospitalar e a lembrança da dor mais forte;
•Manter o paciente confortável e seguro;
•Medicar conforme prescrição médica;
Crise de sequestro •Observar palidez intensa; Letargia;
esplênico
•Pele úmida, extremidades frias;
•Sinais vitais pouco perceptíveis;
•Choque hipovolêmico;
•Chamar hematologista (Emergência);
•As equipes médicas e de Enfermagem devem estar atentas para uma intervenção
rápida e eficaz;
Icterícia hemolítica •Informar aos familiares o motivo de ocorrer icterícia nessas pessoas;
•Embora a icterícia seja um sinal frequentemente encontrado em doentes falciformes,
investigar se não existem outras causas associadas;
•Orientar sobre a importância de aumentar a ingestão de líquidos;
•Se apresentar dores abdominais, vômitos, náuseas e febre, o paciente deve ser
encaminhado para serviço médico com maior resolubilidade.
Acidente vascular •Doente falciforme que chegue ao serviço de atenção básica com déficit neurológico
cerebral
deve ser encaminhado para serviço médico com maior resolubilidade para a reversão
do quadro;
•Se apresentar febre, devem ser realizados exames que excluam meningite;
•Manter em observação rigorosa de Enfermagem até estabilização do quadro.
Complicações
•Manchas sanguinolentas na esclera podem ser sinal de hemorragia retiniana;
oculares
•Encaminhar para exame oftalmológico, anualmente, para avaliação da função
interna dos olhos.
Cálculo biliar
•Orientar a respeito da possibilidade de formação de cálculo biliar;
•Orientar sobre a importância de realizar ultrassom abdominal anualmente;
•Em caso de cirurgia, a enfermagem deve estar monitorando rigorosamente os sinais
vitais até a volta completa da consciência.
Úlcera de perna
•Orientar sobre a importância de prevenir úlcera de perna, mantendo a pele da região
hidratada com um creme hidratante;
•Orientar sobre a importância de ingerir muito líquido, para manter o sangue mais
fluido;
•Orientar sobre a necessidade de manter a região sempre protegida com meias
grossas;
•As úlceras tendem a se tornar crônicas, requerendo muita persistência e limpeza
diária, pelo menos, duas vezes ao dia, para sua cicatrização;
•Realizar curativos diariamente;
Priapismo
•Orientar que o priapismo é uma intercorrência possível de ocorrer entre pessoas
com doença falciforme;
•Reforçar a importância da ingestão diária de líquidos;
•Preservar a privacidade do paciente;
•Caso não resolva com hidratação e analgésico, encaminhar para serviço de maior
complexidade.
Quelação de ferro
•A medicação é injetada no tecido subcutâneo cinco dias por semana;
•Os dias de pausa não devem ser de dois dias consecutivos;
•Orientar quanto aos cuidados de enfermagem com manuseio, diluição, conservação
do medicamento para evitar contaminação;
•Orientar a respeito dos cuidados com a limpeza da pele do local e da importância
de rodiziar os locais de aplicação;
•Reforçar a importância dos retornos ao hematologista para as avaliações periódicas;
•Verifique se realmente está utilizando a medicação diariamente ou conforme
prescrito.
Fonte: Kikuchi BA, 20075. Adaptado pelas autoras.
374
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
Como explicado anteriormente, a anemia falciforme é uma doença que tem como principais
sintomas: dor crônica, risco de infecção, integridade tissular prejudicada e priaprismo. Sobre o risco
de infecção, somente os artigos um e três apresentaram os cuidados de enfermagem neste aspecto,
que são eles: orientar o paciente sobre técnicas adequadas de lavagem das mãos; assegurar o
emprego da técnica adequada no cuidado de feridas; orientar o paciente e a família sobre os sinais
e sintomas de infecção e sobre o momento de relatá-los ao profissional de saúde; reorientar sobre
a importância na redução das infecções de repetição; a aplicação de rotina da penicilina injetável,
que deve ocorrer a cada 21 dias; nos casos em que se optar pelo uso de penicilina oral, reforçar a
importância de fazer corretamente as duas tomadas por dia, observando horário e não
interrompendo o tratamento; o doente falciforme deve receber as vacinas de rotina, mais as
especiais, como Hemophilus, pneumococos, hepatite B e outros, conforme recomendação médica;
e a enfermagem deve estar atenta aos sinais e sintomas de progressão de infecção como
septicemia.
Em relação à integridade tissular, os quatro artigos apresentaram cuidados de enfermagem
do quais são eles: manter uma hidratação adequada para diminuir a viscosidade do sangue; orientar
o paciente sobre cuidado correto dos pés; evitar aplicar pressão ou torniquete à extremidade
afetada; trocar curativos com soro fisiológico a 0,9% e ácidos graxos essenciais 1 vez ao dia; avaliar
a evolução da lesão diariamente; orientar a mudança de decúbito de 3 em 3 horas; orientar a
elevação dos membros inferiores quando sentado; observar a pele continuamente; orientar sobre a
importância de prevenir úlcera de perna, mantendo a pele da região hidratada com um creme
hidratante; orientar sobre a importância de ingerir muito líquido, para manter o sangue mais fluido;
orientar sobre a necessidade de manter a região sempre protegida com meias grossas; evitar tênis
de cano alto e que possa esfolar a pele da região; qualquer traumatismo nas pernas deve ser
cuidado com rigor, limpando a região diariamente com água e sabão neutro e protegendo com gaze
e faixa; as úlceras tendem a se tornar crônicas, requerendo muita persistência e limpeza diária, pelo
menos, duas vezes ao dia, para sua cicatrização; realizar curativos diariamente, observando sinais
de infecção e a necessidade de introduzir medicação mais específica contra infecções; repouso,
elevação discreta dos membros inferiores, uso de compressas de água morna e curativos diários.
Apesar do artigo número um falar sobre integridade tissular prejudicada, o artigo dois sobre,
integridade física, o artigo três sobre úlcera de perna e o artigo número quatro, fala sobre úlceras,
os cuidados de enfermagem são os mesmos, porque se a integridade da pele estiver prejudicada
significa que tem lesão, e a lesão poderá evoluir para úlcera.
Sobre a perfusão tissular ineficaz, apenas o artigo número um cita os cuidados de
enfermagem que são eles: fazer uma avaliação completa da circulação periférica (p.ex., verificar
pulsos periféricos, edema, enchimento capilar, cor e temperatura); examinar a pele em busca de
úlceras por estase e ruptura tissular; proteger a extremidade contra lesão.
Já no que diz respeito ao risco de queda, apenas o artigo número um cita os principais
n. 01
QUADRO 3 – Complicações dolorosas e intervenções de enfermagem.
Complicações
Intervenção de Enfermagem
Dor
•Educar o paciente de modo a evitar que as crises de dor ocorram, orientando-os a
como evitar e perceber esses sinais;
Crise Vasoclusiva
•Hidratação por via oral ou endovenosa;
•Observar sinais de confusão mental;
•Verificar os resultados de gasometria arterial e hemograma;
Úlceras
•Repouso, elevação discreta dos membros inferiores, uso de compressas de água
morna e curativos diários;
Priaprismo
•Hidratação;
•Banhos mornos;
Fonte: Silva DG, 200713. Adaptado pelas autoras.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
artigos selecionados.
QUADRO 4 - Planejamento da assistência de enfermagem incluindo as necessidades afetadas e
as intervenções de enfermagem.
Necessidades
Intervenções de Enfermagem
afetadas
Oxigenação
•Controlar a frequência respiratória e frequência cárdica;
•Observar o uso de musculatura acessório e áreas de cianose;
•Estimular repouso no leito com a cabeceira elevada;
•Administrar oxigênio suplementar, se necessário.
Nutrição
•Estimular ingestão de pequenas porções de alimentos;
•Solicitar ao serviço de nutrição a avaliação das preferências alimentares
do cliente;
•Observar leões da mucosa oral;
•Observar aceitação da dieta diariamente.
Integridade física
•Trocar curativos 1x/dia;
•Avaliar a evolução da lesão diariamente;
•Orientar a mudança de decúbito de 3 em 3 horas;
•Orientar a elevação dos membros inferiores quanto sentado;
•Observar a pele continuamente.
Exercícios
e •Avaliar os relatos de dor;
375
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
cuidados de enfermagem tais como: identificar características ambientais capazes de aumentar o
potencial de quedas; evitar acúmulo de objetos no assoalho; monitorar o modo de andar, o equilíbrio
e o nível de fadiga com a deambulação.
Com relação à dor, os artigos um, três e quatro citam que os cuidados de enfermagem a ser
prestados são: realizar uma avaliação completa da dor, incluindo local, características,
início\duração, frequência, qualidade, intensidade e gravidade, além de fatores precipitadores;
considerar as influências culturais sobre a resposta à dor; determinar o impacto da experiência da
dor na qualidade de vida; não subestimar a dor; lembrar que cada pessoa tem um limiar de dor;
ampliar a oferta de líquidos via oral, dependendo do caso poderá ser prescrita hidratação parenteral;
considerar que, além da dor, haverá ainda o estresse causado pelo ambiente hospitalar e a
lembrança da dor mais forte; manter o paciente confortável e seguro que encontrará alívio para suas
dores; medicar conforme prescrição médica; geralmente, analgésico e anti-inflamatório; educar o
paciente de modo a evitar que as crises de dor ocorram, orientando-os a como evitar e perceber
esses sinais (KIKUCHI, 2007; SILVA, 2007; VIEIRA et al. 2013).
Somente o autor do artigo número um citou os cuidados de enfermagem quanto à interação
social prejudicada, referindo que os cuidados de enfermagem para esse diagnóstico, são: encorajar
o paciente a mudar o ambiente, como sair para caminhar ou ir ao cinema; promover o
compartilhamento de problemas comuns com os outros; confrontar a respeito de julgamento
prejudicado, quando adequado. Sobre a ansiedade, somente o mesmo citou cuidados de
enfermagem: manter atitudes calmas e firmes; sentar e conversar com o paciente; reduzir ou
eliminar estímulos geradores de medo ou ansiedade (VIEIRA et al. 2013).
O artigo número dois foi um estudo de caso em que acompanharam um paciente durante 33
dias, durante esse tempo, foram diagnosticando problemas em que o paciente apresentava e
traçando cuidados de enfermagem. Um dos problemas em que esse apresentou foi em relação à
oxigenação foi a troca gasosa prejudica, onde os cuidados de enfermagem traçados foram: controlar
a frequência respiratória e cardíaca; observar o uso de musculatura acessória e áreas de cianose;
estimular repouso no leito com a cabeceira elevada; administrar oxigênio suplementar, se
necessário. Outro problema que o paciente apresentou foi em relação à nutrição, e os cuidados de
enfermagem planejados foram: orientação quanto à medicação antifúngica; orientar práticas
corretas de higiene oral; estimular ingestão de pequenas porções de alimentos; solicitar ao serviço
de nutrição a avaliação das preferências alimentares do cliente; observar leões da mucosa oral;
observar aceitação da dieta diariamente.
376
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
Um outro problema que foi diagnosticado foi Exercícios e atividades físicas/mecânica
corporal/motilidade, e os cuidados de enfermagem que foram traçados para ele foram: avaliar os
relatos de dor; aplicar compressas úmidas, aquecidas nas articulações afetadas; encorajar os
exercícios das articulações; manter ingestão hídrica adequada. Mais um problema diagnosticado
foi Aprendizagem, e os cuidados de enfermagem destinados a esse diagnostico foram: reforçar as
informações sobre o processo da doença e as necessidades de tratamento; reforçar os fatores
precipitantes; orientar uma dieta enriquecida de ácido fólico; instruir o paciente a evitar pessoas
com infecção (FURTADO et al. 2007).
Somente o autor do artigo número três, descreveu os principais cuidados de enfermagem
destinados a pacientes com dactilite ou síndrome mão e pé, ressaltando alguns cuidados que são:
acalmar a mãe informando que esse quadro é decorrente da doença falciforme; não fazer contensão
do membro com faixa ou tala gessada; medicar, conforme prescrição médica. Geralmente,
analgésico e anti-inflamatório; orientar a ingerir bastante líquido, água, chá, sucos; febre persistente
até 39ºC requer investigação de processo infeccioso (sepse) ou osteomielite; encaminhar para
serviço de saúde com maior grau de resolutividade. Ressaltou também cuidados de enfermagem
para crises de sequestro esplênico: orientar o familiar a respeito do sequestro esplênico e da
importância do controle diário do baço; observar palidez intensa; aumento do baço pode estar
abaixo da cicatriz umbilical; letargia; pele úmida, extremidades frias; sinais vitais pouco perceptíveis;
choque hipovolêmico; o sequestro esplênico envolve risco de morte; chamar hematologista
(emergência); as equipes médicas e de Enfermagem devem estar atentas para uma intervenção
rápida e eficaz; geralmente, o tratamento é feito com expansores de plasma sanguíneo e
transfusões de sangue; a maioria dos serviços médicos preconiza explenectomia, após o segundo
episódio5.
Ainda em relação ao autor do artigo número três, foi traçado um plano de cuidados de
enfermagem para pacientes com icterícia hemolítica: informar aos familiares o motivo de ocorrer
icterícia nessas pessoas; embora a icterícia seja um sinal frequentemente encontrado em doentes
falciformes, investigar se não existem outras causas associadas; orientar sobre a importância de
aumentar a ingestão de líquidos; se apresentar dores abdominais, vômitos, náuseas e febre, o
paciente deve ser encaminhado para serviço médico com maior resolubilidade (KIKUCHI, 2007).
Ainda em relação ao autor do artigo três, foram traçadas estratégias de cuidados de
enfermagem para pacientes com acidente vascular cerebral, esses cuidados citados no artigo
foram: doente falciforme que chegue ao serviço de atenção básica com déficit neurológico deve ser
encaminhado para serviço médico com maior resolubilidade para a reversão do quadro; se
apresentar febre, devem ser realizados exames que excluam meningite; manter em observação
rigorosa de Enfermagem até estabilização do quadro. Foram traçados também cuidados de
enfermagem para pacientes com Complicações oculares: observar a acuidade visual: ela poderá
ser perdida gradualmente; manchas sanguinolentas na esclera podem ser sinal de hemorragia
retiniana; encaminhar para exame oftalmológico, anualmente, para avaliação da função interna dos
olhos (KIKUCHI, 2007).
O autor do artigo três traçou estratégias de cuidados de enfermagem para pacientes com
cálculos biliares, cuidados esses que estão citados abaixo: orientar a respeito da possibilidade de
formação de cálculo biliar; orientar sobre a importância de realizar ultrassom abdominal anualmente;
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
•Aplicar compressas úmidas, aquecidas nas articulações afetadas;
•Encorajar os exercícios das articulações;
•Manter ingestão hídrica adequada.
•Reforçar as informações sobre o processo da doença e as necessidades
de tratamento;
•Orientar uma dieta enriquecida de ácido fólico;
Fonte: Furtado LG, Nóbrega MML, Fontes WD. 200710. Adaptado pelas autoras.
atividades
físicas/mecânica
corporal/motilidade
Aprendizagem
4 CONCLUSÃO
O trabalho de enfermagem é importante pois são os enfermeiros que estão em contato
direto com o paciente prestando assistência. Após identificar as necessidades dos pacientes
falcêmicos e evidenciar suas reais necessidades, os enfermeiros irão intervir diretamente através
do planejamento da assistência. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado representam papel
fundamental na redução da morbidade e mortalidade dos pacientes.
5 REFERÊNCIAS
BOSCO PS, SANTIAGO LC, CARNEIRO BM. Educação
e o meio ambiente como fatores essenciais no
cuidado de enfermagem aos clientes portadores de
anemia falciforme. Revista de Pesquisa: Cuidado é
Fundamental Online. v.4(1):2654-58, 2012.
FELIX AA, SOUZA HM, RIBEIRO SBF. Aspectos
epidemiológicos e sociais da doença falciforme.
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia.
v.32(3):203-208, 2010.
FURTADO LG, NÓBREGA MML, FONTES WD.
Assistência de enfermagem a paciente com anemia
falciforme utilizando a teoria NHB e a CIPE® versão 1.0.
Rev. RENE. Fortaleza, v.8(3):94-100, 2007.
RODRIGUES, CCM, ARAÚJO IEM, MELO LL. A família
da criança com doença falciforme e a equipe
enfermagem: revisão crítica. Revista Brasileira de
Hematologia e Hemoterapia. v.32(3):257-264, 2010.
SAMPAIO FR, MANCINI MC. Estudos de revisão
sistemática: um guia para síntese criteriosa da
evidência científica. Revista Brasileira de Fisioterapia.
v.11(1):83-89, 2007.
SILVA DG. Intervenções de enfermagem durante
crises álgicas em portadores de Anemia Falciforme.
Revista Brasileira Enfermagem. v.60(3):327-330, 2007.
SILVA MBGM, ZAGONEL IS, LACERDA RM. A
enfermagem na triagem neonatal. Portal de Periódicos
377
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
as indicações cirúrgicas devem ser discutidas em conjunto com o hematologista, cirurgião,
anestesista e enfermagem de centro cirúrgico; em caso de cirurgia, a enfermagem deve estar
monitorando rigorosamente os sinais vitais até a volta completa da consciência (KIKUCHI, 2007).
Os autores dos artigos número três e quatro citaram os principais cuidados de enfermagem
a paciente com priapismo, esses cuidados foram: orientar que o priapismo é uma intercorrência
possível de ocorrer entre pessoas com doença falciforme; reforçar a importância da ingestão diária
de líquidos; preservar a privacidade, colocando a pessoa em sala mais reservada; caso não resolva
com hidratação e analgésico, encaminhar para serviço de maior complexidade (KIKUCHI, 2007;
SILVA, 2007).
Apenas o autor do artigo número três citou cuidados de enfermagem a pacientes com
quelação de ferro, que são eles: apoiar emocionalmente a pessoa com a doença e o familiar para
garantir a adesão ao tratamento; a medicação é injetada no tecido subcutâneo cinco dias por
semana; os dias de pausa não devem ser de dois dias consecutivos; orientar quanto aos cuidados
de enfermagem com manuseio, diluição, conservação do medicamento para evitar contaminação;
orientar a respeito dos cuidados com a limpeza da pele do local e da importância de rodiziar os
locais de aplicação; reforçar a importância dos retornos ao hematologista para as avaliações
periódicas; verifique se realmente está utilizando a medicação diariamente ou conforme prescrito
(KIKUCHI, 2007).
Já o autor do artigo número quatro citou os principais cuidados de enfermagem a pacientes
com crises vasoclusiva, cuidados estes descritos a seguir: a hidratação por via oral ou endovenosa,
constitui-se no principal cuidado para evitar-se a ocorrência da crise vasoclusiva; administração de
analgésicos opióides; observar sinais de confusão mental, devido a hipóxia recorrente,
monitorização não invasiva, estar atento as doses excessivas de analgésicos que podem agravar a
hipoventilação, observar a necessidade de oxigenioterapia e administrá-la quando necessário,
elevar o decúbito para melhorar a ventilação; verificar os resultados de gasometria arterial e
hemograma; no primeiro identificando baixos níveis de PaO2 e no segundo neutrófila que pode
indicar infecção (SILVA, 2007).
A bibliografia de cuidados de enfermagem e doença falciforme é escassa. Os cuidados aqui
mencionados fazem parte dos cuidados gerais de enfermagem encontrados em artigos através de
uma revisão bibliográfica. A literatura especializada de enfermagem consultada disponibiliza poucos
trabalhos com abordagem sobre o tema.
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
da UEM, Maringá. v.25(2):155-161, 2003.
SILVA MSML, OLIVEIRA SHS, SOARES MJGO, PAULO
MQ, ROCHA PS. Uso de cobertura não convencional
no tratamento de ferida isquêmica em paciente
portador de anemia falciforme: estudo de caso.
Revista Brasileira de Enfermagem online. v.8(3), 2009.
SIQUEIRA BR, ZANOTTI LC, NOGUEIRA A, MAIA ACS.
Incidência de anemia falciforme, traço falcêmico e
perfil Hemoglobinico dos casos diagnosticado na
triagem neonatal no estado de Rondônia no ano de
2003. Saber Científico. v.2(1):43-53, 2009.
VESPOLI S, MARQUES M, MARANE SSG, SANTOS VF,
CHUNG MC, SANTOS JL. Análise das prevalências de
doenças detectadas pelo programa nacional de
triagem neonatal no município de Araraquara no ano
de 2009. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e
Aplicada. v.32(2):269-273, 2011.
VIEIRA GB, GONÇALVES PTC, MEIRELLES JR, SÓRIA
DAC. A Sistematização da Assistência de Enfermagem
no Cuidado ao Paciente Portador de Anemia
Falciforme com Úlcera de Perna. Revista de Pesquisa
Cuidado é Fundamental Online. v.5(5):142-147, 2013
DEFEITOS NA EMBRIOGÊNESE DO TUBO NEURAL: ASPECTOS NUTRICIONAIS
ENVOLVIDOS – REVISÃO
DEFECTS IN EMBRYOGENESIS NEURAL TUBE: NUTRITIONAL ASPECTS INVOLVED –
REVIEW
Bruna Silva Resende1, Cintya Alves de Oliveira¹, Glaucia Feitosa de Sousa¹, Leticia Santos de
Carvalho Teixeira¹, Ozenilde Alves Rocha Martins²; Paulo Roberto Gonçalves Lima²; Jonas Eraldo
de Lima Júnior²; Jandrei Rogério Markus².
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO - Fatores genéticos e ambientais foram considerados no desenvolvimento de defeitos do
tubo neural, cujas manifestações mais frequentes são a anencefalia e a espinha bífida. Foi portanto,
explorada a participação do ácido fólico no importante processo de formação do tubo neural assim
como, a importância do consumo desse nutriente antes da gravidez e durante os três primeiros
meses de gestação. Esse trabalho objetiva explorar os principais tipos de defeitos do tubo neural
como a anencefalia e a espinha bífida, a ocorrência de casos de defeitos no tubo neural na
população brasileira e explorar a influência dos aspectos nutricionais no surgimento dessa
malformação. Essa pesquisa é uma revisão de literatura na qual priorizou a consulta de artigos
científicos no banco de dados da Scielo, Bireme, Periódicos Capes e Biblioteca Virtual em Saúde
para serem usadas como fonte de análise. Para realizar a busca nos bancos de dados foram
utilizadas as terminologias cadastradas nos Descritores de Ciência e Saúde Coletiva. Verificou-se
que a anencefalia a espinha bífida são as manifestações mais comuns de defeitos do tubo neural.
Além disso, foi possível perceber que ainda há escassez de estudos que demonstrem a prevalência
de defeitos do tubo neural no Brasil. Constatou-se, por fim a importância das políticas públicas de
saúde para aumentar o consumo de ácido fólico por parte da população seja por meio da fortificação
de alimentos, ou por meio de assistência educativa.
Palavras-chave: Defeitos do tubo neural, anencefalia, espinha bífida, deficiência de ácido fólico e
fortificação de alimentos.
ABSTRACT - Genetic and environmental factors were considered in the development of neural tube
defects, whose most common manifestations are anencephaly and spina bifida. It was therefore
explored the participation of folic acid in important neural tube formation process as well as the
importance of intake of this nutrient before pregnancy and during the first three months of pregnancy.
378
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
GOMES LMX, VIEIRA MM, REIS TC, ANDRADE TLB,
CALDEIRA AP. Conhecimento dos profissionais de
nível médio sobre doença falciforme: estudo
descritivo. Revista Brasileira de enfermagem online. v.(2)
12: 482-90 ,2013.
HOLSBACH DR, SALAZAR EAVM, IVO ML, ARAÚJO
OMR, SAKAMOTO TM. Investigação bibliográfica
sobre a hemoglobina S de 1976 a 2007. Acta Paul
Enfermagem, v.23(1):119-124, 2010.
KIKUCHI BA. Assistência de enfermagem na doença
falciforme nos serviços de atenção básica. Revista
Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v.29(3):331338, 2007.
MARTINS A, MOREIRA DG, NASCIMENTO EM,
SOARES E. O Autocuidado para o Tratamento de
Úlcera de Perna Falciforme: Orientações de
Enfermagem. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem,
v.17(4):755- 763, 2013.
REIS PRM, ARAÚJO LMM, PENNA KGBD, MESQUITA
MM, CASTRO FS, COSTA SHN. A importância do
diagnóstico precoce na prevenção das anemias
hereditárias. Revista Brasileira de Hematologia e
Hemoterapia. v.28(2):149-152, 2006.
3 METODOLOGIA
379
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
1 INTRODUÇÃO
A formação do tubo neural ocorre por meio de um processo denominado neurulação. Esse
evento geralmente é concluído durante a quarta semana do desenvolvimento embrionário.
Os defeitos relacionados à formação do tubo neural são anormalidades que ocorrem na fase
inicial do desenvolvimento embrionário e envolvem a estrutura primitiva que promoverá a formação
do cérebro e da medula espinhal. Essas anomalias possuem ocorrência frequente em todo o mundo
e apresentam quadro clínico variável, sendo a anencefalia e a espinha bífida as manifestações mais
frequentes desses tipos de defeitos.
A anencefalia ocorre quando o tubo neural é formado de maneira incompleta na região
cefálica e isso acarreta com a não formação da maior parte do encéfalo. A anencefalia pode evoluir
para abortos, natimortos ou nascidos vivos que morrem logo após o parto. Já a espinha bífida
acontece quando o processo de estruturação do tubo neural não se concretiza de maneira correta
na porção inferior da região cervical e isso pode levar ao óbito ou comprometer a função neurológica
da criança.
No ano de 2003 foi publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)1 o atlas mundial
de defeitos congênitos que materializou dados do mundo todo em torno desse assunto. Nessa
análise realizada pela OMS o Brasil ficou em quarto lugar dentre os países com maior prevalência
de casos de anencefalia e espinha bífida.
O uso suplementar de ácido fólico é considerado uma das maneiras mais eficazes de
prevenção primária da ocorrência das anomalias relacionadas ao tubo neural. Embora o mecanismo
pelo qual o ácido fólico desempenha esse efeito protetor ainda não esteja completamente elucidado,
recomenda-se que todas as mulheres em idade fértil façam uso dessa substância pelo menos dois
meses antes da gestação e também durante os três primeiros meses da gravidez.
Evidências científicas têm demonstrado que mudanças na dieta alimentar seria uma
estratégia eficiente para redução dos índices de defeitos do tubo neural. Uma medida adotada em
alguns países é o acréscimo de ácido fólico na composição da farinha de trigo e outros cereais na
qual se verifica resposta positiva para redução da ocorrência de defeitos do tubo neural.
No Brasil, a fortificação de farinhas e outros tipos de farináceos tornou-se obrigatória desde
2004 por meio da publicação de uma resolução por parte da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). O Ministério da Saúde e a ANVISA tomaram essa medida frente aos índices
de doenças ocasionadas pela deficiência de ácido fólico no organismo.
A realização dessa pesquisa justifica-se porque os defeitos relacionados à formação do tubo
neural são problemas congênitos que levam a morte de grande parcela dos pacientes antes do
primeiro ano de vida, aumentando as taxas de mortalidade infantil do país.
Esse trabalho objetiva explorar os principais tipos de defeitos do tubo neural como a
anencefalia e a espinha bífida, avaliar a ocorrência de casos de defeitos no tubo neural no Brasil e
explorar a influência dos aspectos nutricionais no surgimento dessa malformação.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
This work aims to explore the main types of neural tube defects such as anencephaly and spina
bifida, the occurrence of neural tube defects in the Brazilian population and explore the influence of
the nutritional aspects in the emergence of this malformation. This research is a literature review on
which prioritized the consultation of scientific articles in SciELO database, Bireme, Capes and Virtual
Health Library to be used as a source of analysis. To perform the search in the databases were used
terminologies registered in the Key of Science and Public Health. It was found that the spina bifida
anencephaly are the most common manifestations of neural tube defects. In addition, it is noted that
there is still lack of studies demonstrating the prevalence of neural tube defects in Brazil. It was
found, finally the importance of public health policies to increase consumption of folic acid by the
population is through food fortification, or through educational assistance.
Keywords: neural tube defects, anencephaly, spina bifida, folic acid deficiency and food fortification.
380
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
2 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os defeitos do tubo neural são malformações congênitas que envolvem a estrutura primitiva
que originará o cérebro e a medula espinhal. Dentre os defeitos do tubo neural existentes verificase que a anencefalia e a espinha bífida representam 90% de todos os casos2.
Diante desse percentual, o presente estudo explora os aspetos gerais da anencefalia e
espinha bífida, de forma a contribuir para o entendimento do surgimento de cada malformação.
A anencefalia caracteriza-se como um defeito na formação do tubo neural ocorrendo durante
a neurulação, entre 23° e 28° dias de gestação3. De acordo com Moore 20134, o termo anencefalia,
usualmente utilizado, é inadequado já que o distúrbio não é caracterizado pela ausência completa
do encéfalo e sim pelo seu desenvolvimento anormal. Deste modo, de acordo com esse autor, o
termo correto seria meroanencefalia.
O encéfalo é composto pelo cérebro, cerebelo, protuberância e o bulbo raquiano e pelo fato
de seu desenvolvimento ser complexo, distúrbios durante sua formação são comuns nos seres
humanos5.
Durante o desenvolvimento embrionário do feto anencéfalo não ocorre a fusão das pregas
neurais para a formação do tubo neural4,5. A placa neural é responsável por dar origem às pregas,
por volta da terceira semana de gestação. Desse modo, qualquer anormalidade durante esse
período compromete a formação adequada do tubo neural5.
Essa doença congênita é causada por um conjunto de fatores genéticos e ambientais3,5,6.
Essa interação de diferentes genes com o ambiente é comumente chamada de herança
multifuncional3. Diabetes mellitus materno, medicamentos para tratamento de epilepsia na
gestação, obesidade materna, uso de drogas e radiação são exemplos de agentes teratogênicos
relacionados ao aumento da probabilidade de defeitos na formação do tubo neural2,4.
Essa doença pode ser facilmente diagnosticada através de uma ultrassonografia gestacional
(USG), feita entre a 18° e 29° semanas de gestação6. Ocorre a suspeita da doença quando há
elevada concentração de alfa-fetoproteína no liquido amniótico e/ou grande quantidade deste5. No
entanto, a anencefalia é incompatível com a vida fora do útero o que faz com que grande parte dos
fetos sejam natimortos ou sobrevivam poucas horas após o nascimento5,6,3.
A espinha bífida, assim como a anencefalia, é uma malformação de causa multifatorial,
envolvendo fatores genéticos e ambientais7,8. Existem várias classificações de espinha bífida sendo
que a malformação acontece entre a terceira e a quarta semana de gestação e ocorre quando a
extremidade inferior do tubo neural não se fecha acarretando danos medulares importantes9.
De maneira geral, as vértebras cobrem e protegem a medula espinhal, nos casos de espinha
bífida alguns ossos vertebrais não são completamente formados e como consequência a medula
espinhal e seus revestimentos podem formar uma protuberância similar à uma bolsa na parte de
trás das costas sendo recoberta por uma fina camada de pele4.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Essa pesquisa caracteriza-se como uma revisão de literatura. Para o estudo priorizou-se a
consulta de artigos científicos no banco de dados Scielo, Bireme, Periódicos Capes e Biblioteca
Virtual em Saúde para serem usadas como fonte de análise.
Para realizar a busca nos bancos de dados foram utilizadas as terminologias cadastradas
nos Descritores de Ciência e Saúde Coletiva. As palavras chaves utilizadas nas buscas foram
defeitos do tubo neural, anencefalia, espinha bífida deficiência de ácido fólico, fortificação de
alimentos.
A princípio foram selecionados 48 artigos que exploravam os aspectos gerais dos defeitos
do tubo neural. Em seguida, a partir dos artigos selecionados, realizou-se a busca de estudos, mais
recentes, que verificassem a distribuição dos defeitos do tubo neural em alguns estados brasileiros.
Por fim foram escolhidos as publicações que relacionavam os problemas de fechamento do tubo
neural à deficiência de ácido fólico ou à fortificação de alimentos com folato.
381
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
O desenvolvimento dessa anormalidade envolve tecidos adjacentes à medula espinhal, arco
vertebral, músculos dorsais e pele, representando 75% das malformações do tubo neural10. As
alterações motoras variam de acordo com o grau da lesão e de acordo com o nível de
comprometimento medular11, mas geralmente a espinha bífida afeta o neurodesenvolvimento, o
sistema osseoneuromuscular e o aparelho genitourinário4. Os casos de espinha bífida que se
desenvolvem na região sacral podem permitir uma sobrevida com melhor qualidade de vida, porém
sua ocorrência é sempre um risco12.
O diagnóstico de espinha bífida pode ser realizado por meio de ultrassonografia que permite
avaliar o nível de abertura da coluna vertebral em alguns pontos de referência do feto. Geralmente
em 87% dos casos é possível a realização de um diagnóstico preciso, pois fatores como posição
fetal, qualidade do aparelho e a experiência do examinador influenciam em uma identificação mais
precisa11.
São escassas as publicações no Brasil sobre a prevalência dos defeitos do tubo neural, e
as existentes limitam a amostra de estudo a dados hospitalares.
Pacheco et al13, realizou um estudo a partir do banco de dados dos registro de nascimentos
da maternidade do Centro de Atenção à Mulher do Instituto Materno Infantil Professor Fernando
Figueira em Recife, Pernambuco do período de 2000 a 2004. Esse estudo objetivou conhecer a
prevalência de defeitos de fechamento do tubo neural em crianças nascidas na maternidade
avaliada. Os autores constataram que, no período de estudo, de um total de 24964 nascimentos
havia 124 registros de recém-nascidos com defeitos do tubo neural, o que representa uma taxa de
prevalência de 0,5% (5/1000 nascimentos) para o período. Desses 124 registros 24 casos referemse à anencefalia e 83 corresponderam à espinha bífida.
A taxa de prevalência encontrada no estudo de Pacheco et al13 pode ser considerada
elevada em comparação a outros países como, por exemplo, o México que apresenta uma
prevalência de (3,3/1000 nascimentos) ou a Finlândia (0,4/1000 nascimentos)14. Esse elevado
índice de defeitos do tubo neural encontrado no estudo de Pacheco et al13 pode ser atribuído ao fato
de a maternidade em que os dados foram coletados ser uma referência para gestações de alto risco
na região, não representando uma amostra aleatória, o que pode resultar em um índice
superestimado.
Ainda em relação ao estudo Pacheco et al13, ao compararmos seus resultados com o estudo
realizado por Pacheco et al14, no qual foi avaliado o efeito dos alimentos fortificados com ácido
fólico na prevalência de defeitos do tubo neural entre os nascidos vivos do município de Recife (PE)
entre os anos de 2000 a 2006, percebe-se que houve uma singela redução do número de casos de
defeitos do tubo neural, pois houve o registro de 108 casos de crianças nascidas com defeitos do
tubo neural, e desses, a espinha bífida foi a anomalia mais frequente (45,4%), seguida pela
anencefalia (36,1%). Provavelmente o motivo da redução do número de casos já foi um resultado
da medida tomada pela ANVISA que tornou obrigatória, a partir do ano de 2004, a fortificação
derivados farináceos com ácido fólico, representando um reflexo positivo.
Em outro estudo Costa et al15 estimaram a prevalência de malformações congênitas e sua
associação com variáveis socioeconômicas e maternas. O estudo utilizou como amostra 9386
mulheres no período de pós-parto nas maternidades da cidade do Rio de Janeiro. Como resultado
os autores obtiveram uma prevalência de 1,7% de malformações congênitas, resultado similar à
prevalência de defeitos de tubo neural da América Latina (1,5%)16. Além do mais, no estudo de
Costa et al15 sendo o local mais frequente de malformações foi o sistema nervoso central, com o
registro de 7 (4,32%) casos de espinha bífida, resultado inferior ao encontrado no estudo realizado
em Pernambuco para essa mesma malformação.
Já em estudo realizado por Pante et al17, foi verificado, de maneira geral, a prevalência das
malformações congênitas do sistema nervoso central dos recém nascidos do Hospital Geral de
Caxias do Sul (RS) do período de março de 1998 a junho de 2008. Durante o período de análise
382
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
verificou-se a ocorrência de 32 casos, ou seja, 0,21% de recém-nascidos com algum tipo de
malformação no sistema nervoso central. Dos 32 casos registrados, quatro casos referem-se à
anencefalia. As taxas encontradas pelos autores podem ser consideradas baixas se comparadas à
prevalência dos Estados Unidos (1/1000 nascimentos)18.
Já está bem estabelecido que o ácido fólico apresenta papel fundamental, principalmente
nos meses que antecedem a gestação, para o processo de fechamento do tubo neural19 prevenindo
de 50 a 75% dos casos de defeitos relacionados à neurulação20,3.
Sabe-se que o ácido fólico, juntamente com outros nutrientes como a vitamina B12 e a
ferritina agem como cofatores de ativação das enzimas que participam da biossíntese normal dos
ácidos nucleicos DNA e RNA. Sendo assim, um desequilíbrio desses nutrientes no organismo
durante o período gestacional pode ocasionar modificações na síntese de DNA e proteínas, além
de gerar alterações cromossômicas que perturbam o processo de fechamento do tubo neural21,22,23,
Entretanto, de acordo com Crider et al23 os mecanismos moleculares de atuação do ácido
fólico sobre o processo de fechamento do tubo neural, não estão completamente elucidados.
Sabe-se ainda que a deficiência de ácido fólico promove aumento dos níveis de
homocisteína, e que níveis elevados desse aminoácido no sangue está associado à diversas
anomalias congênitas, sobretudo defeitos no fechamento do tubo neural24.
Entretanto, mesmo sabendo-se que tanto o folato como a homocisteína estão associados
em diversos aspectos da morfogênse da crista neural como a proliferação, migração e diferenciação
celular, continua sendo objeto de pesquisa o mecanismo exato de atuação do ácido fólico no
processo de neurulação e fechamento da placa neural24. Além disso, os níveis séricos de folato
necessários para que se consiga atingir uma redução máxima de defeitos do tubo neural ainda são
desconhecidos23.
Diante da necessidade desse nutriente para o desenvolvimento adequado do embrião e com
o intuito de minimizar o baixo consumo de ácido fólico durante a gestação, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária25 instituiu no ano de 2004, por meio da Resolução de Diretoria Colegiada 344
de 13 de dezembro de 2002, a obrigatoriedade do acréscimo de ácido fólico nos derivados
farináceos do trigo e milho, levando em consideração o elevado consumo desses tipos de farinhas
pela população brasileira. Nessa resolução ficou estabelecido que em cada 100g de farinha deve
haver no mínimo 150 microgramas de ácido fólico.
Bestwick et al26 realizaram uma pesquisa com quase meio milhão de mulheres de várias
partes do mundo relacionando a suplementação de ácido fólico com a prevenção de defeitos do
tubo neural e revelaram que há a necessidade de fortificar farinhas e outros cereais em todos os
países do mundo, pois poucas mulheres fazem uso de ácido fólico antes da gravidez.
Verifica-se que diversos estudos são realizados com o intuito de apontar o impacto da
fortificação de alimentos com ácido fólico na prevalência de defeitos do tubo neural. Em estudo
realizado por Oliveira et al9 foi constatado que alimentos fortificados demonstram efeitos
significativos na prevalência de defeitos do tubo neural variando de 19% a 78% a redução do
número de casos, resultado superior ao encontrado na China, onde as taxas de defeitos do tubo
neural reduziram somente 20 a 30% desde a instituição de grãos cereais enriquecidos com ácido
fólico27.
Estudo similar foi realizado por Arguello e Sollis28, no ano de 2013, no qual foi verificada as
consequências da fortificação de alimentos com ácido fólico na prevalência de defeitos no tubo
neural na Costa Rica. Os resultados dessa pesquisa revelaram uma redução de 58% do número de
casos de defeitos do tubo neural após a fortificação de alimentos com ácido fólico comparado ao
período anterior à fortificação.
Calvo e Biglieri29, no ano de 2008, obtiveram resultados semelhantes ao do estudo
mencionado anteriormente. Os autores também investigaram o impacto da fortificação com ácido
fólico sobre o estado nutricional das mulheres e a prevalência de defeitos do tubo neural a partir de
4 CONCLUSÕES
Percebe-se que dentre os defeitos do tubo neural, do tipo anencefalia e a espinha bífida são
os mais prevalentes no Brasil e que há uma necessidade de se reduzir ainda mais o número de
casos. Verifica-se que são escassas as publicações referentes à prevalência de defeitos do tubo
neural no Brasil e que as publicações existentes limitam a amostra estudada a dados hospitalares.
Nota-se que ainda há baixo índice de mulheres consumindo o ácido fólico antes da
concepção e durante a gestação, por isso há a necessidade de uma maior divulgação em relação
à importância desse nutriente durante o período embrionário.
O enriquecimento de alimentos com ácido fólico é uma medida que apresenta efeito protetor
significativo, tendo em vista a quantidade de estudos que demonstram os resultados positivos dessa
ação na redução do número de casos de defeitos do tubo neural. Além disso, essa é uma forma de
cobrir uma grande parcela da população sem a necessidade de mudança de seus hábitos
alimentares.
Ademais, esforços devem ser voltados para realização de uma contínua assistência
educativa melhorando as ações de saúde durante o pré-natal.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. World Health Organization. World atlas of birth defects.
2003.
2. Santos LMP, Pereira MZ. Efeito da fortificação com
ácido fólico na redução dos defeitos do tubo neural. Cad
Saúde Pública 2007; 23(1):17-24.
3. Aguiar MJB, Campos AS, Aguiar RALP, Lana AMA,
Magalhães RL, Babeto LT. Defeitos de fechamento de
tubo neural e fatores associados em recém-nascidos e
natimortos. Jornal de Pediatria 2003; 79(2):129-134.
4. Moore
5. Alberto MVLA, Galdos ACR, Miglino MA, Santos JM.
Anencefalia: causas de uma malformação congênita. Rev
Neurocienc 2010; 18(2):244-248.
17. Pante FR, Madi JN, Araújo BF, Zatti H, Madi SRC,
Rombaldi RL. Malformações congênitas do sistema
nervoso central: prevalência e impacto perinatal. Rev da
AMRIGS 2011; 55(4):339-344.
18. Nascimento LFC. Prevalência de defeitos de
fechamento de tubo neural no Vale do Paraíba, São
Paulo. Rev Paul Pediatr 2007; 26(4):372-377.
19. Barbosa L, Ribeiro DQ, Faria FC, Nobre LN, Lessa AC.
Fatores associados ao suplemento de ácido fólico durante
a gestação. Rev Bras Ginecol Obstet 2011; 33(9):246251.
20. Juriloff DM, Harris MJ. Mouse models for neural tube
closure defect. Human Molecular Genetics 2000; 9:993-
383
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
dados colhidos do National Nutritional and Health. Eles verificaram que também houve redução de
56% da ocorrência de casos de defeitos do tubo neural, resultado superior ao dos Estados Unidos,
onde houve redução de 19% de casos3
Pacheco et al14, encontraram resultados diferentes do padrão descrito na literatura, pois não
encontraram diferença estatística significativa de redução nos defeitos do fechamento do tubo
neural após o período de fortificação de alimentos com ácido fólico. A população utilizada nesse
estudo foram os nascidos vivos no município de Recife (PE) entre os anos de 200 a 2006. Os
autores atribuem esse resultado controverso encontrado ao curto período de avaliação do estudo e
julgam ser necessário estudos que avaliem maior período de tempo e mesmo com os resultados
encontrados não descartam os benefícios do incremento de ácido fólico em alimentos para a
prevenção de malformação.
Nota-se que ainda há desinformação com relação aos benefícios do ácido fólico por parte
de muitas mulheres e o estudo realizado por Mezzomo et al30 constatou essa afirmação. Os autores
analisaram, por meio de entrevista, a prevalência do uso de ácido fólico utilizando como base
populacional mulheres no pós-parto em cinco maternidades da cidade de Pelotas, Rio Grande do
Sul, Brasil. Os resultados apontaram que a prevalência de uso de ácido fólico durante a gestação
foi de 31,8%, e no período periconcepcional, ou seja, antes da gravidez, foi de 4,3%.
Resultado semelhante foi encontrado no estudo de Ferreira31, nesse estudo foi avaliada a
percepção de gestantes quanto ao ácido fólico e sulfato ferroso durante o período pré-natal e foi
constatado que há um desconhecimento sobre os medicamentos essenciais utilizados durante a
gestação, principalmente em relação ao ácido fólico existindo uma falha no processo educativo das
gestantes no período pré-natal.
DISCRIMINAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DE NEOPLASIAS EPITELIAIS MALIGNAS
GÁSTRICAS
HISTOPATHOLOGICAL DISCRMINATION OF MALIGNANT GASTRIC EPITHELIAL
NEOPLASMS
Gabriela Wodzik Martins¹, Iêda Maria Silva Ribeiro¹, Maísa Muniz¹, Rafaela Soares Azevedo
Mundim Rios¹, Andriele Gasparetto²; Flávio Dias Silva²; Viviane Tiemi Kenmoti²; Carina Scolari
Gosch².
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO - As neoplasias malignas gástricas apresentam-se como uma lesão tumoral elevada,
irregular e ulcerada, o que caracteriza a sua malignidade. Os cânceres gástricos ocorrem,
384
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
1000.
21. Thame G, Shinohara EMG, Santos HG, Moron AF.
Folato, vitamin B12 e ferritina sérica e defeitos do tubo
neural. RBGO 1998; 20(8):449-453.
22. Schüler-Faccin L, Leite JCL, Verino MTVS, Peres RM.
Avaliação de teratógenos na população brasileira. Ciênc e
Saúde Coletiva 2002; 7(1):65-71.
23. Crider KS, Bailey LB, Berry RJ. Folic acid food
fortification—its history effect concerns and future
directions. Nutrients 2011; 3:370-384.
24. Melo FR. Efeitos da homocisteína e ácido fólico na
morfogênese da crista neural, in vitro. Florianópolis.
[dissertação]. Santa Catarina: Universidade Federal de
Santa Catarina; 2010.
25. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil).
Resolução RDC nº 344, de 13 de dezembro de 20002.
Aprova o regulamento técnico para a fortificação das
farinhas de trigo e das farinhas de milho com ferro e acido
fólico. Diário Oficial da União (DOU) 13 de dezembro de
2002.
26. Bestwick JP, Huttly WJ, Morris JK, Wald N. Prevention
of neural tube defects: a cross-sectional study of the
uptake of folic acid supplementation in nearly half a million
women. Plos One Journal 2014.
27. Erickson JD. Folic Acid and Prevention of Spina
Bifida and Anencephaly. 10 Years After the U.S. Public
Health Service Recommendation. Recommendations and
Reports 2002; 51:1-3.
28. Arguello MPB, Solís LMU. Impacto de
la fortificación de alimentos con ácido fólico en
los defectos del tubo neural en Costa Rica. Rev Panan
Salud Publica 2011; 30(1):1-6.
29.
Calvo
EB,
Biglieri
A.
Impacto
de
la fortificación con ácido fólico sobre el estado
nutricional
en
mujeres
y
la prevalencia de defectos del tubo neural. Arch Argent
Pediatr 2008; 106(6):492-498.
30. Mezzomo CLS, Garcias GL, Sclowits IT, Sclowits IT,
Brum CB, Fontana T, Fontana T, Unfried RI. Prevenção
de defeitos do tubo neural: prevalência do uso da
suplementação de ácido fólico e fatores associados em
gestantes na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil.
Cad Saúde Pública 2007; 23(11):2716-2726.
31. Ferreira GA, Gama FN. Percepção de gestantes
quanto o ácido fólico e sulfato ferroso durante o pré-natal.
Rev Enferm Integrada 2010; 3(2):578-589
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
6. Costa AT. Aconselhamento genético como prática
clínica: a anencefalia em foco. [dissertação]. Rio de
Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz – Instituto Fernandes
Figueira; 2010.
7. Corral ES, Moreno RS, Péres GG, Ojeda MEB,
Valenzuela HG, Reascos MM, Sepúlveda WL.
Defectos
congénitos
cráneo-encefálicos:
variedades y respuesta a la fortificación de la
harina con ácido fólico. Rev Med Chile 2006; 134:11291134.
8.
Cortés
FM.
Prevención primaria de los defectos de cierre
del tubo neural. Rev Chil Pediatr 2003; 74(2):208-212.
9. Oliveira AC, Reggiolli MR, Ribeiro KR. A importância do
ácido fólico na redução dos defeitos do tubo neural
durante a gestação. Interciência e sociedade 2014; 3:916.
10. Gaiva MAM, Neves AQ, Siqueira FMG. O cuidado da
criança com espinha bífida pela família no domicílio. Esc
Anna Nery Rev Enferm 2009; 13(4):717-725.
11. Hisaba WJ, Moron AF, Cavalheiro S, Santana RM,
Passos JP, Cordioli E. Espinha bífida aberta: achados
ultra-sonográficos e presença de contrações uterinas na
predição da evolução motora neonatal. RBGO 2003;
25(6):425-430.
12. Cabral ACV, Cabral MA, Brandão AHF. Prevenção dos
defeitos do tubo neural com uso periconcepcional do ácido
fólico. Rev Med Minas Gerais 2011; 21(2):186-189.
13. Pacheco SS, Souza AI, Vidal SA, Guerra GVQL,
Batista Filho M, Baptista EVP, Melo MIB. Prevalência dos
defeitos de fechamento do tubo neural em recém nascidos
do centro de atenção à mulher do Instituto Materno Infantil
Prof. Fernando Figueira, IMIP: 2000-2004. Rev Bras
Saúde Matern Infant 2006; 6:535-542.
14. Pacheco SS, Braga C, Souza AI, Figueiroa JN. Efeito
da fortificação alimentar com ácido fólico na prevalência
de defeitos do tubo neural. Rev Saúde Pública 2009;
43(4):1-5.
15. Costa CMS, Gama SGN, Leal MC. Congenital
malformations in Rio de janeiro, Brazil: prevalence and
associated factors. Cad Saúde Publica 2006; 22(11):24232431.
16. Fujimori E, Baldino CF, Sato APS, Borges ALV,
Gomes MN. Prevalência e distribuição espacial de
defeitos do tubo neural no estado de São Paulo, Brasil,
antes e após fortificação de farinhas com ácido fólico. Cad
Saúde Pública 2013; 29(1):145-154.
1. INTRODUÇÃO
A maioria dos cânceres gástricos ocorre em algum ponto de sua mucosa, apresentandose como uma lesão tumoral elevada, irregular e frequentemente ulcerada, caracterizando assim a
sua malignidade.1
Não raro, as neoplasias malignas gástricas podem produzir metástases à distância,
como no fígado e no pulmão. Em mais de 90% dos casos essasneoplasias são originadas na
mucosa gástrica, os adenocarcinomas, objeto de estudo desta revisão. O restantesão linfomas,
sarcomas e outras variedades mais raras.2
O número de casos tem apresentado uma grande redução nas últimas décadas, mas
ainda é apontado como um relevante contribuinte para a taxa de mortalidade mundial. Tem
incidência populacional na proporção de dois homens para cada mulher, além de ser mais frequente
nos países em desenvolvimento.3Números significativos dessa patologia ainda são vistos na
América Latina e, sobretudo, no Japão e na Rússia. Já no Brasil, o índice é mais elevado nas
capitais Belém-PA e Fortaleza-CE, afetando principalmente o gênero masculino.4
As neoplasias gástricas são de difícil diagnostico, pois as queixas são aleatórias e
inespecíficas. Além disso, suas mudanças de distribuição nas regiões do mundo têm influenciado
bastante nas modificações do padrão histopatológico da doença.5
O prognóstico do câncer gástrico avançado é fechado com taxas de sobrevivência em
cinco anos de 5%a 15% e está relacionado com vários fatores, dentre eles a localização anatômica
do carcinoma. Dentro do estomago ocorre, geralmente, nas partes piloro e antro, representando
50% a 60% dos casos, na válvula cárdia, 25%, e o restante no corpo e no fundo. Os tumores
predominam, majoritariamente, no terço inferior ou médio, embora nos últimos 30 anos tenham
aumentado a incidência nas partes proximais.1 O câncer de estômago possui uma tendência
particular indicando uma origem diferenciada, no entanto, o aumento da sua incidência sugere que
a neoplasia nesse local compartilha os mesmos fatores de riscos, principalmente obesidade, refluxo
gástrico e esôfago de Barret subsequente. Lugares que apresentam elevadas ocorrências de câncer
gástrico e baixas de esôfago de Barret, como a China, mostram a necessidade do aprofundamento
no estudo das neoplasias de cárdia.
Este trabalho se justifica visto que o câncer de estômago é um dos tumores sólidos mais
comuns e que no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), essa doença é a
terceira causa de óbitos no país entre os homens e a quinta entre as mulheres, o tema destaca-se
como de grande importância para ser discutido. O trabalho proposto procura evidenciar causas,
sintomas, tratamento, prevenção e fazer um estudo histológico do assunto.
385
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
ABSTRACT - Gastric malignancies present as a high tumor, irregular and ulcerated, which
characterizes its malignancy. Gastric cancers occur, mostly in some region of the gastric mucosa,
generally in antrum and pylorus parts representing 50% to 60% of cases. Its location is related to
the survival rate, among other factors. In the gastric mucosa, gastric malignancies can metastasize
in other organs such as liver, lung, and duodenal invasion by carcinoma is reported in 11% to 33.3%
of the surgical specimens. In this article highlight the histopathological characteristics of gastric
malignancies by histopathological classification Lauren, the places and the higher incidence of
genres, the causes and symptoms.
Keywords: Stomach cancer. Histopathology of gastric cancer. Gastricneoplasms.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
majoritariamente, em alguma região da mucosa gástrica, geralmente, nas partes piloro e antro,
representando 50% a 60% dos casos. Sua localização está relacionada com a taxa de sobrevida,
entre outros fatores. Além da mucosa gástrica, as neoplasias malignas gástricas podem produzir
metástases em outros órgãos como fígado, pulmão, e a invasão do duodeno pelo carcinoma é
relatada em 11% a 33,3% dos exames de peças cirúrgicas. Neste artigo salienta-se as
características histopatológicas das neoplasias malignas gástricas através da classificação
histopatológica de Lauren, os lugares e os gêneros de maior incidência, as causas e os sintomas.
Palavras-chave: Câncer de estômago. Histopatologia do câncer gástrico. Neoplasias gástricas.
386
Prefixo Editorial: 69629
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 734 artigos visualizados nas buscas, 14% foram rejeitados por não apresentarem
assuntos relacionados com a histopatologia da doença. Apenas 6% das publicações foram
efetivamente analisadas, pois cerca de 70% delas apresentava semelhança na abordagem do
assunto. Destes, 21 foram escolhidos e utilizados na revisão bibliográfica pois se aplicavam ao tema
proposto.
Apesar de não delimitação do idioma, foram utilizados 9 artigos em inglês e 12 artigos
em Português.
Uma nova classificação macroscópica a respeito dos tumores malignosfoi desenvolvida
pela Associação Japonesa do Câncer Gástrico, dividindo os em tumores precoces (superficiais) e
em avançados.6 Frequentemente o adenocarcinoma no estágio inicial é assintomático ou produz
sintomas amenos, razão pela qual esta patologia gástrica é muitas vezes diagnosticadanuma fase
avançada ou metastática.Os aspectos clínicos do carcinoma gástrico inicial diferem do
carcinomaavançado. No inicial, além dos sintomas lembrarem uma úlcera gástrica benigna,
evidências comprovam que uma investigação precocecom endoscopia e biopsia garantem um
diagnóstico da patologia na etapa inicial.7Já no carcinoma avançado, a taxa de sobrevida emgeral
situa-se abaixo dos 20% em cinco anos e os principais sintomas variamentre perda ponderal, dor
abdominal, náuseas e anorexia.8
Para se obter uma classificação histológica ideal teria que seguir rigorosos critérios,
quanto ao seu uso fácil, acessível reprodução, abranger os diferentes tipos tumorais tendo relação
com a histogênese e, se possível, etiologia dos tipos de tumor. No entanto, nenhuma consegue
englobar todos esses requisitos.9
Os adenocarcinomas de estômago são classificados histologicamente e divididos em
dois tipos, segundo Lauren: intestinal e difuso. O tipo intestinal predomina em áreas de risco
elevado, principalmente em homens e em pessoas com idade avançada, sendo mais frequente em
localização proximal do que distal. Além disso, possui característica glandular acompanhada de um
componente papilar ou sólido, sendo a mucina inconstante, ocorrendo no citoplasma de algumas
células ou no meio extracelular do lúmen das glândulas neoplásicas. Já o tipo difuso é mais
comumente visto em pessoas abaixo dos 50 anos e apresenta razão de casos entres homens e
mulheres próximo à unidade.1 Eles são relacionados com mutação da E-caderina formados por
células dispersas, evidenciando mitoses e poucas glândulas distribuídas em regiões
superficialmente aos tumores.3 De 1344 tumores pré-definidos, Lauren classificou 53% de tipo
intestinal, 33% de tipo difuso e 14% não classificáveis.10
n. 01
v. 03
2. METODOLOGIA
A revisão bibliográfica ocorreu entre os meses de fevereiro e março de 2014. Localizouse na literatura cientifica artigos que abordavam sobre a histopatologia gástrica de forma ampla
sendo que de 45 artigos pré-selecionados, 21 foram escolhidos segundo critérios de aplicabilidade
ao tema proposto. Foram excluídos aqueles que não condiziam com a discriminação histopatológica
de neoplasias epiteliais malignas gástricas
Para a pesquisa dos mesmos foram utilizados como bancos de dados bibliograficos:
SciELO (Scientific Electronic Library Online), Google Acadêmico e LILACS - Centro LatinoAmericano. Sem especificar idioma. Através de seus sistemas de buscas adotaram-se palavras
chaves como: “histopatologia gástrica”, “câncer de estomago”, “histologia câncer estomago”.
ISBN 978-8569629-07-8
São objetivos deste, analisar a patologia e suas causas clínicas, classificar a
histopatologia de acordo com Lauren no tipo intestinal e noutro difuso, evidenciar os aspectos
histopatológicos através de análises, discutir e referenciar padrões para o diagnóstico da neoplasia
no Brasil até então não padronizada.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Deste modo, tem-se que o presente trabalho é uma condensação baseada na literatura
científica vigente na atualidade acerca do assunto abordado, e que constata a relevância do estudo
dos cânceres gástricos, ainda apontado como um relevante contribuinte para a taxa de mortalidade
mundial.
Os cânceres gástricos apresentam-se como uma lesão tumoral elevada, irregular e
frequentemente ulcerada, sendo muito malignos e podendo produzir metástases à distância, como
no fígado e no pulmão, se não diagnosticados e tratados a tempo.
387
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
As lesões de caráter intestinal são mais frequentes, associadas a fatores ambientais e
à presença de lesões pré-cancerosas, assim como: gastrite crônica, atrofia gástrica, metaplasia
intestinal e displasia. Os adenocarcinomas de caráter difuso são quase indiferenciados, possuem
prognostico ruim e apresentam-se em formas de tumores maiores, além de possuírem um grau de
penetração maior na parede gástrica e não serem associados às lesões pré-cancerosas. É
recorrente no tipo intestinal uma invasão extensa no fígado, já no difuso provoca metástases
peritoneais, pulmonares e ovarianas (tumores de Krukenberg).3
A decadência de cancro gástrico nos países ocidentais possibilitou a redução dos
tumores de tipo intestinal, porém manteve a frequência dos tumores de tipo difuso. 11
A histopatologia durante a análise epidemiológica do câncer gástrico resulta na
descoberta que o tipo intestinal é mais frequente em regiões onde o risco de desenvolver a doença
é mais acentuado. O tipo difuso tem incidência similar em lugares de alto e baixorisco.12
A predominância histopatológica pode ser um método de classificar os tumores
gástricos. Os mais comuns são pouco diferenciados, padrão sólido, padrão não sólido, anel de
sinete e mucinoso. Os especiais são classificados como carcinoma adenoescamoso, carcinoma
espinocelular, tumor carcinoide e outros tumores. Por fim, os que são relacionados câncer de
estroma: tipo medular (estroma escasso), tipo esquirroso (estroma abundante) e tipo intermediário
(quantidade de estroma é intermediária entre o medular e esquirroso).13
Os estágios do câncer gástrico são clínicos, seguido de exames subsidiários finalizando
com cirurgias, baseando-se na classificação de TNM (T - infiltração tumoral na parede gástrica; N linfonodos e M - metástases).14
No Brasil, não há uma padronização para o diagnóstico, estadiamento e tratamento das
neoplasias gástricas. Em 2010, ocorreu a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo (SBAD) em
Florianópolis, a qual reuniu 56 cirurgiões especializados no sistema gástrico-entérico que atuam no
desenvolvimento de pesquisas sobre o câncer gástrico em todo o país (patologistas, oncologistas,
endoscopistas eradioterapeutas), na finalidade de chegarem a um objetivo único sobre o
assunto.15,16 A metodologia empregada consistiu-se no envio para os membros convidados temas
específicos relativos às suas respectivas áreas de atuação, os quais foram analisados, discutidos e
votados.17,18
Foram 53 perguntas ao todo, sendo relacionadas ao diagnóstico e estadiamento (6
questões); tratamento cirúrgico (35 questões); quimioterapia e radioterapia (7 questões); e
anatomopatologia, imuno-histoquímica e perspectivas (5 questões).Após a SBAD, o Ministério da
Saúde brasileiro decidiu fazer uma consulta pública com o objetivo de implementar orientações
sobre diagnóstico e o tratamento dessa moléstia. Subsequentemente, no Congresso Panamericano de Câncer Gástrico, realizado em Porto Alegre em setembro de 2012, as orientações
foram finalmente aprovadas por 125 médicos brasileiros e oito especialistas internacionais.18,19,20
Após a aprovação oficial, apresentaram e ratificaram o projeto final para publicação de nome
CONSENSO BRASILEIRO SOBRE CÂNCER GÁSTRICO: DIRETRIZES PARA O CÂNCER
GÁSTRICO NO BRASIL. Considerou-se consenso a concordância de mais de 70% dos votos em
cada tema.19 De todas respostas apresentadas e votadas, em 42 delas houve consenso.20
DOR OROFACIAL E SEU IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA: REVISÃO SISTEMÁTICA
PAIN MOUTH AND ITS IMPACT ON QUALITY OF LIFE: SYSTEMATIC REVIEW
Josilleya Damacena Simao¹, Felipe Camargo Munhoz²; Carllini Vicentine Barroso²; Sergio Ricardo
Campos Maia²; Joelcy Pereira Tavares²; Tania Maria Aires Gomes Rocha²; Carina Scolari Gosch² ;
Raymundo do Espirito Santo Pedreira².
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO: A dor é definida como experiência sensorial e emocional desagradável, associada a
lesões reais ou potenciais ou descrita em termos de tais lesões. Dor Orofacial é toda dor associada
388
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
12. MS (MINISTÉRIO DA SAÚDE), 1995. Câncer no Brasil
– Dados dos Registros de Base Populacional. Vol.2, Rio
de Janeiro: Instituto Nacional do Câncer. Coordenação de
Programas de Controle de Câncer.
13. Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL.
Sabiston – Tratado de Cirurgia: As bases biológicas da
prática cirúrgica moderna. 18ª Ed. Rio de Janeiro:
Elsevier: 2009. (44) : 1100-4.
14. Valadão M, Linhares E, Castro L, Pinto CE, Lugão R,
Quadros C, Martins I. GIST Gástrico – Experiência do
INCA. Revista Brasileira de Cancerologia. 2004; 50 (2) :
121-126.
15. . Associação Brasileira de Câncer Gástrico - Consenso
Brasileiro de
Câncer Gástrico. In: XXVI Congresso Brasileiro de
Cirurgia – 2011
– Fortaleza, Brasil.
16. CORREA, P., 1988. A human model of gastric
carcinogenesis. Perspectives in Cancer Research, 48:
3.554-3.558.
17. PINTO, F. G. & CURI, P. R., 1991. Mortalidade por
neoplasias no Brasil (1980/1983/1985): agrupamento dos
estados, comportamento e tendências. Revista de Saúde
Pública, 25:276-281.
18. MS (MINISTÉRIO DA SAÚDE), 1995. Câncer no
Brasil– Dados dos Registros de Base Populacional. Vol.2,
Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Câncer.Coord.
19. VECCHIA, C.; D’AVANZO, B.; FRANCESCHI, S.;
NEGRI,
E.; PARAZZINI, F. & DECARLI, A., 1994. Menstrual and
reproductive factors and gastric-cancer risk in women.
InternationalJournalofCancer,
59:761-764.
20. ALVES, M. & GODOY, S.C.B. Procura pelo serviço de
atenção à saúde do trabalhador e absenteísmo-doença
em um hospital universitário. Revista
Mineira de Enfermagem (REME). Belo Horizonte. 2001; v.
5. p. 73-81.
21. BORGES, G.M. Funcionalismo Público: construção e
aplicação de tábuas biométricas. Dissertação de
Mestrado. Escola Nacional de Ciências Estatísticas
(ENCE/ IBGE). Rio de Janeiro, 2009.
v. 03
1 CREUTZFELDT W. Carcinoid tumors: development of
our knowledge. World J Surg 1996; 20:126-31.
2 Waisberg J, Hamada M, Gonçalves JE, Messias M,
Bromberg SH, Jatobá PP et al. Tumores carcinóides do
trato
gastrointestinal:
análise
de
21
casos.
ArqGastroenterol1990; 27:53-61.
3.Lauren, P., 1965, the two histological main types of
gastric carcinoma, diffuse and so-called intestinal – type
carcinoma, Act PatholMicrobiolScand, vol. 64, pp. 31-49
4.Bajetta E, Carnaghi C, Ferrari L, Spagnoli I, Mazzaferro
V, Buzzoni R. The role of somatostatin analogues in the
treatment of gastro-enteropancreatic endocrine tumors.
Digestion 1996; 57(Suppl 1): 72-6.
5.Rizoli SB, Mantovani M, Trentini JLB, Capone Neto A.
Carcinoide do apêndice-achado incidental. Rev Bras
Coloproct. 1990; 10:24-6.
6. Murakami, K., Fujioka, T., Kodama, M., et al, 2002,
Analysis of p53 mutations and Helicobacter pylori infection
in human and animal models, J Gastroenterol, vol. 37,
supplement 13, pp. 1-5.
7. Roukos DH. &Agnantis NJ, 2002, Gastric Cancer:
Diagnosis, Staging, Prognosis, Gastric BreastCancer,
vol.1, no. 1, pp. 7-10
8. 15. AXON, A. Symptoms and diagnosis of gastric
cancer at early curable stage.
Best Pract. Res. Clín. Gastroenterol.Çondres, v. 20, n. 4,
p. 697-70, 2006.
9. Ramos, F., 2003, Aspectos macroscópicos e
topográficos do adenocarcinoma gástrico in Carcinoma
gástrico, Carneiro Chaves, F., & Lomba Viana, (eds),
Biblioteca Gastroenterológica, Permanyer Portugal, pp.
44-54.
10. Fernandes LC, Pucca L, Matos D. Diagnóstico e
tratamento de tumores carcinoides do trato digestivo. Rev
Assoc Med Bras. 2002; 48:87-92.
11. Endoh, Y., Tamnra, T., Motoyama, T., 1999, Well
differentiated adenocarcinoma mimickingcomplete – type
intestinal metaplasia in the stomach, HnmPathol, vol. 30,
pp. 826-832.
n. 01
REFERÊNCIAS
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Segundo Lauren, os adenocarcinomas de estômago são histologicamente classificados
em intestinal e difuso. Depois de classificar e analisar a patologia, pode-se perceber que as
neoplasias gástricas são de difícil diagnostico, pois as queixas são aleatórias e inespecíficas.
Evidencia-se ainda que a doença é mais comum em homens e que as lesões são muitas vezes
associadas à fatores ambientais e à presença de lesões pré-cancerosas.
1 INTRODUÇÃO
A dor é um problema de saúde global, e seus efeitos podem variar de acordo com sua
intensidade. Podem trazer prejuízos à qualidade de vida, como perda de trabalho e produtividade
(SORIN et al. 2015).
Trata-se de uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a lesões
reais ou potenciais ou descrita em termos de tal dano. De acordo com o tipo de processo
inflamatório presente, a dor pode ser classificada em aguda ou crônica, mas seus critérios de
classificação são geralmente subjetivos, pois dependem do relato do paciente para que seja
realizado um correto diagnóstico (PESSOA, 2007).
A especialidade Odontológica focada no tratamento da Disfunção Temporomandibular
e Dor Orofacial foi criada em 2002 pelo Conselho Federal de Odontologia. É a especialidade que
tem como objetivo promover e desenvolver uma base de conhecimentos científicos para melhor
compreensão do diagnóstico e no tratamento das dores e distúrbios do sistema mastigatório, região
orofacial e estruturas relacionadas. Por ser uma especialidade relativamente nova, mesmo entre
os profissionais da saúde, ainda é pouco conhecida. Entretanto, o número de pacientes que
procuram o consultório odontológico apresentando sintomatologia dolorosa é crescente a cada
ano (CARRARA; CONTI; BARBOSA, 2010).
A Dor Orofacial é toda dor associada a tecidos moles e mineralizados da cavidade
bucal e da face, portanto, área de atuação do cirurgião-dentista. É de extrema importância que o
profissional cirurgião-dentista seja capaz de identificar a Dor Orofacial, bem como de encaminhar
seu paciente para fazer o tratamento apropriado com rapidez, visto que pacientes com
sintomatologia dolorosa tendem a sofrer impactos na sua qualidade de vida. A tarefa de cuidar do
aparelho mastigatório, oclusão ou ATM pertence essencialmente ao cirurgião-dentista (NUNES et
al. 2012).
É evidente a necessidade de maiores estudos em relação à pacientes que apresentem
389
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
ABSTRACT: The pain is defined as a sensorial and emotional unpleasant experience, associated
to real or potencials lesions or described in terms of such lesions. Orofacial pain is any pain
associated to soft and mineralized tissues (skin, blood vessels, bones, teeth, muscles or glands) of
the oral cavity and face. In Dentistry, it can be of odontogenic origin or be associated with
headaches, neurogenic pathologic disorders, muscle-bone pain, psychogenic pain, cancer,
autoimmune infections and tissue trauma. The aim of this study was to systematically review the
prevalence of orofacial pain and it’s impact at life's quality. The methods applied included a
literature search strategy and, inclusion and exclusion criteria for the studies selection,
characteristics. The databases included were BIREME, GOOGLE ACADEMIC, PubMed, SciElo,
at the period of 2006 to 2016. From the
1260 articles found, 20 articles were selected. Through the review it was found that orofacial pain
is a relatively common symptom found in patients seeking dental care and it brings negative impacts
on life’s Quality.
Keywords: Odontology. Orofacial Pain. Quality of life.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
a tecidos moles e mineralizados (pele, vasos sanguíneos, ossos, dentes, glândulas ou músculos)
da cavidade oral e da face. Na Odontologia podem ser de origem odontogênica, ou estar
associados às cefaleias, desordens patológicas neurogênicas, dores musculoesqueléticas, dores
psicogênicas, câncer, infecções autoimunes e trauma tecidual. O objetivo deste estudo foi realizar
uma revisão sistemática da literatura sobre a prevalência da dor orofacial e seu impacto na
qualidade de vida. Os métodos aplicados incluíram estratégia de busca na literatura e critérios
de inclusão e exclusão para a seleção dos artigos a serem adotados. As bases de dados
incluídas foram BIREME, Google Acadêmico, PubMed e SciElo, no período de 2006 a 2016. De
1260 artigos encontrados, foram selecionados 20 artigos. Através da revisão verificou-se que a
dor orofacial é sintoma relativamente comum entre pacientes que procuram atendimento
odontológico e que traz impactos negativos na qualidade de vida.
Palavras chave: Odontologia. Dor Orofacial; Qualidade de vida.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A estratégia de busca, utilizando os descritores “dor orofacial” e “qualidade de vida”,
e seus respectivos termos na língua inglesa, nas bases de dados selecionadas resultou em
1260 trabalhos. Foram selecionados trabalhos realizados entre os anos de 2006 e 2016, e estudos
realizados em seres humanos resultando em 1068 trabalhos.
Em seguida, foi feito a leitura dos títulos dos trabalhos, excluindo os trabalhos
repetidos nas bases de dados, os relacionados somente ao tratamento das afecções ou quando
estas eram analisadas individualmente e estudos avaliando o conhecimento do cirurgião-dentista
sobre dor orofacial. Em seguida, foi realizada a leitura dos resumos dos trabalhos, excluindo
aqueles que não apresentavam dados necessários para avaliar a prevalência, intensidade,
existência e freqüência da dor orofacial, ou a avaliação das implicações da dor orofacial nas
atividades diárias.
Após aplicados os critérios de inclusão/exclusão, foi feito a leitura completa dos
trabalhos e selecionados 20 trabalhos para compor esta revisão, de acordo com sua relevância
para as questões propostas no objetivo desta revisão sistemática.
Os 20 trabalhos foram realizados em vários países e distribuídos da seguinte maneira:
11 artigos científicos, 6 artigos originais, 1 dissertação, 1 tese e 1 trabalho de conclusão de curso.
O termo dor orofacial é amplamente utilizado na literatura nacional e internacional
envolvendo as condições dolorosas provenientes da boca e face, próprias da área de atuação do
cirurgião-dentista, incluindo aquelas historicamente denominadas de “Disfunções da Articulação
Temporomandibular’’ (NUNES et al.
2012).
A dor orofacial esta associada a tecidos moles e mineralizados (pele, vasos
sanguíneos, ossos, dentes, glândulas ou músculos) da cavidade bucal e da face; podendo ainda
ser encontrada na região da cabeça e/ou pescoço ou mesmo estar associada à cervicalgias,
cefaleias primárias e doenças reumáticas como fibromialgia e artrite reumatoide. É de causa
multifatorial, entretanto suas principais fontes são problemas odontogênicos, cefaleias, patologias
neurogênicas, dores musculoesqueléticas, dores psicogênicas, câncer, infecções, fenômenos
autoimunes e trauma tecidual (CARRARA et al. 2010).
390
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
2 METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados BIREME, Google
Acadêmico, PubMed, SciElo, utilizando os seguintes descritores: “dor orofacial” e “qualidade de
vida”; e as respectivas palavras na língua inglesa.
Como critérios de inclusão, foram levados em consideração trabalhos publicados no
período de 2006 a 2016 e estudos realizados em humanos.
Como critérios de exclusão artigos relacionados somente ao tratamento das afecções
ou quando estas eram analisadas individualmente, estudos avaliando o conhecimento do
cirurgião-dentista sobre dor orofacial e artigos repetidos nas bases de dados.
Primeiramente, foi realizada a leitura do título e do resumo dos artigos encontrados
nas bases de dados, e selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão
mencionados anteriormente. Em seguida, foi realizada a leitura completa dos artigos para obtenção
das informações pertinentes para a revisão.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
dor na região orofacial, tendo em vista a alta prevalência na população, o elevado custo social e,
principalmente, o elevado custo pessoal (CARRARA; CONTI; BARBOSA, 2010).
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática da literatura
sobre a prevalência da dor orofacial e os impactos desta afecção no desempenho das atividades
diárias.
391
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
A Odontologia, desde seu início tem buscado tratamento especialmente para causas
odontogênicas, tanto de origem pulpar quanto periodontal, entretanto, é necessário que seja
avaliado outras fontes que proporcionem dor ao paciente, como processos inflamatórios típicos
(sinusites, parotidites), dores neuropáticas continuas ou intermitentes (nevralgias, dor por
desaferentação, dor mantida pelo simpático) cefaleia e disfunção temporomandibular. A
quantidade de indivíduos que apresentam sintomas de dor orofacial é alta na população, sendo
causa de grande sofrimento, podendo ainda resultar de alterações patologicas que põem em risco
a vida do indivíduo. O cirurgião-dentista é o profissional que está apto a diagnosticar e tratar
pacientes que são acometidos por dor na região da face (CARRARA et al.
2010).
A maior longevidade dos indivíduos, decorrente de novos hábitos de vida mais
saudáveis, e do prolongamento da sobrevida de pacientes com doenças clínicas através dos
avanços da medicina, são alguns dos aspectos responsáveis pelo grande número de pacientes
que apresentam um quadro de sintomatologia dolorosa. A sintomatologia dolorosa na região da
face, da boca e de suas estruturas adjacentes recebe a denominação Dor Orofacial. Compreende
a região abaixo da linha orbitomeatal, acima do pescoço e anterior às orelhas (LACERDA et al.
2011).
A dor exerce um importante impacto na qualidade de vida dos indivíduos, o indivíduo
que tem sintomatologia dolorosa ou desconforto sente-se estressado, dorme mal e manifesta
vários sinais e sintomas, que vão desde a diminuição da atenção ao trabalho com perda de
produtividade, aumento do risco de acidente de trabalho e a ausência no local de trabalho. A dor
tem a capacidade de prejudicar o sono, o trabalho, o lazer e o relacionamento com as pessoas
(LACERDA et al.,
2008).
As desordens orais têm impacto psicossocial na qualidade de vida e podem ser
mensurados com instrumentos como o questionário Oral Health Impact Profile (OHIP), o TMD
questionnaire; a versão em português do Questionário Eixo II dos Critérios Diagnósticos em
Disfunção Temporomandibular (RCD/TMD), o questionário de McGill (MPQ), a versão brasileira
do questionário de McGill (Br- MPQ) adaptado por Castro. É de fundamental importância a
utilização de questionários mensuradores do impacto da dor na qualidade de vida para auxiliar no
diagnóstico e tratamento dos pacientes (PESSOA et al. 2007).
Dantas et al. (2015) estudando o perfil epidemiológico de pacientes atendidos em um
serviço de controle da dor orofacial analisaram que a faixa etária mais presente compreendia entre
41 a 60 anos, com grau de escolaridade Ensino Médio completo e com vínculo empregatício.
Conti et al. (2012) em estudo que teve como objetivo explicar a relação entre as
desordens temporomandibulares e a dor orofacial em relação as morbidades psicossociais e
comportamentais, verificaram que a qualidade de vida destes pacientes é reduzida. Kuroiwa et al.
(2011) verificaram que os pacientes apresentaram o domínio saúde mental com média geral
baixa (57,63%), o que demonstra maior ansiedade, nervosismo e depressão. Ressaltaram que
pacientes com dor necessitam de abordagem multidisciplinar, cabendo ao profissional cirurgiãodentista analisar as individualidades de cada paciente para que o sucesso do tratamento seja
alcançado.
O tipo mais frequente na região orofacial são as da cavidade bucal. Entretanto, outro
grupo de dor referido relacionava-se à sintomatologia na região de ATM, abrir e fechar a boca e
mastigação (17,2%) e dor na região ocular (16,7%). Lacerda et al. (2008) relataram que a dor de
dente espontânea foi o tipo que causou maior sofrimento sendo classificada como intensa ou muito
intensa por 40,2% dos indivíduos.
Existem poucos estudos a respeito da prevalência da dor orofacial e seu impacto na
qualidade de vida. Existe um grande índice de pacientes que relatam prejuízos nas atividades
4 CONCLUSÃO
Diante dos resultados apresentados nesta revisão sistemática da literatura, pôdese concluir que é relevante o numero de pacientes que procuram atendimento com sintomatologia
dolorosa na região orofacial e que esta interfere significativamente no desempenho das atividades
diárias, e que existe uma associação entre ambas, demonstrando a importância da atuação do
cirurgião-dentista no acompanhamento de pacientes com sintomatologia dolorosa na região
orofacial.
A heterogeneidade metodológica dos estudos disponíveis demonstra uma necessidade
de estudos randomizados e controlados, para que seja possível uma melhor comparação dos
dados. É de fundamental importância que seja realizado novos estudos na área, para melhor
acompanhamento da relação entre dor orofacial e o impacto no desempenho diário dos indivíduos.
REFERÊNCIAS
BLANCO-AGUILERA, Antonio et al. Application of an oral
health-related quality of life questionnaire in primary care
patients with orofacial pain and temporomandibular
disorders. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2014. Mar
1;19 (2):e127-35. Córdoba, Espanha.
CARRARA, Simone Vieira; CONTI, Paulo César
Rodrigues; BARBOSA, Juliana Stuginski. Termo do
Primeiro Consenso em Disfunção Temporomandibular e
Dor Orofacial. Dental Press J Orthod. 2010, May-June;
15(3):114-20. [S.l.].
CAVALHEIRO, Charles Henrique. Relação entre dor
bucal e impacto odontológico em uma população
de 50 a 74 anos de idade do Sul do Brasil.
2010. 73f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) –
Universidade Federal de Santa
Maria, Rio Grande do Sul, 2010.
CIOFFI, Iacopo et al. Social impairment of individuals
suffering from different types of chronic orofacial pain.
Progress in Orthodontics 2014. DOI: 10.1186/s 40510-
MICHEL-CROSATO, Edgard et al. Relação entre dor
orofacial e qualidade de vida: um estudo em
trabalhadores. UFES Rev. Odontol., Vitória, v.8, n.2,
p.45-52, maio/ago. 2006.
ODAI, Emeka Danielson; EHIZELE, Adebola Oluyemisi;
ENABULELE, Joan Emien. Assesssmente of pain among
a group of Nigerian dental patients. BMC Research
Notes. 2015. DOI: 10.1186/s13104-015-1226-5. [S.l.]
NUNES, Alexander Contriciani et al. Dor Orofacial.
Revista Odontológica de
Araçatuba, v. 33, n. 1. p. 31-35, janeiro/junho, 2012.
PESSOA, Camila Porto et al. Instrumentos Utilizados
na Avaliação do Impacto da Dor na Qualidade de Vida
de Pacientes com Dor Orofacial e Disfunção
Temporomandibular. Revista Baiana de Saúde Pública.
V. 31, n.2, p.267-293, jul- dez. 2007.
PROGIANTE,
Patricia
Saram.
Levantamento
Epidemiológico na cidade de
Maringá: Disfunção Temporomandibular e Dor
392
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
diárias em decorrência de sintomatologia dolorosa na região orofacial, interferindo
significativamente no desempenho destas atividades.
Studart e Acioli (2011) através de estudos exploratórios qualitativos em narrativas de
sujeitos com Disfunção Temporomandibular relacionadas aos impactos da dor nas atividades
sociais indicaram que os impactos gerais da dor da Disfunção Temporomandibular na vida do
sujeito são predominantemente no lazer e no trabalho. Entre os impactos específicos, destacamse dificuldades em mastigar, bocejar, fazer higiene oral, sorrir e falar. Souza (2012) em seu estudo,
concluiu que os pacientes relataram prejuízos nas atividades domiciliares, lazer, relacionamento
familiar, relacionamento com amigos, no sono, insônia inicial e apetite. Cavalheiro (2010) concluiu
que atividades como falar, limpar os dentes e gengivas, aproveitar o convívio com as pessoas,
trabalhar e descansar foram afetadas devido a presença de dor de níveis que variavam de leve a
severo.
O gráfico 5 apresenta dados sobre o número de pessoas que precisaram faltar ao
trabalho nos últimos seis meses em decorrência da dor, confirmando que o alto percentual de dor
orofacial relatado interfere no cotidiano dos indivíduos.
Quanto às medidas de tratamento e alívio da dor, 50,0% dos trabalhadores não
fizeram nada para obter alívio da dor orofacial, enquanto 21% dos entrevistados procuraram auxílio
do cirurgião-dentista. A prevalência do impacto oral no desempenho diário foi de 28,5%, sendo
que cinco atividades foram citadas pelos trabalhadores como afetadas pelos problemas orais.
(LACERDA et al., 2011). Razões odontológicas mostraram impacto na qualidade de vida em
pacientes que relataram dificuldade para limpar os dentes (29,43%) e dificuldade para se alimentar
(25,44%) (MICHEL-CROSATO et al., 2006).
n. 01
v. 03
ISBN 978-8569629-07-8
Prefixo Editorial: 69629
Orofacial e Suas Variáveis.
2012. 101f. Tese (Doutorado em Odontologia) –
Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.
RUIVO, Marília Araújo et al. Prevalência de dor no
segmento cefálico e sua associação com qualidade de
vida na população geral do município de Piracicaba, São
Paulo: um estudo epidemiológico. Rev Dor. São Paulo,
2015, jan-mar;
16(1):15-21.
SILVIO, R. C Silva et al. Dor orofacial e qualidade de
vida de adultos. Rev Odontol
Bras Central 2012; 21(56). Ribeirão Preto, São Paulo.
SORIN, T. Teich et al. Dental Student’s Learning
Experiences and Preferences Regarding Orofacial Pain:
A Cross-Sectional Study. Journal of Dental Education,
October 1. 2015, vol. 79, no. 10, 1208-1214.
SOUZA, Jâmyson Kleber Ferreira. Avaliação da
qualidade de vida de portadores de disfunções
temporomandibulares e dores orofaciais. 2012, 27f.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Odontologia) – Universidade Estadual da Paraíba,
Campina Grande, Paraíba, 2012.
STUDART, Luciana; ACIOLI, Moab Duarte. A
comunicação da dor: um estudo sobre as narrativas dos
impactos da disfunção temporomandibular. Interface –
Comunicação, Saúde, Educação. v.15, n.37, p.487503, abr/jun. 2012
HIPERTENSÃO EM ADOLESCENTE
HYPERTENSION IN ADOLESCENTS
Ayrton Cardoso da Costa¹, Bruno Tavares Alves¹, Thompson de Oliveira Turíbio²; Ronyere Olegário de
Araujo2; Vanessa Regina Maciel Uzan2; Tiago Farret Gemelli²; Carlos Eduardo Bezerra do Amaral Silva².
_________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO: Introdução - A hipertensão arterial é uma doença crônica multifatorial que tem uma
prevalência relativamente baixa em adolescentes em comparação com os adultos. Torna-se
preocupante o surgimento dessa enfermidade cada vez maior na atualidade em adolescestes,
exigindo do profissional de enfermagem um trabalho voltado à prevenção, tratamento e
autocuidado, para que estes adolescentes não se tornem adultos hipertensos. Objetivo - Analisar
pesquisas referentes à temática hipertensão em adolescentes, dados coletados de bibliografias
expostas do ano de 2004 a 2014. Metodologia - Trata-se de uma pesquisa bibliográfica integrativa,
de fontes secundárias, abrangente de documentações já tornada pública em relação ao tema
proposto. Resultados - Este estudo foi realizado através de uma revisão bibliográfica, que teve
como finalidade demonstrar a ocorrência de hipertensão arterial em adolescentes, e no decorrer da
revisão bibliográfica obtiveram-se dados, informando que a prevalência de HAS em adolescentes
pode variar de 2% a 13%, com isso é necessário uma atenção especial à presença de fatores de
riscos cardiovasculares associados para facilitar o processo de prevenção primária. Conclusão Por fim, é indispensável o alargamento do conhecimento sobre a epidemiologia da hipertensão
arterial sistêmica em adolescentes.
Palavra-chave: Adolescentes. Hipertensão. Obesidade.
ABSTRACT: Introduction - High blood pressure is a chronic multifactorial disease that has a
relatively low prevalence in adolescents compared with adults. It is a concern the emergence of this
growing disease today in adolescests requiring nurse's work focused on prevention, treatment and
393
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
014
0027-z. [S.l.].
CONTI, Paulo César Rodrigues. Orofacial pain and
temporomandibular disorders – the impact on oral health
and quality of life. Braz Oral Res., São Paulo. 2012;26
(Spec Iss 1):120-3.
DANTAS, Alana Moura Xavier et al. Perfil epidemiológico
de pacientes atendidos em um Serviço de Controle da
Dor Orofacial. João Pessoa, Paraíba, Brasil. Rev
Odontol UNESP. 2015, Nov-Dec; 44(6): 313-319.
KUROIW A,
Denis
Noboru
et
al. Desordens
Temporomandibulares e dor orofacial: Estudo da
qualidade de vida medida pelo Medical Outcomes Study
36 – Item Short Form Health Survey. Rev Dor. São Paulo,
2011, abr-jun; 12(2):93-8.
LACERDA, Josimari Telino et al. Prevalência da dor
orofacial e seu impacto no desempenho diário em
trabalhadores das indústrias têxteis do município de
Laguna, SC. Ciências & Saúde Coletiva, 16(10): 42754282, 2011. Santa Catarina, Brasil.
LACERDA, Josimari Telino et al. Saúde bucal e o
desempenho diário de adultos em
Chapecó, Santa Catarina, Brasil. Cad. Saúde Pública,
Rio de Janeiro, 24 (8): 18461658, ago, 2008. Santa Catarina, Brasil.
LACERDA, Josimari Telino; TRAEBERT, Jefferson;
ZAMBENEDETTI, Maria Lúcia Dor Orofacial e
Absenteísmo em Trabalhadores da Indústria Metalúrgica
e Mecânica. Saúde Soc. São Paulo, v. 17, n. 4, p. 182191, 2008.
2 MATERIAIS E METODOS
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que busca analisar à seguinte questão
norteadora: hipertensão arterial em adolescentes.
A pesquisa bibliográfica, em termos gerais, é a soma de conhecimentos acumulados em
obras de toda categoria. Tem por finalidade nortear o leitor a cerca da pesquisa de determinado
assunto, proporcionando perceber de fato o que o autor quis aplicar na questão. Ela se fundamenta
em vários procedimentos metodológicos, desde a leitura até como escolher, fichas, organizar,
arquivar, resumir o texto; ela é a base para as demais pesquisas7.
O estudo proposto decorreu em várias etapas, essas são partes integrantes de uma revisão
integrativa, a conhecer: escolha do tema, formulação do problema e objetivo da revisão integrativa,
estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão dos artigos, levantamento bibliográfico (seleção
394
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
1 INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial na adolescência, bem como no adulto, pode ser estimulada por causas
primárias ou secundárias, sendo as últimas mais comuns na faixa etária pediátrica. Entretanto, a
prevalência crescente de excesso de peso em crianças e adolescentes tem contribuído para o
aumento dos casos de hipertensão arterial primária nesta faixa etária1.
Nos últimos 35 anos, a prevalência de excesso de peso em adolescentes brasileiros triplicou,
com aumento progressivo, afetando um terço da população2.
A pressão arterial (PA) elevada contribui para o aumento do risco de doenças cardíacas e
de morte por doença coronariana isquêmica entre os adultos. PA elevada na adolescência é fator
preditor de hipertensão arterial na vida adulta e sua manifestação depende também dos fatores
ambientais como dieta, atividade física e tabagismo3.
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em adolescentes é frequentemente assintomática e
facilmente despercebida, até mesmo por profissionais de saúde4, por tanto se deve implementar a
profilaxia no âmbito educacional das escolas.
A hipertensão arterial sistêmica é um dos cinco fatores de risco para o desenvolvimento de
um terço de todas as doenças cardiovasculares, (DVC) entre outros fatores estão: o consumo de
álcool, a hipercolesterolemia e a obesidade5. Se esses fatores fossem excluídos, pelo menos 80%
de todas as doenças cardiovasculares dos acidentes vasculares encefálicos e do diabete do tipo 2
poderiam ser evitados e mais de 40% dos cânceres poderiam ser prevenidos6.
Segundo estimativas da OMS (2004), as mortes causadas por DCV serão responsáveis por
31,5% do total de óbitos em 2020 e por 32,5% em 2030, com ênfase para o aumento em países em
desenvolvimento5.
Justifica-se este estudo pela busca da prevenção, diagnóstico, controle e tratamento de
pacientes hipertensos, pelos profissionais da área de enfermagem, através do incentivo ao
autocuidado, despertando assim o interesse destes em compreender a doença, para que tenham
melhor qualidade de vida.
A identificação da hipertensão arterial na adolescência é um meio profilático de intervenção
de futuras doenças coronarianas, AVC isquêmico e hemorrágico, diante da importância da
identificação precoce de HAS foi decidido então propor este tema3.
O principal objetivo que é analisar os fatores de risco associado à HAS em adolescentes,
bem como a elaboração de estratégias de prevenção e controle sobre esta patologia através da
implantação e desenvolvimento de políticas públicas, baseadas nos estudos científicos já
realizados.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
self-care for these adolescents do not become hypertensive adults. Objective - To analyze research
regarding the theme hypertension in adolescents, data collected from exposed bibliographies from
2004 to 2014. Methods - This is a comprehensive integrative literature review of secondary sources
of documentation already made public in relation to the proposed theme. Results - This study was
conducted through a literature review, which aimed to demonstrate the occurrence of hypertension
in adolescents, and during the literature review yielded data indicating that the prevalence of
hypertension in adolescents vary from 2% to 13%, thus a special attention to the presence of
associated cardiovascular risk factors is necessary to facilitate the process of primary prevention.
Conclusion - Finally, it is essential to extend the Knowledge About the epidemiology of systemic
hypertension in adolescents.
Key-words: Adolescents. Obesity. Hypertension.
2 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é apontada como um dos grandes problemas para
a saúde pública no Brasil e no mundo, mas não existem dados de inquéritos epidemiológicos
referentes à prevalência desse agravo na infância e na adolescência em todo território, só que está
atingindo cada vez mais cedo essa população8.
É válido ressaltar que, como já exposto no decorrer do trabalho, a HAS é o principal fator de
risco para a morbidade e mortalidade precoces causadas por doenças cardiovasculares, com isto
tem sido considerado um dos maiores problemas de Saúde Pública no Brasil e no mundo9.
Mesmo sabendo a eficácia de várias medidas preventivas e de controle disponíveis, a HAS
continuará, por anos, sendo um dos maiores desafios da saúde, vive-se em uma sociedade
desenvolvida no qual, muitos adolescentes são sedentários, não praticam atividades físicas
rotineiramente, levando a ser uma pessoa obesa, aumentando ainda mais o risco de desenvolver
hipertensão.
Em relação à saúde pode-se colocar, que diante a constituição foi consolidada a reforma
sanitária, que se formava no período de transição para a democracia em que a saúde era
normatizada como universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação10.
O SUS é compreendido enquanto processo, como uma reforma social. Sua formulação
aponta a responsabilidade do Estado, da sociedade e de todas as suas instituições, no
compromisso para que a saúde seja reconhecida, ao mesmo tempo, como direito de todos e dever
do Estado, e um recurso para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país10.
A saúde tem sido foco de grandes discussões no que diz respeito à inclusão da realidade
social como fator de influência no processo de adoecimento, tratamento, prevenção e cura das
pessoas em um dado momento em que, a saúde hoje não está apenas vinculada ao bem-estar
físico e psicológico do ser humano, mas também ao seu bem estar social11.
A saúde é resultado do conjunto de condições em que vivem as pessoas. Sendo assim, não
se constitui uma condição individual, mas no resultado de um processo coletivo. Constata-se que
na realidade, cada vez menos as pessoas têm acesso a estas condições básicas de sobrevivência,
implicando o aparecimento das doenças que interferem na capacidade do indivíduo de lidar com
seu cotidiano10-11.
Deste raciocínio, deduz-se que, para o combate da HAS como de outras enfermidades, o
SUS busca implantar um modelo de atenção à saúde que priorize o bem-estar, a saúde e a
dignidade, facilitando assim, o acesso de demandas populacionais. Para tal prática assistencial foi
criado em 1994 pelo Ministério da Saúde, o Programa de Saúde da Família (PSF), como estratégia
para reorganizar a assistência à saúde11.
395
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
da amostra), definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados, leitura e
interpretação para a análise do material que foi finalizado com a produção textual.
O estudo foi realizado utilizando-se a combinação dos descritores hipertensão,
adolescentes. Os critérios de inclusão dos textos foram: artigos nacionais e internacionais, textos
completos que fossem disponíveis e que abordassem a temática hipertensão e fatores associados
à adolescentes hipertensos, publicados entre 2004 a 2014, depois de realizada a seleção dos
artigos fez-se a leitura na íntegra, finalizando com o resumo bibliográfico. Foram excluídos os artigos
que não estavam relacionados à temática do estudo. A seleção do material ocorreu nos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro de 2014.
No final da coleta de dados foram selecionados sessenta trabalhos, destes doze eram
semelhantes ou idênticos, até com os mesmos autores, sendo assim foram excluídos. Desta forma
restaram quarenta e oito que se adequavam aos objetivos do estudo e, por isso, compuseram o
corpo de análise que devem constar na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), (Base de Dados
Bibliográficos Especializada na Área de Enfermagem do Brasil.
Os artigos encontrados foram numerados conforme a ordem de encontro, e os dados foram
analisados, segundo os seus conteúdos, pela estatística descritiva simples.
Foi realizado um estudo descritivo através do registro das ideias críticas, na seleção das
inferências, pela veiculação de informações e pesquisas dos autores apontados e inferências
essencialmente clarificadoras, com os devidos cuidados para manter as normas nacionais e
internacionais de direitos autorais e éticos em pesquisa.
396
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Na busca pela melhoria na qualidade de atendimento dos hospitais o Ministério da Saúde
criou o QUALISUS (Qualificação de Atenção à Saúde) que objetiva garantir atendimento de
qualidade a todos as redes municipais, estaduais e federais de saúde12. Ele preconiza a triagem
dos pacientes de acordo com a gravidade de seus sintomas, avaliados no primeiro atendimento.
O Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90) define a adolescência a fase da vida
entre 12 e 18 anos14, é nesta fase que os cuidados com a saúde precisam ser redobrados, pois é
nela que as grandes transformações como às psicossociais, dentre elas a puberdade e mudanças
físicas, na composição corpórea, nos hormônios e maturação sexual ocorrem de forma acelerada,
facilitando o desenvolvimento de fatores de risco para diversas enfermidades e esses cuidados
estão ligados também ao controle de fatores de risco, como o sedentarismo13.
Cabe ressaltar, que o sedentarismo é um dos indicadores de risco que contribuem para o
desenvolvimento da hipertensão arterial em adolescentes. É um importante fator para ocorrência
de eventos cardiovasculares e contribui diretamente para o acúmulo excessivo de peso e, é um
fator de risco que favorece a outros sérios problemas de saúde13.
Apesar de ter poucos estudos com amostras de adolescentes brasileiros, foram encontrados
alguns em escolares a respeito da prevalência de sedentarismo que têm demonstrado uma
ocorrência de até 89,5%15.
Estudo realizado em escolas públicas no Rio de Janeiro apontou índice de sedentarismo de
85% entre adolescentes do sexo masculino e de 94% nos do sexo feminino. A participação em
atividades físicas declina consideravelmente com o crescimento, especialmente da adolescência
para o adulto jovem. Alguns estudos identificam alguns fatores de risco para o sedentarismo: pais
inativos fisicamente, escolas sem atividades esportivas, sexo feminino, residir em área urbana, TV
no quarto da criança16-17.
O sedentarismo pode ser relacionado ao gasto energético inferior a 500 Kcal por semana,
ou seja, a prática insuficiente de atividade física e a alimentação pouco saudável, que podem se
enquadrar como um importante fator de risco cardiovascular. Daí a necessidade de abordar a
importância da atividade física regular, pois esta atua diretamente no sistema cardiovascular para
atuar no controle das fisiopatologias associado ao excesso de peso e HAS15.
Isto se evidencia porque ocorreu um aumento na taxa de mortalidade em indivíduos com
falta de condicionamento físico. É visto que com o processo de industrialização e o crescimento
tecnológico, houve aumento do número de indivíduos inativos fisicamente em todas as idades,
mesmo tendo o conhecimento a respeito dos benefícios da atividade física13.
Ainda que a maioria das doenças associadas à inatividade física somente se manifesta na
idade adulta, é cada vez mais frequente que o seu desenvolvimento se inicia durante a infância e
adolescência, verificando um declínio nos níveis de atividade física na adolescência17.
É de se notar que o baixo nível de atividades físicas tem sido frequentemente associado a
doenças coronarianas, pois a prática regular de atividade física oferece benefícios diretos e indiretos
que auxiliaram na redução da pressão arterial e do risco cardiovascular total13.
Diante do exposto pode-se afirmar que a falta de exercício físico regular apresenta maiores
níveis de pressão arterial, tanto em repouso como no exercício.
A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de energia, sob a
forma de triglicerídeos, no tecido adiposo distribuído pelo corpo e pode provocar prejuízos à saúde,
por facilitar o desenvolvimento ou agravamento de doenças agregadas. Já o sobrepeso é o excesso
de peso prognosticado para o sexo, altura e idade, de acordo com os padrões populacionais de
crescimento, podendo representar ou não excesso de gordura corporal18.
De acordo com os resultados da PeNSE 201219, o excesso de peso registrado na pesquisa,
atinge 23,0% dos estudantes, e obesidade, 7,3%. Embora o excesso de peso e a obesidade atinjam
os adolescentes de maneira geral, entre as meninas a parcela que se declarou com excesso de
peso são superiores da registrada entre os meninos.
No entanto, o consumo exagerado das gorduras, principalmente as saturadas e trans, ou
seja, frituras e gordura animal, juntamente com o consumo frequente de bebidas alcoólicas, causam
obstrução das artérias, e elevação da PA, como também favorece o acúmulo de gordura na região
abdominal, proporcionando assim a obesidade e o sobrepeso em adolescentes.
Ao relacionar os valores relativos da PA com o índice de massa corporal (IMC), pode-se
constatar uma relação entre adolescentes que apresentam excesso de peso e obesidade com
pressão alta. Sendo assim é fundamental abordar que a obesidade é um dos principais fatores de
risco para hipertensão6.
397
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
O aumento da prevalência da obesidade em países em desenvolvimento, como em países
subdesenvolvidos, e em desenvolvimento como o Brasil, vem apresentando importante aumento
em todas as faixas etárias. Na América Latina, também já foi examinada, e em países como Índia e
China o aumento de 1% na prevalência de obesidade, que gera 20 milhões de novos casos, em
adolescentes de 12 a 17 anos a taxa triplicou e dentre as regiões do Brasil, a Sul apresenta as
maiores prevalências de obesidade20.
De acordo com pesquisas realizadas Tabela 1: Excesso de peso e Obesidade
Período
Excesso de peso
Obesidade
pelo Ministério da Saúde21 referente aos anos
de 2009, 2010, 2011, teve um aumento do
2009
46,6%
13, 9%
excesso de peso e obesidade entre os anos
especificados na tabela 1:
2010
48,1%
15, 0%
Nota-se
através
da
pesquisa
2011
48,5%
15, 8%
realizada em 2010 que houve um aumento
nos percentuais em relação à de 2009, já em NOTA: Pesquisa feita através do levantamento de
dados do Ministério da Saúde21
2011, continuou crescendo.
Dentre outras situações associadas
ao sobrepeso e a obesidade nos adolescentes, está associada ao aparecimento precoce de
doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, dislipidemia (excesso de gordura no sangue),
diabetes mellitus (DM) tipo 2 e alguns tipos de câncer, como também a ocorrência de problemas
psicológicos, e seu choque é mais pronunciado na morbidade do que na mortalidade22. A maioria
dos casos de DM tipo 2 estão ligados ao excesso de peso e acúmulo central de gordura, o que
demonstra a necessidade da educação alimentar e da prática de atividade física na adolescência.
Foi analisado, que o desenvolvimento das enfermidades que coexistem com a adiposidade
é decorrente de um conjunto de alterações metabólicas que incluem: hipertensão, resistência à
insulina, hiperglicemia e dislipidemia. Essa associação de transtornos é denominada síndrome
metabólica, a qual mantém direta relação com o padrão abdominal de distribuição adiposa23.
A obesidade ainda está associada à expansão de diversas doenças crônicas não
transmissíveis, como por exemplo, a hipertensão arterial, hipercolesterolemia, hiperlipidemia, entre
outras24.
A literatura tem apresentado fortes destaques referentes à qualidade de vida das diferentes
populações ao redor do globo, apontando uma sensível diminuição na esperança de vida de
indivíduos que convivem com a obesidade por períodos prolongados25.
Neste contexto, nota-se que os vários problemas apresentados com a obesidade estão
relacionados diretamente com a ingestão de alimentos mais calóricos e não nutritivos e o baixo nível
de prática de atividade física, isto vem contribuindo para o aumento da prevalência de obesidade e
de outras Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Por estes motivos é recomendável a redução do
peso corporal, mesmo o adolescente estando na faixa de sobrepeso, pois essa modificação
resultará na diminuição considerável da pressão arterial e das Doenças Crônicas Não
Transmissíveis 18.
Observa-se, que diante do atual cenário a obesidade em adolescentes é considerado um
problema de saúde pública e um desafio aos cuidadores, pois vem adquirindo status de epidemia
global e tem levantado sérias questões na área da saúde, devido às inúmeras doenças a ela
associada e o não cuidado dos adolescentes, que consequentemente geram adultos doentes, e
gastos maiores em saúde pública. No momento o melhor a ser feito é a prevenção e o
acompanhamento de adolescentes obesos, desta maneira serão evitados gastos futuros aos cofres
públicos com a decorrência de adultos obesos e enfermos.
No caso da antropometria, tem-se que seus indicadores antropométricos são eficientes, na
hora de discriminar a quantidade de gordura corporal e sua distribuição, bem como a classificação
da obesidade. Assim, o índice de massa corporal (IMC) avalia a gordura geral e constitui o
referencial para a classificação do status do peso, entre normal, sobrepeso e obesidade, enquanto
que a circunferência da cintura (CC) ou circunferência abdominal (CA) é o essencial indicador de
concentração abdominal de gordura localizada na região central do corpo, à qual também se
associam, com elevada presença, dos mesmos fatores de risco associados à obesidade26.
No entanto, a mensuração da circunferência da cintura é considerada como uma boa
alternativa para identificação de concentração de gordura nessa região, devido à facilidade de
mensuração, esta concentração de gordura pode trazer implicações sérias para a saúde, e esta
associada a ser um determinante de problemas causados por doenças cardiovasculares
398
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
ateroscleróticas27.
O excesso do peso corporal pode ser classificado pelo IMC e a CA ou pela CC, a CA é
medida através da metade da distância entre a crista ilíaca e o rebordo costal inferior, no plano
horizontal, já a CC, é aferida na parte mais alta da crista ilíaca direita, ou seja, na região mais estreita
do abdômen ou no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. Pesquisas levam a resultados
que CC elevadas em adolescentes proporcionam maior probabilidade de terem problemas de
hipertensão28.
Atualmente, uma característica que desperta atenção nas pesquisas sobre obesidade é a
distribuição da gordura no corpo. A incidência de diabetes, aterosclerose e morte cardíaca súbita é
bastante frequente em pessoas obesas, porém quando a obesidade está centralizada na região
abdominal as repercussões negativas, tanto de ordem metabólica quanto cardiovascular são mais
significativas29.
A maneira correta de aferir a CC é realizada com os indivíduos em pé, com os pés próximos
e paralelos, abdômen relaxado e região da cintura sem roupa, braços estendidos e peso igualmente
distribuído entre as pernas. A medida deve ser realizada ao final da expiração tomando-se o cuidado
para não comprimir a pele, no ponto médio. O instrumento utilizado na realização desse processo
é a fita métrica que deve ser flexível e inelástica com precisão de 0,1 cm e deve ser colocada
horizontalmente ao redor da cintura sobre o ponto médio, que está localizado entre a última costela
e a crista ilíaca. Para localizar e marcar esse ponto é necessário que o indivíduo inspire e segure a
respiração por alguns segundos, a partir daí apalpar lateralmente até encontrar a última costela e
depois, apalpar o ilíaco até encontrar o ponto mais elevado deste osso. Só assim medir a distância
entre os dois pontos e marcar o ponto médio28-30.
A obesidade e o sobrepeso podem ser medidos através do índice de massa corporal (IMC),
que é definido pelo peso em quilogramas dividido pela altura em metros ao quadrado. Quando esse
índice for abaixo do percentil cinco é considerado baixo peso; de 5 a 85 está dentro da faixa de
normalidade; de 86 a 94 é classificado como sobrepeso; percentil igual ou superior a 95 é
classificado como obesidade. Adolescentes com percentil acima de 85 têm riscos aumentados de
tornarem-se adultos com sobrepeso ou obesidade e apresentarem níveis inadequados de glicose e
lipídios28,30.
Estudos envolvendo adolescentes revelam que comprometimentos quanto à pressão arterial
e outros indicadores de risco morfológicos como a ordenação da gordura corporal, podem ter origem
na adolescência31.
Além disso, o exagero de peso corporal está associado com a presença de valores
pressóricos elevados em adolescentes28. Adicionalmente a concentração de gordura na área
abdominal parece associar-se ao aumento da pressão arterial31.
Com isto, foi verificado que a medida da cintura pode se incorporar aos hábitos de qualidade
de vida, tornando-se indicador de saúde para os adolescentes, e o aumento da pressão arterial tem
relação com circunferência da cintura, IMC, idade, peso e estatura.
Nota-se que, quando a pressão arterial elevada é identificada indiretamente, por meio de
indicadores antropométricos, acaba sendo uma estratégia eficiente para a detecção e o controle
desta, pois assim possibilita a triagem de adolescentes com alterações na sua pressão arterial fora
do ambiente hospitalar, com isto o adolescente será encaminhamento a uma avaliação clínica mais
criteriosa32.
Assim, os profissionais de saúde, que normalmente realizam avaliações antropométricas e
físicas, fazem um trabalho preventivo sem muito aparato técnico especializado, pois a avaliação do
crescimento e desenvolvimento de adolescentes pode ser feito por diversos métodos, mas o
antropométrico, que utiliza as medidas de altura, peso, estatura corporal, circunferência abdominal
e índice de massa corporal, é o mais utilizado por serem de fácil obtenção e baixo custo, e com a
realização deste método os casos específicos podem está sendo encaminhados para avaliação
clínica32.
No entanto, vale frisar que são raros os estudos que controlaram a obesidade geral como
variável de confusão para identificação dos possíveis efeitos da obesidade abdominal (OA) na
pressão arterial, em recente revisão sistemática, devido escassez de estudos voltados a
circunferência da cintura como apontador de OA em adolescente33.
Constituem, assim, dois métodos importantes para o diagnóstico de sobrepeso/obesidade
central, em conhecimento epidemiológicos e na prática clínica28,34, pela sua fácil realização,
precisão e reprodutibilidade, mas vale abordar que ao contrário do que ocorre em adultos, não há
399
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
consenso sobre os critérios antropométricos mais adequados para classificar sobrepeso e
obesidade na adolescência35.
Em nosso país, estudos relativos aos efeitos do IMC e da CA sobre a PA de pubescentes
ainda são escassos, pesquisas relatam baixa sensibilidade dos pontos de corte dessas variáveis
para a detecção de hipertensão em adolescentes, mas os estudos atuais que são encontrados
relatam a relação que tem da elevação da PA com o peso e aumento da CA, que podem ser
diagnosticados como pré-hipertensão, merecendo assim, cuidado especial na sua identificação,
prevenção e tratamento8.
Existem evidências de que adolescentes têm demonstrado o proveito da atividade física no
estímulo ao progresso e desenvolvimento aos aspectos antropométricos, neuromusculares,
metabólicos e psicológicos.
Estes efeitos estão ligados ao controle dos fatores de risco cardiovasculares como a
obesidade, a diabetes melito, tabagismo, diminuição da pressão arterial, bem como o incremento
da massa óssea, aumento da sensibilidade à insulina, melhora do perfil lipídico, prevenção da
osteoporose e saúde psicológica que atua na melhoria da autoestima, desenvolvimento da
socialização e da capacidade de trabalhar em equipe e na diminuição do estresse, da ansiedade,
como também a diminuição no consumo de medicamentos36.
Assim fica evidente a importância da atividade física para a prevenção dos fatores de risco
que levam adolescentes a terem problemas de hipertensão arterial, como também o controle dos
níveis de gordura corporal, pois a atividade física acrescentada à dieta que é um ingrediente
essencial na manutenção de peso em longo prazo.
Com isso, torna-se necessário o incentivo à prática de atividades físicas na adolescência,
pois aproximadamente 3,2 milhões de mortes por ano são atribuídas à atividade física insuficiente.
É comum nesta fase principalmente nos dias de hoje o menino e a menina trocar as atividades
físicas, por entretenimento visual, entre outros, que de certa forma estão associados a uma
alimentação inadequada e ao excesso de peso27.
Nota-se também que a atividade física realizada de forma imprópria, em desacordo com a
idade, com o desenvolvimento motor e com o estado de saúde, apresenta ameaças de lesões como:
trauma, osteocondrose, fratura e disfunção menstrual37.
Pode ser considerada atividade física, a caminhada, a corrida, andar de bicicleta, jogar
futebol, nadar, prática de educação física na escola, dança, lutas marciais, musculação, exercícios
aeróbicos, desde que executadas três vezes ou mais semanalmente e de forma regular.
Desta forma, para que essa atividade física tenha efeito positivo, tem que ser realizada de
maneira correta, e no mínimo, três vezes por semana, durante trinta minutos, de forma regular, com
acompanhamento profissional. Antes de iniciar a atividade deve-se passar por uma avaliação
médica38.
A prática regular de atividades físicas é parte inicial das condutas não medicamentosas de
prevenção e tratamento da hipertensão arterial (HA) e doenças cardiovasculares, além de favorecer
no controle e na perda de peso. Segundo diretrizes nacionais e internacionais, todos os pacientes
hipertensos devem fazer exercícios aeróbicos complementados pelos resistidos, como forma
isolada ou complementar ao tratamento medicamentoso38.
A análise dos dados da PeNSE 201219 apontou que cada vez é maior o número de
adolescentes que não praticam nenhuma atividade física, 63,1%, foi classificada como
insuficientemente ativa e 6,8%, como inativa.
Para reforçar a prática da atividade física como uma estratégia saudável na adolescência a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) vem ao
encontro deste objetivo para determina a obrigatoriedade da prática de aulas de Educação Física
nas escolas39.
Atualmente com a mudança no estilo de vida da população, principalmente na mais jovem,
é comum ter surgido problemas como a alteração da Hipertensão arterial, nota-se que a prevalência
de HAS em adolescentes pode variar de 2% a 13%, com isso é necessário uma atenção especial à
presença de fatores de risco cardiovasculares associados, assim facilitará o processo de prevenção
primária10.
Para o manejo de indivíduos com comportamento limítrofe da PA recomenda-se considerar
o tratamento medicamentoso apenas em condições de risco cardiovascular generalizado alto. Até
o presente nenhum estudo já realizado tem poder suficiente para indicar um tratamento
medicamentoso para indivíduos com PA limítrofe sem evidências de doença cardiovascular 40. De
400
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
acordo com a V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2006), os valores pressóricos dos
adolescentes podem ser mensurados da seguinte forma40:
Quando atingem valores maiores 95 percentis dá-se o diagnóstico de hipertensão40.
Mudanças no estilo de vida são recomendações na prevenção primária da HAS e no
processo terapêutico, notadamente nos indivíduos com PA limítrofe, as mudanças de estilo de vida
diminuem a PA, bem como a mortalidade cardiovascular, hábitos saudáveis de vida devem ser
adotados desde a infância e a adolescência. As principais recomendações não medicamentosas
para prevenção primária da HAS são: alimentação saudável, consumo controlado de sódio e de
álcool, ingestão de potássio e Tabela 2: Classificação da pressão arterial em adolescentes
combate ao sedentarismo, controle
Classificação
PA
do peso, e do tabagismo e prática de
41
atividade física .
Normal
<90 mmHg
Nota-se que o tabagismo e
Limítrofe
= 90 e <95 mmHg
uso excessivo de álcool, e o
entre o percentil 95 e o percentil
Hipertensão estágio 1
consumo exagerado das gorduras
99 mais 5 mmHg
principalmente as saturadas e o
acima de 5 mmHg do percentil
Hipertensão estágio 2
99
consumo de sal são fatores de risco
que devem ser adequadamente Legenda: PA: Pressão Arterial; mmHg: Unidade de pressão
abordados e controlados, pois além atmosférica.
de contribuírem para a elevação da
PA, favorece o acúmulo de gordura na região abdominal33.
Porém, diante de um trabalho de controle da HAS, destaca-se um alimento que é um vilão
e influencia de maneira negativa neste controle, que é o aumento do consumo do sal. A maioria dos
pacientes que tem HAS, conseguem manter a pressão sob controle ao reduzir o uso do sal nos
alimentos e outro fato intrigante é que esse alimento pode atrapalhar a eficiência dos medicamentos
usados para tratar a HAS33.
A redução no consumo de sal auxilia no controle da pressão arterial (PA). O desenvolvimento
da HAS por causa do consumo de sal esta associado a um defeito genético das células tubulares
renais, causando a retenção de sódio e de água e aumentando, assim, o débito cardíaco e
consequentemente a PA. Alimentos ricos em gordura saturada ou hipercalóricos, associados ao
sedentarismo, são considerados fatores causadores de sobrepeso e obesidade e
consequentemente de comorbidades e doenças cardiovasculares como HAS. A ingestão excessiva
de alimentos industrializados, bebidas alcoólicas e de alimentos ricos em gordura saturada, açúcar
e sal é a principal causa de obesidade, esteatose hepática, DM, HAS, colesterol elevado e
hipertrigliceridemia42.
Nota-se que não só o sal, mas os alimentos gordurosos devem ser evitados para ajudar no
controle dessas enfermidades. É necessária a prevenção de doenças cardiovasculares por meio do
controle dos fatores de risco principalmente na adolescência para que essa enfermidade não
transforme em futuro condenado42.
Em geral a HAS é assintomática, e é determinada por vários fatores genéticos (idade, raça,
sexo, história familiar) e de risco agregado (tabagismo, obesidade, etilismo, sedentarismo, estresse
e excesso de sal)39.
As
medidas de prevenção contra a HAS desempenham um grande desafio para os profissionais da
área de saúde, pois o diagnóstico e o tratamento são frequentemente negligenciados, por ser em
muitas vezes, uma doença assintomática. No Brasil, cerca de 75% da assistência à saúde da
população é feita pela rede pública (SUS), enquanto que no Sistema de Saúde Suplementar
Complementar aproximadamente 46,5 milhões. A prevenção primária e a detecção precoce são as
formas mais abrangentes de evitar as doenças, e devem ser metas prioritárias dos profissionais de
saúde19.
Em busca de um tratamento seguro e eficaz a cautela é fundamental, deve-se ter bastante
cuidado com o método de aferição da PA em adolescentes na hora de tratar e diagnosticar, pois um
diagnóstico falso positivo pode repercutir negativamente na saúde do indivíduo10.
A HAS é uma condição clínica, evidenciada por níveis de pressão arterial elevado e mantido.
As margens escolhidas clinicamente para definir HAS em pessoas acima de 18 anos refere-se a
níveis tensionais iguais ou maiores que 140 mmHg x 90 mmHg. Na análise da doença, além dos
níveis tensionais, deve ser avaliada a presença de fatores de risco, co-morbidades e lesões em
órgãos-alvo39.
401
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Nota-se que no momento de aferir a PA de um adolescente deve levar em consideração a
circunferência do braço, tamanho do manguito e técnica adequada, ou seja, a largura do manguito
deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o comprimento do manguito deve envolver
80 à 100% da circunferência do braço43.
Para aferição da pressão diastólica considerando a fase V de Korotkoff, tem-se a seguinte
classificação: PA normal, valores de medida menor que o percentil 90; pré-hipertensão, igual ao
percentil 90 e menor que o percentil 95 e Hipertensão em aferições alternadas, para valores acima
do percentil 9543.
Torna-se importante uma investigação rigorosa e um diagnóstico precoce em adolescentes
hipertensos, a fim de contribuir no controle dos seus fatores de risco e gerar uma nova dimensão
às medidas preventivas, pois a principal importância da identificação e do controle da HA sistólica
ainda na adolescência é reduzir suas complicações.
Buscar um programa de controle de hipertensão em adolescentes é necessário para a
promoção e a manutenção da saúde destes jovens, e o controle de uma série de agravos na vida
adulta.
A dinâmica proposta pelo PSF é centrada na promoção da qualidade de vida e intervenção
nos fatores que a colocam em risco, permitindo a identificação mais acurada e um melhor
acompanhamento dos indivíduos hipertensos44.
O papel de preceptor da equipe multiprofissional, que desenvolve ações junto a portadores
de hipertensão arterial, deve orientar o hipertenso para o autocuidado com vistas a reduzir as taxas
de não adesão ao tratamento, portanto deve-se trabalhar com a equipe multidisciplinar, seus
pacientes e familiares de forma ética, realizando um trabalho em defesa da vida, garantindo a todos,
o direito à saúde45.
Nos últimos anos as mudanças no sistema de saúde com relação à assistência ofertada aos
hipertensos, pelo Programa Saúde da Família, trouxeram melhorias na saúde dos mesmos, através
da oferta de melhor estruturação dos serviços, distribuição de medicamentos básicos e
acompanhamento de profissionais médicos e de Enfermagem entre outros. Mesmo diante de todo
esse aparato, ainda assim há vários fatores que dificultam a adesão ao tratamento, levando um
grande número de pacientes a não aderência ao tratamento da hipertensão arterial46.
Entende-se que a não aderência ao tratamento de pacientes hipertensos, está ligado ao
atendimento que estes recebem, por isso, a necessidade de um atendimento eficiente e capacitado
entre a equipe multiprofissional da área de saúde, para que aja uma melhora nos níveis de
aderência.
Neste momento é fundamental a intervenção da equipe multiprofissional no
acompanhamento do paciente para garantir que estes continuem buscando o tratamento,
garantindo assim, um desenvolvimento saudável.
Ressalta-se, entretanto, que para a efetividade das ações de educação em saúde é preciso
refletir a comunicação desenvolvida entre o profissional e o paciente, pois esta não deve constituirse apenas em um instrumento do cuidar, mas sim, em um denominador comum das ações de
enfermagem, independentemente da função que ocupa47.
Neste contexto e partindo do pressuposto que o Programa Saúde da Família (PSF) constituise num padrão de assistência voltado para ações preventivas e de promoção da saúde de pessoas,
famílias e comunidades, faz-se necessário que as ações desenvolvidas estejam em consonância
com os preceitos da educação em saúde. Neste sentido as ações educativas desenvolvidas no
âmbito do PSF precisam ser recompostas com foco no modelo assistencial, pautado no
fortalecimento da atenção à saúde, com ênfase na integralidade da assistência, no tratamento do
indivíduo como parte integrada à família, ao domicílio e comunidade48.
A estrutura utilizada parte de uma organização competente, que intervém junto ao ser
humano num relacionamento cooperativo, na saúde da família.
O enfermeiro precisa ampliar os espaços para sua atuação, visando otimizar os resultados
de suas ações na promoção, prevenção da saúde e no cuidado do ser humano, individualmente,
na família ou em comunidade, de forma integral, com um olhar de um profissional de enfermagem.
A sua capacitação interdisciplinar faz a mediação e intervenções adequadas no processo de saúdedoença. Portanto a responsabilidade do enfermeiro ultrapassa o atendimento na unidade clínica em
si48.
No trabalho ao combate da hipertensão arterial, que é uma doença multifatorial, é necessário
que seu tratamento tenha o apoio não só do médico, enfermeiros, técnico e auxiliar de enfermagem,
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a revisão da literatura, entende-se que há uma necessidade de mudanças
de comportamento dos adolescentes, já que houve falhas significativas quanto ao estilo de vida,
relacionadas à alimentação e atividade física. Devido estes fatores os adolescentes estão cada vez
mais cedo se tornando obesos e tendo problemas de sobrepeso.
402
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
como também de outros profissionais de saúde, como: nutricionista, psicólogo, assistente social,
professor de educação física, fisioterapeuta, farmacêutico e agente comunitário de saúde.
O enfermeiro pode também atuar em escolas, nesses espaços terão contato com os
adolescentes, e interagindo com estes poderão instruí-los de forma que aprendam a terem hábitos
saudáveis, através do conhecimento e criatividade e de informações qualificadas e precisas, para
que só assim possam melhorar a qualidade de vida e dessa forma tomar decisões com segurança
em relação à própria saúde9.
Assim, a prevenção de doenças, como a hipertensão, também podem ser trabalhadas dentro
do ambiente escolar onde se encontram muitos adolescentes.
O acolhimento ao paciente e a prevenção de riscos, é um trabalho que o enfermeiro deve
realizar com eficiência e de maneira qualitativa, pois este trabalho proporciona ao paciente um
atendimento humanizado que atende suas condições de saúde.
Nota-se que a enfermagem ao longo de sua trajetória vem buscando melhores condições
para que o ser humano possa viver com qualidade de vida e, é uma área que coloca o enfermeiro
diante de conhecimentos necessários para que este possa contribuir na formação e promoção do
ser humano, através de trabalhos com a população48.
Cabe ao enfermeiro repassar o conhecimento do autocuidado, do tratamento, da prevenção
e da promoção da saúde a população, como também tirar dúvidas e ser receptivo e conivente com
as pessoas que precisam de atendimento.
É válido ressaltar que alguns profissionais irão ser deparar com um ambiente que não
fornece a melhor tecnologia ou a melhor técnica, mesmo assim eles têm que saber fazer o
diferencial através da sensibilidade do ouvir, olhar e tocar.
É de suma importância colocar que a enfermagem é uma profissão que busca o cuidar do
outro com amor, através da responsabilidade e respeito profissional e na melhoria de pacientes
hipertensos. A consulta de enfermagem é um instrumento eficiente no combate à hipertensão em
adolescentes e, também, uma maneira de adesão ao tratamento48.
O profissional de enfermagem tem que se qualificar para obter maior experiência ao
acompanhar os adolescentes que estão propensos a ter problemas de hipertensão arterial, pois
assim, o objetivo de conseguir um controle mais eficiente da patologia por parte de seus portadores
será alcançado rapidamente48.
Nessa nova face de vida moderna, que adolescentes estão sendo vítimas de doenças como
a hipertensão, que antes tratadas na grande maioria em adultos e idosos, o enfermeiro também
apresenta como responsável no resgate do adolescente saudável na atualidade.
O cuidado e a atenção básica aos adolescentes são bem mais promissores quando
realizados por uma equipe multiprofissional e multidisciplinar que trabalha interdisciplinarmente,
assim é necessário que a enfermagem tenha conhecimento a respeito do cotidiano e dos hábitos
de vida que estes adolescentes levam, para assim poder orientá-los a aderir hábitos saudáveis no
seu dia a dia, corrigindo ações que possam ocasionar enfermidades como a hipertensão, como
seus percussores10.
Incorporar práticas saudáveis de atividades físicas que possam trazer benefícios à
população é um dos desafios impostos a toda a estrutura da atenção básica, e fazer mudanças que
sejam capazes de se transformar em práticas educativas para a saúde das populações, estas
devem ser realizadas a partir de um diálogo com as pessoas responsáveis pelas diferentes
dimensões da atenção básica21.
Diante dos fatos expostos, é possível salientar que o profissional de enfermagem tem um
papel fundamental em prestar uma assistência de enfermagem com qualidade, e de relevância
social, para atuar no combate da hipertensão arterial em adolescentes que vem crescendo
gradativamente, pois os enfermeiros e técnicos em enfermagem atuam sobre o aspecto físico, psico
e social do paciente com HAS, como também orienta e tira dúvidas sobre a doença, seu tratamento
e fatores de risco, e também instruem quanto os aspectos de higiene, hábitos alimentares e
atividades físicas.
4 REFERÊNCIAS
1.
Muntner PHEJ. Trends in blood pressure
among children and adolescents. JAMA 2004;
291:2107-13.
2.
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Pesquisa de Orçamentos
Familiares 2008-2009: Antropometria e estado
nutricional de crianças, adolescentes e adultos no
Brasil [citado 2011 Fev 2]. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/c
ondicaodevida/pof/2008_2009_encaa/default.shtm.
3.
Reis EC. Screening children to identify
families at increased risk for cardiovascular disease.
Pediatrics. 2006; 118:1789-97.
4.
Falkner B, Lurbe E, Schaefer F. High blood
pressure in children: clinical and health policy
implications. J Clin Hypertens (Greenwich).
2010;12(4):261-76.
5.
Mackay J, Mensah GA. The atlas of heart
disease and stroke. World Health Organization;
2004.
6.
World Health Organization. Preventing
chronic diseases: a vital investment. Genebraa;
2005.
7.
Fhachin O. Fundamentos de Metodologia
[Internet].05.ed. São Paulo: Saraiva;2006 [acesso
em 2014 ago 27]. Disponível em: http://
pt.scribd.com/doc/134301195/FACHIN-Odiliafundamentos-de-Metodologia.
25.
Katzmarzyk PT. Body mass index, waist
circumference, and clustering of cardiovascular disease
risk factors in a biracial sample of children and
adolescents. Pediatrics. 2004; 114: 198-205.
26.
Souza MSF, Leme RB, Franco R, Romaldini CC,
Tumas R, Cardoso AL et al. Síndrome metabólica em
adolescentes com sobrepeso e obesidade. Revista Paul.
Pediatr 2007. 25(3): 214-20.
27.
Soar C, Vasconcelos FAG, Assis MAA. A relação
de cintura quadril e o perímetro da cintura associados ao
índice de massa corporal em estudo com escolares. Cad.
Saúde Pública Rio de Janeiro 2004; 20: 1609-16.
28.
Koning L, Merchant AT, Pogue J, Anand SS.
Waist circumference and waist-to-hip ratio as predictors of
cardiovascular events: meta-regression analysis of
prospective studies. Eur Heart J 2007; 28(7):850-6.
29.
Sarno F, Monteiro CA. Importância relativa do
Índice de Massa Corporal e da circunferência abdominal
na predição da hipertensão arterial. Rev. Saúde Pública
2007; 41(5): 788-96.
30.
CAsonatto J. Pressão arterial elevada e
obesidade abdominal em adolescentes. Rev Paul Pediatr.
2011; 29(4):567-71.
31.
Fernandes RA. Associação entre estado
nutricional e pressão arterial em escolares. Motriz, Rio
Claro. 2009;15(4):781-7.
32.
Cavalcanti CBS. Obesidade abdominal em
403
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Esses adolescentes que passaram a trocar a atividade física pelos jogos nos computadores
estão se tornando jovens sedentários, predispostos a adquirir problemas de saúde, como a
hipertensão arterial.
Acredita-se que a prevenção, o tratamento e o autocuidado, realizado com eficiência por
uma equipe multiprofissional e o empenho da família, além da orientação dos adolescentes com
histórico de predisposição de se tornar portadores de hipertensão arterial, seja a melhor forma de
se alcançar o controle de tal patologia, porém, para que as mudanças ocorram é preciso
conscientização, adesão dos pacientes ao tratamento, motivação e empenho para melhorar a
qualidade de vida.
Diante disso, torna-se necessário um acompanhamento profissional voltado às mudanças
de estilo de vida, uma alternativa é a prática regular de exercícios físicos, alimentação saudável,
prevenção e tratamento de todos os estágios da HAS, pois assim poderão diminuir os níveis
pressóricos em adolescentes hipertensos e normotensos com sobrepeso.
Outro ponto é necessidade de se implantar campanhas mais eficazes, direcionadas a
orientar melhor os adolescentes e que, as equipes multiprofissionais, tenham garantia e sejam
estimuladas a buscar novos conhecimentos científicos e, principalmente, ter a consciência da
responsabilidade e o compromisso com as lutas sistematizadas em normativas e políticas públicas.
Assim, conclui-se que a equipe de saúde não deve valorizar somente a patologia e sim
vislumbrar que o ser humano, principalmente o adolescente é um bem que deve ser zelado, pois se
encontra em um momento de fazer escolhas e o crescimento saudável é um passo primordial em
suas vidas.
Nota-se que a equipe empenhada para lidar com os adolescentes predispostos a problemas
de hipertensão arterial, deve analisar que esse ser é uma conversão de emoções, sensações e de
alterações físicas, anatômicas e fisiológicas, que frequentemente não estão associadas somente à
causa da hospitalização, mas é uma associação entre a doença, o estar doente, o processo de
cuidar e a recuperação da saúde.
Portanto, são essenciais cuidados preventivos com a saúde e qualidade de vida dos
adolescentes, pois não existem apenas adolescentes em boas condições de saúde, que praticam
esporte, se alimentam bem, ou seja, não tem uma vida sedentária, há jovens que são obesos,
sedentários com problemas de hipertensão arterial, estes precisam de tratamento especial da parte
do profissional, para que possam assim, receber um atendimento de qualidade, que apresente
soluções eficazes as suas necessidades.
n. 01
v. 03
ISBN 978-8569629-07-8
Prefixo Editorial: 69629
adolescentes: prevalência e associação com atividade
física e hábitos alimentares. Arq Bras Cardiol. 2010;
94(3):371-77.
33.
Giuliano R, Melo ALP. Diagnóstico de sobrepeso
e obesidade em escolares: utilização do índice de massa
corporal segundo padrão internacional. J Pediatr. 2004; 80
(2): 129-34.
34.
Sotelo Y, Colugnati FAB, Taddei JAAC.
Prevalência de sobrepeso e obesidade entre escolares da
rede pública segundo três critérios de diagnóstico
antropométricos. Cad Saúde Pública Rio de Janeiro.
2004; 20: 233-40.
35.
Azevedo MR, Araújo CL, Cozzensa da Silva MC;
Hallal PC. Tracking of physical activity from adolescence
to adulthood: a population-based study. Rev. Saude
Publica 2007; 41:69-75.
36.
Stafford DE. Altered hypothalamic-pituitaryovarian axis function in young female athletes. Treat
Endocrinol. 2005; 4:147-54.
37.
Nunes MMA, Figueiroa JN, Alves JGB. Excesso
de peso, atividade física e hábitos alimentares entre
adolescentes de diferentes classes econômicas em
Campina Grande (PB). Revista da Associação Médica
Brasileira, São Paulo. mar./abr. 2007 [Acesso em 23 set.
de
2014];
53(2):
130-4.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/pdf/ramb/v53n2/17.pdf.
38.
Brasil. Leis etc. Lei n 9.394, de 20 de dezembro
de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, DF. 23 dez. 1996 [Acesso em 23 set. de
2014];
134
(248):
27833-41.
Disponível
em:
http://www.presidencia.gov.br/legislacao.
39.
Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade
Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de
Nefrologia. V diretrizes brasileiras de hipertensão arterial.
Arq. Bras. Cardiol., 2007; 89(3): e24-e79.
40.
Rainforth MV. Stress reduction programs in
patients with elevated blood pressure: a systematic review
and meta-analysis. Curr Hypertens Rep. 2007; 9:520-8.
41.
Piati J; Felicetti CR; Lopes AC. Perfil Nutricional
de Hipertensos Acompanhados pela Hiperdia em Unidade
Básica de Saúde de Cidade Paranaense. Espaço Jovem
Pesquisador. Paraná 2009. Rev Bras Hipertenso 2009;
16(2):123-9.
42.
Mano R. Hipertensão Revista Eletrônica,
Manuais de cardiologia, abril de 2009 [Acesso em 23 set.
de
2014].
Disponível
em:
http://www.manuaisdecardiologia.med.br/has/has.htm.
43.
Paiva DCP, Bersusa AAS, Escuder MML.
Avaliação da assistência ao paciente com diabetes e/ou
hipertensão pelo Programa Saúde da Família do
Município de Francisco Morato, São Paulo, Brasil. Cad
Saúde Pública, Rio de Janeiro. 2006; 22(2). Disponível
em: http://www.scielosp.org/scielo.php.
44.
Figueiredo JS, Desafios e perspectivas em
atividades educativas de promoção da saúde de um grupo
de portadores de hipertensão arterial sob paradigma da
interdisciplinaridade [thesis]. Ribeirão Preto: Escola de
Enfermagem/USP; 2006. 331p.
45.
Toledo MM, Rodrigues SC, Chiesa AM.
Educação em saúde no enfrentamento da Hipertensão
arterial: uma nova ótica para um velho problema. Rev.
Texto Contexto Enferm. 2007; 16(2):233–38.
46.
Azevedo RCS. A comunicação como instrumento
do processo do cuidar: visão do aluno de graduação. Rev.
Nursing. 2004; 45 (5):19–23.
Marques JF, Queiroz MVO. Cuidado ao adolescente na
atenção básica: necessidades dos usuários e sua relação
com o serviço. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
8.
Renner SS, Triebel D, Almeda F, Stone D,
Ulloa
CU,
Michelangeli
FA
et
al.
Melastomataceae.Net. 2008. A site with information
on the biodiversity of Melastomataceae. Disponível
em: www. melastomataceae.net.
9.
Sarreta FO. Educação permanente em
saúde para os trabalhadores do SUS. Ciência et
Praxis, São Paulo, v., 01. maio 2008. Disponível em:
http:/ www.scielo.br.
10.
11 Ministério da Saúde (BR). Secretaria de
Atenção à Saúde, Diretoria da Atenção Básica.
Cadernos de Atenção Básica: hipertensão arterial
sistêmica para o SUS. Brasília: Ministério da Saúde.
2006. 58 p.
11.
Pinto TAT. Tiragem, estratificação de risco
e unidade vascular como formas de otimização do
atendimento de paciente com síndrome vascular em
serviço de emergência. [Dissertação]. Porto Alegre:
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul; 2009.
12.
Araújo TL, Lopes MVO, Cavalcante TF,
Guedes NG, Moreira RP, Chaves ES et al. Análise
dos indicadores de risco para hipertensão arterial em
crianças e adolescentes. Rev Esc Enferm USP.
2008; 42(1):120-6.
13.
Brasil. Leis etc. Lei n. 8.069, de 13 de julho
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Lex:
coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo.
1990; 54(36): 849-94.
14.
Oehlschlaeger MHK. Prevalência e fatores
associados ao sedentarismo em adolescentes de
área urbana. Revista Brasileira de Saúde Pública.
2004; 2(38): 157-63.
15.
Araújo
C.
Estado
nutricional
dos
adolescentes e sua relação com variáveis
sociodemográficas: Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar (PeNSE), 2009. Ciência & Saúde Coletiva
[Internet]. 2010 [Acesso em 23 set. de 2014]; 15
(Suppl
2):
3077-84.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/pdf/csc/v15s2/a12v15s2. pdf.
16.
Claro LBL. Adolescentes e suas relações
com serviços de saúde: estudo transversal em
escolares de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro: Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – ENSP
[Internet]. 2006 [Acesso em 23 set. de 2014]; 22(8):
1565-74.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/pdf/csp/v22n8/05.pdf.
17.
Lima SC, Arrais RF, Pedrosa LFC.
Avaliação da dieta habitual de crianças e
adolescentes com sobrepeso e obesidade. Rev.
Nutr. 2004; 17:469-77.
18.
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Pesquisa de Nacional de Saúde
do Escolar 2012 [citado 2013]. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/p
ense/2012/pense_2012.pdf.
19.
Vischer TL, Seidell JC. The public health
impact of obesity. Annu Rev Public Health 2004;
22:355-75.
20.
Ministério da Saúde (BR). Portal da saúde.
Brasília,
DF,
2013b.
Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.ht
ml.
21.
Eckersley RM. Losing the battle of the
bulge: causes and consequences of increasing
obesity. Med J Aust 2004; 174:590-2.
22.
Ritchie SA, CONNELL JMC. The link
404
ISBN 978-8569629-07-8
Prefixo Editorial: 69629
Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRS, Escola de Enfermagem. set. 2012. [Acesso em 23
set. de 2014]; 33(3): 65-72. Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/rgenf/v33n3/09.pdf
O GENE SEX-DETERMINING REGION OF THE Y CHROMOSOME E A DETERMINAÇÃO
SEXUAL EM EMBRIÕES HUMANOS – REVISÃO
GENE SEX-DETERMINING REGION OF THE Y CHROMOSOME AND SEXUAL
DETERMINATION IN HUMAN EMBRYOS – REVIEW
n. 01
v. 03
Nathalie Adamoglu de Mendonça¹; Marco Aurélio Leão Beltrami¹; Carlos Augusto Bucar Neto¹; Natália
Beltrami¹; Days Batista Gomes¹; André Moreira Rocha²; Josefa Moreira do Nascimento-Rocha²; Paulo
Roberto Gonçalves Lima²
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO - Objetivo: Promover uma abordagem sistemática dos principais mecanismos
moleculares de determinação genética do sexo e assim descrever maiores elucidações relacionada
aos mecanismos moleculares da determinação sexual durante o período embrionário.
Metodologia: Os dados foram obtidos em novembro de 2014, a partir da exploração de publicações
científicas disponíveis no Portal de Periódicos da Capes, National Center for Biotechnology
Information, Scientific Electronic Library Online, Trip Database, Elsevier Health Sciences
Periodicals, Springer Journals e Google Acadêmico, arquivadas no período de 1980 a 2014.
Resultado e Discussão: O desenvolvimento sexual normal na embriogênese é regulado por
diversos fatores, que para a diferenciação sexual feminina ou masculina este processo esta sujeito
a erros geneticamente determinados. As publicações foram estudadas, catalogados e alinhados de
forma que as definições, características e mecanismos da diferenciação se tornassem mais claros
e evidenciados. Foi verificado que o desenvolvimento do trato reprodutivo divide-se em duas fases
bastante distintas, as quais correspondem à determinação sexual e a diferenciação sexual. A
determinação sexual ocorre com base na expressão de genes, enquanto que a diferenciação sexual
é estimulada por proteínas sinalizadoras produzidas a partir da expressão destes genes que, em
sua grande maioria estão intrinsecamente ligados ao cromossoma Y. Conclusão: O Sexdetermining Region of the Y chromosome (SRY) é o principal gene envolvido na determinação do
sexo masculino, precedendo os primeiros sinais do desenvolvimento testicular. No cromossomo Y
gonadal o Sex-determining Region of the Y chromosome induz uma cascata de acontecimentos
celulares e moleculares que resultam na organização final do testículo.
PALAVRAS-CHAVE: Genes SRY, Proteína da Região Y Determinante do Sexo, Fatores de
Transcrição SOX.
ABSTRACT - Objective: Promote a systematic approach to key molecular mechanisms of genetic
sex determination and so describe major clarifications related to the molecular mechanisms of sex
determination during the embryonic period. Methodology: Data were collected in November 2014
from the exploitation of scientific publications available in the Capes Portal, National Center for
Biotechnology Information, Scientific Electronic Library Online, Trip Database, Elsevier Health
Sciences Periodicals, Journals and Springer Google Scholar, archived from 1980 to 2014. Results
and Discussion: The normal sexual development in embryogenesis is regulated by several factors,
for female sexual differentiation or male this process is subject to genetically determined errors. The
publications are studied, cataloged and aligned so that the settings, features and differentiation
mechanisms become clearer and more evident. It was observed that the development of the
reproductive tract is divided into two distinct phases, which correspond to the sex determination and
405
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
between abdominal obesity, metabolic syndrome
and
cardiovascular
disease.
Nutr.
Metab.
Cardiovasc. Dis. 2007; 17:319-26.
23.
Ribeiro RQC. Fatores adicionais de risco
cardiovascular associados ao excesso de peso em
crianças e adolescentes. O estudo do coração de
Belo Horizonte. Arq Bras Cardiol 2006; 86(6):40818.
24.
Fontaine KR. Years of life lost due to
obesity. JAMA 2004; 283(2):187- 93.
2 METODOLOGIA
Foi conduzida uma busca nas bases de dados eletrônicos do Portal de Periódicos da Capes,
National Center for Biotechnology Information, Scientific Electronic Library Online, Trip Database,
Elsevier Health Sciences Periodicals, Springer Journals e Google Acadêmico, englobando o período
de 1980 a 2014. Foram utilizados os descritores “Genes SRY”, “Proteína da Região Y Determinante
do Sexo”, “Fatores de Transcrição SOX”, obtidos a partir da lista dos Descritores em Ciências da
Saúde (DeCS), que permite o uso de terminologias comuns para pesquisa, proporcionando a
recuperação de conteúdos similares disponíveis em idiomas distintos. Entre os artigos acessados
com estes descritores, foram selecionadas as publicações em português, espanhol, inglesas e
francesas que apresentaram informações mais relevantes para o tema e mostraram uma linguagem
406
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de características particulares para cada sexo é fundamental para
estabelecer o comportamento físico e social entre machos e fêmeas. A diferenciação sexual é
importante para o sucesso da reprodução tanto a níveis sociais quanto biológicos, porem é vital que
este dimorfismo seja compatível aos processos de formação e maturação de espermatozoides e
ovócitos viáveis à fertilização.
As Drosophilas, por apresentarem testículos e ovários tão especializados, constituiram,
inicialmente, o modelo ideal para os estudos relacionados ás gonadogeneses, entretanto o
entendimento sobre a embriologia do dimorfismo sexual ainda merece esclarecimentos.
A distinção no desenvolvimento das gônadas ocorre graças às informações genéticas
fornecidas pelos genes homeóticos que respondem pela identidade sexual de cada ser vivo. O sexo
masculino é determinado pelo fator de transcrição localizado no cromossomo Y, o qual é
denominado de Sex-determining Region of the Y chromosome (SRY) e expressado na gônada
masculina indeterminada. Este fator de transcrição possui um domínio HMG (Grupo alta mobilidade)
que faz com que seja possível para a sua ligação com o DNA promovendo a alteração estrutural
neste DNA. Esta alteração da forma permite a abordagem da cromatina e a interação com fatores
de transcrição que, por sua vez, promovem a expressão de outros genes, iniciando a formação
tanto dos testículos, quanto dos outros órgãos sexuais masculinos. Um dos primeiros efeitos da
expressão do SRY é induzir a regulação da expressão do gene SOX9 na gónada em
desenvolvimento. Tanto o SOX9, quanto o SRY apresentam um grupo domínio de alta mobilidade
que é suficiente para induzir a diferenciação dos testículos em animais experimentais. Antes da
diferenciação sexual, a proteína SOX9 é inicialmente encontrada no citoplasma das gónadas
indiferenciadas de ambos os sexos, mas a partir da expressão do hormônio anti-Mülleriano, ela é
transportada para o ambiente nuclear das células gonadais do macho e se torna sub-regulada nas
fêmeas, desta forma, a sinalização nuclear propiciada pela expressão do SOX9 é essencial para
que a regulação da diferenciação sexual masculina específica seja reprimida nas fêmeas, ou
desencadeada nos machos. Apesar destes mecanismos moleculares não estarem totalmente
elucidados, é importante considerar que a diferenciação ocorrida entre os gêneros acontece através
de uma cascata de ativações do gene e existem ainda outros fatores envolvidos neste processo,
tanto antes como após a expressão SRY. Esta revisão propõe discernir os princípios embriológicos,
do ponto de vista biomolecular, da determinação sexual em humanos.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
sexual differentiation. The sex determination is based on the expression of genes, while sexual
differentiation is stimulated signaling proteins produced from the expression of these genes, for the
most part are intrinsically linked to chromosome Y. Conclusion: The Sex-determining Region of the
Y chromosome is a major gene involved in the determination of the male preceding the first signs of
testicular development. On the Y chromosome gonadal Sex-determining Region of the Y
chromosome induces a cascade of cellular and molecular events that result in the final organization
of the testis.
KEYWORDS: Genes, SRY, Sex-Determining Region Y Protein, SOX Transcription Factors.
407
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O interesse científico sobre os mecanismos de determinação sexual vem dos tempos de
Aristóteles (384-322 aC), cujos postulados eram fundamentados em que o dimorfismo sexual surgia
de diferenças na temperatura do sêmen no momento da copulação1. No início do século XX, foi
admitido que os fatores nutricionais fossem os determinantes do sexo2, mas a partir de 1950 o papel
do cromossomo Y neste processo começou a ser ressaltado3 até que, por técnicas de biologia
molecular, foi detectada uma região no braço curto do cromossomo Y que finalmente desvenda o
locus de determinação testicular - o SRY, há tempo muito procurada4.
O gene determinante do sexo masculino é o SRY5, o qual é expresso pelas células somáticas
da crista genital e atua em parceria com FGF9, SOX9, DMRT1e SRY6 , enquanto os principais
genes envolvidos na determinação sexual feminina são os DAX1 (NR0B1), FOXL2, RSPO1, e
WNT4. As gônadas dos mamíferos são inicialmente bipotenciais e apresentam a capacidade natural
de se transformarem em um ovário ou testículo1. Assim que o destino dos testículos é determinado
pela expressão do gene SRY, inicia-se a diferenciação de células de Sertoli e a sua organização
estrutural como envoltório das células germinativas primordiais dentro dos cordões testiculares7. No
desfecho deste processo, as células germinativas sob controle das células de Sertoli devem
permanecer na fase G1 do ciclo celular, sem sofrerem meioses.
O gene SRY humano se localiza próximo à região pseudoautossomal do braço curto do
cromossomo Y (Yp 11.3)8. O gene consiste de um único éxon e codifica uma proteína de 204
aminoácidos que exibe alta similaridade com proteínas nucleares não histônicas HMG1 e HMG2
(proteínas nucleares do grupo de alta mobilidade), esta possui um domínio central de ligação ao
DNA denominado HMG box homólogo ao núcleo de ligação das proteínas nucleares da alta
mobilidade9.
O SRY compreende três diferentes domínios: 1- o domínio N-terminal (NTD); 2 - domínio
HMG box; e 3 - C-terminal do domínio (CTD). O domínio HMG é altamente conservado entre
espécies e consiste de 79 ácidos amino-polipeptídeo (Figura 1).
Este domínio compreende três -hélices que interagem com a sequência de consenso (A/T)
ACAA (T/A) apresentado o sulco menor do DNA com uma afinidade significativamente elevada,
promovendo uma acentuada curvatura de proximadamente 658-808nm, para a ligação local; as
demais regiões fora do domínio HMG de SRY são mal conservadas10. Este gene codifica a síntese
da proteína que recebeu a sua mesma denominação – SRY. Esta é formada por 79 aminoácidos e
atua como fator de regulação da transcrição, atuando direta ou indiretamente na diferenciação das
células de Sertoli.
A expressão do RNAm nas células somáticas da crista genital XY precede aos primeiros sinais do
desenvolvimento testicular. O SRY (sex-determining region of the Y chromosome) é o gene-chave
que inicia a determinação do sexo masculino em quase todos os mamíferos, exceto em
monotremados, como o ornitorrinco6. Entretanto ele não atua sozinho, mas em combinação com
outros genes envolvidos em eventos regulatórios da diferenciação testicular (Quadro 1).
Os genes envolvidos nesta cascata são WT1 (Wilms’ tumor gene), GATA4 (GATA binding
protein 4), GATA2, SF1(steroidogenic factor 1 ) e SOX95,1 . O WT1 (Ckts) é responsável pela alta
expressão do gene SRY durante a formação da gônada masculina, ele se liga diretamente à região
promotora do SRY e promove a transativação da expressão de SRY. O GATA4 e seu co-fator, em
parceria com GATA2/Fog2 (GATA binding protein 2), estão envolvidos na diferenciação gonadal e
suas características físicas, esta interação entre GATA4 e Fog2 é necessária para que ocorra a
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
mais clara e concisa com melhor síntese dos conhecimentos. Procurou-se dar preferência por
artigos que explicassem os mecanismos utilizados pelo gene SRY na sua expressão e sua relação
com outros genes importantes na determinação sexual gonadal em mamíferos e especialmente em
humanos.
408
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
expressão normal e SRY, ocasionando a maturação das células de Leydig e diferenciação de
células de Sertoli. Três genes são especificos para a diferenciação das células de Sertoli, SOX9,
AMH (Anti-Müllerian hormone) e Dhh (desert hedgehog)11. O gene GADD45g (Growth arrest and
DNA-damage-inducible, gamma) se liga a região ao N-terminal de MAP3K4 e medeia a ativação de
MAP3K4 (Mitogen-activated protein kinase 4), então MAP3K4 ativa p38a e p38b através MAP2K,
resultando finalmente na regulação direta ou indireta do gene SRY. O GADD45g e MAP3K4
também interagem com GATA4 fosforilando-o, depois de fosforilado GATA4 reconhece e se liga à
região promotora do SRY6.
No sexo masculino após ter ocorrido o desenvolvimento dos testículos, as células primordiais
germinativas (PCGs) passam a se denominar gonócitos e se isolam em cordões sexuais
seminíferos, a partir disto a expressão do gene SRY induz a transformação destes precursores em
células de Sertoli5.
Figura 1 - Diagrama do SRY
Assim, em volta
das células de
Sertoli
os
precursores
das
células
esteróidicas
desenvolvem-se
em células de
Leydig e as células
germinativas em
espermatogônias.
O SOX9 é um gene
inicialmente
expresso na face
lateral do cume
genital bipotencial
e é um regulador * O HMG box é um domínio do DNA ligante com 80 aminoácidos e dois locais
de precursores das de sinalização nuclear (NLS) em cada extremidade: o cam (constituído por
calmodulina) e o imp-β (constituído por β-importin). Os últimos sete
células de Sertoli,
aminoácidos do SRY podem ligar-se a qualquer um dos domínios PDZ
agindo
encontrados em SRY, os quais interagem com a proteína 1 ( SIP - 1 ). Os
imediatamente
locais de possíveis mutações da proteína que afetam o desenvolvimento
após o início da
testicular estão agrupadas no box HMG. No diagrama do SOX9 é verificado
expressão de gene um HMG box com dois locais de sinalização nuclear semelhantes à estrutura
SRY. Além do do SRY, entretanto o SOX9 é codificado por três exos que se ligam à proteína
SOX9
estar termosensível 70 ( HSP70 ) e tem um domínio de trans-ativação no final do
envolvido
na
terminal carboxila, ao contrário SRY.
determinação do Fonte: Adaptado de KRONENBERG et al, 2008, p. 810).
sexo, também está
relacionado
na
formação do sistema esquelético.
Pode ocorrer uma interação entre o SRY e o gene SF1 para regular o SOX9. SF1 recruta o
SRY através de uma proteína de interações físicas direta para os três sítios do SRY, depois de
ligados o complexo SRY-SF1 causa regulação positiva da expressão de SOX9 nas gônadas
masculinas, quando o nível de expressão de SOX9 chega a um limite crítico, ele pode reconhecer
e ocupar os locais de ligação ao SRY assim sinergicamente interagindo com o CTD da SF1 para
promover o manutenção de auto-regulação por SOX9. Mutações no gene SRY podem causar
disgenesia gonadal com fenótipo feminino nas células somáticas12, por outro lado, a perda de
ISBN 978-8569629-07-8
Quadro 1 - Genes Envolvidos na ativação e regulação do SRY
Gene (Loco) Mutações
Proteína relacionada e possível função
WT1 (11p13)
Fator de transcrição
SF-1 (9q33)
Fator de transcrição, receptor nuclear
Fator de transcrição high-mobility-group
SOX-9 (17q24)
DHH (12q12-13.1)
Proteína sinalizadora
DAX-1 (Xq21.3)
Regulador de transcrição, receptor nuclear
Fator de transcrição high-mobility-group
SRY (Yp11)
Prefixo Editorial: 69629
função do gene SRY pode resultar em síndrome de Turner com XO/XY ou mosaicismo6 (Figura 2)
Fonte: Adaptado de MACLAUGHLIN e DONAHOE (2004).
v. 03
Figura 2 - Fluxograma dos genes envolvidos na determinação gonadal
Fonte: Adaptado de DAMIANI et al, ,2001.
4 CONCLUSÃO
A biologia molecular tem avançado de forma considerável no esclarecimento de passos
cruciais na embriogênese. A determinação sexual é baseada numa sucessão de eventos e nos
mamíferos existe um gene, o SRY, que regula a cascata de expressão gênica direcionando a crista
genital bipotencial a se diferenciar em testículo ou ovário. Este gene atuará crucialmente em
parceria com o SOX9 para a diferenciação da linhagem de células de Sertoli e determinação
específico do sexo masculino. Evidências sugerem que estes processos genéticos são muito mais
complexos e ainda não se encontram completamente elucidados, sendo mais dinâmico o que se
retratou até o momento.
BIBLIOGRAFIA
1. DAMIANI, D. et al. Genitália ambígua: diagnóstico
diferencial e conduta. Arq Bras Endocrinol Metab.
v.45, n.1, p. 37-47, 2001.
2. FRANCIS, R.C.; SOMA, K.; FERNALD, R.D. Social
regulation of the brain-pituitary-gonadal axis. Proc Natl
Acad Sci . v. 90, 1993, p. 7791-7798.
3. GUBBAY, J.; COLLIGNON, J.; KOOPMAN, P.;
CAPEL, B.; ECONOMOU, A; MÜNSTERBERG, A. et
al. A gene mapping to the sexdetermining region of the
mouse Y chromosome is a member of a novel family
of embryologically expressed genes. Nature. n. 346,
1990, p. 245-250.
4. D’AGOSTINI, C.; GUS, R.; CAPP, E.; CORLETA,
H.V.E. Gonadal cytogenetic analysis in patients with
8. MÄKINEN, A.; SUOJALA, L.; NIINI, T.; KATILA, T.;
TOZAKI, T.Y.I.; MIYAKE, T. HASEGAWA, T. X
chromosome detection in an XO mare using a human
X paint probe, and PCR detection of SRY and
amelogenin genes in 3 XY mares. Equine Veterinary
Journal. v. 33, n. 5, 2001, p. 527–530.
9. DOMENICE, S.; COSTA, E.M.F.; CORRÊA, R.V.;
MENDONÇA, B.B. Aspectos Moleculares da
Determinação e Diferenciação Sexual. Arq Bras
Endocrinol Metab. v. 46, n. 4, 2002, p.433-443.
10. DE FELICI, M.; COTICCHIO, G. et al. Origin,
Migration, and Proliferation of Human Primordial Germ
Cells, (eds.). Oogenesis. n. 19, 2013. p. 19-37.
11. JAUCH, R.; NG, C.K.; NARASIMHAN, K.; KOLATKAR,
409
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
n. 01
Fonte: Adaptado de DAMIANI et al, ,2001.
OBSERVAÇÃO COMPORTAMENTAL DA CRIANÇA E DA MÃE DURANTE O TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO COM O ODONTOPEDIATRA
Prefixo Editorial: 69629
v. 03
NOTE CHILD AND MOTHER OF BEHAVIOR DURING DENTAL TREATMENT WITH
PEDODONTIST
ISBN 978-8569629-07-8
P.R. The crystal structure of the SOX4 HMG domain–
DNA complex suggests a mechanism for positional
interdependence in DNA recognition. Biochemical
Journal. v. 443, p. 39–47, 2012.
12. CHEN, Y.S.; RACCA, J.D.; PHILLIPS, N.B.; WEISS,
M.A. Inherited human sex reversal due to impaired
nucleocytoplasmic trafficking of SRY defines a male
transcriptional threshold. PNAS - Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of
America. v. 110, n. 38, 2013, p.E3567-3576
n. 01
Jhenniffer Coelho da Silva¹; Luciana Marquez²; Mariana Vargas Lindemaier²; Tânia Maria Aires Gomes
Rocha²; Ana Carolina Camargo Rocha²; Felipe Camargo Munhoz²; Nelzir Martins Costa²; Ana Carolina
Camargo Rocha².
_________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO – O comportamento das crianças durante a consulta odontológica, tem permitido
reconhecer padrões do cirurgião-dentista com seu paciente. Assim como facilitar o procedimento
clínico. Este artigo tem como objetivo, analisar o comportamento da criança, juntamente com a
mãe, durante os procedimentos realizados por meio de revisão de literatura. O profissional
odontopediatra está preparado para atender as dificuldades do dia-a-dia nessa tríade, que é a
família, mãe/pai, profissional e a criança. É de importância ressaltar a experiência que o
profissional tem sobre a psicologia infantil e suas faixas etárias, a influência do ambiente familiar
e seus padrões comportamentais e suas reações emocionais frente ao tratamento odontológico.
O artigo visa, relatar uma observação da criança na consulta odontológica, bem como a
importância da presença dos pais, de estarem conscientes dos tratamentos que serão
executados, além das técnicas de condicionamento, manejo para se obter um comportamento
infantil.
Palavras-chave: Odontopediatra; profissional; criança; comportamento; consulta.
ABSTRACT - Behavioral analysis in dentistry has allowed recognize dentist standards with his
patient. As facilitate the medical procedure. This article aims to analyze the behavior of the child,
along with her mother during procedures performed through literature review. The professional
dentist is prepared to meet the difficulties of day-to-day in this triad, which is the family, mother /
father, professional and child. It is important to emphasize the experience that the professional has
on child psychology and its age, the influence of family environment and their behavioral patterns
and their emotional reactions during dental treatment. The article aims to report the child's approach
to dental appointment, and the importance of the presence of parents, to be aware of treatments that
will be performed, in addition to conditioning techniques, managing to get a child behavior.
Keywords: Pediatric Dentistry; professional; approach; behavior; Query.
1. INTRODUÇÃO
Embora a habilidade que o cirurgião dentista tenha em lidar com crianças, durante a
consulta odontopediátrica, o profissional deve ter conhecimento da Psicologia e das técnicas de
manejo do comportamento infantil. São de fato fundamentais, para um melhor relacionamento
410
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
primary amenorrhea. Rev Bras Ginecol Obstet. v. 27,
n. 3 2005, p. 125-129.
5. MACLAUGHLIN, D.T. e DONAHOE, P.K. Sex
Determination and Differentiation - Mechanisms of
Disease: Review Article. The new england journal of
medicine. v. 350, 2004 p.367-78
6. SHE, Z.Y. e YANG, W.X. Molecular mechanisms
involved in mammalian primary sex determination. J
Mol Endocrinol. n. 53, v. 1, 2014, p. 21-37.
7. YAO, H.H.; DINAPOLI, L.; CAPEL, B. Meiotic germ
cells antagonize mesonephric cell migration and testis
cord formation in mouse gonads. Development. v.130,
n. 24, p. 5895-5902, 2003 Dec.
2 METODOLOGIA
Este estudo foi realizado através de revisão de literatura, os autores relacionados aos
artigos científicos foram escolhidos por meio de palavras chaves citados no resumo deste artigo.
Foram selecionados 18 artigos científicos que abordam o tema proposto no trabalho. Os sites
pesquisados foram o SciELO e PUBMED.
Este trabalho representa uma contribuição da análise funcional do comportamento ao
estudo da interação profissional - paciente em odontopediatria. Neste contexto, é importante
salientar o conceito de relação comportamento - ambiente, por envolver a idéia básica de que o
fundamental não é o desempenho, mas a relação estabelecida entre o desempenho
comportamental e os eventos da situação investigada (TOLEDO 2004). Os resultados obtidos
permitem afirmar que é possível, por meio de uma observação funcional, identificar diferentes
411
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
entre o odontopediatra e seu paciente (TOLEDO 2004). É de grande importância que o
Odontopediatra, não se restrinja apenas em conhecimentos técnicos e científicos da área, ao
aspecto clínico e preventivo. Isso traduz uma grande parte da problemática infantil. Torna-se
fundamental que o Odontopediatra além de sua destreza técnica embasado na literatura, tenha
conhecimento sobre a psicologia infantil aplicada a Odontologia. Atrás de um comportamento
positivo ou negativo, há uma infinidade de caracteres que exercem influências marcantes a criança,
sendo elas o ambiente em que vive a idade, o desenvolvimento psicológico, a guia maternopaterna e a classe socioeconômica dos pais (OLIVEIRA et al,1983).
O odontopediatra deve possuir a compreensão a respeito de diferentes estágios de
desenvolvimento psicológico da criança e como esse desenvolvimento afeta o comportamento
infantil no consultório odontológico. Alguns trabalhos descritos sugerem uma nova proposta de
conhecimento para estudarem o comportamento dos profissionais na área especializada, no
contexto do atendimento clínico, entretanto deveria incluir a análise do comportamento de todos
os envolvidos na situação. A análise funcional refere-se a investigação das relações entre
as respostas do indivíduo aos estímulos ambientais identificados (MORAES 2004).
Estudos passados revelam, que o repertório do comportamento da criança exposta ao um
atendimento odontológico, resulta no manejo inadequado do cirurgião dentista. Entretanto
poucos autores analisam, de forma mais específica, o comportamento do profissional, é como este
é afetado funcionalmente pelo comportamento do próprio paciente (WEINSTEN et al, 2009).
A destreza para se comunicar e interagir com o paciente é indispensável para se criar
laços e ter uma boa relação profissional-paciente. A maneira de tratar, o primeiro momento,
ficam gravados na memória das crianças, todo este apanhado é de suma importância. (WEINSTEN
et al, 2009).
Conhecer o comportamento do paciente garante um melhor desempenho odontológico.
Os pais, de maneira geral procuram profissionais habilitados na área, e que tratem seus filhos de
forma única e humanizada (CALDANA 1990).
Estudos na interface da psicologia odontológica destaca a importância de conhecimentos
comportamentais que ampliem as evidências dos aspectos psicológicos presentes na interação,
dentista-criança,considerando
as características aversivas da situações de tratamento
odontológico e suas manifestações comportamentais do dentista e da criança (CORRÊA 2002).
O controle do comportamento infantil é um assunto que tem sido bastante discutido, sendo
um componente integral na prática da Odontopediatria. Com o passar do tempo tem sido diminuído
o uso de drogas pesadas, e aumentando a necessidade de envolver os pais no processo da
realização do tratamento resultando em um futuro sucesso profissional/paciente
(ALBUQUERQUE et al, 2010).
Uma vez que a criança estiver no consultório para tratamento, ela dependerá não só do
preparo prévio efetuado pelos pais, como também da habilidade e capacidade do Odontopediatra
e de sua equipe em manejá-la (ALBUQUERQUE et al, 2010).
412
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
3 RESULTADOS
O relacionamento é a maior diferença que possa existir entre o tratamento de crianças e
adultos. Geralmente o tratamento com o adulto exige uma relação um para com um, que é
maneira que se relacionam o dentista e o paciente. Porém ao se tratar de uma criança constituemse uma relação um para dois, o dentista, a criança e os pais (ALBUQUERQUE et al, 2010).
Apesar de existir as políticas de saúde públicas, no qual são ofertados atendimentos
odontológicos gratuitos, esse acesso também se refere a prevenção á cárie, orientação e instrução
de higiene oral. As ações preventivas são serviços que incluem os pais, as instruções de como
é importante a atenção odontológica desde bebês (CASANOVA et al, 2013).
Cerva de 20% da população mundial se poupam de irem as consultas odontológicas
periódicas. Entretanto existe uma população infantil que muitas vezes é levado a clínica por seus
pais, porém existe um comportamento diferenciado dessa população, a dificuldade passa de
fuga e esquiva á dificuldade de abrir a boca,chorar,levantar-se da cadeira odontológica, gritos,
movimentos com a cabeça e com o corpo, e ainda chutar, morder o odontopediatra durante
o atendimento (TOTES 1995).
Estes comportamentos passam a ter na literatura a denominação de opositores,
constituindo uma das maiores dificuldades do odontopediatra, em se obter manejo e
comportamento que facilitem a consulta e o tratamento odontopediátrico (MORAES et al, 2004).
Estudos apontam que 25% das crianças que são não cooperativas nos
atendimentos odontológicos, o que pode aumentar a duração da consulta e dificultar a condição
bucal, os autores ressaltam que crianças opositoras, possuem uma dificuldade de manejo
(ALLEN et al, 2009).
Tendo em vista controlar os comportamentos opositores dos pacientes infantis durante a
consulta, alguns profissionais adotam estratégias positivas para o manejo do comportamento
desses pacientes. Como por exemplo; adotar um filme durante a consulta, a fim de demonstrar
pelo filme um bom comportamento transferido do filme a criança por meio de imitação, reforço
positivo do comportamento adequado ao procedimento, que após o procedimento feito o paciente
recebe elogios do odontopediatra (MELAMED et al,2009).
A distração também é uma forma de ajudar na consulta de pacientes que possuem
comportamentos opositores. A distração é caracteriza pela apresentação de estímulos
incompatíveis com a situação odontológica, de modo que estes adquiram o controle sobre o
comportamento da criança, diminuindo a freqüência de comportamentos não colaborativos (STARK
et al,1989).
Alguns autores citam que deixar que a criança descanse um pouco, após ela ter colaborado
com o procedimento ajuda que o profissional, ganhe de certa forma mais confiança do seu paciente,
e futuros comportamentos benéficos nas próximas sessões. Ao ser analisado um atendimento
odontopediátrico,é também avaliado, o estado emocional do acompanhante, que na grande maioria
das vezes é a mãe da criança. Isto porque a relação que existe entre ambos exerce total influência
no comportamento da criança. A análise de pesquisas publicadas sobre o assunto, demonstram
que além da tensão natural que a criança apresenta frente ao tratamento odontológico, é
rotineiro que sua mãe, exerça uma influência negativa, agravando o seu comportamento (CORRÊA
2002).
Assim, para Guedes Pinto (1987) mães muito ansiosas e tensas quanto ao atendimento
odontológico, na maioria das vezes, transmitem grande ansiedade em seus filhos, ainda que estes
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
classes de comportamentos e variáveis controladoras dos comportamentos envolvidos na
interação odontopediatra criança e sua mãe; e as condições de saúde bucal, o plano de
tratamento, o nível de medo e o grau de colaboração das crianças podem ser considerados
como condições que estabelecem comportamentos profissionais padronizado.
É interessante notar que a colaboração das crianças é condição de grande significância
para o estabelecimento de comportamentos do profissional odontopediatra, existindo um elo entre
as respostas, ação e comportamento, do profissional e as manifestações da criança. A
interação é a base da relação funcional odontopediatra – paciente; intermediada por estratégias
que facilitam a colaboração com os procedimentos odontológicos (OLIVEIRA 2014).
413
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
nunca tenham passado por experiências desagradáveis ou traumáticas em Odontologia.
Segundo Faraco (1994), devemos lembrar que para crianças até aproximadamente sete
anos esta relação é imensamente mediada pelos pais, fazendo com que a relação dentista/criança
assuma formato triangular, principalmente quando o paciente é incapaz de verbalização e
mantém dependência estreita com a mãe.
McDonald (1995) ressalta que esse tipo de relacionamento é conhecido como Triângulo do
Tratamento Odontopediátrico, destacando a criança no ápice, como o principal foco de atenção; o
autor relata que a ansiedade e o medo dos pais afetam o comportamento e, de certo modo,
determinam o sucesso da consulta odontológica.
Corrêa (2002) afirma que o comportamento infantil diante da consulta odontológica
depende de vários fatores exercem interação entre si, os quais os pais influenciam com suas
atitudes e cita ainda o triângulo, definindo-o como "Fatores que se inter- relacionam na consulta
odontológica".
Toledo (2004) cita que dentro dessas relações, atitudes indevidas dos pais, poderão
propiciar o aparecimento de características típicas de comportamentos complexos, com reflexos
marcantes na clínica odontológica. O mesmo autor afirma que na literatura odontológica e
psicológica são referidos aspectos importantes do desenvolvimento e relacionamento com os pais,
que pode ser orientado na prática odontológica como se obter um bom relacionamento criança e
odontopediatra
A frente de tantos conhecimentos adquiridos no decorrer da vida profissional, o
Odontopediatra, terá uma bagagem de experiências que podem servirem e serem aplicadas a
determinadas situações, isso favorecerá o esclarecimento para determinados tipos de
comportamento apresentado pelas crianças (OLIVEIRA 2014).
Alguns métodos se mostram mais eficazes no controle do comportamento infantil, estes
métodos se tornam mais aceitos pelas crianças, resultando em uma boa aceitação ao
tratamento. O especialista em odontopediatria possui um rico desempenho na função dos setores
psicológicos e educacionais, que permitem o estabelecimento de possíveis traumas. Estes
conjugados estão intimamente ligados a lembranças passadas desagradáveis no ambiente do
consultório odontológico, interligados também aos procedimentos passados (OLIVEIRA 2014).
Entretanto é importante salientar, que não existem fórmulas exatas, muito menos
estratégias infalíveis para o controle de tipos de comportamento difíceis. De fato é impossível seguir
um protocolo, pois cada paciente reage de uma forma, notado também que cada paciente infantil
possui influências diferentes de seus responsáveis. Existem também limitações destes mesmos
pacientes em cada situação, o que pode determinar diferentes tipos de condutas que poderá ser
realizadas mais posteriormente. A cada tipo de situação, o profissional deverá estar habilitado a
aplicar o tipo de conduta psicológica mais favorável dependendo de cada criança (OLIVEIRA
2014).
Os responsáveis legais (pai/mãe) devem orientar seus filhos desde pequenos á ter um
cuidado dental, pois eles são incentivadores primários no que diz a Odontologia especializada em
Odontopediatria. Isto posteriormente irá ajudar o profissional em consequentemente uma boa
conduta clínica (ALBUQUERQUE 2010).
O estudo do comportamento de colaboração infantil durante o atendimento odontológico
corresponde a um dos grandes focos da literatura científica de odontopediatria. Dentre os fatores
que afetam tal comportamento, tem-se investigado o comportamento dos pais, que aparece
nas pesquisas como uma variável relevante (ALLEN et al, 2003).
O profissional de saúde pode muitas vezes estar desatentos ao estilo de comunicação dos
dentistas, porém os pais estão sempre muitos atentos. O comunicação dos dentistas é um fator
primordial na satisfação do paciente. O dentista deve reconhecer que nem todos os pais expressam
seu desejo de participação durante o tratamento ( HALL et al, 1987).
A atitude do dentista e dos membros de sua equipe exercem papel importante na
orientação do comportamento do paciente odontopediátrico. Com comunicação eficaz a equipe
odontológica pode aliviar o medo e ansiedade, bem como ensinar técnicas para que a criança possa
lidar com seus sentimentos, a fim de guiá-la para que ela possa ser cooperativa (HALL et.al,1987).
A resposta do paciente ás demandas do tratamento odontológico é muito complexa e
depende de vários fatores, alguns estudos demonstram que uma criança que apresentação a não
414
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
cooperação ao tratamento odontológico ela apresenta medo perante ao dentista, e que crianças
medrosas, podem sim cooperar durante o procedimento do tratamento odontológico (MORAES
2004).
A reação da criança pode ser influenciada por vários fatores, como: idade, personalidade,
temperamento, medo, medo ao desconhecido que no caso é o odontopediatra, ansiedade,
ansiedade materna, e experiências anteriores. O dentista deve incluir a avaliação, o potencial
de cooperação do paciente no como parte no tratamento odontológico, a informação pode ser
colhida durante a anamnese, por meio de observação e interação com a criança (MARQUES
et al, 2010).
Nenhum método ou ferramenta de avaliação é completamente exato para predizer um
comportamento infantil durante o tratamento, mas ter consciência das influências múltiplas no
comportamento da criança pode ajudar no planejamento (RAMOS, 2003).
Muitas crianças exibem um nível elevado de desenvolvimento físico, intelectual emocional
e social em uma adversidade de atitudes e temperamentos é importante que os dentistas tenham
múltiplas técnicas de orientação do comportamento para ir ao encontro das necessidades
individuais de cada criança (RAMOS 2003).
Algumas barreiras estão de fato relacionadas com o insucesso do tratamento odontológico,
pode-se listar dentre eles; o medo transmitido pelos pais, uma experiência odontológica anterior
desagradável (RAMOS 2003).
Para aliviar essas barreiras o profissional deve estar habilitado para ajudar seu paciente,
os métodos que o dentista pode incluir; a avaliação do nível de desenvolvimento de cada criança,
sua capacidade física, motora, o nível de compreensão que o paciente tem, pois muitas vezes
o profissional transmite a mensagem, porém o paciente muitas vezes não entende de forma
correta. Isto é manter uma boa comunicação (TOLEDO 2004).
A técnica do Dizer-mostrar-fazer é muito utilizada pelos profissionais da Odontopediatria,
essa técnica ajuda a moldar o comportamento da criança. A técnica envolve frases apropriadas a
cada nível de desenvolvimento de cada paciente. Pode ser feita em todas as crianças e possui uma
boa aceitação das mesmas (ALBUQUERQUE 2010).
Outra técnica que também é muito utilizada é controle da voz, onde o controle do volume
da voz é alterado ao ritmo da voz para influenciar e dirigir o os objetivos do controle da voz são
muitos dentre eles estão; ganhar a atenção e cooperação do paciente (ALBUQUERQUE 2010).
O reforço positivo é utilizado para se recompensar o bom comportamento do paciente,
fortalecendo outros comportamento desejados. Podem ser utilizados; elogios, uma expressão facial,
brinquedos e lembrancinhas (ALBUQUERQUE 2010).
Existe uma grande diversidade de opiniões quando se fala da presença ou da ausência
materna dentro do consultório durante o tratamento odontopediátrico Sabe- se que é de suma
importância manter uma boa comunicação entre o dentista, paciente, mãe/pai. Isso significa
que é necessário que o profissional Odontopediatra concentre seu foco na mãe e na criança,
entretanto a presença da mãe pode variar de benéfica a maléfica. Cada profissional tem que
adequar uma comunicação e colocar métodos que otimizem o tratamento odontológico (OLIVEIRA
2014).
O lúdico em Odontopediatria é um importante recurso para compreensão do paciente,
não estando limitado aos objetos de jogos e brinquedos, mas passando a desprender-se dos
objetos enquanto objetos, assumindo uma postura dotada de sensibilidade, envolvimento,
implicando assim, numa mudança de caráter não apenas cognitivo, mas sim afetivo (OLIVEIRA
2014).
A forma mais precisa que faz a intermediação da relação entre a criança e o odontopediatra
é a comunicação, sobretudo, a comunicação linguística, pois por meio desta tanto os
responsáveis quanto o paciente infantil mantêm um equilíbrio maior no decorrer do tratamento. Essa
comunicação linguística envolve a tonalidade da voz, afetividade, afabilidade, a exemplo das
técnicas do falar-mostrar-fazer, do controle da voz, da aplicação de reforço positivo e do uso de
modelos (FÚCCIO et al,2003).
Existem demais técnicas que também podem ser utilizadas, caso todas as outras já citadas,
não tiverem sucesso. A literatura cita um leque de opções estão entre elas a estabilização
protetora, a sedação com óxido nitroso, e a anestesia geral, portanto essas técnicas requerem bem
MELAMED, B. G; et.al. Comportamento de Crianças e de
Dentistas em Atendimentos Odontológicos Profiláticos
e de Emergência,Rev. Interação em Psicologia,
Curitiba, jan./jun. 2009, 13(1), p. 147-154
MARQUES , B.K et al. Medo e ansiedade prévios á
consulta Odontológica em crianças no município de
ACARAU-CE; Rev. RBPS, Fortaleza, 23(4): 358-367,
out./dez., 2010
MORAES,
A.B.A;PSicologia
e
Odontopediatria:A
contribuição da análise funcional do comportamento, Rev.
Psicologia: Reflexão e Crítica, Piracicaba SP, 2004,
17(1), pp. 75-82
MCDONALD. Reação da mãe diante do atendimento
odontológico de seu filho.
Rev. Grupo edit.Moreiro JR, Marília – SP N°pg 199 á
207.
OLIVEIRA, C. Atividades lúdicas na Odontopediatria:
uma breve revisão de literatura. Rev.bras.odontol., Rio
de Janeiro,v71,n1p. 103-7,jan./jun.2014
OLIVEIRA,A.
Psicologia
em
Odontopediatria
Universidade Estadual de Campinas, 1983.
TOTES, M.A et al, Rev. Assoc.Paulist.Circ.Dent,Vol 52
n° pg 302-305, 1995
TOLEDO,A.O
et
al.
Adaptação
comportamental do
paciente odontopediátrico,Rev.
ABO odontopediatria. (São Paulo SP, v. 26, n.º 2/2004)
WEINSTEN Comportamento de Crianças e de
Dentistas em Atendimentos
Odontológicos
Profiláticos e de Emergência, Interação em
Psicologia, Curitiba, jan./jun. 2009, 13(1), p. 147-15
ONCOGENES E MUTAÇÕES GENÉTICAS RELACIONADAS AO CÂNCER DE PRÓSTATA:
Revisão de Literatura
ONCOGENES AND GENETIC CHANGES RELATED TO PROSTATE CANCER: Literature
Review
Ana Margarete Souza Pedreira¹; Anna Carmela Araujo Benoliel Vasconcelos¹; Núbia Ferreira Da Silva
Tavares¹; Asterio Souza Magalhães Filho²; Andriele Gasparetto²; Flávio Dias Silva²; Anne Caroline Dias
Neves².
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO - Nas últimas décadas, o câncer de próstata tornou-se um problema relevante à área da
saúde no Brasil, sendo a neoplasia mais frequente no sexo masculino. Suspeita-se que vários
fatores, incluindo idade, raça, hereditariedade, níveis hormonais e influência ambiental contribuam
para ocorrência da enfermidade. Existe um grande interesse em relação ao papel de outros
415
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
ALLEN, K.D; Comportamento de Crianças e de
Dentistas
em
Atendimentos
Odontológicos
Profiláticos e de Emergência, Interação em GUEDESPINTO, A.C. Odontopediatria. São Paulo: Santos;
2003Psicologia, Curitiba, jan./jun. 2009, 13(1), p. 147-154
ALBUQUERQUE,M.C; Principais técnicas de controle
de comportamento em
Odntopediatria,
Rev.
Arquiv.em.odontol.,
Niterói,RJ,v.45,pg
02
a 14, abril/junho. 2010.
CASANOVA,M.L; A relação mãe-criança durante o
atendimento odontológico:contribuições da análise do
comportamento ,Rev. Estudos de Psicologia Campinas
SP, outubro / dezembro 2013
CALDANA, R.H.L.; ALVES, Z.M.M.B. Psicologia
do
desenvolvimento: contribuição à Odontopediatria.
Rev Odontol Univ São Paulo, São Paulo, v.4, n.3,
p.256-260, jul./set. 1990.
CORRÊA,
M.S.N.
Sucesso
no
atendimento
odontopediátrico: aspectos
psicológicos. São Paulo: Santos Editora. 2002.
FARACO ,J.I.M et al, Porto Alegre, vol. 42.p.323-325.
FÚCCIO, F. et al. Aceitação dos pais em relação as
técnicas de manejo do comportamento utilizadas em
odontopediatria. In: Jornal Brasileiro de Odontopediatria
e Odontologia do Bebê. Editora Maio. 2003; 6 (30): 14651
GUEDES-PINTO, A.C. Odontopediatria. São Paulo:
Santos; 2003
HALL, J.A. et al, Task versus socioemotional
behaviors in physicians. Med
Care 1987; vol 25:399-412.
v. 03
REFERÊNCIAS
n. 01
5 CONCLUSÃO
Com este trabalho pode-se concluir a relação tríade dos responsáveis pai/mãe, e do
Odontopediatra com a criança. Com essas análises do comportamento infantil, percebe-se a
importância do comportamento materno para a compreensão da colaboração e da não colaboração
por parte da criança. São os pais, normalmente, os responsáveis pela modelagem de repertórios
como autocontrole e seguimento de regras.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
mais dos profissionais, como treinamentos e cursos especializados que ajudarão a realizar essas
técnicas (TOLEDO 2004).
416
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
1 INTRODUÇÃO
O câncer de próstata é a proliferação anormal de células da próstata. A próstata é uma
glândula do sistema reprodutor masculino, considerada simples, anelada e possui cerca de quatro
centímetros de lado a lado, três centímetros do topo até a parte inferior e dois centímetros da parte
da frente até a parte de trás. Está situada inferiormente à bexiga urinária e envolve a parte prostática
da uretra. A próstata aumenta de tamanho lentamente do nascimento até a puberdade e se expande
rapidamente até os 30 anos de idade. Após esse período, seu tamanho normalmente permanece
estável.
Os genes relacionados à próstata, assim como todos os outros, possuem instruções de
controle do crescimento e de divisão das células. Os genes chamados de oncogenes promovem
essa divisão celular e os que retardam ou causam a morte num determinado momento são os
supressores de tumor. O câncer atua exatamente nesses genes, pois com a alteração do DNA, este
ácido nucleico pode se transformar em oncogenes ou desativar os supressores de tumor. Tais
alterações genéticas, no caso desta glândula, podem surgir por fatores hereditários ou podem ser
adquiridos durante a vida, principalmente por idosos, pois algumas células do corpo humano
cometem “erros” ao se dividir na formação das células filhas.
Segundo dados do INCA (2014), a última estimativa mundial apontou o câncer de
próstata como sendo o segundo tipo mais frequente em homens. Cerca de 1,1 milhões de casos
novos no ano de 2012. Com o aumento da expectativa de vida mundial, é esperado que o número
de casos novos de câncer de próstata aumente cerca de 60% até o ano de 2015.
O diagnóstico do câncer de próstata se obtém a partir da conciliação do hemograma e
do toque retal. Embora o exame do toque seja simples, rápido e sem dor, o preconceito em relação
a ele é o principal entrave para a descoberta da doença no estágio inicial, quando se tem maior
porcentagem de cura nos tratamentos, pois, os homens acreditam que, além de desconfortável, o
exame possa afetar sua masculinidade.
Quando essa doença é diagnosticada, o homem que antes se considerava forte e viril,
agora precisa lidar com as limitações e sentimentos novos relacionados a sua nova rotina de vida.
Dessa forma, é necessário compreender o homem como um ser histórico e cultural, que criou sua
identidade a partir de uma sociedade machista. As emoções e respostas relacionadas a este
diagnóstico irão depender da percepção da condição própria de cada indivíduo e da forma como
lhe é dada a notícia da patologia, podendo minimizar ou ampliar seus sentimentos contraditórios.
Os acontecimentos genéticos e biológicos, onde ocorre a produção dos hormônios e
seus receptores devem explicar os mecanismos envolvidos na multiplicação das células normais e
neoplásicas da próstata e no desenvolvimento tumoral dessa glândula. Entre esses mecanismos,
estão os sinais desencadeados pelos fatores de crescimento e pelo receptor de andrógenos, as
n. 01
ABSTRACT - In the last decades, prostate cancer has become a relevant problem to Brazilian health
area, as neoplasia has been a recurrent disease among men. One suspects that several factors,
among which age, race, hereditariness, hormonal levels and environmental influence, contribute to
the disease occurrence. There is a great interest concerning the role of other hereditary
polymorphisms in the development of prostate cancer. This bibliographical review points out
information about prostate cancer to specialists in health and biological sciences, as well as to the
general population, and it remarks: the potential link between the disease and hereditariness and
riskis.
Keywords: Prostate cancer, Epidemiological, Man health.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
polimorfismos hereditários no desenvolvimento do câncer de próstata. Esta revisão apresenta
informações sobre o câncer de próstata aos profissionais das áreas da saúde e das ciências
biológicas, bem como à população de modo geral, e aponta: a possível relação da doença com a
hereditariedade e seus riscos.
Palavras-chave: Câncer de próstata, Epidemiologia, Saúde do homem.
3 RESULTADO E DISCUSSÃO
A próstata é uma glândula exclusivamente masculina, que tem a função de produzir e
armazenar um líquido incolor, viscoso e alcalino que faz parte do líquido seminal. Anatomicamente
a próstata se localiza posterior à sínfise púbica, anterior ao reto, inferior à bexiga e superior à uretra,
sendo que porção da uretra adentra à próstata e constitui o local onde desemboca os ductos
ejaculatórios (NASSIF et al, 2014).
A glândula prostática geralmente apresenta três patologias: a hiperplasia prostática
benigna, a prostatite e o câncer de próstata (NASSIF et al, 2014). A próstata possui quatro zonas
distintas que serão descritas no quadro a seguir.
O câncer tem início quando ocorre uma falha genética ou mutação em algum gene
normal chamado proto-oncogene. O proto-oncogene trabalha na regulação do ciclo celular e por
isso atua contrário a tumorigênese. Quando o proto-oncogene sofre mutação passa a ser chamado
417
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
2 METODOLOGIA
Em fevereiro de 2015, foi conduzida uma busca nas bases de dados eletrônicos Scielo,
Periódicos CAPES, Google Acadêmico, INCA e Best Guides Online, englobando o período de 1999
a 2015. Foram utilizados os seguintes descritores extraídos: genética do câncer, próstata
neoplásica, oncogenes, neoplasias, câncer de próstata and andrógenos, andrógenos, protooncogêneses, bloqueio androgênico, antígeno prostático. Devido a carência de bibliografia em
língua portuguesa e espanhola relacionados ao tema desta revisão bibliográfica foram encontrados
apenas dez artigos dos quais todos foram utilizados.
A partir da análise dos dez artigos, os quais estavam diretamente relacionados, por meio
de desenvolvimento, avaliação, teste, tradução ou discussão aos índices subjetivos atendendo aos
objetivos de discutir a respeito da oncogêneses e proto-oncogêneses, relacionar com as neoplasias
da próstata, entender como esse tipo de patologia acontece geneticamente e interligar com a
intervenção dos andrógenos e seus receptores tanto na próstata saudável quanto na próstata
adoecida. Optou-se por selecionar os artigos confirmados como versões originais os quais
apresentaram discussões realizadas por seus autores e a partir de teses validadas para
oncongenes e mutações genéticas relacionadas ao câncer de próstata.
Consideraram-se os artigos publicados em português e espanhol, tendo sido excluído
os estudos publicados nos demais idiomas, assim como aqueles que disponibilizaram apenas
resumos.
A extração de dados dos artigos selecionados foi realizada pelos revisores deste
trabalho, utilizando roteiro pré-estruturado.
Foram colhidas as seguintes informações: anatomia da próstata, conceitos de câncer,
câncer de próstata, andrógenos, oncongenes, proto-oncognes e mutações, relacionando os
andrógenos com a próstata saudável e patológica.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
alterações que aumentam ou tornam a atividade desse receptor independente do estímulo
hormonal. As variações no número de repetições das sequências de trinucleotídeos CAG e GGC
no seu gene, que estão inversamente relacionadas com sua atividade transcricional nas células
prostáticas. (CARVALHO-SALLES e TAJARA, 1999). A tumorigênese prostática é assunto de
muitos estudos, porém muitos estudos são ainda necessários para a identificação de todos os
fatores que participam do processo e para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas
dessa patologia.
O objetivo desta revisão de literatura é discutir a respeito da oncogênese e protooncogênese. Relacionar com as neoplasias da próstata. Entender como esse tipo de patologia
acontece geneticamente. Interligar com a intervenção dos andrógenos e seus receptores tanto na
próstata saudável quanto na próstata adoecida.
418
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
de oncogene e então o ciclo celular passa a ter uma proliferação anormal e origina o tumor. As
causas que levam a essas mutações ainda são alvo de muito estudo, e muitos avanços na área da
biologia molecular vêm sendo alcançados (BRUM; SPRITZER; BRENTANI, 2005).
De acordo com Meza-Junco; Montano-Loza; Aguayo-Gonzales (2006), experimentos da
tecnologia genética, como por exemplo a hibridação de células cancerosas e normais, têm permitido
entender o conceito de genes supressores de tumor, o que mostra que a presença genes normais
eram dominantes e capaz de suprimir o potencial tumorigênico de células cancerosas. Com isso,
tornou-se possível identificar diversos cromossomos com genes supressores de tumor, além de
analisar fusões micro celulares resultando em clones não produtores de tumor.
As células tumorais apresentam instabilidade genética, este fenômeno favorece um
aumento na taxa de mutações. A instabilidade de microssatélites (MSI, o acrônimo de instabilidade
de microssatélites), também conhecido como MIN, onde a expansão ou contração do número de
repetições de oligonucleotídeos presentes é apresentado em sequências microssatélites de genes.
Considera-se que cerca de 50% de
tumores sólidos têm anormalidades FIGURA 1 - Localização da próstata.
cromossomicas. Entre os diversos tipos de
câncer, a instabilidade telomérica, que por
sua vez, promove a instabilidade
cromossômica, afeta a integridade do
telômero e tem sido observada em
diversas doenças malignas (OSPINA
PÉREZ e MUNETON PENA, 2011).
Segundo
Brum;
Spritzer;
Brentani (2005); Ward (2002), um
indivíduo com uma predisposição para o
câncer tem uma probabilidade maior de
desenvolver alguma neoplasia durante sua
vida. Essa predisposição vem de alelos Fonte: Best Guides Online
mutantes herdados, como o P53, o BRCA1 e o RET, além do que, com a biologia molecular em
constante avanço essa lista tende a sempre crescer.
Essas mutações podem ser do tipo mutação pontual onde apenas um nucleotídeo é
atingido,
pode
ser
do
tipo
QUADRO 1 - Zonas prostáticas.
amplificação gênica onde uma parte
do gene é atingida ou pode ser do
Nome da Zona Tamanho Descrição
(%)
tipo translocação cromossômica
onde uma parte do cromossomo é
Zona
Envolve a uretra distal, local onde
Setenta
atingida, ou até mesmo por uma
Periférica
mais da metade dos cânceres
acontece.
inserção retroviral (WARD, 2002).
Outro tipo de mutação é através da
Zona Central
Local que envolve os ductos
Vinte
fusão dos genes que são formados
ejaculatórios.
quando dois cromossomos, ou duas
Zona
Local que envolve a uretra
Cinco
regiões do mesmo, sofre ruptura e
Transicional
proximal.
mudança de posição que dão
origem, por vezes a um novo gene
Zona
Fibro- Cinco
Estroma prostático.
muscular
(FERNANDEZ-SERRA et al, 2011).
Ward (2002), destaca Fonte: Pedreira; Vasconcelos; Tavares (2015).
que a motivação para a investigação
e descoberta precoce das diversas mutações gênicas é fundamental para aumentar a vigilância e
detectar possível malignidade numa fase pré-clínica de doença.
O programa terapêutico de bloqueio dos receptores androgênicos (AR) tem por
finalidades principais aumentar a sobrevida, retardar o crescimento tumoral e melhorar a qualidade
de vida (CLARK et al, 2013).
O processo de desenvolvimento e diferenciação da próstata depende da secreção de
cromograninas, serotonina, somatostatina, bombesina que são secretadas por células
neuroendócrinas, além das cascatas de sinais ocasionadas pelos hormônios masculinos e pelos
fatores de crescimento. Essas substâncias vão fazer com que as células prostáticas se proliferem
e atuem através de vários mecanismos de regulação (CARVALHO-SALLES e TAJARA, 1999).
Os estudos de Nassif et al (2014), sugerem que os níveis séricos baixos de testosterona e outros
andrógenos está intimamente relacionado com as neoplasias mais agressivas na próstata e que
inclusive o teste de dosagem desse andrógeno, juntamente com outros exames e exame clínico, é
fator determinante no diagnóstico da patologia.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta revisão de trabalho científico respondeu aos seus objetivos de discutir a respeito
da oncongênese e pronto-oncogênese, mostrando o início do câncer relacionado com falhas
genéticas e mutações no proto-oncogene, o qual trabalha na regulação do ciclo celular e é chamado
de oncogene após ter sua proliferação e, consequentemente, criação de tumor.
419
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
Objetivo atendido
O objetivo da revisão de literatura que foi atendido, baseado neste artigo, foi o de
relacionar o câncer de próstata com a intervenção dos andrógenos e seus receptores
tanto na próstata normal quanto a maligna.
Neste artigo, além de possuir o objetivo de associar a ação dos androgênios e seus
receptores nucleares específicos, mostra também como o câncer de próstata acontece
geneticamente, os mecanismos moleculares que envolvem os processos de
proliferação, diferenciação e apoptose, assim como os de transformação neoplásica e
carcinogênese.
FernandezEste artigo discute o grande potencial da investigação dos genes de fusão e as
Serra et al
alterações de tumores de próstata que envolve a superexpressão dos genes. Tais
(2011)
fatores relacionam-se com o objetivo da revisão de literatura, pois apresenta aspectos
genéticos dos tumores prostáticos.
Nassif et al
O objetivo deste artigo é mostrar de que forma o uso do PSA e suas formas que
(2014)
aprimoram o diagnóstico clínico e patológico, além de servir como critério para
indicação das biopsias. Desta forma, a relação com a revisão de literatura é citar as
neoplasias na próstata após este diagnóstico.
Fonte: Pedreira; Vasconcelos; Tavares (2015).
n. 01
Referência
CarvalhoSalles e Tajara
(1999)
Brum; Spritzer;
Brentani
(2005)
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum nos homens, ele ocorre
na fase adulta e acomete na maioria das vezes, idosos. É observada grande variabilidade
populacional acometida por essa patologia. A grande parte dos diagnósticos é feita a partir dos
sessenta e cinco anos de idade e este depende da ação dos andrógenos e seus receptores para
manter a proliferação celular tumoral. Andrógeno é o nome dado aos hormônios masculinos que
estimula ou controla o desenvolvimento e manutenção das características masculinas, dentre eles
a di-hidrotestosterona (que regula a próstata) e a testosterona (NASSIF et al, 2014; DINI e KOFF,
2006).
A sinalização androgênica na próstata se dá através do receptor de androgênios (AR),
que também atua como fator de transcrição, sendo capaz de mediar a ativação ou repressão da
transcrição de vários genes, atua na proliferação de células saudáveis como também na proliferação
tumoral quando mutado e assim contribuir para a carcinogênese prostática (o que geralmente ocorre
com certa frequência). Dessa forma, esse receptor apresenta um importante papel na proliferação
e diferenciação de células prostáticas tanto saudáveis como também participa no adoecimento
delas (BRUM; SPRITZER; BRENTANI, 2005).
TABELA 1 – Relação de artigos e objetivos respondidos.
OS DISTÚRBIOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS NA CRIANÇA PELA DESCOBERTA DO
CÂNCER: Revisão Sistemática
THE PSYCHOLOGICAL DISORDERS CAUSED BY THE CHILD CANCER BREAKTHROUGH:
Systematic Review
Pedro Henrique Ferreira Aguiar¹; Vicente De Paula Freire Da Silva Junior¹; Yuri Rigueti Barboza¹; Ana
Carolina Camargo Rocha²; Paulo Roberto Gonçalves Lima²; Albeliggia Barroso Vicentine²; Carlos Eduardo
Bezerra do Amaral Silva².
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO - O câncer infantil é a primeira causa de morte de crianças e adolescentes no Brasil. O
tratamento vem sendo aprimorado de modo a proporcionar a cura da maioria dos casos. Diversos
profissionais atuam no tratamento do câncer entre eles o psicólogo. O presente estudo busca
responder três perguntas: O que é o câncer infantil?; Como o psicólogo hospitalar pode ajudar?;
Quem cuida precisa ser cuidado? As respostas foram encontradas a partir de uma revisão
bibliográfica. O câncer se caracteriza pelo crescimento desordenado de células anormais, seu
tratamento envolve mudanças biológicas, psíquicas e sociais. O psicólogo pode atuar junto à
criança, família e equipe dando suporte para o enfrentamento das implicações do diagnóstico do
câncer infantil. O cuidador enfrenta situações limites diariamente, sendo necessário preparar esses
420
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
INCA - Instituto Nacional do Câncer. Estimativa 2014:
incidência de câncer no Brasil. Disponível em:
<http://www.inca.gov.br/estimativa/2014/sintese-deresultados-comentarios.asp>.
Acessado
em
09/02/2015.
MEZA-JUNCO, Judith; MONTANO-LOZA, Aldo;
AGUAYO-GONZALEZ, Alvaro. Bases moleculares del
cáncer. Rev. invest. clín., México, v. 58, n. 1, p. 56 –
70, 2006.
NASSIF, Aissar. Eduardo; RADAELLI, Moacir Rafael;
LINS; Lucas Fragosos Calheiros; et al. Utilização do
antígeno prostático específico no diagnóstico do
câncer de próstata. BJSCR. v. 5, n. 2, p.17-21, (dez
2013 – fev 2014).
OSPINA PÉREZ, Mariano; MUNETON PENA, Carlos
Mario. Alteraciones del gen c-Myc en la oncogénesis.
Iatreia, Medellín, v. 24, n. 4, p. 389 – 401, 2011.
WARD, Laura Sterian. Entendendo o Processo
Molecular da Tumorigênese. Arq Bras Endocrinol
Metab, São Paulo, v. 46, n. 4, p. 351 – 360, 2002
v. 03
BEST
GUIDES
ONLINE.
Disponível
em:
http://www.bestguidesonline.net/el-cancer-de-prostata/>.
Acessado em: 16/03/2014.
BRUM, Ilma Simoni; SPRITZER, Poli Mara; BRENTANI,
Maria Mitzi. Biologia molecular das neoplasias de próstata.
Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo, v. 49, n. 5, p. 797 –
804, 2005
CARVALHO-SALLES, Andréa B.; TAJARA, Eloiza Helena.
Fatores hormonais e genéticos na próstata normal e
neoplásica. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo, v. 43, n.
3, p. 177 – 185, 1999.
CLARK, Otávio; BOTREL, Tobias Engel; Ayer; REIS, Rodolfo
Borges; et al. Bloqueio androgênico intermitente versus
contínuo no câncer da próstata. Comitê Brasileiro de
Estudos em Uro-Oncologia. 28. ed. São Paulo: Planmark,
p. 01 – 22, 2013.
DINI, Leonardo I.; KOFF, Walter J. Perfil do câncer de próstata
no hospital de clínicas de Porto Alegre. Rev. Assoc. Med.
Bras., São Paulo, v. 52, n. 1, p. 28 - 31, 2006.
FERNANDEZ-SERRA, A.; RUBIO-BRIONES, J.; GARCÍACASADO, Z.; et al. Cáncer de próstata: la revolución de los
genes de fusión. Actas Urol Esp, Madrid, v. 35, n. 7, p. 420 428, 2011.
n. 01
REFERÊNCIAS
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Foi mostrado como o câncer de próstata acontece em seu contexto genético, o qual
ocorre, principalmente nos indivíduos possuintes de alelos mutantes herdados, tal como o P53, o
BCRA1 e o RET.
Está claro a ligação com os andrógenos e seus receptores, tanto na próstata em seu
aspecto fisiológico quanto o patológico. O andrógeno estimula e controla o desenvolvimento e
manutenção das características masculinas, como a testosterona e a di-hidrotestosterona,
relacionada a regulação da próstata. Os receptores desta sinalização androgênica atuam como fator
de transcrição, mediando a repressão ou ativação da transcrição dos genes.
Todos os fatores genéticos foram explicados, a fim de ratificar seus importantes papéis
na diferenciação e proliferação de células da próstata gerando o câncer deste órgão.
421
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
1 INTRODUÇÃO
Câncer é considerado um aglomerado de doenças que têm como característica principal
o desenvolvimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos e os afetam
negativamente, podendo ocorrer metástases para outras regiões do corpo. Geralmente, essas
células mutadas tendem a se multiplicar rápido e incontrolavelmente. O impacto da descoberta do
câncer na infância, na adolescência e para família do paciente tem sido reconhecido; e há
evidências que indicam que o risco de problemas psicológicos, como a depressão, é
aproximadamente duas vezes maior, se comparado ao de crianças sem câncer.
A relação entre depressão e câncer pode levar tanto a uma piora da evolução do quadro
psiquiátrico como da doença em questão, com menor adaptação aos procedimentos médicos
necessários para o tratamento dessa doença, aumento da observação de sintomas físicos
inexplicáveis, além de maior morbidade e mortalidade. A existência dessas ocorrências indicam a
necessidade de uma avaliação adequada dos sintomas depressivos, que podem estar sobrepostos
aos sintomas da patologia clínica.
O câncer na criança geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de
sustentação, diferentemente do quadro em que se encontra as pessoas adultas que adquirem essa
doença, onde as partes afetadas estão relacionadas aos orgãos revestidos pelo tecido epitelial,
principalmente as mamas e os pulmões. Outro fator a ser destacado, diz respeito a resposta do
organismo frente ao tratamento terapéutico, pois uma vez que o câncer infantil é desenvolvido na
fase embrionária, torna-se relativamente mais fácil combater a enfermidade nessa fase do que em
adultos, que geralmente é adquirida por intemédio de fatores externos, como por exemplo
tabagismo, agrotóxicos e exposição da pele a raios solares.
O tradicional tratamento do câncer na infância ocorre por intermédio de metodologias
como Radioterapia e Quimioterapia, que são repletas de efeitos colaterais (Oliveira, 2009). É
relevante destacar também os impactos psicológicos causados pelo diagnóstico da doença na
criança. Primeiramente, a criança, quando descobre essa enfermidade, sofre um grande abalo e
um grande desgaste mental, podendo passar por um caso expressivo de depressão e estresse,
haja visto, os medos que circulam essa doença, principlamente relacionados sobre a perspectiva
de vida. A criança enfrenta a quebra de sua rotina e afazeres, a interrupção das atividades escolares
e a separação de pessoas próximas, pelas limitações que a doença provoca, forçando-a a se
readaptar a nova forma de vida, com hospitalizações frequentes e mudanças no seu corpo.
Posteriormente, analisa-se a situação da família do portador da doença, marcada por
preocupações constantes acerca da patologia, tendo em vista que além do medo de perder o ente
querido, os elevados custos do tratamento do câncer podem prejudicar a base financeira familiar.
Além disso, os familiares, em muitos casos, acabam abrindo mão de horas de sono, vida social e
n. 01
ABSTRACT - Pediatric cancer is the leading cause of death of children and adolescents in Brazil.
The treatment has been improved to provide cure for most cases. Several professionals work in
treating cancer, among them, the psychologist. This study seeks to answer three questions: What is
childhood cancer? How can the hospital psychologist help? Does the caregiver need to be taken
care? The answers were found from a literature review. Cancer is characterized by uncontrolled
growth of abnormal cells, the treatment involves biological, psychological and social changes. The
psychologist can work with the child, family and staff giving support to confront the implications of
the diagnosis of childhood cancer. The caregiver, daily, faces stressful situations, so it is necessary
to prepare these professionals to deal with the suffering from the hospital routine. The work is an
initial investigation and it points to possible directions that can be followed by future researches.
Keywords: Childhood Cancer; Hospital Psychology; Multidisciplinary Treatment.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
profissionais a lidar com o sofrimento da rotina hospitalar. O trabalho tem caráter inicial e aponta
para possíveis direções a serem seguidas por pesquisas futuras.
Palavras-chave: Câncer Infantil; Psicologia Hospitalar; Tratamento Multidisciplinar.
2 METODOLOGIA
Em fevereiro de 2015, foi conduzida uma busca nas bases de dados eletrônicos Bireme,
SciELO e Periódicos CAPES, englobando o período de 1998 a 2013. Foram utilizados os seguintes
descritores extraídos do vocabulário estruturado e trilingue DeCS – Descritores em Ciências da
Saúde: Câncer. Infância. Câncer and Infância. Depressão. Foram encontrados 12 artigos, dentre os
quais 10 foram selecionados por abordar os impactos causados na criança e na família pela
descoberta do câncer assim como os demais trabalhos relacionados aos transtornos depressivos
na criança originados pela descoberta do câncer.
A partir da análise dos 12 artigos, foram identificados 10 que estavam diretamente
relacionados, por meio do desenvolvimento, avaliação, tese, tradução ou discussão aos índices
subjetivos, atendendo aos objetivos de informar a respeito dos impactos psicológicos causados pela
descoberta de um câncer, salientar a importância da família no tratamento cancerígino, analisar os
impactos dessa enfermidade na homeostasia das funções cerebrais e enfatizar a preocupação da
medicina em buscar intervenções que possam minimizar ou evitar problemas de ordem físicoemocional para as crianças. Optou-se por selecionar os artigos confirmados como versões originais
os quais apresentam discussões realizadas por seus autores e a partir de teses validadas para os
impactos do câncer na infância. Consideraram-se os artigos publicados em português, ingles e
espanhol, tendo sido excluídos os estudos publicados nos demais idiomas, assim como aqueles
que disponibilizaram apenas resumos.
A extração de dados dos artigos selecionados foi realizada pelos revisores deste
trabalho, utilizando-se roteiro pré-estruturado.
Foram colhidas as seguintes informações: local onde foi realizado o estudo, ano de
publicação, características dos pacientes assistidos, tipo de diagnósticos aplicados, principais
achados e problemas identificados.
422
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
lazer, para dedicar-se a administração de remédios e a observação de sintomas da criança.
As crianças doentes e os familiares sofrem com intensas variações de sentimentos a
partir do diagnóstico da doença, provocando um intenso desgaste mental e emocional. Um dos
maiores problemas que podem ocorrer devido a esses desgastes está relacionado à depressão,
que afeta as conexões cerebrais. Essa doença é marcada principalmente por anomalias nas
conexões elétricas na parte anterior do lobo frontal do cérebro, o Córtex pré-frontal, responsável
pela regulação do humor, pela capacidade de resolver problemas e pelo controle social.
A ocorrência de casos de câncer no mundo tem aumentado consideravelmente.
Mediante a essa análise observa-se que o câncer infantil possui uma incidência de 150 casos para
cada 1.000.000 de crianças abaixo de 18 anos, representando entre 1% e 3% de todos os cânceres.
Os tipos mais comuns são as leucemias, tumores do sistema nervoso central e linfomas. O precoce
diagnóstico, juntamente com o tratamento adequado, contabilizam aproximadamente cerca de 70%
de cura para essa patologia (INCA, 2011).
Mediante as dificuldades relacionadas a descoberta do câncer na infância,
principalmente no que diz respeito aos conflitos psicológicos, sejam eles na criança ou para os
familiares, torna-se de insofismável relevância enfatizar a importância da família na rotina hospitalar
da criança para, assim, auxiliar positivamente no tratamento do câncer, não apenas dando
exclusividade aos medicamentos, mas também, a toda parte psicológica que envolve as pessoas
que passam por um momento tão delicado de sua vida, que é a descoberta de uma doença grave.
Este texto tem o objetivo de informar a respeito dos impactos psicológicos causados
pela descoberta de um câncer. Salientar a importância da família no tratamento cancerígino.
Analisar os impactos dessa enfermidade na homeostasia das funções cerebrais. Enfatizar a
preocupação da área médica na busca de intervenções que possam minimizar ou evitar problemas
de ordem físico-emocional para as crianças.
QUADRO 1 - Relação entre os objetivos dos autores com os objetivos do artigo científico
Referência
Objetivo
Silva; Melo; Pedrosa
(2013)
Silva; Pires; Nassar
(2002)
Vera et al (2012)
Este estudo teve como objetivo compreender a vivência do pai diante do câncer de
um filho pequeno.
Este estudo teve como objetivo analisar um registro hospitalar de câncer pediátrico.
Este estudo teve como objetivo descrever a experiência operativa e os resultados
423
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
3 RESULTADO E DISCUSSÃO
De acordo com Silva; Melo; Pedrosa
(2013), Silva; Pires; Nassar (2002), Vera et al FIGURA 1 – Bonecas carecas ajudam
crianças no tratamento do
(2012) e Beltrão et al (2007) a incidência de
câncer.
neoplasias malignas infantis representam,
aproximadamente, cerca de 1% a 3% de todos
os
cânceres. Além disso, Silva; Melo; Pedrosa
(2013) e Beltrão et al (2007), possuem ideais
similares no que diz respeito a probabilidade de
cura de crianças com câncer, correspondendo
a,
aproximadamente, 70% de êxito quando o
diagnóstico é realizado de forma precoce e o
tratamento feito em clínicas especializadas
Os autores Vera et al (2012), Silva;
Melo; Pedrosa (2013), Beltrão et al (2007),
Torritesi e Vendrúsculo (1998), Cruvinel e Boruchovitch (2011), Calderaro e Carvalho (2005) e
Cagnin; Liston; Dupas (2004), abordam em seus artigos temáticas semelhantes, referentes a
importância e a relevância do papel familiar durante os tratamentos da patologia em questão e da
amenização dos impactos depressives decorrentes da descoberta do câncer nessa faixa etária.
Torritesi e Vendrúsculo (1998) e Cagnin; Liston; Dupas (2004), relatam os dolorosos
tratamentos em combate a enfermidade, dando ênfase, principalmente, a Quimioterapia e a
Radioterapia. Torritesi e Vendrúsculo (1998) vão um pouco além em suas pesquisas e abordam os
modelos de escalas de avaliação e controle da dor. Além disso, esses autores buscaram verificar a
aplicabilidade dessa metodologia pela área médica em outras situações de dor.
Cagnin; Ferreira; Dupas (2004), retratam em seus artigos científicos a atuação das
células cancerosas, destacando que os tecidos invadidos por esse tipo celular vão perdendo sua
função, uma vez que essas células, na maioria dos casos, são menos especializadas do que os
seus correspondentes normais. Além disso, esses autores enfatizam que essas células podem se
originar em qualquer tipo de tecido humano e em qualquer idade.
Os autores Oliveira; Bandim; Cabral Filho (2009), analisam em seus estudos os quarto
tipos de critérios utilizados para avaliar sintomas depressivos: inclusivo, excludente, etiológica e
substitutiva. Na abordagem inclusiva os sintomas depressivos devem ser contabilizados,
independentemente de poderem ser explicados pela patologia clínica. A abordagem exclusive retira
os sintomas explicáveis pela patologia clínica, mas os critérios variam muito devido serem
significativamente restritivos, gerando diagnósticos falso-negativos. A abordagem etiológica referese ao diagnóstico de depressão definido a partir da inferência que a patologia clínica ocasionou o
quadro de depressão, gerando um diagnostic de baixa confiança. Já a abordagem substitutiva
refere-se a substituir um sintoma físico por um comportamental ou cognitivo.
“No Brasil, o câncer já é a terceira causa de morte por doença entre um e 14 anos, e no
município e Estado de São Paulo é a primeira causa de óbito entre cinco e 14 anos de idade,
excluindo-se as causas externas.” (Rodrigues e Camargo, 2002, p. 29)
Oliveira;
Bandim;
Cabral Filho (2009)
Este estudo teve como objetivo investigar a presença de transtornos depressivos
em crianças portadoras de leucemia linfoide aguda e insufiência renal crônica
terminal.
Rodrigues
e Este estudo teve como objetivo alertar para a necessidade do conhecimento e
Camargo (2003)
investigação dos sinais e sintomas iniciais do câncer infantil, bem como para a
responsabilidade de todos envolvidos no processo do seu diagnóstico precoce a
fim de melhorar os nossos índices de cura.
Fonte: Aguiar; Silva Jr.; Barboza (2015)
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os impactos psicológicos ocasionados pela descoberta do câncer na infância estão
extremamente ligados aos diversos casos depressivos.
Um jovem, ao descobrir que tem essa patologia, passa a ter muitas limitações para a
realização das suas atividades educacionais e recreacionais, muitas vezes, sendo excluído de um
ambiente social.
Nesse momento, torna-se de suma importância o papel familiar para o enfrentamento
desse díficil momento na vida dessa pessoa. Dar apoio, tanto em casa quanto nos diversos
tratamentos doloroso, como é o caso da Radioterapia e da Quimioterapia, tentar aumentar o austral,
não expressando a tristeza pelo temor de perder um ente querido, são algumas das formas que os
pais e os demais familiares podem encontrar para colaborar com o filho ou ente querido a superar
a doença, uma vez que o câncer infantil ainda encontra-se diretamente interligado ao ideal de morte.
Os distúrbios gerados por essa enfermidade vão desde os morfo-fisiológicos até os
impactos psicológicos. As mudanças corporais ocasionadas pela patologia são nítidas,
correspondendo principalmente a queda de cabelo, fadiga, mudança no peso corporal, incluindo a
perda não intencional ou ganho, dificuldade de deglutição, entre outros sintomas. Já os impactos
psicológicos fazem referência principalmente aos casos relacionados a depressão, devido a essa
patologia ocasionar anomalias nas conexões elétricas na parte anterior do lobo frontal do cérebro,
o Córtex pré-frontal, responsável, por exemplo, pela regulação do humor, e interferir na homeostasia
das funções cerebrais.
Por fim, torna-se de suma relevância enfatizar o papel da área médica. Atualmente, a
medicina busca mecanismos para tentar minimizar ou evitar problemas de ordem físico-emocional
para as crianças. Isso colabora significativamente para o tratamento do câncer, uma vez que tentará
minimizar os impactos psicológicos decorrentes dessa enfermidade, que, como citado no parágrafo
anterior, fazem referência aos distúrbios de um porção cerebral.
REFERÊNCIAS
CALDERADO,
R.S.S.;
CARVALHO,
C.V.
Depressão na infância: um estudo exploratório.
Pisicologia em Estudo. Maringá, v. 10, n. 2, p.
181-189. 2005.
CAGNIN, E.R.G.; LISTON, M.N.; DUPAS, G.
Representação social da criança sobre o câncer.
SILVA, L.M.L.; MELO, M.C.B.; PEDROSA, A.D.O.M. A vivência
do pai diante do câncer infantil. Psicologia em Estudo. Maringá,
v. 18, n. 3, p. 541-550, julho/setembro. 2013.
SILVA, D.B.; PIRES, M.M.S.; NASSAR, S.M. Câncer pediátrico:
análise de um registro hospitalar. Jornal de Pediatria.
Florianópolis, v. 78, n. 5, p. 409-414. 2002.
424
Prefixo Editorial: 69629
Este estudo teve como objetivo aprofundar os conhecimentos acerca da assistência
à criança com câncer e desvendar as representações sociais da criança com tal
doença.
ISBN 978-8569629-07-8
Cagnin;
Ferreira;
Dupas (2004)
v. 03
Este estudo teve como objetivo avaliar a
regulação
emocional de crianças com e sem sintomas de depressão.
Este estudo teve como objetivo estudar manifestações depressivas em crianças de
03 a 10 anos de idade, no contexto de creches e saúde pública.
n. 01
Cruvinel
e
Boruchovitch (2011)
Calderado
e
Carvalho (2005)
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Torritesi
e
Vendrúsculo (1998)
do comitê de análises institucionais da mortalidade por leucemia aguda pediátrica.
Este estudo teve como objetivo conhecer a percepção materna frente ao câncer
infantil e as estratégias de enfrentamento em uma unidade pediátrica do Recife.
Este estudo teve como objetivo descrever alguns modelos de avaliação da dor em
crianças.
Beltrão et al (2007)
PARACOCCIDIOIDOMICOSE NA CAVIDADE ORAL
Prefixo Editorial: 69629
v. 03
PARACOCCIDIOIDOMYCOSIS IN ORAL CAVITY
ISBN 978-8569629-07-8
VERA, A.M.; PARDO, C.; DUARTE, M.C.; et al. Análisis de la
mortalidad por leucemia aguda pediátrica en el Instituto Nacional
de Cancerología. Biomédica. Bogotá, D.C., v. 32, n. , p. 355-364.
2012.
BELTRÃO, M.R.L.R.; VASCONCELOS, M.G.L.; PONTES, C.M.;
et al. Câncer infantil: percepções maternas e estratégias de
enfrentamento frente ao diagnóstico. Jornal de Pediatria. Rio de
Janeiro, v. 83, n. 6, p. 562-566. 2007.
TORRITESI, P.; VENDRÚSCULO; D.M.S. A dor na criança com
câncer: modelos de avaliação. Rev.latino-am. Enfermagem.
Ribeirão Preto, v. 6, n. 4, p. 49-55.1998.
CRUVINEL, M.; BORUCHOVITCH, E. Regulação emocional em
crianças com e sem sintomas de depressão. Estudos de
Psicologia. Campinas, v. 16, n. 3, p. 219-226. 2011.
n. 01
Sabrina Da Rocha Sabino Barros; Obede Rodrigues Ferreira; Carina Gosh; Raquel Da Silva Aires2;
Ronyere Olegário de Araujo2; Anne Caroline Dias Neves²
______________________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
Resumo: O fungo vive saprofiticamente em solo úmido, rico em proteínas, a variação de
temperatura é mínima na qual os fungos crescem em forma de micélio, produzindo conídios que
sobrevivem por vários meses. O Brasil está inserido na zona endêmica, ele apresenta as
características climáticas acima descritas e, portanto compatíveis com a prevalência alta de
doenças fúngicas. No presente trabalho, enfatizou a Paracoccidioidomicose na cavidade oral,
pois o conhecimento da Paracoccidioidomicose é de ampla importância para o cirurgião-dentista,
uma vez que a doença apresenta manifestações bucais cuja identificação pode facilitar o
diagnóstico da infecção. Desta forma estudou-se através de revisão de literatura, obtida nos em
bancos de dados disponíveis, artigo aleatório dos últimos dez anos, destacando a lesão fungica
de Paracoccidioidomicose na cavidade bucal. Homens tabagistas, estilistas e trabalhadores do
meio rural estão mais susceptíveis já que o fungo é encontrado no solo. O cirurgião-dentista é
muito importante para o diagnóstico desta doença, pois ela é uma doença sistêmica que
apresenta manifestações de lesões bucais.
Palavras-chave: Paracoccidioidomicose. Cavidade oral. Cirurgião-dentista.
ABSTRACT - The fungus lives saprophyte in moist soil, rich in protein, the temperature variation is
minimal in which the fungi grow in the form of mycelium producing conidia that survive for several
months. Brazil is inserted in the endemic area, it presents the climatic characteristics described
above and therefore compatible with the high prevalence of fungal diseases. In this study,
emphasized the Paracoccidioidomicose in the oral cavity, for knowledge of paracoccidioidomycosis
is wide importance to the dentist, since the disease has oral manifestations whose identification
may facilitate the diagnosis of infection. Thus it was studied through literature review, obtained in in
available databases, random article the last ten years, highlighting the fungal lesions of
paracoccidioidomycosis in the oral cavity. Men smokers, stylists and rural workers are more likely
as the fungus is found in soil. The dentist is very important for the diagnosis of this disease because
it is a systemic disease with manifestations of oral lesions.
Keywords: Paracoccidioidomicose. Oral cavity. Dental surgeon.
1 INTRODUÇÃO
A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma infecção fúngica causada pelo fungo termodimórfico Paracoccidiodes brasiliensis. É notada comumente em pacientes que moram nas regiões
da América do Sul e Central 1. Uma doença infecciosa que significa um sério problema aos países
da América Latina, especialmente para o Brasil 2. Possui predileção pelo sexo masculino,
425
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Rev Esc Enferm USP. São Paulo. n. 38, n. 1, p.
51-60. 2004.
OLIVEIRA, J.; BANDIM, J.M.; CABRAL FILHO,
J.E. Transtornos depressivos em crianças com
leucemia linfoide aguda e com insuficiência renal
crônica terminal/ estudo de série de casos. J Bras
Psiquiatr. Recife, v. 58, n. 3, p. 212-216. 2009.
RODRIGUES, K.E.; CAMARGO, B. Diagnóstico
precoce do câncer infantil: responsabilidade de
todos. Rev Assoc Med Bras. São Paulo, v. 49, v.
1, p. 29-34. 2003.
JORNALEXTRA. Bonecas carecas ajudam
crianças
no
tratamento
do
câncer.
http://cidadeverde.com/boneca-careca-ajudacriancas-no-tratamento-contra-o-cancer-166720
2 OBJETIVOS
Realizar uma revisão de literatura sobre a paracoccidioidomicose, com enfoque nas lesões
da cavidade oral, a fim de orientar o cirurgião-dentista para o seu reconhecimento através do
diagnóstico clínico; Abordar características do agente etiológico; Descrever a lesão fúngica da
paracoccidioidomicose na cavidade oral, bem como suas características clínicas; Ressaltar a
importância do cirurgião-dentista no diagnóstico desta doença.
3 METODOLOGIA
A partir de material já publicados, realizou-se a pesquisa bibliográfica, para fundamentar
este objeto de estudo, contribuindo com elementos que subsidiam a análise futura dos dados
obtidos.
A metodologia do presente trabalho consistiu, em primeiro lugar, em fazer uma revisão
bibliográfica referente ao tema proposto. Artigos científicos sobre o tema foram acessados nas bases
426
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
acometendo em sua maioria pacientes de meia-idade que exercem profissão relacionada ao
manejo do solo. É adquirida nas duas primeiras décadas de vida, por meio da inalação dos
esporos do microrganismo, na forma clínica inicial de uma infecção pulmonar e na cavidade oral
apresenta-se clinicamente com úlceras de aspecto moriforme, difusas e dolorosas 1.
Como micose profunda, apresenta diferentes manifestações clinico patológicas, como
resultado da penetração do fungo no hospedeiro. No adulto, a forma clínica predominante é a
crônica, mas quando acomete crianças ou adolescentes apresenta-se na forma aguda ou
subaguda. Quando não diagnosticada e tratada oportunamente, pode levar as formas
disseminadas graves e letais, com rápido e progressivo envolvimento dos pulmões, tegumento,
gânglios, baço, fígado e órgãos linfóides do tubo digestive 3 e disseminando-se para vários
órgãos e sistemas originando lesões secundárias nas mucosas, nos linfonodos, na pele e nas
glândulas adrenais.
As lesões em mucosa oral, de maior importância para odontologia, são geralmente
precedidas ou acompanhadas por lesões pulmonares. Grande parte desses indivíduos costuma ser
trabalhador rural, que, devido à profissão, permanecem em contato com a terra e vegetais com
maior frequência, sendo os países da América do Sul, como o Brasil considerado endêmico,
devido ao favorecimento climático 4.
O conhecimento da paracoccidioidomicose é de ampla importância para o cirurgiãodentista, uma vez que, a doença apresenta manifestações bucais cuja identificação pode facilitar o
diagnóstico da infecção 5. Assim o presente estudo tem por objetivo realizar uma revisão da
literatura abordando artigos atualizados sobre a paracoccidioidomicose na cavidade oral, seu fator
etiológico, suas características clínicas, como se dá o contágio e a importância do cirurgião-dentista
no diagnóstico desta doença.
A paracoccidioidomicose é uma doença que apresenta lesões na cavidade oral.
Os cirurgiões-dentistas não estão atentos as estas manifestações. Os cirurgiões-dentistas não
estão aptos para o diagnóstico da doença fúngica paracoccidioidomicose.
É de suma importância que o cirurgião-dentista esteja atentos as alterações da
cavidade oral, sabendo como proceder perante as manifestações de doenças, mas também tratar
o paciente como um todo. E quando não souber como proceder, deve encaminhar o paciente
para outro profissional com maior experiência.
A paracoccidioidomicose é uma doença fúngica considerada endêmica no Brasil, devido
ao favorecimento climático. As lesões em mucosa oral, de maior importância para odontologia, são
geralmente precedidas ou acompanhadas por lesões pulmonares. Na forma clínica inicial de uma
infecção pulmonar e na cavidade oral apresenta-se úlceras de aspecto moriformes, difusas e
dolorosas. Diante do exposto, motivou-se a realização deste trabalho.
427
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
4 RESULTADO E DISCUSSÃO
Nesta etapa, a partir do referencial teórico, foram discutidos entre os autores pontos
relevantes sobre o tema.
Em 1908 Adolfo Lutz descreveu pela primeira vez a Paracoccidioidomicose (PCM),
depois de quatro anos, Splendore descreve a morfologia do fungo detalhando quatro casos
acompanhados na Santa Casa de Misericórdia São Paulo. Em 1930, Floriano Paulo de Almeida
nomeou este fungo Paracoccidioides como brasiliensis. Assim, a infecção foi inicialmente chamada
de "incômodo Lutz-Splendore-Almeida". Em 1971 nome Paracoccidioidomicose foi instituído,
persistem até o presente 2.
Adolpho Lutz descreveu pela primeira vez a PCM, ao verificar em lesões bucais de dois
pacientes a existência de fungos de natureza distintas. Lutz descreveu a PCM como uma
doença que se caracterizava por apresentar lesões muito graves, com presença de úlceras que
tomavam conta da boca, destruíam a mucosa gengival, o véu palatino e muito dolorosa, qualificandoa como micose pseudococcídica após identificar seu agente causal, bem como seu modo
característico de reprodução. Ao verificar semelhanças morfológicas com micoses anteriormente
descritas na Argentina e nos Estados Unidos, incluiu-a em um grupo por ele denominado de
hifoblastomicoses americanas 5.
A Paracoccidioidomicose é causada pelo Paracoccidioides brasiliensis 3,6, um fungo da
família Paracoccidioidaceae, pertencente ao gênero Paracoccidioides da especécie
Paracoccidioides brasiliensis na forma de levedura, medindo de 5 a 25 mm de diâmetro, cuja ação
resulta em infecção fúngica sistêmica de alta prevalência no Brasil 3.
No Brasil a PCM é endêmica, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro, e por não ser uma doença de notificação compulsória os dados oficiais sobre
o perfil epidemiológico são restritos, dificultando, assim, a caracterização pormenorizada da
situação atual do país com relação à enfermidade.
O fungo vive saprofiticamente em solo
úmido, rico em proteínas, a variação de temperatura é mínima na qual os fungos crescem em forma
de micélio, produzindo conídios que sobrevivem por vários meses. Os propágulos infectantes
são inalados pelo homem até os alvéolos pulmonares, dando origem a uma infecção subclínica que
pode disseminar para outros órgãos por via linfo-hematogênica 6.
A porta de entrada é o aparelho respiratório por inalação dos esporos do P. brasiliensis
presentes no solo, sendo o pulmão o órgão mais afetado. A infecção crónica com doença pulmonar
severa e evolução para fibrose terminal pode ocorrer mesmo na ausência de sintomatologia
pronunciada. A disseminação a partir de uma lesão pulmonar primária pode afetar outros órgãos,
mais frequentemente a pele e membranas mucosas, mas também as glândulas suprarrenais,
rins, aparelho gastrointestinal, fígado, baço e o sistema nervoso central 8. A Paracoccidioidomicose
também pode ser encontrada como patógeno oportunista em pacientes imunodeprimidos
4
. A primeira via de infecção da PCM é pulmonar, mas é a partir das manifestações bucais que elas
são frequentemente diagnosticadas 6.
A diferenciação das suas diferentes formas e feita em função da idade do paciente,
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
de dados Scielo, Bireme, BVS, Jornalde Pneumologia e LILACS, publicados no últimos 10 anos
(2005 a 2015). Os descritores utilizados foram: paracoccidioidomicose a cavidade oral, importância
do cirurgião- dentista, lesões bucais, manifestações bucais e manifestações clínicas. Para a seleção
das fontes, foram analisadas como critério de inclusão as bibliografias que abordassem a
paracoccidioidomicose geral e bucal e foram excluídos aqueles que não atenderam os temas e
os artigos inferiores a 2005.
Foi realizada uma leitura analítica com a finalidade de ordenar e sumariar os dados
contidos nas fontes, de forma que estas possibilitassem a aquisição de respostas ao problema da
pesquisa.
428
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
manifestações clinicas, forma de apresentação e duração da doença, doenças associadas e fatores
agravantes, estado geral e nutritivo, tele radiografia do tórax, resposta ao teste cutâneo com
paracoccidioidina e níveis séricos de anticorpos antiP. Brasiliensis 9.
A invasão inicial é assintomática, podendo haver manifestações clínicas discretas e
inespecíficas, como astenia, anorexia, febrícula vespertina, até síndrome febril, tosse, hemoptoicos
e dor torácica. Sua regressão total só acontece porque ele fica sob forma adormecida, em linfonodo
ou pulmão. Pode deixar como memória a reação cutânea a paracoccidioidina 9.
Esta forma predomina em crianças e adolescentes, mas podem acometer indivíduos até os
35 anos de idade. Esta forma clínica é diferenciada pela evolução mais rápida, na qual o paciente
geralmente procura o serviço médico entre 4 a 12 semanas de instalação da doença 3. Ela é
debilitante, sobressaindo-se o desenvolvimento de: astenia, anorexia, emagrecimento intenso e
capaz de provocar caquexia; linfonodomegalia difusa, com necrose e supuração, expressando-se
como abscessos cutâneos ou intra-abdominais, fistulas cutâneas com drenagem de material
purulento e áreas cutâneas de ampla destruição (estrófulas); osteomielites; ulcerações intestinais;
hepatesplenomegalia e hipo ou aplasia da medula óssea.
A linfonodomegalia intra-abdominal pode formar massas volumosas que comprimem
estruturas diversas e determinam síndromes clinicas diversas, como obstrução de vias biliares
(colestase), ducto pancreático (pancreatite), ducto torácico (ascite quilosa), ureteres (pielonefrite,
insuficiência renal aguda), intestino (síndrome de má- absorção, abdome agudo). As alterações
mucosas são mais frequentes, que as lesões
pulmonares. Pode ocorrer aumento da
temperatura corpórea, o que representa sinal de gravidade 9.
Apresenta-se principalmente em adultos entre os 30 e 60 anos, predominantemente, do
sexo masculino. A doença progride lentamente, de forma silenciosa, podendo levar anos até que
seja diagnosticada. As manifestações pulmonares estão presentes em 90% dos pacientes. É
chamada de apresentação unifocal quando a micose está restrita a somente um órgão e
apresentação multifocal quando envolve mais de um órgão simultaneamente, sendo pulmões,
mucosas e pele os sítios mais acometidos pela infecção. A avaliação imunológica, se possível,
deverá ser realizada em todas as variedades clínicas e poderá trazer valiosas informações acerca
do prognóstico e da atividade da doença, essenciais para o acompanhamento clínico e controle
de cura da micose. Os critérios de gravidade (leve, moderado e grave) podem auxiliar no
planejamento da terapêutica do paciente. Os critérios de gravidade devem seguir alguns parâmetros
para enquadrar de maneira correta cada doente dentro da classificação (comprometimento do
estado geral, perda de peso, tipo de linfadenopatia supurada ou não e gravidade do envolvimento
pulmonar). As sequelas caracterizam-se pelas manifestações cicatriciais que se seguem ao
tratamento da micose. A mortalidade por PCM é alta, e os estudos apontam a doença como a oitava
causa de óbito entre as doenças infecciosas e parasitárias predominantemente crônicas no
Brasil 3.
Nas manifestações orais, há um crescimento excessivo dos lábios e úlceras dolorosas
isto leva o paciente para uma primeira visita ao dentista ou ao médico. As úlceras são rasas,
geralmente múltiplas, com contornos e bordas irregulares, fundo granulomatoso, coloração amarela
e com pontos vermelhos conhecida como “Estomatite moriforme de Aguiar Pupo", mucosa labial,
mucosa alveolar, gengiva e palate2. As demais mucosas de revestimento, próximo a cavidade
bucal, também podem ser atingidas, incluindo laringe e faringe. A infecção pode invadir o tecido
ósseo da boca, não sendo muito frequente, sendo assim gerando complicações como perfuração
do palato duro quando o fungo se instala na maxilla 10.
O periodonto também pode estar comprometido, o que resulta em mobilidade dentária. As estruturas
das cartilagens nasais e cordas vocais também podem ser afetadas; em geral, os sintomas
pulmonares são inespecíficos (tosse e expectoração) 12.
As úlceras apresenta dor espontânea ou induzida pela mastigação e dificultando a higiene
429
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
oral, e desenvolvendo um efeito significativo saúde do paciente. Manifestações orais causam
muito desconforto aos pacientes e diagnósticos rápidos é fundamental ². As lesões em mucosa
oral, de maior importância para odontologia, são geralmente acompanhadas por lesões
pulmonares 2.4. Acomete geralmente indivíduos do sexo masculino, onde é notável a diferença entre
o sexo masculino e feminino, pode ser justificado devido ao fato de um efeito protetor do hormônio
feminino presente nas mulheres férteis, o beta-estradiol, que inibe a transformação do micélio para
a forma patológica de levedura 4.
A importância do cirurgião-dentista no diagnóstico da PMC, onde o cirurgião-dentista pode
através das características clínicas das lesões bucais, solicitar um diagnóstico diferenciado,
através de uma biopsia incisional, para obter diagnóstico definitivo da PMC, solicitou radiografia do
tórax, que mostrou comprometimento pulmonar com múltiplos pontos radiopacos disperso e
encaminhou o paciente para o infectologista para tratamento. Em seu trabalho ficou claro que o
cirurgião-dentista é importante para o diagnóstico de doenças sistêmicas com manifestações bucais
4
.
O conhecimento da PMC é de grande interesse odontológico, uma vez que, entre suas
manifestações, as lesões orais concorrem para sua caracterização clínica, levando o paciente
procurar o cirurgião-dentista, isto mostra a necessidade de participação do cirurgião-dentista no
diagnóstico e na terapêutica desta micose 11. Avaliação clínica criteriosa e exames complementares,
como citologia esfoliativa e biópsia incisional, são procedimentos de grande valia no diagnóstico
dessa doença 4.
A Paracoccidioidomicose acomete frequentemente indivíduos do sexo masculino, etilistas
crônicos e fumantes com condições precárias de higiene, socioeconômica e nutricional. Grande
parte desses indivíduos costuma ser trabalhador rural que, devido à profissão, permanecem em
contato com a terra e vegetais com maior frequência, sendo os países da América do Sul, como o
Brasil, considerado
endêmico,
devido
ao
favorecimento
climático 4,12. A
4
paracoccidioidomicose não apresenta contágio de homem para homem .
O aumento no número de indivíduos tabagistas e etilistas (ação de consumir bebida
alcoólica de maneira excessiva)
é um fenômeno mundial, a presença de tais hábitos entre
indivíduos com lesões bucais foi identificada entre pacientes portadores de PCM, a prevalência
desses hábitos podem ser explicadas pela diversidade sociocultural do Brasil. A presença de hábitos
tabagista e etilista entre indivíduos com lesões bucais é preocupante, uma vez que estes hábitos
se configuram como importantes fatores de risco à ocorrência do câncer de boca 13. A via primária
de infecção da PCM é pulmonar, mas a doença é frequentemente diagnosticada por manifestações
bucais. As biópsias de lesões bucais de PCM extensas, ulcerativas e dolorosas são pouco comuns
na rotina da odontologia, o que leva muitos casos da micose a serem diagnosticados tardiamen- te,
acarretando em sérios prejuízos ao paciente 6.
As lesões da PCM na mucosa oral de maior importância para odontologia, são geralmente
precedidas ou acompanhadas por lesões pulmonares 2,4. É importante, que o cirurgiãodentista solicite uma radiografia do tórax para avaliar o comprometimento pulmonary 3. Convém
salientar, que para isto, é necessário que o odontólogo esteja atento as alterações na mucosa
bucal, realizando as semiotécnicas apropriadas ou encaminhando o paciente a profissionais
que as façam4.
Na literatura atual tem poucos artigos disponíveis com informações sobre a PCM na
cavidade oral, sendo necessário o ciugião-dentista fazer uma procura detalhada para obter
informações. Este estudo mostrou que a PCM é causada pelo paracoccidioides brasiliensis, cuja
ação resulta em infecção fúngica sistêmica de alta prevalência no Brasil, ela é uma doença
sistêmica com características clinicas na cavidade oral, através de lesões, sendo importante o
cirurgião-dentista saber diagnóstica-la, para um melhor prognóstico.
REFERÊNCIAS
Prefixo Editorial: 69629
n. 01
v. 03
7.
Martinez
R.
"Paracoccidioidomycosis:
the
dimension of the problem of a neglected disease.
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical.
43.4 (2010): 480-480.
8. Armas M., et al. "Paracoccidioidomicose pulmonar:
relato de caso clínico com aspetos em tomografia
computorizada de alta resolução. Revista Portuguesa
de Pneumología.18.4 (2012): 190-193.
9.
Ambrósio AVA, et al. "Paracoccidioidomicose
(doença de Lutz-Splendore- Almeida)-manifestações
clínicas. Revista Médica de Minas Gerais. 24.1 (2014):
67-73.
10. Vieira
EMM,
and
Bianca
Borsatto-Galera.
"Manifestacões clínicas bucais da paracoccidiodomicose.
Revista de Patologia Tropical. 35.1 (2007): 23-30.
11. Verli FD, et al. "Perfil clínico-epidemiológico dos
pacientes
portadores
de paracoccidioidomicose no
Serviço de Estomatologia do Hospital São Lucas da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Rev Soc Bras Med Trop. 38.3 (2005): 234-7.
12. Palmeiro M, Karen C, and Liliane S. Yurgel.
"Paracoccidioidomicose-Revisão da Literatura.Scientia
Medica 15.4 (2005): 274-278.
13. Souza JGS, et al. Análise de hábitos nocivos à saúde
entre pacientes com lesões bucais. Rev Odontol
UNESP.44.2 (2015): 92-98
PERFIL CLÍNICO DOS PACIENTES ACIDENTADOS POR RAIAS
CLINICAL PROFILE OF PATIENTS IN ROUGH STINGRAYS
Geanne Aguiar Rodrigues1, Pryscila F. Lopes Carvalho Lassance1, Raquel da Silva Aires2; Thompson de
Oliveira Turibio²; Carina Scolari Gosch²; Raymundo do Espirito Santo Pedreira²; Andriele Gasparetto²; Tania
Maria Aires Gomes Rocha².
_________________
1 - Acadêmico ITPAC Porto Nacional
2 – Docentes ITPAC Porto Nacional
RESUMO: Introdução - Raias são peixes venenosos que aparentam ser inofensivos, mas quando
se sentem ofendidas acionam seus sistemas próprios de mecanismos de defesa que gira em torno
de sua potente ferroada, na qual dependendo da gravidade e das circunstâncias podem levar
semanas ou até mesmo meses para cicatrizarem ou causar sequelas permanentes. Objetivo Traçar o perfil clínico dos pacientes acidentados por raias. Metodologia - Através de revisão
bibliográfica por meio da base de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online
(MEDLINE) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) foram pesquisados artigos utilizando os
descritores: edema (angioedema), dor (causalgia), necrose (fat necrosis) e veneno (poisons)
isoladamente. Resultados - Dos 42 artigos capturados, 18 foram utilizados, sendo 12 (66,67%)
artigos em português e 6 (33,33%) em inglês. De acordo com a pesquisa, os acidentes aconteceram
430
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
1. Travassos D. C., et al. “Paracoccidioidomicose bucal:
apresentação de um caso clínico e a importância do
acompanhamento. Revista de Odontologia da
UNESP 41. Especial 2 (2012): 0-0.
2. Grando JL, Pérez SML, Fabro LSM, Meurer MI, Rivero
RCE,
Modolo
F.
“Paracoccidioidomicosis:
Manifestaciones orales e implicaciones sistémicas.
Avances em Odontoestomatología. 26.6 (2010): 287293.
3. Shikanai-Yasuda MA, Telles Filho FQ, Mendes RP,
Colombo AL, Moretti ML, e Grupo de Consultores do
Consenso em Paracoccidioidomicose. Consenso em
paracoccidioidomicose.
Revista
da
Sociedade
Brasileira
de
Medicina Tropical, mai-jun, 2006,
39(3):297-310.
4. Batista VES, Silva MM, Matheus G, A Importância do
cirurgião
dentista
no
diagnósticode
paracoccidioidomicose. Revista Odontológica de
Araçatuba, Julho/Dezembro, 2011, v.32, n.2, p. 14-17.
5. Moreira APV. "Paracoccidioidomicose: histórico,
etiologia, epidemiologia, patogênese, formas clínicas,
diagnóstico laboratorial e antígenos.BEPA. Boletim
Epidemiológico Paulista (Online) 5.51 (2008): 11-24.
6. Tolentino ES, et al. "Manifestações bucais
da
paracoccidioidomicose: considerações gerais e
relato de caso." RFO UPF” v.15.n1 (2010): 71-76.
ISBN 978-8569629-07-8
7 CONSIDERAÇÕES FINAL
A Paracoccidioidomicose é uma doença sistêmica e endêmica embora a primeira via de
infecção seja pulmonar, pela inalação de esporos ou partículas do fungo, ela apresenta
características clínicas na cavidade oral muito importante para o seu diagnóstico. O cirurgiãodentista tem um papel fundamental na identificação desta doença, por que, a PCM manifesta na
boca, preocupa o paciente e faz com que ele procure o dentista, por isso é necessário o
embasamento teórico sobre a PCM e outras doenças sistêmicas que tem características clínicas
na cavidade oral.
1 INTRODUÇÃO
A raia é um animal peçonhento que pertence a uma classe de peixe cartilaginosos, que
possuem o aparelho respiratório na parte ventral do corpo. Elas podem ser arredondadas e
achatadas tendo suas nadadeiras peitorais acopladas ao corpo desde o focinho até a margem
anterior das nadadeiras pélvica. O tamanho do animal pode variar de 25 cm de comprimento do
disco a 100 cm largura 1. São dóceis, não personificam ataques aos humanos. No Brasil são poucos
os estudos que tratam dos acidentes causados por raias de água doce, existem documentos de
acidentes com raias nas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Araguaia 2,3.
As raias vivem tanto em água doce como em água salgada, geralmente, as mais venenosas
se encontram em água doce. Dentre as variadas espécies de raias destaca-se a família
Potamotrygonidae. Pressupõe-se que as raias de água doce derivaram de espécies marinhas, com
capacidade habitacional diferenciada, que abrangeram o alto Amazonas há aproximadamente 1523 milhões de anos atrás 4. Em nosso País, as raias marinhas estão distribuídas por toda a costa
do Oceano Atlântico. As raias fluviais estão presentes nos rios Paraná, Paraguai, Araguaia,
Tocantins em alguns rios da região Nordeste, porém, é na Bacia Amazônica onde se encontra o
maior número de espécies 5.
Esse peixe possui de um a três ferrões que estão situados na base da cauda 6. Os ferrões
são estruturas altamente cortante, estirado, derivado de dentículos dérmicos 7, retro serrilhados
duplamente envolvidos por uma bainha tegumentar 8. Quando o animal está em repouso, o ferrão
fica alojado em uma dobra membranosa e imerso em muco, encostado paralelo à cauda. Quando
são vistos e/ou perturbados, as raias movimentam de forma brusca e com violência a cauda e o
ferrão adquirindo posição frequente para atingir a vítima. No momento em que a raia introduz o
ferrão logo ocorre à liberação de toxina causando ferimento dolorido que ocorre a inflamação 5.
Além do ferrão, algumas espécies apresentam dentículos na superfície dorsal do disco e
numerosos tubérculos mineralizados ao longo da cauda. Tais complementos físicos e estruturas
também são capazes de causar envenenamento 9. Assim como outras espécies marinhas, as raias
de água doce apresentam baixa e mínima fecundidade, lento progresso sucessivo para a
maturidade sexual e crescimento lento, são características que tornam os Potamotrigonídeos mais
vulnerável a impactos ambientais 10.
Evento intrigante é que a liberação do veneno no indivíduo lesionado acontece,
provavelmente, no momento que o ferrão dilacera o tegumento envolto a penetração. Agravante a
esse fato são os casos do ferrão quebrar e reter os fragmentos de dentina na ferida, o que possibilita
infecções secundárias por meio da invasão de bactérias do muco e da água onde a raia vive 1,11.
431
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
ABSTRACT: Introduction - The stingrays are poisonous fishes. It have inoffensive appearance,
but when feeling itself offended, sue your systems defense’s mechanism than turn around your sting.
Depending of way, the lesion can disappear at weeks or in months, but it can produce sequel.
Objective - To trace clinical profile of patient hurt. Method - Through bibliographic revision by
means of informations Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e
Scientific Electronic Library Online (SCIELO) were examined articles using the descriptors: edema,
pain, necrosis, poisons e stingrays associated. Results - From 42 articles captured, 18 were using,
being 12 (66,67%) Portuguese articles and 6 (33,33%) in English. According research the accidents
happened in summer in the vespertine period, the victim were men and adult than practiced activities
around the beach, that victims have hard local pain, an initial poisoning and a central necrosis. There
are account of systemic complications like nausea, spew, salivation, profuse sweating, respiratory
depression, muscular fascicle and convulsions. Conclusion - Suggest achieve learning to
investigate the clinical state of stingrays victims to advance efficient treatments.
Key-words: Accidents. Clinical Profile. Stingrays.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
principalmente no verão e no período vespertino, as vítimas ferroadas por raias eram homens e
adultos que praticavam atividades à beira da praia, a maioria destes, apresentaram um quadro de
intensa dor local, desproporcional ao tamanho da lesão, e inicialmente uma fase de envenenamento
seguido de necrose central. Existem também relatos de complicações sistêmicas como náuseas,
vômitos, salivação, sudorese, depressão respiratória, fasciculação muscular e convulsões.
Conclusão - Sugere-se a realização de outros estudos que investiguem de forma mais precisa o
estado clínico dos acidentados por raias para que tratamentos eficientes sejam desenvolvidos.
Palavra chave: Acidentes. Perfil Clínico. Raias.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A concretização deste trabalho deu-se através do método qualitativo, a partir de pesquisas
bibliográficas de caráter exploratório e descritivo, que visa explicar um determinado questionamento
de acordo com o referencial teórico indexado .Por meio da base de dados Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO)
foram pesquisados artigos da literatura médica da língua portuguesa e inglesa que relataram que o
contato direto com o ferrão do animal em relação a vítima causa uma espécie de laceração que faz
com que ocorra edema no contorno da ferida que consiste em um acúmulo anormal de líquido no
compartimento extra-celular intersticial, na maioria das vezes isso faz com que ocorra necrose no
centro da ferida devido as mutação e reações adversas, também ocorre fragilidade do tecido que
traz como consequência uma úlcera profunda com desenvolvimento lento e faz com que a
cicatrização seja dificultada. Utilizando-se os descritores: edema (angioedema), dor (causalgia),
necrose (fatnecrosis) e veneno (poisons) isoladamente.
A primeira escolha dos artigos foi feita a partir das resenhas e a segunda parte através do
artigo na sua totalidade. Foi baseado de artigos autênticos que demonstrassem comprovação
convincente no estudo. Os aspectos éticos e direitos autorais foram respeitados.
3 RESULTADOS
Dos 42 artigos analisados, 18 foram utilizados, sendo 12 (66,67%) artigos em português e
seis (33,33%) em inglês. Dos artigos utilizados sete (38,88%) abordavam a temática biologia da
raia, seis (33,33%) descreviam sobre o veneno, nove (50%) explanavam sobre epidemiologia, sete
432
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Potamotrygon é o gênero que disponibiliza uma cauda basicamente robusta e curta, que geralmente
é mais curta que o comprimento do disco, com ferrões na porção mediodistal 9.
Se forem acidentalmente pisadas e atingidas ou terem suas nadadeiras tocadas, se
assustam e automaticamente acionam seu mecanismo de defesa, girando o corpo por completo e
através de tais movimentos expõem sua cauda ligeiramente e, assim, introduz, o ferrão na pessoa,
causando uma ferida ou laceração. Em sequência, o contato do ferrão com a ferida provoca a
liberação de toxina que diverge em volta da região afetada, reportando um quadro de intensa dor
local, desproporcional ao tamanho da lesão, e inicialmente uma fase de envenenamento seguido
de necrose central 12.
O costume de criar animais marinhos e fluviais aumentou bastante no país nesses últimos
anos e tais fatores associados a riscos não foram esclarecidos nem contra indicado na mesma
proporção. A manipulação de forma inadequada desses animais pode causar traumas de extrema
periculosidade nas mãos, trazendo como consequência diversas complicações como infecções que
ocorre com a presença de fungos e bactérias que se acumulam nas águas ou no substrato de
pedras onde eles são alojados. Algumas bactérias como Aeromas e Vibrio são altamente adquiridas
em contato com a água que possivelmente pode ocorrer infecções gravíssimas levando o paciente
a ter septicemias falências dos órgãos, sistemas, morte e geralmente essas infecções são em
pacientes diabéticos 7,11.
É necessário ter atenção dobrada quando estiver nas partes mais rasas da margem do rio
porque as raias costumam ficar camufladas sob a areia e nesse caso o que fica comprometido são
os pés 11. Destacando que mesmo os peixes mortos na areia, os ferrões que ficam expostos podem
causar acidentes. Já os pescadores ou amadores de plantão devem obrigatoriamente ter bastante
cuidado durante a manipulação dos peixes ao retirar de anzóis, redes ou outras ferramentas de
pescaria, é recomendado sempre utilizar equipamentos apropriados além de luvas grossas,
evitando o contato direto com os peixes e outros animais que em muitos dos casos podem ser
ofensivos e venenosos 13.
O conhecimento do perfil clínico dos acidentes com animais peçonhentos, particularmente
no caso das raias, poderá fornecer subsídios para a compreensão dos processos envolvidos neste
tipo de acidente. Por não ter tratamento específico para as pessoas vítimas desses animais
peçonhentos, a caracterização das feridas, favorece a formulação de protocolos de tratamento.
Portanto, traçar o perfil clínico dos pacientes acidentados por raia é fundamental para
disseminação de terapias eficazes concomitantemente aos programas educativos nas comunidades
de risco com o intuito de prevenir e reduzir o número de acidentes por raias no município portuense.
Para tanto, o objetivo desse estudo é traçar o perfil clínico dos pacientes acidentados por raias
através das análises de artigos.
433
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
(38,88%) pormenorizavam sobre o quadro clínico, cinco (27,77%) detalhavam sobre tratamento,
cinco (27,77%) não estavam disponíveis online e um (5,55%) delineava sobre outros assuntos.
No Brasil, a frequência dos acidentes envolvendo raias é alta e varia com a sazonalidade da
chuva. Na estiagem aumenta o número de acidentes, fato ligado diretamente à redução do volume
de água nos rios e a formação de praias de areia, comumente utilizadas por banhistas para lazer e
aumentando a probabilidade de encontro dos humanos com as raias 11.
Estudos em diversas bacias mostram que a maioria dos acidentes ocorreu à tarde, no verão,
e a maior parte das vítimas era de adultos do sexo masculino que estavam praticando atividades à
beira da praia. As vítimas, normalmente banhistas e pescadores, apresentaram um ferimento ou
laceração irregular nas regiões anatômicas como pés, calcanhares e mãos.
A frequência de lesão nesses membros é decorrida de pisadas acidentais ou toques nas
nadadeiras provocando uma reação defensiva, através da introdução do ferrão da cauda, com
movimentos rápidos e giratórios. Em sequência, o contato do ferrão com a ferida provoca a liberação
de toxina que diverge em volta da região afetada, reportando um quadro de intensa dor local,
desproporcional ao tamanho da lesão, e inicialmente uma fase de envenenamento seguido de
necrose 13.
O contato direto com o ferrão do animal com a vítima causa uma espécie de laceração que
faz com que ocorra eritema e edema no contorno da ferida que consiste em um acumulo anormal
de liquido no compartimento extra-celular intersticial, na maioria das vezes isso faz com que ocorra
necrose no centro da ferida devido as mutações e reações adversas, também ocorre fragilidade do
tecido que traz como consequência uma úlcera profunda com desenvolvimento lento que faz com
que a cicatrização seja dificultada. Após identificar as lesões, deve-se ficar atento ao possível
surgimento de complicações locais posteriores, situações que podem aparecer como consequência
da inflamação. Quando alguma pessoa é vítima de um acidente por raia, o ferrão e o veneno causam
uma laceração que consequentemente leva a uma inflamação. E a necrose geralmente pode ser
intensificada por infecções secundárias causadas por bactérias Gram positivos, sendo as mais
frequentes Pseudomonas, e Staphylococcus 13.
Dentre os diversos sintomas provocados por tais fatores é necessário destacar alguns como
principais sintomas sistêmicos causado nos pacientes, que são náuseas, vômitos, salivação,
sudorese, hipotensão arterial em conjunto com depressão respiratória além de paralisia muscular e
convulsões constantes 13, 14.
Na prática, todo ferimentos ocorridos em meio aquáticos, por menor que seja, deve ser
cuidadosamente lavado com água e sabão com o intuito de tirar uma grande quantidade de microorganismo, fragmentos de ferrões da raia, pedras, areia ou outros materiais no ferimento devem
obrigatoriamente ser retirados. O uso de um anti-séptico como álcool ou iodo pode ser feito após a
lavagem intensiva do ponto acometido. Pequenas inflamações sempre ocorrem após traumas em
ambientes aquáticos, mas se o eritema e o edema não desaparecerem em um ou dois dias ou se
aparecer febre e mal-estar, uma infecção cutânea pode estar se manifestando.
Também é relevante ressaltar que os ferimentos causados por peixes venenosos
apresentam boa melhora com a imersão do ponto comprometido em água quente, mas tolerável,
uma vez que o veneno dos peixes é instável no calor e degenera. Essa medida deve ser aplicada
sempre que a dor for incompatível com o ferimento, sinal adverso de envenenamento 11. É
aconselhado indicar ou aplicar o uso moderado de antibióticos sistêmicos e profilaxia do tétano,
infiltração anestésica local e uso de analgésicos sistêmicos, caso a dor não pare nas primeiras duas
horas 13. Embora seja possível obter o controle do quadro com algumas medidas clínicas, a forma
ideal para neutralizar e amenizar as consequências das ferroadas seria a inativação das toxinas 15.
É necessário prestar atenção onde pisa, quando caminhar pelas praias ou entrar na água.
Mesmo os peixes mortos na areia, os ferrões que ficam expostos podem causar acidentes. Já os
pescadores profissionais ou amadores devem necessariamente tomar cuidado durante o manuseio
e a manipulação dos peixes ao retirar de anzóis, redes ou outras ferramentas de pescaria, é
recomendado sempre utilizar luvas grossas, evitando o contato direto com os peixes que em muitos
casos podem ser venenosos 12.
Problemas adicionais e complementares para a questão dos ferimentos causados por raias
de água doce são os aquaristas, responsáveis pela importação maciça e constante dessas espécies
para a Europa, Japão e Estados Unidos. A falta de informações e comunicação sobre os riscos de
como manter e controlar esses animais em um aquário pode resultar em lesões, às vezes com
consequências muito graves 13.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o presente estudo, a maioria dos acidentes ocorre no período vespertino, na
estação do verão e a maior parte das vítimas é do sexo masculino que estavam praticando
atividades à beira da praia. Os vitimados geralmente são banhistas e pescadores ribeirinhos. Além
disso, algumas pesquisas identificaram agravos à saúde principalmente alterações de
características tais como ferimento ou laceração nas regiões anatômicas como pés, calcanhares e
mãos, dor intensa, náusea, vômitos, sudorese, edema.
É importante que os profissionais de saúde sejam capacitados para o atendimento às vítimas
de acidentes por animais peçonhentos, visto em virtude da gravidade, a atuação do profissional
434
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
v. 03
n. 01
4 DISCUSSÃO
Os estudos incluídos mostraram uma estrutura em que as informações principais
direcionaram entre as características anatômicas das raias, dados epidemiológicos, quadro clínico,
caracterização da ferida e tratamento.
Na literatura consultada foi visível uma gama de informações das características anatômicas
das raias, diagnosticando um estado avançado de conhecimento sobre tais. As fundamentações
teóricas observam dados, ora iniciais, sobre as caraterísticas físicas e acréscimos de conhecimento
sobre a biodiversidade. A biologia das raias são relatadas frequentemente nos artigos consultados
destacando que são peçonhas não agressivas, apenas dotadas de estrutura de defesa,
funcionalmente como elemento hidrodinâmicos a sua movimentação, e ao serem atingidas
personificam o ataque 2.
Os estudos consultados enfocam os espécimes mais frequentes distribuídos espacialmente,
embora em diferentes escalas geográficas, isto é, intercontinentais, entre países e bacias
hidrográficas. Os dados epidemiológicos significativos retratam uma prevalência de ocorrências no
período vespertino, no verão, em banhistas e pescadores. Esses dados podem dar indícios que a
redução do volume das águas dos corpos hídricos reflitam num aumento da densidade espacial, o
que sugere um maior probabilidade de acidentes.
Repetidas vezes os artigos apontam, após a lesão provocada pelo ferrão, sintomas iniciado
por dor desproporcional ao tamanho da ferida, náuseas, sudorese intensa, eritema, edema seguido
de necrose 13. As feridas se dão, em maior parte, nas mãos quando manuseadas sem equipamento
de proteção individual, normalmente pescadores, e a região dos pés e calcanhar aos turistas
desavisados nas áreas de banhos.
O parecer evidente nos materiais consultados são que o tratamento médico é basicamente
sintomático com o uso de analgésicos, antissépticos e antibióticos devido a inexistência de protocolo
específico para as vítimas de raias. Muitos casos são subnotificados pelo fato do uso de tratamento
empírico que por sua vez empregam o uso de água morna, óleos, raízes e outros mais 11. Grande
parte da busca pelo atendimento médico está associada a demora da cicatrização em virtude da
necrose central avançada.
Não existe uma justificativa plausível para produção de antídotos e soros devido o pequeno
número de demandas e casos notificados. Procurar entender como a sabedoria popular enfrenta o
desafio de tratar os acidentes por raias não é tarefa simples. Normalmente, são utilizadas terapias
alternativas para minimização do quadro clínico derivado do acidente 12.
No entanto e ponderando a ausência de protocolo específico faz-se necessário o
treinamento dos profissionais de saúde visto o perigo que podem assumir determinados casos.
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
Acidentes com raias merecem maior atenção das autoridades, destacando que a vítima fica
incapacitada e se afasta do trabalho por semanas ou até mesmo meses, além de poder ficar com
sequelas permanentes. As autoridades e os profissionais de saúde pública deveriam incluir em seus
planejamentos ações que possam vincular e focalizar o tratamento e a notificação epidemiológica
para este tipo de acidente e assim justificar e estimular os órgãos competentes a desenvolverem
ações de educação ambiental, qualificação adequada dos profissionais de saúde no tratamento de
acidentes por raias e estudos que viabilizem a produção de soroterapia adequada e compatível para
tais situações 17.
A maioria dos profissionais que atuam na saúde pública não recebe um treinamento
especifico no decorrer da graduação ou especialização para lidar com situações semelhantes 16.
Merece destaque o profissional enfermeiro que, além de prestar cuidados especializados e de
qualidade a estes pacientes nos serviços de urgências e de internamento 18.
435
Prefixo Editorial: 69629
ISBN 978-8569629-07-8
9
CARRIER, J. C.; PRATT, H. L.; CASTRO, J. I.
Reproductive biology of elasmobranchs. In: CARRIER, J.
C.; MUSICK, J. A.; HEITHAUS, M. R. (Ed.). Biology of
sharks and their relatives. Boca Raton: CRC Press, 2004.
cap. 10, p.269-286.
10
HADDAD JR, Infecções cutâneas e acidentes por
animais traumatizantes e venenosos ocorridos em
aquários comerciais e domésticos no Brasil: descrição de
18 casos e revisão do tema. Anais Brasileiros de
Dermatologia, 79 157-167. 2004.
11
FORSTER, Ottili Carolina. Impacto das arraias
(myliobatiformes: potamotrygonidae) na população
ribeirinha e demais frequentadores do alto curso do
rio paraná e alguns afluentes. n 16 2009.
12
LAMEIRAS, Luiza Varjão; COSTA, Tadeu
Ferreira; SANTOS, Maria Cristina; DUNCAN, Wallice Luiz
Paxiúba. ARRAIAS DE ÁGUA DOCE (Chondrichthyes –
Potamotrygonidae): BIOLOGIA, VENENO E ACIDENTES.
Scientia Amazonia. v. 2, n.3, 14, 2013.
13
FORRESTER, M. B. Pattern of stingray injuries
reported to Texas poison centers from 1998 to 2004.
Human & Experimental Toxicology, v. 24, n. 12, p. 639642,
December
1,
2005.
Doi:
10.1191/0960327105ht566oa.
14
SÁ-OLIVEIRA, J. C.; COSTA, E. A.; PENA, F. P.
S. Acidentes por raias (Potamotrygonidae) em quatro
comunidades da Área de Proteção Ambiental-APA do rio
Curiaú, Macapá-AP. Biota Amazônia, v. 1, n. 2, p. 74-78,
2011.
15
GARRONE NETO, Domingos; UIDA, Sanches,
Virgínia. Atividade e uso de habitat de duas espécies
de arraias (Myliobatiformes: Potamotrygonidae) na
bacia do rio Paraná, sudeste do Brasil. V. 10, n. 1, 2012.
16
HADDAD
JR,
Animais
aquáticos
de
importância médica. Revista da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical v.36: Pg 595,2003.
MESCHIAL WC, MARTINS BF, REIS LM, BALLANI TSL,
BARBOZA
CL,
OLIVEIRA
MLF,
Internações
Hospitalares de Vítimas de Acidentes por Animais
Peçonhentos, Revista da Rede de enfermagem do
Nordeste, Pg 08, 2013
v. 03
1
ROSA, R. S.; CHARVET-ALMEIDA, P.; QUIJADA, C. C.
D. Biology of the South American Potamotrygonid stingrays. In:
CARRIER, J. C.; MUSICK, J. A.; HEITHAUS, M. R. (Ed.). Sharks
and their relatives II: biodiversity, adaptative physiology and
conservation. 1st. United States: CRC Press, 2010. cap.5, p.241286.
2
PARDAL P.P.O. Ictismo por arraia. In: Cardoso JLC,
França FOS, Wen FH, Málaque CM, Haddad Jr V (orgs) Animais
peçonhentos do Brasil: biologia, clínica e terapêutica dos
acidentes. 2ª edição. São Paulo: Editora Sarvier: 2009. p. 523529.
3
AYRES, M., AYRES JÚNIOR, M., AYRES, D. L.;
SANTOS, A. A BIOESTAT – Aplicações estatísticas nas áreas
das ciências biomédicas. Ong Mamiraua. Belém, PA, 2007.
4
FREDERICO, Renata G., FARIAS, Izeni P., ARAÚJO,
Maria Lúcia Góes, ALMEIDA, Patricia Charvet, GOMES, José A.
Alves. Phylogeography and conservation genetics of the
Amazonian freshwater stingrayParatrygonaierebaMüller&Henle,
1841(Chondrichthyes:Potamotrygonidae), 2006.
5
PESQUISA FAPESP: Inovações movida à álcool. São
Paulo: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(fapesp), v. 1, n. 128, out. 2006. Mensal. Veneno de Ferrão de
Arraia Fluvial Provoca Dor, Inchaço e Necrose - Iracema Corso
6
GARRONE NETO, D., HADDAD JR., V. Arraias em rios
da região Sudeste do Brasil: locais de ocorrência e impactos
sobre a população. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical, vol.43 no.1, Uberaba Jan./Feb. 2010.
7
GARRONE NETO, D.; HADDAD JR., V. Acidentes por
raias. In: CARDOSO, J. L. C.; FRANÇA, F. O. S.; WEN, F. H.;
MÁLAQUE, C. M.; HADDAD JR., V. (Ed.). Animais peçonhentos
no Brasil: biologia, clínica e terapêutica dos acidentes. 2nd. São
Paulo, Brasil: Sarvier, 2009. cap. 30, p.295-313.
8
BRUNI, F.M. Avaliação da neutralização de
importantes atividades tóxicas induzidas pelos principais
peixes peçonhentos brasileiros por um soro poliespecífico
produzido em murinos. 2008. 107f. Dissertação (Mestrado em
Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2008.
CARVALHO, M. R.; LOVEJOY, N. R.; ROSA, R. S. Family
potamotrygonidae. In: REIS, R. E.; FERARIS JR., C. J.;
KULLANDER, S. O. (Ed.). Checklist of the freshwater fishes of
South and Central America (CLOFFSCA). 1st. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2003. p.22-29.
n. 01
REFERÊNCIAS
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
capacitado no atendimento pode ser determinante para a melhora do paciente. Dentre os
profissionais de saúde, o enfermeiro, desde que treinado, pode prestar cuidados especializados e
de qualidade a estes pacientes nos serviços hospitalares de urgências e de internamento, além
disso, deve estar apto para elaborar atividades educacionais e de prevenção destes acidentes, nas
regiões onde os ataques de raias são mais frequentes. É importante salienta que o estudo no país
sobre acidentes por raias ainda é excipiente e não há protocolo de tratamento específico e eficaz
para esse tipo de acidente. Sugere-se a realização de outros estudos que investiguem de forma
mais precisa o estado clínico dos acidentados por raias para que tratamentos eficientes sejam
desenvolvidos.
436
COLETÂNEA CIENTIFICA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS: Revisão da Literatura Cientifica
n. 01
v. 03
ISBN 978-8569629-07-8
Prefixo Editorial: 69629