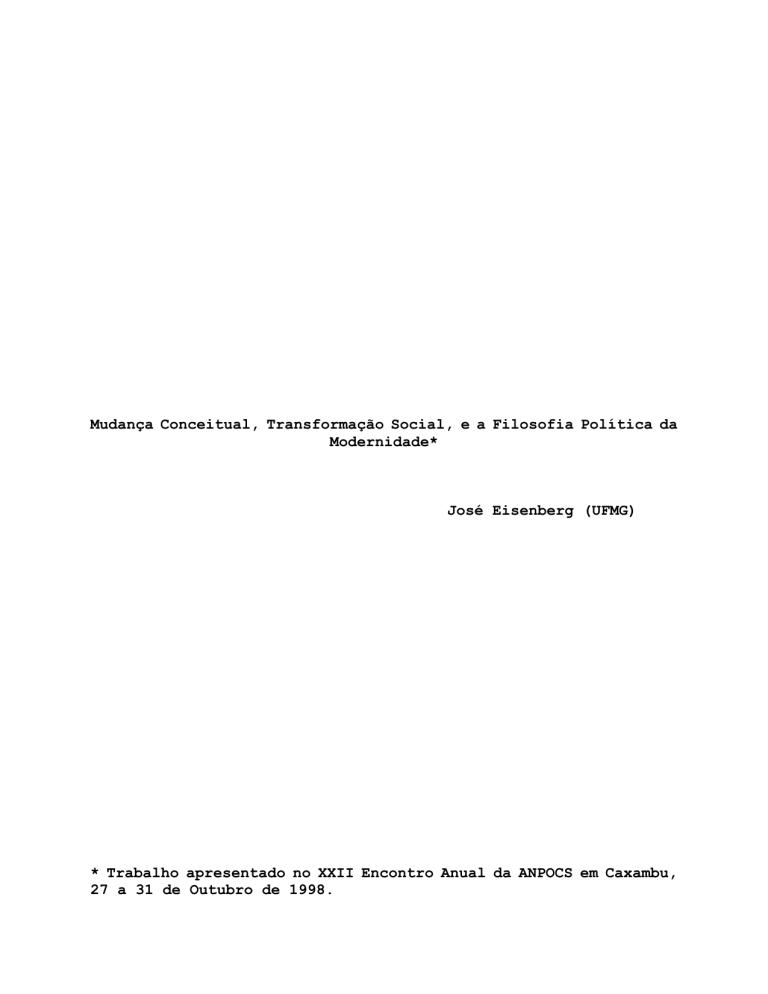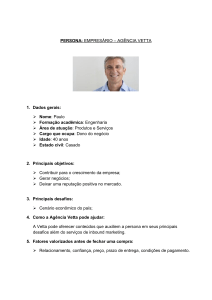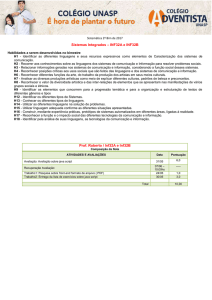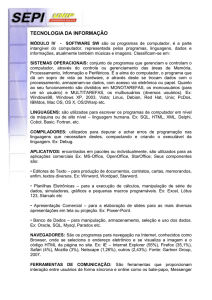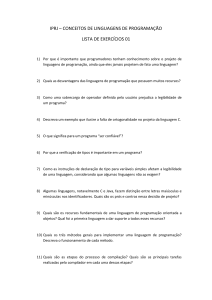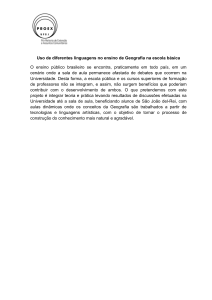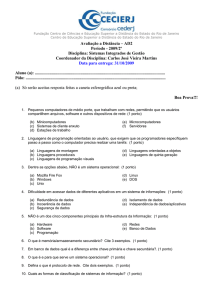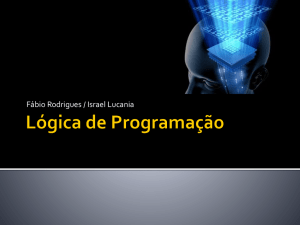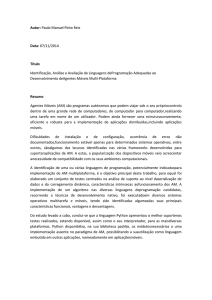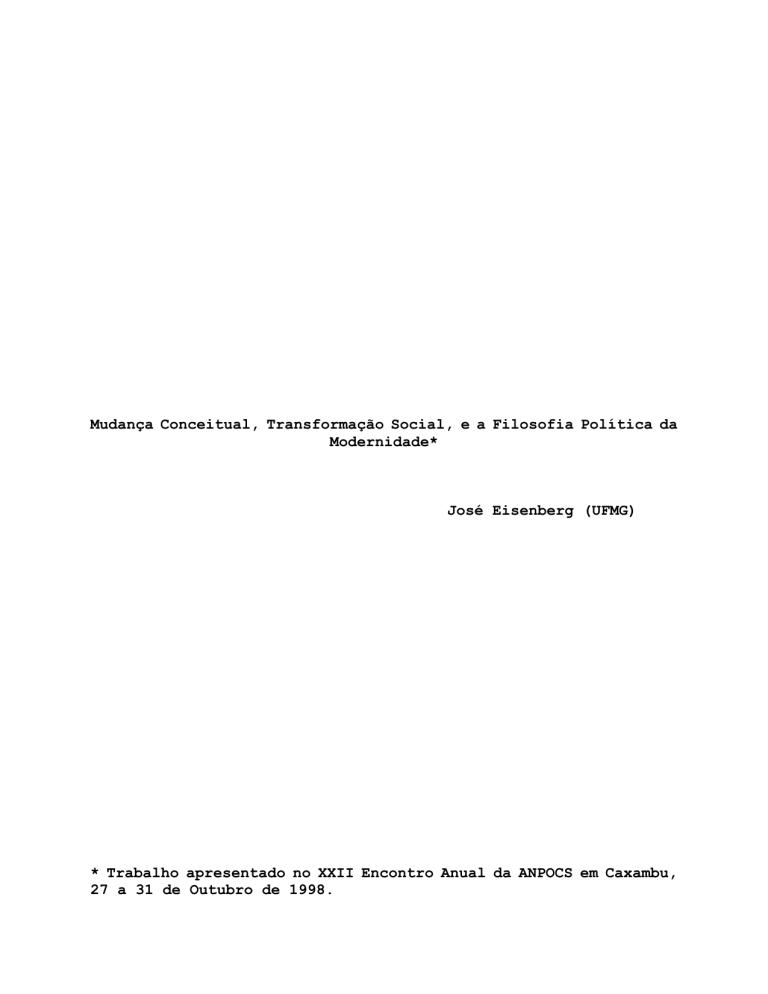
Mudança Conceitual, Transformação Social, e a Filosofia Política da
Modernidade*
José Eisenberg (UFMG)
* Trabalho apresentado no XXII Encontro Anual da ANPOCS em Caxambu,
27 a 31 de Outubro de 1998.
2
“A fé na cultura moderna era triste: era
saber que amanhã ia ser em todo o essencial
igual a hoje, que o progresso consistia só
em avançar com todos os sempres sobre um
caminho idêntico ao que já estava sob nossos
pés. Um caminho assim é a bem dizer uma
prisão que, elástica, se alarga sem nos
libertar.”
(J. Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas)
3
1) Linguagem, Mudança Conceitual e Transformação Social
O objetivo deste trabalho é fazer uma análise sintética da
filosofia política da modernidade para mostrar como a transformação
social é um processo histórico propulsionado não somente por
subjetividades (sejam elas coletivas ou individuais), mas também por
conceitos que periodicamente renovam as formas de justificação e
legitimação das instituições políticas. Mostrarei que, se vivemos uma
crise da modernidade, esta crise é fundamentalmente uma crise
lingüística, isto é, uma crise originária no esgotamento das
linguagens da filosofia política moderna. Presos a dicotomias
conceituais tais como Público e Privado, Estado e Sociedade Civil,
e Estado e Mercado, tornamo-nos incapazes de gerar discursos
inovadores que produzam novas maneiras de instaurar, legitimar e
justificar as instituições políticas.
Nas últimas três décadas, uma nova metodologia para o estudo da
história da filosofia política desenvolveu-se ao redor da expressão
"as linguagens da teoria política.” Inaugurada por Quentin Skinner
e J.G.A. Pocock, esta metodologia se tornou um modo difundido de
analisar tratados de teoria política no contexto histórico no qual
eles foram escritos, e em relação às práticas retóricas das quais eles
emergem.1
Os significados dos argumentos apresentados nestes tratados,
argumentam Skinner e Pocock, não podem ser interpretados sem levar
em conta o desempenho que estes argumentos requerem. Por um lado,
textos de teoria política são escritos em um certo momento da vida
do autor, e assim a intenção do autor é parte necessária desta
interpretação. Por outro lado, não se pode interpretar aqueles
significados sem referência à posição social que o autor ocupa em
relação a sua audiência, e sem referência às linguagens da teoria
Cf. a extensa lista de publicações da série da Cambridge University
Press entitulada ‘Ideas in Context.’
1
4
política com as quais o autor e sua audiência interpretam os eventos
históricos de seu tempo. Este historicismo da metodologia proposta
por Skinner e Pocock produz um contextualismo baseado na dimensão
performativa de teorias e conceitos políticos, conduzindo a uma
valiosa ênfase nas conexões entre as linguagens (ou idiomas) da
política que constituem o contexto do autor, e as mudanças conceituais
que ele realiza na sua obra.
Skinner e Pocock fundamentam sua metodologia na filosofia da
linguagem wittgensteiniana proposta por J.L. Austin nos meados deste
século.
De
acordo
com
Austin,
a
validade
de
toda
assertiva
(speech-act) depende não somente dos significados contidos na própria
locução, resultado de uma articulação entre a semântica e a sintaxe
da proposição proferida, mas também de significados implícitos que
estão para além da proposição proferida. Assim, por exemplo, a
validade (e, consequentemente, o significado) da sentença “Eu ordeno
que você não saia daqui”, depende não somente do significado da oração
coordenada “Eu ordeno” e do significado da oração subordinada “que
você não saia daqui”, mas também da posição social relativa dos
interlocutores, que confere (ou não) autoridade àquele que ordena
para proferir tal comando. Ou seja, quando um filho profere esta
assertiva para seu pai, ela tem validade e significado diferentes de
quando um pai a profere ao seu filho. Portanto, concluem Skinner e
Pocock, entender a validade e significado de filosofias políticas
requer mais do que uma simples interpretação hermenêutica dos textos;
tal compreensão requer também uma análise do contexto social e
lingüístico no qual o texto foi produzido.
Autores trabalhando sob este novo paradigma têm freqüentemente
apontado para a importância de se analisar a constituição política
da linguagem, e dado uma ênfase historicista à importância da
transformação social para a consumação de mudanças conceituais na
filosofia
política.
Ou
seja,
estes
autores
têm
buscado
uma
contextualização da filosofia política nos processos históricos das
quais elas emergem, inserindo a biografia de filósofos e o momento
5
da produção de seus tratados no palco dos conflitos políticos de sua
época. 2 Como aponta James Farr (1989), o enfoque metodológico
prescrito por Skinner e Pocock exige, no entanto, que olhemos também
para a constituição lingüística da política, isto é, para como as
linguagens da filosofia política e as mudanças conceituais nelas
impetradas estruturaram as práticas justificatórias necessariamente
articuladas às instituições políticas. Em suma, se a linguagem é
historicamente condicionada, a história também é linguisticamente
condicionada.3
Em particular, a compreensão de mudanças conceituais requer um
mapeamento de como as substituições e/ou transformações de conceitos
contidas em textos de filosofia política foram produzidas. Em geral,
tais mudanças ocorrem no seio de práticas discursivas que antecedem
a sua aparição em textos teóricos:
...Mudança conceitual [conceptual change] deve ser
entendida como um dos possíveis resultados criativos do
processo pelo qual atores políticos buscam solucionar os
problemas que eles enfrentam ao tentar entender e
transformar o mundo ao seu redor... Teorias, por outro
lado, devem ser entendidas como tentativas intencionais e
racionais de resolver problemas práticos e especulativos
gerados pela interação entre convicções, ações e práticas
políticas.4
Assim, geralmente são atores políticos, e não teóricos, que mudam
conceitos quando agem em determinados contextos institucionais.
Estes atores precisam explicar por que eles escolheram proceder de
2
Ver Skinner 1969, Pocock 1971.
3
Ver Kosseleck 1989, p.649.
Farr 1989, p.33. O termo “mudança conceitual” é mais abrangente e
adequado que o termo “transformação conceitual” já que frequentemente
mudanças conceituais resultam de processos de substituição de um
conceito por outro, sem que incorra sobre estes nenhum tipo de
transformação. Assim, mudança conceitual abrange tanto
transformações conceituais (i.e., mudança interna na semântica de um
conceito), quanto substituições (i.e., a simples substituição de um
conceito por outro).
4
6
uma maneira ou de outra e, neste processo, justificam por que
escolheram se afastar de certas teorias políticas, e as razões que
os levaram a adaptar tais teorias aos problemas práticos que
enfrentam.
Se
queremos
interpretar
teorias
como
práticas
discursivas, portanto, temos que compreender a conexão entre elas e
as
práticas
discursivas
onde
mudanças
conceituais
geralmente
acontecem, isto é, práticas de justificação.5
Esta diferenciação entre a produção de pensamento político
sistemático, e as práticas de justificação que precedem esforços
filosóficos de sistematização não implica em ignorar os momentos
criativo de teóricos, que freqüentemente inovam o pensamento político
em seus tratados. Ela exige, porém, que busquemos respostas para
perguntas sobre a gênese destas mudanças conceituais nas práticas de
justificação que permeiam a vida das instituições políticas.
As unidades de significado que compõem tanto o todo de uma teoria
quanto as práticas de justificação são motivos atribuídos por atores
para suas ações políticas. São raras as ocasiões nas quais atores
políticos podem escolher permanecer calados após agirem, e não
apresentar os motivos que os levaram a determinadas escolhas. Às
vezes, estas justificações assumem a forma de desculpas (escusas)
para interesses; outras vezes, elas assumem a forma de máximas morais
derivadas de visão de mundo. O que sempre separa ação política de
outras formas de ação social, no entanto‚ é o imperativo de
justificação. Justificação pode então ser definida como a assertiva
que todo ator político tem que proferir para atribuir motivos para
suas ações políticas e/ou decisões institucionais, especialmente
quando estes motivos representam um distanciamento ou uma modificação
dos modos de justificação estabelecidos pelas teorias políticas
vigentes num determinado contexto.
Esta necessidade da justificação é a razão central pela qual a
interpretação da transformação social exige uma compreensão de
Para uma interpretação diferente mas convergente deste conceito de
justificação, veja Habermas 1993, cap.1.
5
7
mudanças conceituais. A fundação, reprodução e transformação de
instituições políticas sempre exige práticas de justificação, e as
mudanças conceituais que permeiam estas práticas não são somente um
resultado do processo de transformação social, mas são freqüentemente
sua causa. As linguagens da filosofia política também são agentes da
transformação social.
2) As Linguagens da Filosofia Política da Modernidade
De
acordo
com
Anthony
Pagden
(1987),
três
linguagens
fundamentais pontuam a filosofia política no começo da modernidade.
A primeira destas linguagens surge com o aristotelismo da escola
tomista que ficou conhecida como a seconda scholastica, e é a
referência para o desenvolvimento de boa parte do pensamento jurídico
de Grotius a Pufendorf. Partindo da linguagem do direito natural de
S.Tomás de Aquino, este aristotelismo foi o pilar da doutrina jurídica
do
estado
moderno,
tornando-se
o
principal
alvo
teórico
dos
humanistas do século XVI e dos contratualistas dos dois séculos
subsequentes.
A crítica a esta doutrina jurídica estava fundamentada em uma
segunda linguagem centrada em uma recuperação do republicanismo
clássico. Inspirados pelas obras de moralistas e historiadores
romanos tais como Lívio, Sêneca, e Cícero, filósofos dos mais diversos
de Maquiavel a Rousseau trocam a preocupação dos jusnaturalistas com
a ordenação racional das leis por um enfoque no problema da prática
da política. Colocando os conceitos de virtude e liberdade no centro
da reflexão, estes autores escolhem como eixos para a filosofia
política o problema da ação política dos governantes e o problema dos
mecanismos de legitimação daquela ação junto à sociedade.
A terceira linguagem da filosofia política da modernidade é a
linguagem da economia política. Fundamentada na justificação da
sociedade
mercantil
emergente,
esta
linguagem
produz
uma
interpretação funcionalista do estado, na qual o seu principal
8
objetivo é a reprodução e manutenção do sistema de produção vigente
através de um sistema de administração racional da vida social. Para
Mandeville e Adam Smith, entre outros, a sociedade civil é a esfera
da articulação de interesses privados, não das virtudes cívicas, e
ao estado cabe garantir o funcionamento de sua principal instituição:
o mercado.
Por fim, Pagden lista uma quarta linguagem, mais epistemológica
do que propriamente política, que permeia as outras três.6
Uma das
características fundamentais de boa parte do pensamento político
moderno é a compreensão de a filosofia política
é de certa forma um
empreendimento “científico”. Ora interpretada como um sistema
dedutivo, ora como uma ciência moral (phronesis), as linguagens da
filosofia política moderna se libertam das correntes da justificação
moralista de origem teológica-jurídica. Por um lado, a linguagem do
direito natural vai se positivizando, e o procedimento ganha
prioridade ontológica sobre a substância da graça e vontade divina.
Por outro, a linguagem do republicanismo clássico fundamenta as
virtudes e a legitimidade do exercício da autoridade na razão e na
vontade geral da comunidade, buscando assim um fundamento moral na
nova antropologia empírica do homem natural derivada dos encontros
do novo mundo.
Por fim, a linguagem da economia política, ao reduzir
a ação política à articulação de interesses privados, recusa qualquer
moralização da política que não estivesse fundada na moralidade
natural do mercado.
Acima de tudo, foi esta convergência epistemológica das diversas
linguagens da filosofia política moderna que permitiu o intenso
diálogo entre elas e os diversos sincretismos teóricos que pontuaram
aquele diálogo. Percebe-se, portanto, que apesar das diferentes
apropriações que os “primeiros modernos” fazem das linguagens da
Pagden lista quatro linguagens, mas a última destas linguagens –
a da ciência da política – na verdade é um traço epistemológico comum
às outras três. O estatuto epistemológico desta quarta linguagem nos
induz a pensar que a lista de Pagden deveria se reduzir às três
linguagens discutidas acima.
6
9
filosofia
política
medieval
e
antiga,
as
principais
mudanças
conceituais introduzidas pela filosofia política da modernidade
resultaram de um processo convergente de secularização daquelas
linguagens.7
Mas a convergência entre estas linguagens não se reduz a esta
semelhança epistemológica e à dinâmica de secularização a ela
associada. Uma análise das linguagens do aristotelismo tomista, do
republicanismo clássico e da economia política mostra que elas também
contém mecanismos de justificação convergentes. Apesar de terem sido
aplicadas diferentemente nos contextos histórico-linguísticos em que
foram utilizadas, estas linguagens têm como eixo pares conceituais
– público/privado, estado/sociedade civil, estado/mercado – que
expressam relações análogas.
Em primeiro lugar, estes pares reproduzem um mesmo “imperativo
da representação”, em que a participação na vida da comunidade depende
da pessoa se re-presentar perante os outros membros da comunidade como
persona através de artifícios retórico-jurídicos formalizados por
instituições. Dessa maneira, este imperativo da representação impõe
sobre as pessoas que elas separem o ‘eu’ das práticas cotidianas no
mundo da vida (persona naturalis), do indivíduo das práticas
institucionalizadas que integram a vida da comunidade política
(persona moralis); isto é, o imperativo da representação implica em
uma separação radical entre as práticas discursivas que constituem
a vida cotidiana dos homens e as práticas institucionalizadas que
constituem a sua vida ética.8
Em segundo lugar, estes pares conceituais dividem aquele
universo
das
práticas
institucionalizadas
em
duas
esferas
Os principais autores a traçarem este movimento conceitual de
secularização são Schmitt (1985) e Blumenberg (1983).
7
Cf. Castoriadis 1991, p.144ff. Veja também O. Gierke (1958) para
uma análise do desenvolvimento do conceito de persona ficta na teoria
da corporações da Idade Média.
8
10
complementares que esgotam a vida da comunidade política. Na primeira
esfera, as pessoas se representam como indivíduos (persona moralis
simplex) articulando e adjudicando interesses e virtudes; na segunda,
as pessoas criam uma representação coletiva de suas concepções do
problema da autoridade política, e produzem uma pessoa moral coletiva
(persona moralis composita), ou seja, um soberano. Esta divisão da
vida ética dos homens em duas esferas, que já havia perturbado
Rousseau, Hegel e Marx, manifesta-se de diferentes formas nos pares
conceituais mencionados acima. Em todos eles, no entanto, a divisão
entre a esfera da representação de interesses e virtudes, e a esfera
da produção de uma representação coletiva esgota o universo das
práticas institucionalizadas que constituem a vida política da
comunidade e a vida ética de seus membros.9
A primeira versão destes pares conceituais modernos surge com
a linguagem do aristotelismo tomista que serve de base para boa parte
do jusnaturalismo moderno. Inspirada na dicotomia entre polis e oikos
da doutrina aristotélica, esta linguagem empresta do direito romano
os conceitos de público e privado (publicus/privatus). Todas as
teorias
modernas
do
direito
natural
(seconda
scholastica
seiscentista, Montesquieu, e especialmente os juristas protestantes
de Grotius a Pufendorf) estão baseadas em uma separação radical entre
as coisas que fazem parte da vida privada das pessoas, e aquelas que
são comuns a elas (res publica). Para as coisas privadas, há o direito
privado, governando as relações entre os homens livres; para as coisas
públicas, há o direito público, preocupado fundamentalmente com as
relações entre governantes e súditos. O imperativo da representação,
nesse contexto, implica na utilização de uma categoria fundamental
do direito privado (o conceito de dominium) como alicerce para a
construção da persona do súdito (definido como proprietário de seus
Os termos persona moralis simplex e persona moralis composita foram
utilizados pela primeira vez por Pufendorf. Quando Rousseau descreve
o soberano como “corpo moral e coletivo”, ele tinha em mente
precisamente esta distinção jusnaturalista.
9
11
direitos individuais) e da persona da autoridade política (definida
como dominium politicum).
A
linguagem
do
republicanismo
clássico
que
permeia
o
contratualismo moderno, por outro lado, funda um novo par conceitual,
estado/sociedade civil, cujo objetivo fundamental é legitimar a
autoridade política (isto é, o estado) na articulação formal dos
interesses daqueles que compõem a sociedade civil. Enquanto que na
linguagem do aristotelismo tomista o imperativo da representação
implica em um transporte do conceito de dominium do direito privado
para o direito público, no contratualismo este imperativo implica na
conversão do conceito mercantil do contrato em um instrumento de
legitimação da sociedade civil e do estado. Através de uma operação
que simula o contrato comercial do direito privado, os membros da
sociedade civil são definidos pelos direitos naturais que elas
transferem
(ou não) a um soberano em troca da garantia de paz e
estabilidade, assim como pelos direitos civis a eles concedidos pelo
estado.
Assim, na linguagem do republicanismo clássico, a persona
moralis do cidadão substitue a
persona moralis
do súdito do
aristotelismo tomista, e a persona moralis composita da autoridade
política se converte em um resultado da negociação contratual entre
os cidadãos. No aristotelismo tomista, a persona da autoridade
política também é legitimada pelo consentimento dos súditos, mas as
obrigações do rei e dos súditos não são limitadas por este fato; já
na formulação do republicanismo clássico, o consentimento dos
cidadãos é fator fundante e ao mesmo tempo limitante da persona da
autoridade política.
Por fim, a linguagem da economia política cria o par conceitual
estado/mercado, através do qual a persona moralis do cidadão é
substituída pela persona moralis do proprietário, e a esfera de suas
interações é limitada à articulação de interesses. Dessa maneira, a
instituição do mercado, originária na alta idade média, ascende no
período moderno à posição de organizador das virtudes públicas, e a
12
persona da autoridade política é reduzida às funções de garantia de
sua reprodução.
Ao contrapor o mercado ao estado, portanto, a
economia política minimiza a importância do problema da fundação e
da limitação da autoridade política pelo consentimento humano, e
reduz a sua existência às funções reguladoras e mantenedoras que
garantem a reprodução do mercado.
Vale lembrar que a convergência entre estas linguagens da
filosofia política moderna ao redor do imperativo da representação
e de seus pares respectivos não nos permite ignorar as importantes
diferenças
entre
seus
aparatos
conceituais.
Afinal,
os
pares
conceituais que definem estas linguagens ocupam campos semânticos
significativamente distintos. A convergência entre as linguagens
argumentada acima não se estabelece nesse nível semântico; ela é uma
convergência na operação sintática dos conceitos. Como demonstrado,
eles
têm
funções
semelhantes,
definidas
pelo
imperativo
da
representação, que implica na separação da pessoa do mundo da vida
(persona naturalis) do indivíduo moral que se representa nas
interações políticas da sociedade (persona moralis simplex).
Nas
teorias modernas da legitimidade, é o consentimento daquelas pessoas
que conseguem se representar como indíviduos morais que dá origem à
autoridade política (persona moralis composita).
Vale lembrar também que as linguagens da filosofia política
moderna não atribuem a todas as pessoas a condição de persona moralis,
vide por exemplo a exclusão dos escravos e das mulheres deste
universo. Ao lidar somente com as pessoas que se representam (i.e.,
aqueles que adquirem a condição de persona moralis), estas linguagens
negligenciam a pessoa da vida cotidiana (persona naturalis) em prol
de suas representações em práticas discursivas institucionalizadas.
As pessoas de que falam estas linguagens – o indivíduo moral – são
possuidoras de direitos naturais, de propriedade, e de direitos
políticos; mas sua condição de possuidoras de alguma coisa, na medida
em que depende da sanção da autoridade política para ser legítima e
reconhecida enquanto tal, permanece descolada da condição humana
13
propriamente dita, e do mundo da vida no qual esta condição se converte
em experiência.
É esta convergência das linguagens da filosofia política moderna
que nos permite falar da “filosofia política da modernidade” no
singular. Como vimos, o que caracteriza a filosofia política da
modernidade é uma separação entre a vida cotidiana dos homens (o que
Husserl e, depois Habermas, designaram como “mundo da vida” lebenswelt), e a forma com que estes se representam nas relações
sociais mediadas por instituições. O problema que se coloca,
consequentemente, em vista dos objetivos estabelecidos no começo
deste artigo, é verificar se há algum movimento de mudança conceitual
a partir do século dezenove que justifique argumentos sobre o fim da
modernidade?
Existe
algum
projeto
da
filosofia
política
da
modernidade que supere a unidade lingüística que a permeia? Marx, em
uma frase do Dezoito Brumário tornada célebre pelo título de um livro
de Marshall Berman, preconizou que “tudo que é sólido desmancha no
ar.” Como veremos nas duas sessões a seguir, no entanto, o que é sólido
nem sempre desmancha no ar.
14
3) O Governo Representativo e a Síntese das Linguagens da Filosofia
Política no Século XIX
A virada para o século dezenove é um período de tentativas de
síntese das linguagens da filosofia política moderna. No idealismo
alemão de Kant a Hegel, vemos uma síntese do jusnaturalismo e do
republicanismo clássico que busca universalizar a representação dos
homens em persona moralis, fundando a moral na razão natural, e ao
mesmo tempo fundando o estado numa moral universal resultante desta
razão. Tanto para Kant quanto para Hegel, é somente na medida em que
todos os homens representam-se na forma de persona moralis que se
torna possível deduzir um conjunto mínimo de interesses e de virtudes
universalizáveis. Desta solução deontológica para o imperativo da
representação, surge um liberalismo emancipado das categorias da
economia política, e que funda a legitimidade do estado (persona
moralis composita) na moralidade universalizante do procedimento
formal, no caso do imperativo categórico kantiano, ou numa razão de
estado fundada na vida ética dos cidadãos (Sittlichkeit), no caso da
dialética hegeliana.
Marx, por outro lado, historiciza a interpretação do imperativo
da representação na linguagem da economia política.
Ele critica
aquela linguagem por definir um produto específico e contingente da
modernidade e do avanço da sociedade de mercado – o proprietário –
como sendo o indivíduo moral universal. Para Marx, a linguagem do
republicanismo clássico, da maneira como havia sido apropriada pelos
contratualistas, apenas justifica a formação da autoridade segundo
o modelo da economia política, dando a ela uma ilusória impressão de
universalidade.
Através desta síntese crítica das linguagens do republicanismo
clássico e da economia política, Marx busca definir um projeto de
emancipação humana baseado na superação do homem enquanto cidadão e
na recuperação do homem enquanto homem, que na linguagem marxista
ainda guarda semelhanças com o indivíduo moral da linguagem da
economia política, já que também situa-se no horizonte de uma
15
moralidade do trabalho. Interessante notar, portanto, que enquanto
que as sínteses das linguagens da filosofia política moderna em Kant
e Hegel buscam converter o indivíduo moral do republicanismo clássico
(o
cidadão)
na
categoria
central
para
uma
reconstrução
do
jusnaturalismo, a síntese de Marx quer transformá-lo na categoria
central de uma reconstrução crítica da economia política.
Sob o ponto de vista do “imperativo da representação”, o evento
mais significativo do século dezenove é a emergência do governo
representativo como solução prática para a institucionalização
efetiva da autoridade política enquanto persona moralis composita.
Enquanto que a universalização do indivíduo moral na Europa foi um
processo de transformação social gradual que só é concluído no começo
deste século com a extensão do voto feminino, uma operacionalização
formal do imperativo da representação para a constituição da
autoridade política é formulada ainda no século dezenove. Stuart
Mill, por exemplo, argumenta que o ideal é quando todos os indivíduos
morais participam da administração, mas a impossibilidade prática
desta
solução
para
nações
grandes
implica
que
o
governo
representativo é a melhor maneira de organizar o poder.
É importante lembrar que não é o avanço da democracia que
caracteriza este movimento de mudança conceitual no século dezenove.
Assim como a universalização do indivíduo moral, o avanço da
democracia foi o resultado de transformações sociais que têm raízes
em lutas sociais concretas de ampliação da esfera de representação
dos indivíduos morais. Afinal, a democracia já era um regime conhecido
desde o começo da modernidade; na tipologia clássica das formas de
governo, o governo de muitos sempre foi considerado uma opção em
contraste como o governo de poucos ou de um só. Na medida em que ao
longo do período moderno apenas uma parcela das pessoas representa-se
como persona moralis, a escolha da melhor forma de governo esteve
sempre vinculada a critérios de eficácia administrativa, e não
argumentos morais. A democracia representativa passa a ser um
imperativo formal na formação da autoridade política (persona moralis
16
composita) somente depois da universalização do indivíduo moral no
começo deste século, e das mudanças conceituais que levam a
consolidação do governo representativo.
Com o advento do governo representativo no século dezenove,
surge a necessidade de redefinir o indivíduo moral do republicanismo
clássico, já que a possibilidade do exercício da cidadania depende
da pessoa do mundo da vida estar preparada para o exercício do voto.
Como resposta a este problema, surge no final do século dezenove
aquilo que ficou conhecido como o liberalismo social inglês, por um
lado, e por outro, a social democracia.
Inspirados por Stuart Mill,
liberais ingleses tais como Hobhouse e T.H. Green já demonstram uma
preocupação com a lógica interna do imperativo da representação: para
que a pessoa do mundo da vida se represente como indivíduo moral, é
necessário que ela tenha condições materiais mínimas para o exercício
da liberdade qua cidadania. Concomitantemente, o advento do governo
representativo tem um efeito semelhante sobre o marxismo, ainda que
inverso. O avanço da social democracia no final do século dezenove
está diretamente vinculada a uma crescente confiança nos círculos
marxistas na possibilidade do proletariado chegar ao poder através
dos mecanismos institucionais de representação política.
Neste contexto, as teorias do welfare state do século vinte
aparecem como uma grande síntese das linguagens do republicanismo
clássico e da economia política que acomoda, ao mesmo tempo, tanto
liberais quanto marxistas. As relações sociais ancoradas na estrutura
de classe são juridificadas e a autoridade política, enquanto persona
moralis composita, apesar de ainda interpretada como resultado da
articulação
dos
indivíduos
morais,
passa
a
ter
funções
na
administração do mundo da vida.10
Esta ampliação das obrigações da autoridade política para com a
organização do mundo da vida e com as condições materiais para o
exercício da cidadania é o objeto da crítica de Weber (1978) na
Sociologia do Direito, segundo o qual esta ampliação levou a uma
excessiva juridificação e invasão de reivindicações substantivas na
esfera do direito público. Para ele, este processo implica em uma
10
17
4) A Reemergência da Sociedade Civil: As Linguagens da Filosofia
Política Contemporânea e a Crise da Modernidade
A
conseqüência
mais
imediata
da
consolidação
do
governo
representativo e do welfare state é o estabelecimento de uma hegemonia
ao redor do par conceitual proveniente da economia política Estado/mercado. Sustentada por uma justificação schumpeteriana
baseada na convergência teórica entre os mecanismos competitivos de
formação da vontade geral no sistema partidário, e os mecanismos
competitivos de alocação de recursos no mercado, a democracia
representativa se torna o veículo de articulação dos interesses
privados dos agentes do mercado, relegando para um segundo plano,
portanto, a articulação e representação das virtudes que caracteriza
o conceito de cidadania derivado do republicanismo clássico.
Logo
após
a
segunda
guerra,
as
teorias
da
democracia
encontram-se imersas em um paradigma pluralista que advoga o valor
normativo da democracia como processo institucional de formação da
persona moralis composita, mas que reduz este processo à articulação
dos interesses de persona moralis simplex definidos nos termos
estabelecidos pela linguagem da economia política. De acordo com
aquele paradigma, uma sociedade mercantil, complexa e plural, em que
a dinâmica fundamental da política está voltada para a acomodação de
interesses divergentes, requer os mecanismos formais da democracia
representativa para a produção de consensos.
Verifica-se,
portanto,
uma
importante
rearticulação
da
filosofia política da modernidade neste século. Alterados pelos
movimentos de síntese do século dezenove, os pares conceituais
público/privado, estado/sociedade civil e estado/mercado ganham
novas conotações. Em primeiro lugar, ocorre um desmantelamento das
fronteiras entre público e privado que definiam a linguagem do
crescente perda de legitimidade do procedimento formal.
18
aristotelismo tomista. O conceito jurídico de público perde o seu
sentido
mais
imediato
na
medida
em
que
inúmeras
demandas
tradicionalmente vinculadas ao direito privado passam a ser objeto
da gerência da autoridade política sob o welfare state.11 Em segundo
lugar, na medida em que se universaliza o imperativo da representação
e toda pessoa passa a ter um indivíduo moral correspondente, o
conceito de sociedade civil do republicanismo clássico, definido como
a esfera da articulação das virtudes e dos interesses do cidadão,
torna-se efetivamente a esfera da articulação dos interesses das
pessoas que habitam o mundo da vida. Estas mudanças conceituais
associadas aos termos “público” e “sociedade civil” são, sem dúvida,
as mudanças conceituais mais importantes nas linguagens da filosofia
política deste século.
Partindo de uma crítica da razão funcionalista, e tendo como
referência os trabalhos de Habermas, um grupo de intelectuais vem
buscando reconstruir estes conceitos de sociedade civil e de esfera
pública com o objetivo de substituir o par conceitual estado/mercado,
por uma tríade – estado/sociedade civil/mercado – que permita
compreender
a
proliferação
contemporânea
de
persona
moralis
composita para além do estado. De acordo com estes autores, entre os
quais destacam-se Andrew Arato e Jean Cohen, estas novas instituições
políticas recuperam uma dimensão da vida social relacionada ao
exercício da cidadania, cujas funções de integração social e
racionalização do mundo da vida não podem ser exercidas plenamente
nem pelas instituições do estado nem pelo mercado. Dessa maneira,
argumentam Arato e Cohen (1989), o conceito de sociedade civil deve
ser reconstruído para designar o nível institucional do mundo da vida:
este conceito incluiria todas as formas institucionais e
associativas que requerem interação comunicativa para a
sua reprodução e que se apoiam primordialmente em processos
de integração social para coordenar ações dentro de seus
limites.12
11
Habermas 1989.
12
Arato e Cohen 1989, p.429.
19
Ou, como define Habermas (1996), a sociedade civil é um complexo
institucional
composto
de
“conexões
não-governamentais
e
não-econômicas e associações voluntárias que ancoram as estruturas
comunicativas da esfera pública.”13
Na construção de uma crítica ao par conceitual estado/mercado
que emerge como hegemônico nas linguagens da filosofia política deste
século, Habermas e seus seguidores propõem que substituamos aquele
par pela tríade estado/mercado/sociedade civil para abarcarmos
analiticamente aquelas instituições sociais que não estão vinculadas
ao estado e/ou ao mercado, isto é, outras personae moralis compositae
que não o estado. A inspiração tocquevilleana deste conceito de
sociedade civil é evidente. Assim como Tocqueville, aqueles que hoje
defendem a importância de se valorizar as instituições e associações
voluntárias da esfera pública têm em mente a produção de mecanismos
que permitam proteger comunidades dos perigos do despotismo. É
precisamente por este motivo que as transições democráticas da
história recente de países da América Latina e da Europa Oriental e
Austral são utilizadas para por estes autores como evidência empírica
para a necessidade normativa de se valorizar este novo conceito de
sociedade civil. A reemergência da sociedade civil é um fator
determinante na democratização daqueles países.14
Este projeto habermasiano está associado, portanto, a um esforço
de complementar as instituições da democracia representativa com
mecanismos institucionalizados de participação política. Ao mesmo
tempo
em
que
o
welfare
state
juridifica
conflitos
sociais
provenientes do mercado, ele sepulta os espaços de articulação da
virtudes em nome de um império dos interesses privados representados
através dos mecanismos institucionais da democracia representativa.
13
Habermas 1996, p.366.
Para uma discussão das transições democráticas na América Latina
sob o ponto de vista da teoria habermasiana da reemergência da
14
20
A intersubjetividade e as funções de racionalização do mundo da vida
associados ao conceito de sociedade civil buscam, nesse contexto,
recriar uma esfera de articulação das virtudes nos termos do
republicanismo clássico, sendo que, nesta teoria habermasiana, o bem
comum é fragmentado em múltiplos bens parciais. Daí deriva o caráter
dual das instituições da sociedade civil. Por um lado, elas visam
produzir novas demandas nas instituições do mercado e do estado,
funcionando como um instrumento para influenciar a dinâmica da
representação dos interesses destas instituições. Por outro lado, ela
são auto-referenciadas na constituição de intersubjetividades,
buscando recuperar um conceito de cidadania centrado na participação
política.15
Como apontam Arato e Cohen, a consumação do primeiro objetivo
requer uma estrutura básica e mínima de direitos fundamentais que
garantam e estabilizem as instituições da sociedade civil. Estes
direitos caem em três campos: reprodução cultural (liberdades de
pensamento, expressão, imprensa, e comunicação em geral), integração
social (liberdade de associação e assembléia), e socialização
(proteção da privacidade, intimidade, e inviolabilidade da pessoa).
A consumação do segundo objetivo, por sua vez, pressupõe um pluralismo
de formas de vida que tem a capacidade e a vitalidade para
constantemente renovar as identidades instituídas na sociedade
civil, e reproduzir por conseguinte, sua autonomia perante o estado
e o mercado.16
Mas, como reconhecem até mesmo aqueles que propõem esta expansão
da vida política para além do mercado e do estado, a capacidade das
instituições da sociedade civil de assegurar estes dois objetivos é
limitada. Do ponto de vista da intervenção nas outras esferas da vida
social,
as
instituições
da
sociedade
sociedade civil, veja Avritzer (1996).
15
Habermas 1996, p.369ff.
16
Arato e Cohen 1989, p.441.
civil
podem
no
máximo
21
influenciar, nunca de fato de apoderar, dos processos decisórios dos
agentes do estado ou do mercado. Como estas instituições nunca
adquirem poder político ou poder econômico propriamente ditos, sua
ação social é mais efetiva no que tange a transformação das próprias
identidade
que
as
constituem.
É
precisamente
este
caráter
autoreferencial do poder das instituições da sociedade civil que
levou Arato e Cohen a definirem os projetos delas como utopias
auto-limitadas.17
O horizonte normativo sobre o qual Habermas e seus seguidores
sobrepõem a teoria da reemergência da sociedade civil consiste de uma
reconstrução wittgensteiniana dos conceitos kantianos do “reino dos
fins” e do “imperativo categórico.” Para Kant, o reino dos fins é
aquela situação ideal na qual o imperativo categórico é aceito
universalmente. A construção habermasiana da situação ideal do
discurso simula o reino dos fins kantiano na medida em que também
propõe esta situação como uma transcendentalização dos requisitos
necessários para um consenso racional.
Existe, evidentemente, uma diferença crucial entre estes dois
modelos, que consiste no fato de que, no imperativo categórico de
Kant, as condições para a validade de leis morais e sua conversão em
máximas éticas dependem de um esforço de universalização de um
indivíduo que se reduz a examinar isoladamente se outros indivíduos
racionalmente desejariam as mesmas leis. Já no modelo habermasiano,
as condições para a universalização da validade de leis morais depende
de um diálogo efetivo entre os indivíduos, isto é, da experiência
intersubjetiva concreta. Para Kant, máximas éticas são produzidas em
um esforço especulativo da razão prática movida por intenções; para
Habermas, estas máximas são produzidas em um esforço pragmático da
razão prática engajada em ação comunicativa. Logo, Habermas opera uma
separação da vida ética do “eu” moral e da vida moral do “eu”
espontâneo que é análoga à separação entre legalidade e moralidade
17
idem.
22
em Kant. O horizonte da situação ideal de discurso, que garante que
as pessoas ajam comunicativamente, e não estrategicamente, performa
o mesmo papel que o horizonte do reinos dos fins exerce no sentido
de garantir a universalidade e generalidade formais das leis do
estado.18
Mas quem são os indivíduos da ação comunicativa? Quem são os
indivíduos morais (persona moralis simplex) da teoria habermasiana?
Habermas busca uma definição dos agentes sociais de sua teoria da ação
comunicativa na psicologia social de G.H. Mead.19 De acordo com Mead,
este
indivíduo
moral
é
constituído
intersubjetivamente;
a
individuação ocorre através da socialização. Nas interações sociais,
o “eu” espontâneo (I) funda o “eu” moral (me) quando ele percebe em
contextos comunicativos o significado que os outros atribuem às suas
ações. Como aponta Bernstein (1995), esta distinção é reminescente
da clivagem entre amour-de-soi e amour-propre em Rousseau. O primeiro
termo designa a auto-estima natural da pessoa, e antecede assim
qualquer interação social; já o segundo termo equivale ao “eu” moral
de Mead, mediado pela sociabilidade e contendo, portanto, os
significados moralizados atribuídos à individualidade pelo coletivo.
A concepção habermasiana das instituições da sociedade civil
como racionalizações do mundo da vida requer, consequentemente, um
duplo movimento na construção de intersubjetividades. Por um lado,
quando o “eu” espontâneo se projeta comunicativamente no coletivo em
formação, ele forma o seu “eu” moral; por outro lado, o “eu” moral
constituído dessa maneira identifica as normas do coletivo instituído
como sendo normas autoimpostas, já que aquele “eu” moral resultou do
próprio processo de instituição do coletivo.
Eis como surge o
princípio de identidade coletiva que opera nas instituições da
sociedade civil.
18
Cf. Thomas McCarthy 1992.
19
Habermas 1992.
23
Podemos
identificar
três
problemas
quando
analisamos
as
mudanças conceituais perpetradas pelos teóricos da reemergência da
sociedade
civil.
republicanismo
Primeiro,
clássico
a
recuperação
através
da
da
tríade
linguagem
do
conceitual
estado/mercado/sociedade civil engendra somente uma proliferação de
personae moralis compositae para além do estado. Neste modelo
tripartite, na medida em que as instituições da sociedade civil buscam
influenciar a dinâmica do poder na esfera do estado ou do mercado,
elas precisam se representar como articulações de interesses, e não
das
virtudes
que
definem
sua
identidade
intersubjetiva.
Por
conseguinte, ao abdicar de uma concepção unificada do bem comum em
favor de utopias auto-limitadas e, portanto, fragmentadas, estas
instituições em última instância reproduzem o modelo implícito na
linguagem da economia política, na qual a articulação dos interesses
é o fator constitutivo das personae moralis compositae. Elas não
superam, consequentemente, o modelo pluralista de democracia que
resultou do império daquela linguagem.
Segundo, como apontou Sousa Santos (1995), na versão do discurso
dominante, a reemergência da sociedade civil resulta apenas em um
“reajustamento estrutural” das funções do welfare state, no qual a
juridificação das questões do mundo da vida e a intervenção do estado
em sua gerência é parcialmente substituída por um intervencionismo
bicéfalo, mais autoritário face aos subalternos, e mais diligente no
atendimento das exigências dos dominantes. Mesmo que o núcleo genuíno
desta reemergência da sociedade civil tenha em mente a reafirmação
de valores de autogoverno e de utopias auto-limitadas, esse núcleo
tende a ser omitido no discurso dominante.20
Finalmente, da mesma maneira com que as pessoas se representam
como indivíduos morais para formar o estado na linguagens da filosofia
política moderna, na linguagem da teoria da ação comunicativa, as
pessoas se representam como indivíduos morais para formar as
20
Sousa Santos 1995, p.124.
24
instituições da sociedade civil. Esta persistência do imperativo da
representação na teoria habermasiana fica evidente quando posta a luz
do referencial kantiano que a orienta. O fato de que os indivíduos
morais
são
constituídos
intersubjetivamente
não
contorna
o
imperativo da representação porque participação, definida desta
maneira, não constitui nada mais do que representação, não no sentido
de governo representativo, ao qual o termo evidentemente se opõe, mas
no sentido dado ao termo no “imperativo da representação”: participar
é somente se representar. A teoria habermasiana ainda depende de um
momento artificial no qual o “eu” espontâneo (persona naturalis)
converte-se em um “eu” moral (persona moralis simplex), e é somente
este último quem participa da formação e reprodução das instituições
da sociedade civil.
5) Conclusão
O imperativo da representação opera de diversas formas nos
momentos da história das linguagens da filosofia política moderna
discutidos até aqui: funda uma nova teoria da legitimação pelo
consentimento na linguagem do aristotelismo tomista do começo da era
moderna, causa uma expansão do universo daqueles que se representam
como indivíduos morais na linguagem do republicanismo clássico que
permeia o contratualismo, restringe a esfera representada à um
mercado de articulação dos interesses na linguagem da economia
política e, por fim, permite a universalização do indivíduo moral nas
grandes sínteses do século dezenove.
O
principal
desafio
da
filosofia
política
contemporânea
consiste em encontrar uma alternativa ao império da articulação de
interesses sob os instrumentos da democracia representativa, tal qual
definida na reinterpretação schumpeteriana da linguagem da economia
política. A solução lingüística para esta crise proposta pelos
teóricos da reemergência da sociedade civil – a transformação do par
conceitual
estado/mercado
em
uma
tríade
estado/sociedade
25
civil/mercado – defende uma ampliação dos mecanismos institucionais
de participação política.
No entanto, na medida em que a relação das
instituições da sociedade civil para com o Estado permanecem
definidas em termos de articulação de interesses, permanecemos sob
o
império
da
linguagem
da
economia
política
e
da
síntese
schumpeteriana que a sustenta hoje em dia. As instituições da
sociedade civil não resolvem o problema da reconstrução de uma esfera
de articulacão das virtudes. Ou seja, o imperativo da representação
sobrevive até mesmo na teoria habermasiana.
A contribuição que espero que este trabalho tenha feito é
ilustrar a importância de voltarmos nossa atenção para as linguagens
da filosofia política que justificam as práticas políticas de agentes
sociais se desejamos compreender processos de transformação social.
Se
vivemos uma crise da modernidade, esta crise é fundamentalmente
uma crise lingüística, resultado de um esgotamento das linguagens da
filosofia política moderna. Em particular, esta crise é resultado da
perenidade daquilo que chamei de “o imperativo da representação”, um
elemento comum à sintaxe de todas aquelas linguagens e aos pares
conceituais que as sustentam.
Como notou Ortega y Gasset, o caminho da modernidade é como uma
prisão elástica, que se alarga sem nos libertar. Por mais que muitos
tentem nos persuadir de que a modernidade está próxima de seu fim,
na medida em que continuamos presos às linguagens de sua filosofia
política,
e
ao
imperativo
da
representação
que
as
permeia,
continuamos vivendo a modernidade. Ainda não aprendemos nenhuma nova
maneira de fazer política que não seja nos representando como persona
moralis simplex, isto é, como indivíduos, e construindo persona
moralis composita, isto é, corpos morais e coletivos que nos
representem e que nos permitam exercer nossa autonomia. Nesse
sentido, a crise da modernidade é uma crise lingüística que cristaliza
o quão elástica é esta prisão em que nos acostumamos a viver. Seremos
modernos enquanto falarmos as linguagens da filosofia política
moderna.
E
só
aprenderemos
a
falar
novas
linguagens
quando
26
entendermos que a transformação social é um processo histórico
propulsionado
não
somente
por
subjetividades,
mas
também
por
conceitos que periodicamente renovam as formas de justificação e
legitimação das instituições políticas.
27
Referências:
Arato, Andrew e Jean Cohen (1992), Civil Society and Political Theory,
Cambridge, MIT Press.
Avritzer, Leonardo (1996), Moralidade e Democracia, São Paulo e Belo
Horizonte, Eds. Perspectiva e UFMG.
Bernstein, J.M. (1995), Recovering Ethical Life: Jürgen Habermas and
the future of Critical Theory, London and New York, Routledge.
Blumenberg, Hans (1983), The Legitimacy of the Modern Age, Cambridge,
MIT Press.
Castoriadis, Cornelius (1991), Philosophy, Politics, Autonomy:
Essays in Political Philosophy, Oxford, Oxford University
Press.
Farr, James (1989), “Understanding conceptual change politically,”
in T.Ball, J.Farr, and R.L.Hanson, eds., Political Innovation
and Conceptual Change, Cambridge, Cambridge University Press.
Giddens, Anthony (1991), Modernity and Self-Identity: Self and
Society in the Late Modern Age, Stanford, Stanford University
Press.
Gierke, Otto (1958), Natural Law and the Theory of Society (1500
-1800), Cambridge, Cambridge University Press.
Habermas, Jürgen (1987), The Theory of Communicative Action, 2 vols.,
Boston, Beacon Press.
(1993), Justification and Application, Boston, MIT Press.
(1992), Postmetaphysical Thinking, Boston, MIT Press.
________________ (1996), Betweens Facts and Norms, Cambridge, MIT
Press.
Kosseleck, Reinhart (1989), “Linguistic Change and the History of
Events”, Journal of Modern History, vol. 61.
McCarthy, Thomas (1992), “Practical Discourse: on the Relation of
Morality to Politics” in Calhoun, Craig (ed.), Habermas and the
Public Sphere, Boston, MIT Press.
Pagden, Anthony (ed.) (1987), The Languages of Political Theory in
Early-Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press.
28
Pocock, J.G.A. (1971), Politics, Language and Time, New York,
Atheneum.
Schmitt, Carl (1985), Political Theology, Cambridge, MIT Press.
Skinner, Quentin (1969), "Meaning and Understanding in the History
of Ideas" in History and Theory, vol. 8.
Sousa Santos, Boaventura (1995), Pela Mão de Alice: o social e o
político na pós-modernidade, São Paulo, Cortez Editora.
Weber, Max (1978), Economia e Sociedade, vol. 2, Berkeley, Univ. of
California Press.