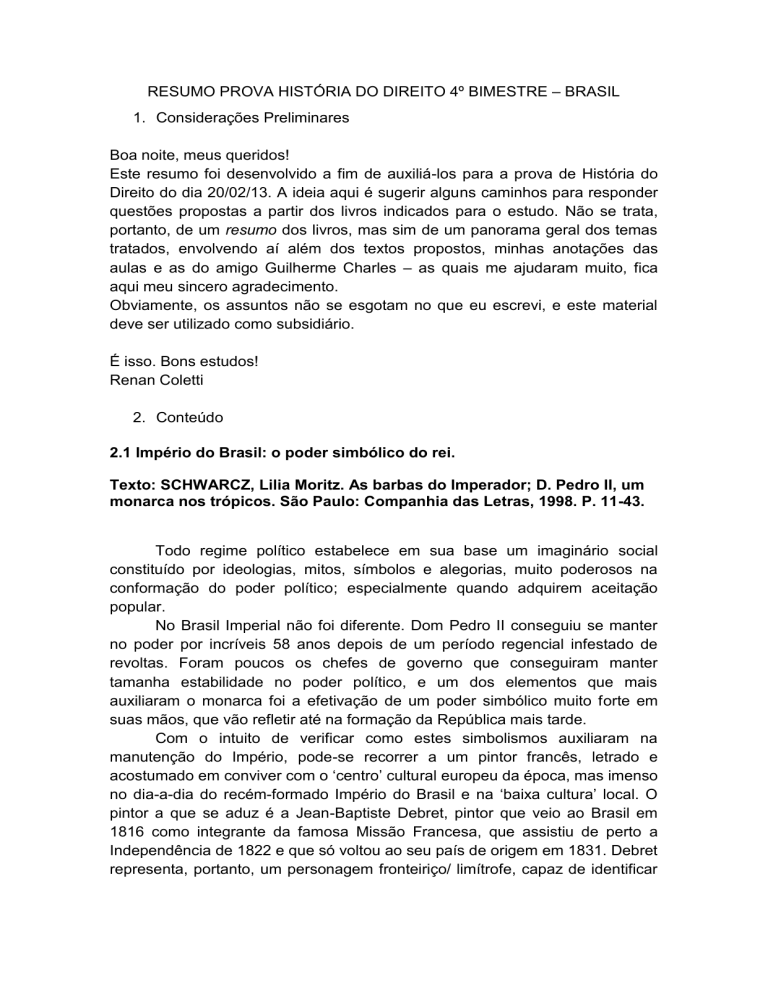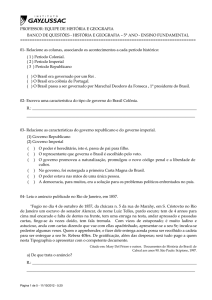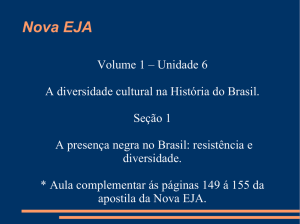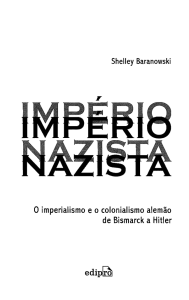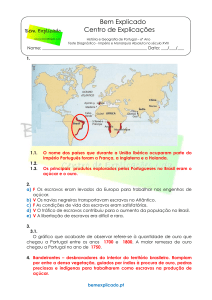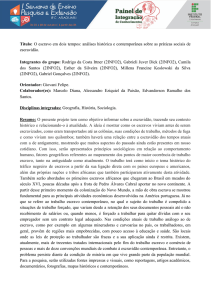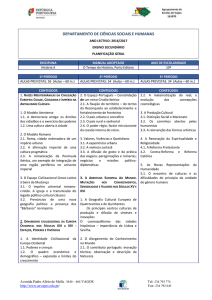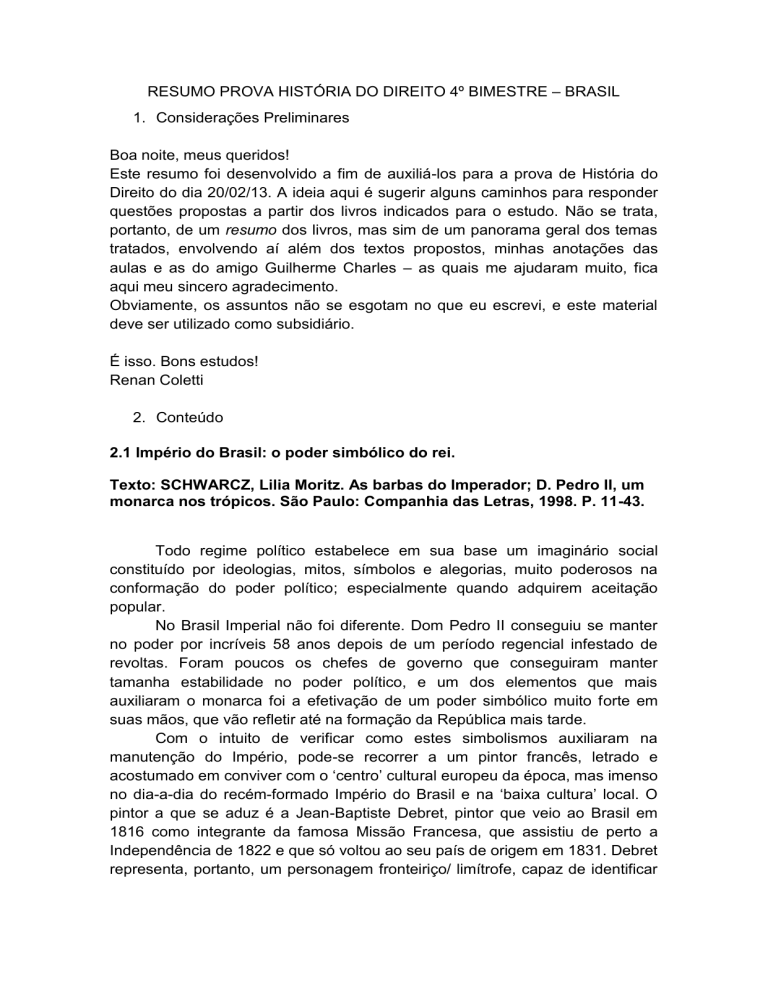
RESUMO PROVA HISTÓRIA DO DIREITO 4º BIMESTRE – BRASIL
1. Considerações Preliminares
Boa noite, meus queridos!
Este resumo foi desenvolvido a fim de auxiliá-los para a prova de História do
Direito do dia 20/02/13. A ideia aqui é sugerir alguns caminhos para responder
questões propostas a partir dos livros indicados para o estudo. Não se trata,
portanto, de um resumo dos livros, mas sim de um panorama geral dos temas
tratados, envolvendo aí além dos textos propostos, minhas anotações das
aulas e as do amigo Guilherme Charles – as quais me ajudaram muito, fica
aqui meu sincero agradecimento.
Obviamente, os assuntos não se esgotam no que eu escrevi, e este material
deve ser utilizado como subsidiário.
É isso. Bons estudos!
Renan Coletti
2. Conteúdo
2.1 Império do Brasil: o poder simbólico do rei.
Texto: SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do Imperador; D. Pedro II, um
monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. P. 11-43.
Todo regime político estabelece em sua base um imaginário social
constituído por ideologias, mitos, símbolos e alegorias, muito poderosos na
conformação do poder político; especialmente quando adquirem aceitação
popular.
No Brasil Imperial não foi diferente. Dom Pedro II conseguiu se manter
no poder por incríveis 58 anos depois de um período regencial infestado de
revoltas. Foram poucos os chefes de governo que conseguiram manter
tamanha estabilidade no poder político, e um dos elementos que mais
auxiliaram o monarca foi a efetivação de um poder simbólico muito forte em
suas mãos, que vão refletir até na formação da República mais tarde.
Com o intuito de verificar como estes simbolismos auxiliaram na
manutenção do Império, pode-se recorrer a um pintor francês, letrado e
acostumado em conviver com o ‘centro’ cultural europeu da época, mas imenso
no dia-a-dia do recém-formado Império do Brasil e na ‘baixa cultura’ local. O
pintor a que se aduz é a Jean-Baptiste Debret, pintor que veio ao Brasil em
1816 como integrante da famosa Missão Francesa, que assistiu de perto a
Independência de 1822 e que só voltou ao seu país de origem em 1831. Debret
representa, portanto, um personagem fronteiriço/ limítrofe, capaz de identificar
com certa precisão a cultura que circulava entre a Monarquia portuguesa e as
peculiaridades locais da época.
Debret consegue salientar em seus retratos como a Coroa Real
conseguiu se adaptar ao ambiente tropical, dialogar com as culturas locais e
criar o que Lilia Moritz vem a chamar de Monarquia Tropical. Apesar de seguir
fielmente o protestantismo e seguir estritamente as regras de etiqueta da
tradição medieval europeia, Dom Pedro é retratado por Debret sempre com
traços caracteristicamente locais em suas vestes. O imperador utilizava mantos
e coroa verdes, carregadas de penas de tucanos e pavões, em detrimento do
tradicionalmente vermelho utilizado pelos monarcas europeus; era pintado em
meio a matas e paisagens tropicais, e até a interação entre o monarca e os
outros segmentos sociais auxiliaram-no nessa formação de um forte poder
simbólico.
Tais retratos podem parecer de mínima relevância para a compreensão
do período histórico, mas representam reflexos de um poder simbólico criado a
partir da imagem do Rei, que se solidifica e ganha proporções muito grandes
nos períodos posteriores, uma vez que consegue se adaptar às culturas locais,
desde africanas até católicas. Entre as relações do Brasil com a África, Moritz
defende uma troca mais alargada do que se pode imaginar à primeira vista.
Segundo ela, a relação era bilateral: enquanto nós conhecíamos a feijoada, o
dendê e a batucada, a África recebeu nossa rede, a mandioca e o milho. Além
de diversos príncipes oriundos da elite africana, habitavam no Brasil os reis
alegóricos da Congada, que representavam uma autoridade máxima, mas que
mesmo assim eram tolerados uma vez que contribuíam e faziam uma menção
positiva à figura do ‘Rei’. No campo da relação entre o governo e a Igreja
Católica, o imperador passa a ser ungido e sagrado a tal ponto que se
confunde com santos! Tal diálogo se torna recíproco, e diversos santos muito
adorados ganham o status da realeza.
As consequências verificáveis do poder simbólico real são diversas: as
mais salientes, porém, verificam-se em dois ícones republicanos que remetem
muito a uma identidade criada no período imperial, a saber, a bandeira e o hino
nacional. A bandeira - ao contrário dos que pensam que representa o verde
das florestas e o amarelo do ouro – é uma adaptação da que vigorava no
período imperial e as cores fazem alusão às famílias reais que formaram a
monarquia brasileira. O retângulo verde remete a Casa de Bragança, enquanto
o amarelo está vinculado à família Habsburgo. Enquanto isso, o hino nacional
republicano, após longa discussão e apelo popular, continuou a sendo o
mesmo que era cantado no período Imperial. Tal incongruência seria sanada
com o Hino Nacional atual, oficializado apenas em 1922.
2.2 Cultura jurídica Imperial.
Texto: HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Gerald a civilização
brasileira. Volume 5; Tomo II. O Brasil Monárquico. Capítulo III: a cultura
jurídica. P. 356-368.
A Constituição de 1824, a primeira do Brasil, apesar de algumas
reminiscências herdadas dos corpos medievais – como o Poder Moderador –
veio a celebrar diversos símbolos modernos, como garantias civis individuais e
válidas inclusive perante o Estado; e a autonomização do poder judiciário, que
mostra o início de uma tentativa de funcionalização do direito, genuinamente
moderna. (A Constituição em si será mais bem tratada na questão seguinte.)
Outro monumento legislativo reflexo de uma modernização do direito foi
o primeiro Código elaborado para terras tupiniquins, que foi o Código Criminal
de 1830. Introduzindo ideias de sistematicidade e coerência interna, o Código
vem a substituir o Livro V das Ordenações Filipinas, que curiosamente tem
vigência no Brasil por muito mais tempo que até mesmo em Portugal – ao
menos no papel. Com a instituição da prisão em flagrante, da fiança provisória
e a considerável apliação do Habeas Corpus, o Código Criminal representa
mais uma esfera de garantias dos cidadãos contra o poder arbitrário do Estado.
Direitos
Ordens
Direitos
Individuais
Além disso, o Código deixa de seguir os preceitos da ‘Santa Inquisição’,
não tutelando mais casos como a sodomia e buscando, assim, certo
afastamento da religião com as questões criminais de Estado. Rescinde-se
também, a partir do Código de 1830, o direito dos maridos assassinarem suas
esposas em caso de adultério, iniciando uma busca pelo desmonte do poder
particular do chefe da família, do pater famílias. Suprime ainda mutilações e
castigos corporais – exceto específicos casos de pena de morte – um reflexo
do que Foucault iria mais tarde teorizar como a incipiência de um Estado
Disciplinar. Segundo tal autor, com o advento da modernidade, passa-se
gradativamente a desvincular crime de castigo. A prisão não castiga, mas sim
disciplinariza, tendo aí uma função de normalizar comportamentos anômicos.
A instituição de um Código Comercial, em 1850, indica muito bem uma
herança do paradoxo entre o liberalismo português e o Estado de Polícia
preconizado a partir do governo pombalino: o Estado, pretensamente liberal, é
extremamente ativo e intervencionista. ‘Guiando a mão invisível do mercado’, o
Estado encontrou no Código uma forma de obter certo controle sobre o
comércio internacional.
A atuação dos juristas também foi fundamental para a modernização do
direito, através da criação de compêndios para ser utilizados nas Faculdades
de Direito brasileira e das ações de liberdade. Representam uma entrada de
‘novas ideias’, e novas discussões passam a circular em um ambiente jurídico
recém-formado.
Tal modernização, contudo, encontrou barreiras muito fortes na base
econômica da época, predominantemente latifundiária e conservadora.
Privilégios são mantidos e até a injúria contra a família real tinha punições mais
graves. Outro reflexo dessa dificuldade de instalação de uma plena
modernização do direito está na frustrada tentativa de criação de um Código
Civil por Teixeira de Freitas. O autor foi talvez o primeiro autor do mundo a
separar o Código Civil em parte geral e especial, técnica que veio a ser
consagrada no resto do mundo posteriormente. Tal expoente, porém,
encontrou na questão da escravidão uma dificuldade intransponível. Como
tutelar o escravo no código? É um bem? Tem alma? Além desses
questionamentos, a ideia de Código proveniente da França como um
documento extremamente durável
afastou qualquer possibilidade de
dispor sobre os escravos.
2.3 Literatura e Direito: a Constituição de 1824 e Joaquim Manuel de
Macedo.
Texto: PEREIRA, Luís Fernando Lopes. Joaquim Manuel de Macedo: uma
luneta mágica sobre a cultura politico-jurídica do Império. In: FONSECA,
Ricardo Marcelo. História do Direito em perspectiva; do antigo regime à
modernidade. Curitiba: Juruá, 2008. P. 331-350.*
*Infelizmente não tive nem tempo hábil nem o documento em si para ler o
excerto do Ricardo Marcelo Fonseca.
A Constituição do Império do Brasil de 1824, a primeira genuinamente
brasileira, foi outorgada por Dom Pedro I após uma elaboração muito
conturbada, com assembleia sendo dissolvida inclusive. Apesar de tais
problemas, a Constituição destacou-se por seu caráter grandemente liberal:
Concedeu garantias individuais aos brasileiros como leis fundamentais.
Em tal ponto, a Constituição era muito mais evoluída inclusive que em
Portugal, onde leis fundamentais correspondiam apenas aquelas que
tratavam da sucessão do trono real. Todas as outras leis eram
consideradas como concessões do arbítrio real.
Representou um grande passo para o legalismo, que foi
institucionalizado no artigo 179 da Constituição Imperial: "Nenhum
cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa,
senão em virtude da lei”.
Autonomização do Poder Judiciário, com o objetivo de funcionalizar e
burocratizar a máquina pública.
Passa a ser garantida a Liberdade de Imprensa. Tal elemento é tão
inovador que até mesmo na Primeira República a imprensa passou a ser
controlada pelos militares;
Liberdade de Religião, contanto que respeitasse a religião oficial do
Estado e não ofendesse a moral pública.
Inviolabilidade da moradia. Aqui se verifica a faceta proprietária do
liberalismo.
Mesmo com tantos traços liberais, a Constituição – em seu artigo 99 –
previa a existência de um quarto poder no país, o poder moderador. A
instituição desse poder era dada ao imperador, considerando-o sagrado (mais
um traço do forte poder simbólico real) e dotando-o de plenos poderes no
Império, sem se sujeitar a qualquer responsabilidade. Independentemente de
qualquer arbítrio, a última palavra seria sempre a do Imperador. Apesar das
imagináveis criticas que esse poder ‘absoluto’ recebeu nas épocas posteriores
a sua implantação, tal elemento pode ser visto como um dos diversos
resquícios da pré-modernidade no direito imperial. Alguns autores, como José
Murilo de Carvalho, inclusive acreditam que o poder moderador cumpria sim
sua função de equilibrar – em outras palavras, moderar – os liberais, adeptos
de uma pulverização do poder, e os conservadores, predominantemente
centralizadores.
Concluindo, em última instância a Constituição (assim como os
posteriores Códigos Criminal e Comercial) representa uma profunda
modernização do direito, um ‘avanço liberal’ incluindo na cultura brasileira
ideias como garantias civis contra o Estado, de propriedade e legalistas;
superando diversas instituições que representavam a pré-modernidade – vide a
Mesa da Consciência e das Ordens, o ofício dos juízes ordinários...
Apesar de ser considerada um grande avanço liberal, a Constituição de
1824 teve dificuldades em se concretizar, conforme trata Joaquim Manuel
Macedo, o celebre autor de “A moreninha”, em “A carteira do meu tio”:
um poema em oito cantos, contendo cento e sessenta e nove
estrophes de metrificação variada, e, como todas as composições
poéticas e de litteratura americana, serve bastante para
entretenimento das horas vagas. ‘Ao que diz o sobrinho: ‘pela minha
parte declaro que detesto a Constituição por três fortíssimas razões:
[...] porque, ella há de ser sempre lettra morta, e em tal caso é melhor
enterrá-la já, que é obra de caridade dar sepultura aos mortos.
Abrir um canal de diálogo entre o direito e a literatura, aliás, é uma
opção muito metodológica muito valiosa. É passado o tempo em que se
acreditava que o direito era fechado e autossuficiente. Além disso, como
destaca o próprio professor Luís Fernando, a boa ficção percebe a verdade às
vezes melhor que os próprios historiadores. Artistas em boa medida tem uma
ligação muito forte com seu contexto histórico e conseguem visualizar alguns
traços característicos da sociedade em que vivem de forma eficiente,
transmitindo isso em suas obras.
Para dialogar esses dois campos, o escolhido foi Joaquim Manuel de
Macedo. Artista, trata-se de um personagem limítrofe/transitório da época
imperial, que transitava tanto por uma ‘baixa’ e uma ‘alta’ cultura e melhor
podia perceber a circularidade cultural da época. Socialmente, tem suas
origens ligadas à setores médios e em boa parte iletrados, mas consegue
ascender, permitindo um convívio maior e uma visão mais ampla da sociedade
brasileira. Do ponto de vista profissional, Macedo foi médico, literato, professor,
orador, deputado provincial e geral.
O autor, longe do tipo ideal do romântico passivo e conformado, critica
muito ao longo de suas obras a estrutura política da época, desde a falta de
aplicação da constituição até a ‘soberania’ popular, que é projetada para fazer
basicamente o que as elites mandam. Apesar de toda a crítica, o autor expõe
sua fé na modernização, na ética burguesa e no legalismo; mostrando uma
face otimista do que poderia efetivamente ser a política para Macedo, em caso
de esses preceitos serem mesmo realizados.
2.4. Cultura jurídica no Império.
Texto:FONSECA, Ricardo Marcelo. Os juristas e a cultura jurídica
brasileira na segunda metade do século XIX. In: Quaderni fiorentini per la
storia del pensiero giuridico moderno, Milano, Giuffrè, XXXV, 2006.
Ricardo Marcelo Fonseca inicia seu texto indagando: na época imperial,
no recém-constituído país Brasil, havia alguma cultura jurídica genuinamente
brasileira? Tal questionamento não seria despropositado, uma vez que o
modelo jurídico adotado no país foi completamente derivado do europeu
continental. Por outro lado, com a independência via-se necessário constituir
algo próprio, com o intuito de formar uma identidade nacional em meio a tantas
províncias tão diferentes culturalmente entre si. A partir especialmente da
segunda metade do século XIX, percebe-se que a tradição europeia importada
vai sendo gradativamente filtrada e adaptada à realidade local. E a realidade
local era marcada por uma profunda tensão entre a estrutura social herdada do
período colonial, montada para a formação de latifúndios escravistas, e um
conjunto de ‘ideias novas’ liberais que vão infestando o ambiente acadêmico e,
pouco a pouco, o país.
O autor busca então traçar um perfil da cultura jurídica brasileira do
Império, e começa pelas instituições de ensino superior no país: a criação de
cursos superiores só ocorreu após a independência, uma vez que a antiga
metrópole portuguesa via tais instituições nas colônias como uma visível
ameaça ao seu domínio. São instituídas apenas em 1827, nas cidades de
Olinda – mais tarde muda para Recife – e de São Paulo. Na definição
curricular, os dois anos iniciais do curso mantinham-se predominantemente às
disciplinas ligadas à lógica jusnaturalista, como nas cadeiras de Direito Natural
e Direito Eclesiástico. Além disso, o poder central definiu que os professores
deveriam adotar um compêndio guia, que antes disso deveria passar pelo crivo
da Câmara Federal.
Passa Fonseca então a estudar alguns compêndios: inicia com José
Maria de Avelar Brotero e José Maria Correia de Sá e Benevides. O primeiro
tem seu compêndio rejeitado na Câmara por ser excessivamente tradicional,
citando diversas vezes uma Natureza Naturante que detém os atributos da
divindade cristã e é considerada por ele como a fonte originária do direito.
Apesar de rechaçado, seu compêndio é importante na medida em que Brotero
lecionou Direito Natural por mais de 40 anos na faculdade de São Paulo. Sá e
Benevides, por sua vez, sustenta que a natureza é demonstrável pela razão,
que esta é decifrada por aquela. Para ele, a lei natural seria “divina, universal,
perpétua, absoluta, necessária, moral, racional, social, revelada [...]”, o que
demonstra uma completa mistura entre elementos pré-modernos e modernos
nesta lógica. Em Recife, o destaque é José Soriano Souza, que coloca a
Filosofia como discípula dócil da Religião, que, vinda de Deus, é superior.
Verifica-se, portanto, nos autores apresentados uma predominância da
base jusnaturalista, muito vinculada à escolástica tomista. Todavia, trata-se de
um Jusnaturalismo de Transição, que vem gradativamente englobando
elementos modernos.
A partir da metade do século XIX, porém, novas ideias passam a circular
no ambiente acadêmico, trazendo novas filtragens da Escolástica Ibérica e,
principalmente, o iluminismo moderno.
Fonseca elenca, então, três autores que se destacam nessa inovadora
visão que passa a circular no Brasil, muito atrelada à Escola Histórica Alemã,
influenciados especialmente por Savigny: Augusto Teixeira de Freitas,
Francisco de Paula Batista e Tobias Barreto. O primeiro, Teixeira de Freitas,
expressamente atrelado a uma abordagem moderna, é considerado um dos
primeiros ‘cientistas jurídicos’ brasileiros. Com uma preocupação conceitualista
e abstrata extremamente inovadora, é até hoje conhecido por propor a divisão
do código civil em parte geral e especial, modelo que vai ser utilizado por
grande parte dos países europeus, mais tarde. O professor Francisco de Paula
Batista foi outro autor a superar os limites de uma razão natural de origem
teológica, fazendo elogios explícitos ao método científico de Descartes, que
deveria ser utilizado no direito. Já falando em uma razão subjetiva, aceita o
caráter mundano e racional da lei natural. Tobias Barreto, provavelmente o
jurista do império que mais demonstrava o espírito cientificista, é o autor que
recepciona de forma mais veemente a lógica de Savigny. Rejeitando toda a
metafísica, afirma que “o direito não é filho do céo, é simplesmente um
phenomeno histórico, um produto cultural da humanidade”. Alega, ainda, que
os jusnaturalistas são figuras anacrônicas, fora de seu tempo. Observa-se
também o início de uma simpatia pelas teorias evolucionistas. Tobias Barreto
chega a citar uma ‘antropologia darwinica’.
O interessante é notar que entre Brotero e Barreto, a diferença é de
apenas 20 anos. Verifica-se, portanto uma passagem mais progressiva, numa
velocidade maior.
Esse contexto histórico da passagem de um tipo de jurista mais ligado à
escolástica tomista para um jurista evolucionista é associado por Ricardo
Marcelo como a passagem do jurista eloquente ao jurista cientista. Tal
associação, derivada do espanhol Carlos Petit, alega haver elementos
suficientes para vislumbrar a presença de um jurista eloquente, ao longo do
século XVIII e em boa parte do XIX, que vai progressivamente dando lugar a
um jurista cientifico a partir da metade do XIX no Brasil. Ricardo Marcelo
defende a teoria mostrando que aquele ‘tipo ideal’ de jurista mostra-se na forte
formação política que os juristas brasileiros tinham inicialmente, na cultura que
valorizava muito a oralidade em detrimento do documento escrito, dos grandes
oradores, literatos, romancistas que os juristas eram na época. O jurista
cientista, ao contrário, passou a valorizar muito a escrita, especialmente
através de produções acadêmicas em revistas jurídicas especializadas, com
argumentos jurídicos, científicos. Poesias não servem mais como argumentos
para explicar o direito, e a metafísica é deixada de lado em detrimento de uma
nova forma de visualizar o direito como ciência.
2.5. Lutas pela liberdade.
Textos: GRIMBERG, Keila. Fiador de brasileiros. + MENDONÇA, Joseli
Nunes. Cenas da abolição.
O Brasil foi o último país ocidental do mundo a abolir a escravidão. O
processo de abolição no país começou com a Lei Eusébio de Queiroz, que em
1850 proibiu o tráfico de escravos; passou por um grande avanço em 1871,
quando foi aprovada a Lei do Ventre Livre declarando todos os filhos de
escravos nascidos a partir daquele ano livres; em 1885, a Lei dos
Sexagenários dispôs que todo escravo com mais de 60 anos fosse liberto; e
culminou em 1888, quando a escravidão foi inteiramente abolida, com a Lei
Áurea.
Além dessas leis, salienta-se a partir dos autores Sidney Chalhoub e
Hebe Mattos que os advogados em ações de liberdade tiveram um papel
fundamental na libertação de escravos. Os dois autores demonstraram que “o
Direito foi uma arena decisiva na luta contra a escravidão”, de acordo com
Chalhoulb.
Keila Grinberg, em O fiador dos brasileiros, destaca dois focos de
discussão dos juristas muito relevantes ao processo de libertação de escravos:
o primeiro é, obviamente, a discussão sobre as fronteiras entre liberdade e
escravidão. No ambiente urbano, a escravidão se complexifica e a disputa
entre direitos de propriedade e princípios de liberdade se torna ainda mais
acirrada, cabendo ao direito tutelar as barreiras entre um e outro. A dificuldade
de estabelecê-las foi tão instransponível que até hoje é considerada como uma
das principais razões para o insucesso de criação de um Código Civil na
época. Outra discussão que ganhou grandes contornos na época e que acabou
afetando as ações de liberdade foi a de até que ponto os advogados teriam –
ou deviam ter – liberdade interpretativa para defender seus clientes. O poder
central imperial buscava claramente uma restrição à interpretação dos
advogados, e a Constituição imperial de 1824 foi nesse sentido, dispondo que
apenas os Tribunais da Relação e o Supremo Tribunal de Justiça do Império
poderiam interpretar a Lei; um reflexo do legalismo que vinham contagiando o
período. A realidade da época, porém, não era nem de longe como a
Constituição previa (como Joaquim Manuel de Macedo alega) e esta encontrou
muitas barreiras nos resquícios do ius communi. A Lei ainda não é a única
fonte do direito e doutrinas tem um papel importante nas ações especialmente
na primeira metade do século XIX. Voltando a Ricardo Marcelo no item 4, o
contexto imperial é o de um Jusnaturalismo de Transição, uma cultura que
transita entre o ius commune e o direito moderno. Uma liberdade interpretativa
por parte dos advogados, conclui Grinberg, de fato existia, mas não era tão
ampla, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Havia limites,
demarcados por regras jurídicas, que os advogados tinham que lidar se
quisessem ganhar alguma ação.
O ano que representa um marco nas ações de liberdade é 1871. E é um
marco especialmente pela criação da Lei do Ventre Livre. Além de dispor que
todos os filhos de escravos nascidos a partir daquele ano eram considerados
livres, facilitou em muito a liberdade para os já existentes. Sobre esse tema
Joseli Nunes Mendonça trata em “Cenas da abolição”, e destaca o Pecúlio
Legal. O dispositivo, inscrito na lei de 1871, “assegurava aos escravos o direito
de formar um pecúlio, uma poupança que pudessem compor com doações,
heranças ou com o que, por consentimento do senhor, obtivessem por meio de
seu trabalho”. O pecúlio poderia ser utilizado para o escravo comprar sua
alforria, e tinha a proteção da lei, que obrigava o senhor a alforriar o escravo
caso oferecesse uma quantia “razoável”. Como se pode imaginar, tal ‘quantia
razoável’ era tremendamente discutida entre as partes e rendeu muita
discussão, como será visto mais a frente.
É necessário, antes, ressaltar o modo como os escravos conseguiam
formar seu pecúlio: através de seu próprio trabalho, por heranças recebidas, ou
ainda, por doações. Analisando a escravidão a partir de uma visão tradicional –
casa grande e senzala – é muito difícil imaginar como um escravo poderia
ganhar dinheiro com o fruto de seu trabalho. Tal elemento mostra como a
realidade se complexifica, especialmente no ambiente das cidades.
O procedimento para a compra da alforria por parte do escravo poderia
se dar por duas formas: caso o valor oferecido pelo escravo fosse considerado
razoável por parte do senhor, era possível que o acordo fosse realizado de
maneira relativamente pacífica e rápida. Caso as duas partes não chegassem
num acordo, o que ocorria constantemente, a lei definia que fosse instaurada
uma ação judicial para definir o valor. Durante o andamento do processo, o
escravo permanecia em ‘depósito’, geralmente à responsabilidade de uma
pessoa livre. Em depósito, poderia angariar ainda mais dinheiro para o pecúlio.
Em seguida, eram nomeados três árbitros, um pela parte do escravo, um pelo
senhor e um pelo juiz. Em caso dos valores indicados pelos dois primeiros
diferissem, o terceiro decidia um dos dois. Caso o escravo não conseguisse
ganhar, automaticamente os autos eram remetidos para o tribunal de segunda
instância.
Voltando ao texto de Grinberg, passa-se então a verificar quem eram os
advogados que atuavam nas ações de liberdade. Inicialmente investigando
dados referentes a primeiras instâncias dos tribunais, a autora deduz que não
havia advogados dedicados exclusivamente a atuar neste tipo de processo, já
que o número de advogados que entraram com uma ação apenas uma vez em
ações de liberdade é consideravelmente maior que os outros. Uma possível
explicação para tal fato está na variedade geográfica e temporal em que os
processos são iniciados, sendo difícil, por exemplo, um mesmo advogado
montar um processo de liberdade em Curitiba em 1806 e em Salvador em
1888. Passando para a segunda instância, o padrão encontrado é bem
diferente: 9% do total de advogados participam de um total de 154 processos
de libertação de escravos num número total de 279. Atendo-se a esses 9%,
habilitados para trabalhar em processos de segunda instância localizados no
Tribunal da Relação, a autora verificou que um dado fundamental é o fato de
todos esses advogados representarem tanto senhores como escravos. É difícil,
portanto, encontrar ‘militantes da liberdade’ entre os advogados, especialmente
até 1871.
Verifica-se, então, uma série de direitos dos escravos, uma série de
deveres dos senhores para com os escravos – como o art. 6° da Lei do Ventre
Livre, que dispões que serão declarados libertos os escravos abandonados por
seus senhores. Tal fato, porém, enseja contradições profundas: o escravo não
eram coisas? Bens transmissíveis? Como um bem pode ter direitos? A verdade
é que as medidas em favor da abolição desagradaram muito os senhores que
detinham escravos, e este foi um dos principais motivos para dar fim ao estável
governo de Dom Pedro II, instaurar a República (só que em um regime de
exceção), apoiado por um grupo militares (positivistas), ou seja, uma
contradição atrás da outra.
2.6. Ideário Republicano
Texto: CARVALHO, José Murilo.
O tema em questão foi englobado à matéria da prova após esta ter sido
postergada. Não acredito que será cobrada uma questão só sobre o assunto,
devido a dois motivos, basicamente:
- Os conteúdos que serão cobrados são relativamente extensos, e uma
questão só relacionada ao ideário republicano implicaria provavelmente em um
dos outros 5 temas sem ser cobrado.
- Quando a prova foi postergada, quinta-feira de manhã (sendo que a prova
seria na sexta), provavelmente as questões já estavam prontas.
Penso, portanto, que o ideário republicano será cobrado em parte de
uma questão, provavelmente relacionando-o com o imaginário monárquico
descrito no item 2.1, baseado no texto de Lilia Moritz Schwarcz. Lembrando
que isso é um ‘chute’, e pode ser que não se concretize. Iniciarei este item do
imaginário republicano, portanto, com o último parágrafo do 2.1:
As consequências verificáveis do poder simbólico real são diversas: as
mais salientes, porém, verificam-se em dois ícones republicanos que remetem
muito a uma identidade criada no período imperial, a saber, a bandeira e o hino
nacional. A bandeira - ao contrário dos que pensam que representa o verde
das florestas e o amarelo do ouro – é uma adaptação da que vigorava no
período imperial e as cores fazem alusão às famílias reais que formaram a
monarquia brasileira. O retângulo verde remete a Casa de Bragança, enquanto
o amarelo está vinculado à família Habsburgo. Enquanto isso, o hino nacional
republicano, após longa discussão e apelo popular, continuou sendo o mesmo
que era cantado no período Imperial. Tal incongruência seria sanada com o
Hino Nacional atual, oficializado apenas em 1922.
De fato, o imaginário monárquico ainda era muito forte no início da
República, sendo que esta não traz grandes inovações no campo do direito,
proclamada em regime de exceção e, como o professor Luis Fernando
costuma ressaltar, havendo menos eleitores em seu início do que ao final do
Império.
Via-se necessário, portanto, criar uma identidade nacional republicana
em meio a lutas simbólicas contra o imaginário monárquico que persistia na
população. Sobre o assunto, o livro Formação das almas, de José Murilo de
Carvalho, é esclarecedor. Tal processo simbólico se deu através de diversas
formas:
Mudança de nomes de logradouros públicos que remetiam a monarquia
por outros que representassem a República. Um exemplo disso ocorreu
em Curitiba, quando a rua Imperatriz - uma das mais famosas da cidade
- passou a se chamar rua XV de Novembro, mudança que perdura até
hoje.
Criação de heróis nacionais: o mais expressivo é Tiradentes. Um dos
inconfidentes mineiros, foi assassinado por se insurgir contra o governo
monárquico e buscar uma República. O interessante é que seu
semblante foi gradativamente ganhando características semelhantes a
Jesus Cristo, o que mostra mais ainda a tentativa de assimilação do
espírito republicano na população. Esses heróis foram homenageados
principalmente pela criação de estátuas, como as existentes na Praça
Tiradentes, aqui em Curitiba:
Tiradentes, o mártir da Inconfidência, transformou-se em um verdadeiro mito para
representar a República.
A este processo José Murilo de Carvalho chama de Formação das
almas, em seu livro de mesmo nome. Neste livro, o autor ainda chama a
atenção para as ideologias que disputavam pela natureza da república:
liberalismo, jacobinismo e positivismo. O liberalismo, representado
principalmente pelo Partido Republicano Paulista – PRP – era constituído
majoritariamente por proprietários rurais, fortemente influenciados pelo
Darwinismo Social filtrado de Spencer e por uma definição individualista de
pacto social (aceitar que o interesse público constitui a soma dos interesses
privados). Os representantes do jacobinismo, apesar de serem em menor
número e acabarem sem influência significativa na formação da República,
formavam um grupo agressivo, clamando pela Revolução e a morte do Conde
d’Eu. Os positivistas, sem dúvida os que mais influenciaram a montagem da
República e a formação de seu ‘mito originário’(em que Marechal Deodoro,
Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva tinham cada um seu papel específico),
condenavam a Monarquia em nome do progresso, concepção que claramente
os vincula ao evolucionismo, preceito sob o qual tudo estaria submetido. Além
disso, esse grupo detinha uma forte aceitação dos militares, o que foi essencial
para sua dominância na primeira República.
Carvalho trata, ainda, da tentativa de criação de uma alegoria feminina
que representasse a República brasileira, copiada nos moldes da francesa. Tal
símbolo, porém, não teve aceitação popular aqui como ocorreu no país
europeu, e José Murilo investiga as causas:
Na França daquele período, as mulheres tinham um papel cívico
muito importante, como em motins de fome, por exemplo. No
Brasil, porém, tal faceta cívica não fazia sentido, e a
representação de uma mulher no ambiente ‘público’ ficou
associado às cortesãs.
Além disso, o herdeiro do trono de Dom Pedro II, no período
Imperial, era uma mulher – a princesa Isabel.