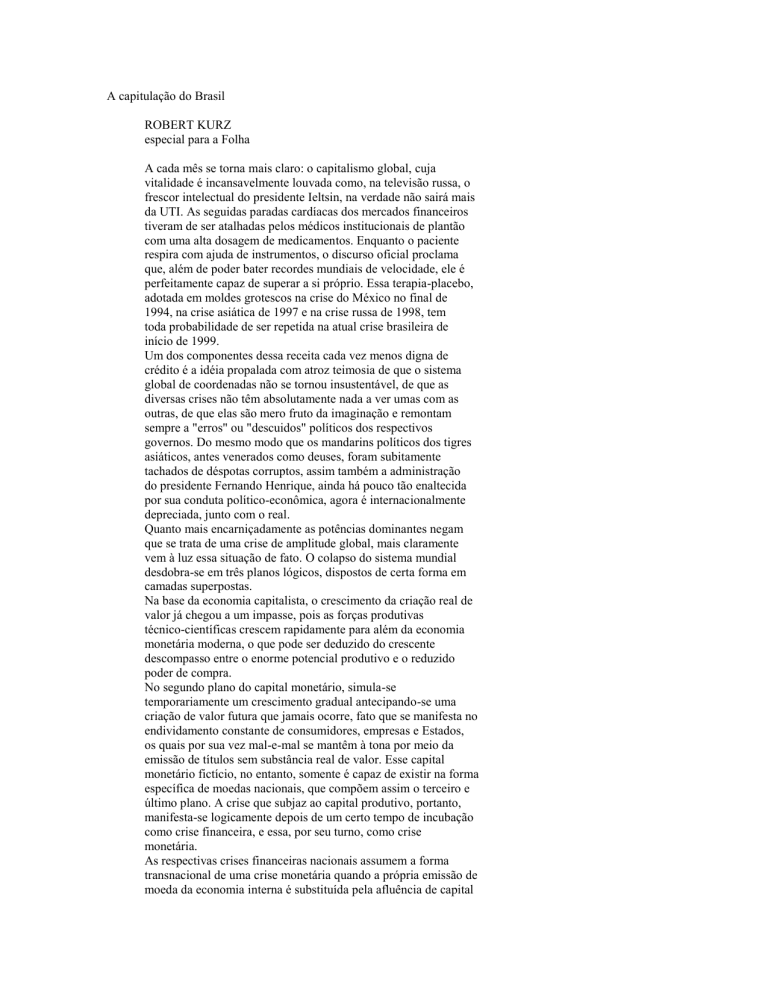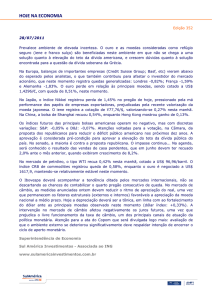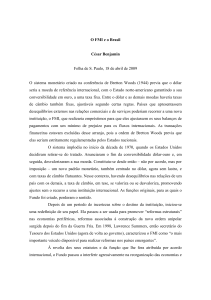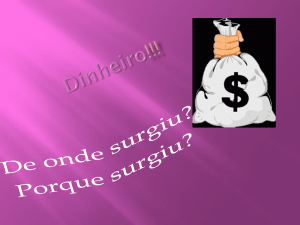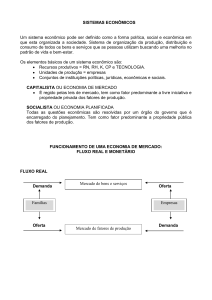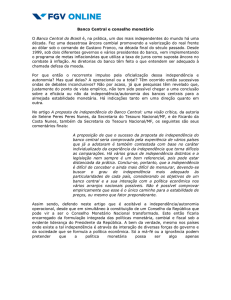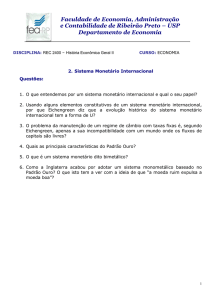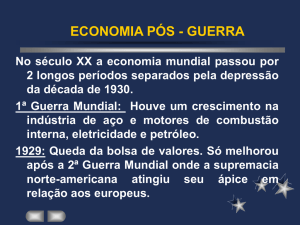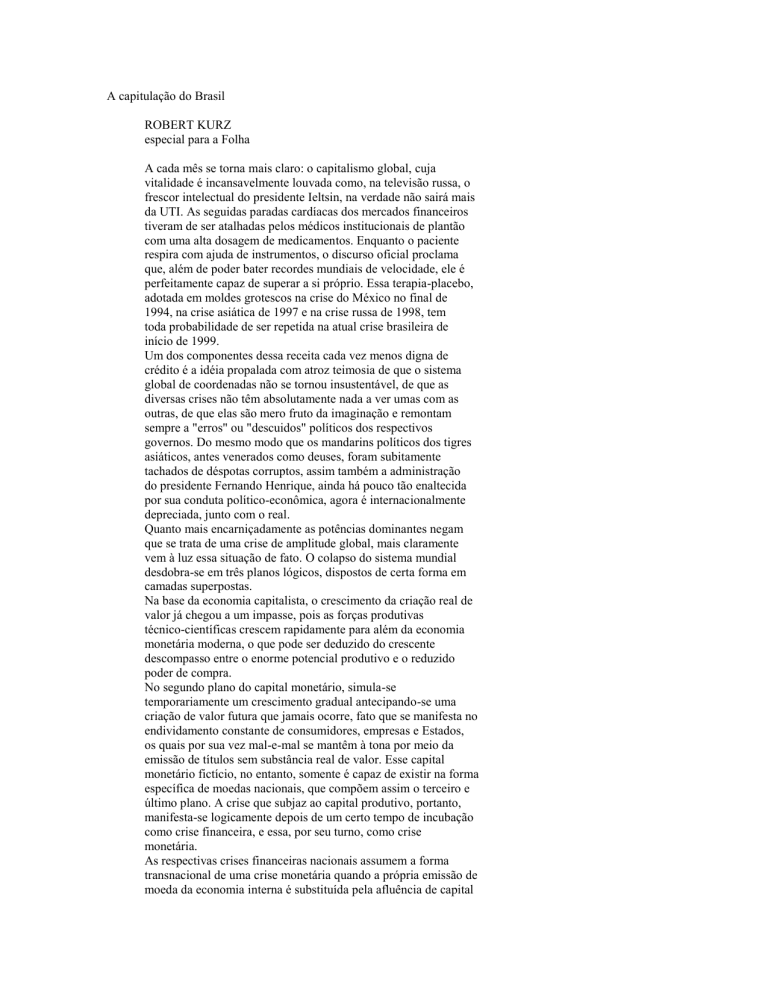
A capitulação do Brasil
ROBERT KURZ
especial para a Folha
A cada mês se torna mais claro: o capitalismo global, cuja
vitalidade é incansavelmente louvada como, na televisão russa, o
frescor intelectual do presidente Ieltsin, na verdade não sairá mais
da UTI. As seguidas paradas cardíacas dos mercados financeiros
tiveram de ser atalhadas pelos médicos institucionais de plantão
com uma alta dosagem de medicamentos. Enquanto o paciente
respira com ajuda de instrumentos, o discurso oficial proclama
que, além de poder bater recordes mundiais de velocidade, ele é
perfeitamente capaz de superar a si próprio. Essa terapia-placebo,
adotada em moldes grotescos na crise do México no final de
1994, na crise asiática de 1997 e na crise russa de 1998, tem
toda probabilidade de ser repetida na atual crise brasileira de
início de 1999.
Um dos componentes dessa receita cada vez menos digna de
crédito é a idéia propalada com atroz teimosia de que o sistema
global de coordenadas não se tornou insustentável, de que as
diversas crises não têm absolutamente nada a ver umas com as
outras, de que elas são mero fruto da imaginação e remontam
sempre a "erros" ou "descuidos" políticos dos respectivos
governos. Do mesmo modo que os mandarins políticos dos tigres
asiáticos, antes venerados como deuses, foram subitamente
tachados de déspotas corruptos, assim também a administração
do presidente Fernando Henrique, ainda há pouco tão enaltecida
por sua conduta político-econômica, agora é internacionalmente
depreciada, junto com o real.
Quanto mais encarniçadamente as potências dominantes negam
que se trata de uma crise de amplitude global, mais claramente
vem à luz essa situação de fato. O colapso do sistema mundial
desdobra-se em três planos lógicos, dispostos de certa forma em
camadas superpostas.
Na base da economia capitalista, o crescimento da criação real de
valor já chegou a um impasse, pois as forças produtivas
técnico-científicas crescem rapidamente para além da economia
monetária moderna, o que pode ser deduzido do crescente
descompasso entre o enorme potencial produtivo e o reduzido
poder de compra.
No segundo plano do capital monetário, simula-se
temporariamente um crescimento gradual antecipando-se uma
criação de valor futura que jamais ocorre, fato que se manifesta no
endividamento constante de consumidores, empresas e Estados,
os quais por sua vez mal-e-mal se mantêm à tona por meio da
emissão de títulos sem substância real de valor. Esse capital
monetário fictício, no entanto, somente é capaz de existir na forma
específica de moedas nacionais, que compõem assim o terceiro e
último plano. A crise que subjaz ao capital produtivo, portanto,
manifesta-se logicamente depois de um certo tempo de incubação
como crise financeira, e essa, por seu turno, como crise
monetária.
As respectivas crises financeiras nacionais assumem a forma
transnacional de uma crise monetária quando a própria emissão de
moeda da economia interna é substituída pela afluência de capital
monetário em outras moedas. Essa possibilidade surgiu apenas
quando o dólar perdeu, em 1973, seu lastro em ouro, e o sistema
antes fixo das taxas de câmbio passou a oscilar de maneira
imprevisível -um primeiro indício da limitação interna da economia
real. O capital monetário, já insuficiente para ser reinvestido na
produção, buscou uma válvula de escape e afluiu aos salientes
mercados financeiros transnacionais, que, no entanto, só podiam
ser insuflados sob a forma de numerário nacional, embora cada
vez mais alheio à circulação da respectiva economia interna. Em
outras palavras, o capital monetário fictício, livre de amarras, deu
início a um "baile de máscaras das moedas" ao pular
permanentemente dessa para aquela "fantasia" monetária, a fim de
especular com as oscilações das taxas de câmbio de livre
flutuação, sem jamais ter de se fixar em investimentos estratégicos
de caráter imóvel.
Com isso também foi superada a teoria clássica da taxa de
câmbio criada pelo economista sueco Gustav Cassel
(1866-1945), a qual em última instância fazia com que as relações
entre as moedas dependessem do movimento real dos bens
internacionais. Mas não foi a teoria de Cassel que se revelou falsa,
foi o capitalismo que se tornou suspeito a seus próprios
fundamentos e falsificou a si mesmo como realidade positiva. O
fluxo de capital monetário não é mais expressão do fluxo real de
mercadorias; ao contrário, a produção de bens (e portanto a
sobrevivência de países e continentes inteiros) é somente um
aspecto secundário da liquidez que inunda o globo por intermédio
das moedas. Mas, em vez de registrar o caráter crítico dessa
mudança, desde os anos 80 os economistas preferiram favorecer
a teoria financeira das taxas de câmbio desenvolvida
particularmente pelos anglo-saxões, teoria esta que faz remontar a
relação das moedas sobretudo ao peso dos respectivos ativos
"depositados" no capital monetário. Finge-se com isso descobrir
uma explicação melhor para uma realidade econômica neutra e
sempre existente.
Ora, as crescentes crises monetárias contradizem esse cenário. É
óbvio que as moedas não se equiparam. A antiga disparidade
econômica da produtividade entre centro e periferia repete-se
mais uma vez na nova constelação das grandezas fictícias. De um
lado situam-se as três moedas centrais, o dólar, o iene e o euro
(até agora marco alemão), que definem o critério para o capital
monetário transnacional. De outro lado encontram-se todas as
outras moedas, que têm de medir a si próprias por meio desse
critério. Isso significa que somente sob condições gravosas os
Estados da periferia são capazes de atrair uma parcela do fluido
capital monetário transnacional, a fim de sobreviverem
economicamente a despeito da escassa rentabilidade.
Nos anos 70 e 80, a crise global manteve-se em grande parte sob
o signo das tentativas de contenção nacional. Quando, naquela
época, países como o Brasil caíram vítimas da crise de
endividamento, pois seus créditos internacionais não puderam
mais ser regularmente amortizados, os respectivos bancos centrais
passaram a trabalhar a todo vapor, emitindo papel-moeda até as
raias da hiperinflação. O FMI (Fundo Monetário Internacional),
antes quase ocioso, impediu afinal, na condição de administrador
da crise, uma catástrofe global do crédito, pois logrou converter a
maioria dos empréstimos estatais a longo prazo dos países
devedores em títulos com descontos acentuados, permitindo-lhes
circular a partir daí sob o nome de Brady-Bonds (em homenagem
ao então ministro das Finanças norte-americano).
O preço para tanto foi um drástico surto recessivo em grande
parte do Terceiro Mundo. Sem uma solução definitiva, o
problema foi simplesmente postergado, porque as ajudas do FMI
nada mais são, como é de boa praxe, do que créditos temporários
de cobertura. Trata-se sempre, portanto, apenas de assegurar a
solvência mínima das obrigações internacionais de um país. Todo
o mecanismo repousa na ficção de que cabe somente "colmatar"
uma lacuna no processo real de criação de valor. Que tal buraco
negro abra uma bocarra cada vez maior não é objeto de previsão,
sendo antes um assunto tabu. Até hoje a situação continua a
mesma.
O que mudou nos anos 90, porém, foi a forma de endividamento.
Depois de malograr a contração de créditos estatais a longo
prazo, destinados a projetos nacionais de desenvolvimento de
cunho político, alguns países periféricos que ainda davam sinal de
vida passaram a ancorar suas moedas ao dólar. Com auxílio dessa
taxa de câmbio "política" atrelada ao dólar e das altas taxas de
juros, o capital monetário internacional de curto prazo foi atraído
para financiar a própria reprodução: investimentos para a
industrialização voltada à exportação, bem como para a
infra-estrutura, mas também inúmeros objetos que renovaram o
gosto pelo luxo e pelo consumo.
Ao contrário da antiga captação direta de crédito estatal no
exterior, agora o capital monetário transnacional afluía aos
mercados financeiros do comércio interno -e isso num volume
essencialmente maior do que no passado. Dessa maneira foi
possível tanto ao Estado quanto às empresas e aos consumidores
endividarem-se com dinheiro estrangeiro nos seus próprios
mercados financeiros. O potencial inflacionário foi de certo modo
burlado com meios político-monetários, pois esse montante em
dinheiro não aparecia nem como emissão irregular de moeda pelo
próprio Banco Central nem como expansão do volume de dólares
que circulavam nos Estados Unidos. Desse expediente lançaram
mão não apenas os tigres asiáticos; ele constituiu também a
essência do Plano Real de 1994. Como por milagre, a
hiperinflação encolheu a zero.
O preço dessa refinada manobra foi a renúncia à já fracassada
estratégia nacional de desenvolvimento, a abertura dos próprios
mercados e o abandono incondicional aos interesses dos fundos
de investimento transnacionais. Ela implicou também a defesa a
qualquer custo da taxa de câmbio artificialmente "política" como
pressuposto do programa como um todo. Mas os custos do
afluxo de capital logo suplantaram os resultados dos projetos por
ele financiados, tal como no passado. A única diferença foi que a
crise assumiu outra forma sob as novas circunstâncias: agora ela
se fazia notar como pressão implacável sobre as moedas
artificialmente sobrevalorizadas dos "mercados emergentes".
O colapso dos tigres asiáticos e da Rússia em breve abateu-se
sobre a América Latina e principalmente sobre o Brasil, pois o
capital transnacional, leviano, não tardou em bater em retirada: o
Brasil teve de amparar a cotação do real pulverizando suas
reservas internacionais (elas caíram, em poucos meses, de US$
75 bilhões para US$ 30 bilhões) e sufocando o crescimento
interno com uma política de juros extremados, que chegaram a
orçar pelos 50%, o que fez o índice Bovespa despencar 75% em
relação ao pico da fase de prosperidade. Era de esperar que o
Brasil capitulasse, na esteira dos tigres asiáticos e da Rússia, e
fosse obrigado a deixar o real flutuar livremente, a despeito de um
pacote de ajuda concedido pelo FMI (nesse meio tempo, ele
perdeu mais de 20% em relação ao dólar).
À diferença da Ásia e da Rússia, a primeira reação ao colapso,
curiosamente, foi quase eufórica: num único dia, o índice Bovespa
subiu mais de 30%, e muitos áugures internacionais quase
retiraram seu sinal de alerta. Tal fato só faz corroborar a memória
curta dos atores e a constituição irracional dos mercados
financeiros sob a pressão de uma liquidez que não sabe mais para
onde ir. É verdade que a situação brasileira difere em alguns
pontos daquela dos tigres asiáticos e da Rússia. O mercado
interno brasileiro é muito maior e, em alguns setores, relativamente
menos dependente do afluxo de capital monetário internacional.
Também foi uma sensatez, por parte da administração de
Fernando Henrique, em oposição à Tailândia ou à Coréia do Sul,
não defender absurdamente a taxa de câmbio "política" até o
último centavo, retirando-se em boa hora e reservando-se ainda
algum espaço autônomo de manobra.
Mas os problemas fundamentais continuam pendentes, e a crise
estrutural, de raízes profundas, não é mais capaz de ser conjurada
com tais subterfúgios, por mais refinados que eles sejam, pois suas
causas estão fora do alcance de toda política governamental
baseada no sistema de mercado. O fato de o colapso da taxa de
câmbio "política" assumir traços de algo positivo, já que agora o
Banco Central brasileiro poderia baixar os juros e a
desvalorização seria um alento para as exportações, revela mais
recalque do que clarividência.
Sim, porque se for assim, por que cargas-d'água terá havido o
Plano Real? A ignorância dos otimistas de plantão esquece
completamente as condições que levaram ao plano, aliás jamais
superadas. De fato, a verdadeira razão para a política de juros
elevados não desapareceu, pois o Brasil necessita, somente ele,
de 40% dos aproximadamente US$ 180 bilhões de capital
monetário transnacional que se encontram à disposição, em 1999,
dos mercados emergentes, sempre sob a improvável condição de
que não se verifiquem mais outros surtos de crise! Como a âncora
de estabilidade da taxa de câmbio desapareceu, os juros não
podem ser reduzidos a ponto de fomentar o almejado crescimento
interno. Por outro lado, o efeito benéfico à exportação trazido
pela desvalorização do real encontrará limites, pois nem o
potencial produtivo nem a capacidade de absorção do mercado
mundial são suficientes numa conjuntura de crescimento global
estagnado.
Com tanto mais razão, é ilusório desvincular do contexto
econômico o elevado déficit das contas públicas brasileiras,
supondo-o "causa intrínseca" da crise, e reclamar credulamente a
adoção das rígidas medidas de poupança e elevação de impostos,
prometidas sob pressão. Numa forte recessão como essa, é fatal
quando o Estado aperta, por pouco que seja, o garrote dos
impostos e ao mesmo tempo suspende uma parte de seus gastos
em investimentos e consumo. O déficit estatal, em nenhum lugar
do mundo, significa somente corrupção; direta ou indiretamente
ele é também demanda e vida para milhões de pessoas que já
sobrevivem no limite da miséria. Se a situação já é temerária sem
déficit público crescente, quem dirá sem ele. A receita milagrosa
do FMI, fracassada nos quatro cantos do globo, equivale a
exortar a um náufrago que, no interesse de sua própria salvação,
cometa antes suicídio.
Com isso retornamos novamente ao início: não há nenhuma
solução possível de política monetária, porque os próprios
fundamentos do moderno sistema produtor de mercadorias estão
em xeque. Eis por que as crises dos antigos mercados emergentes
continuarão a causar espécie e a saltar de um continente a outro: a
China já é o próximo candidato, como mostrou a falência
bilionária da sociedade de investimento Gitic, ofuscada pela
tempestade brasileira.
Quando o capital monetário transnacional, por falta de segurança,
retira-se do país, as dívidas em dólar do Estado e das empresas,
bem como a dependência de componentes importados para a
produção e a subsistência precária da economia interna, só abrem
espaço a uma opção: voltar a imprimir papel-moeda. Mas
paradoxalmente, tão logo retorne a hiperinflação em meio ao
quadro recessivo, a fagulha da crise monetária chispará também
sobre as três moedas-chave. Tolo daquele que espera uma
vencedora entre elas.