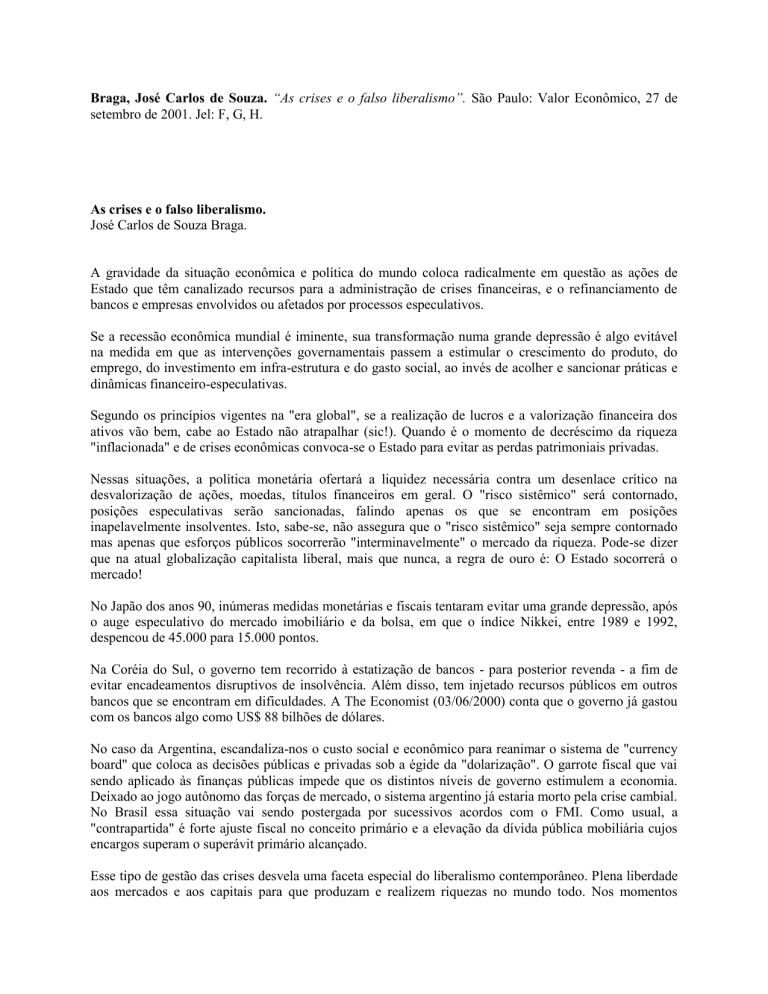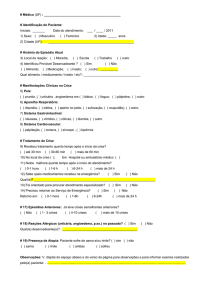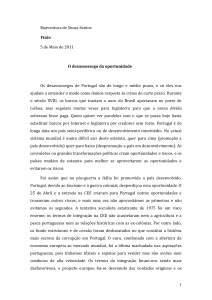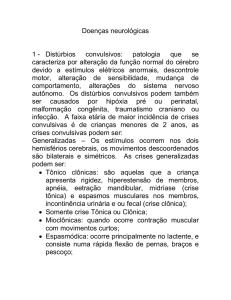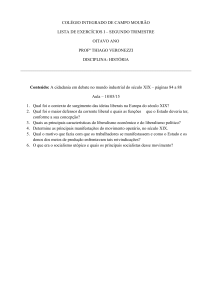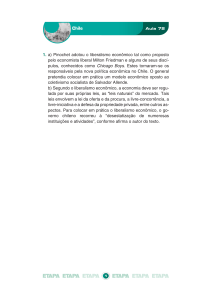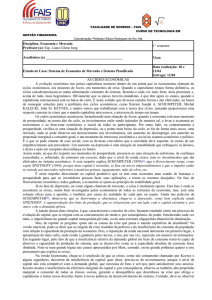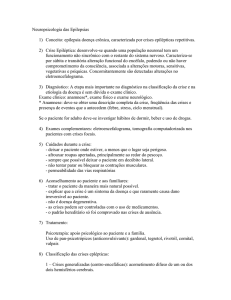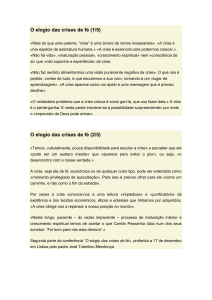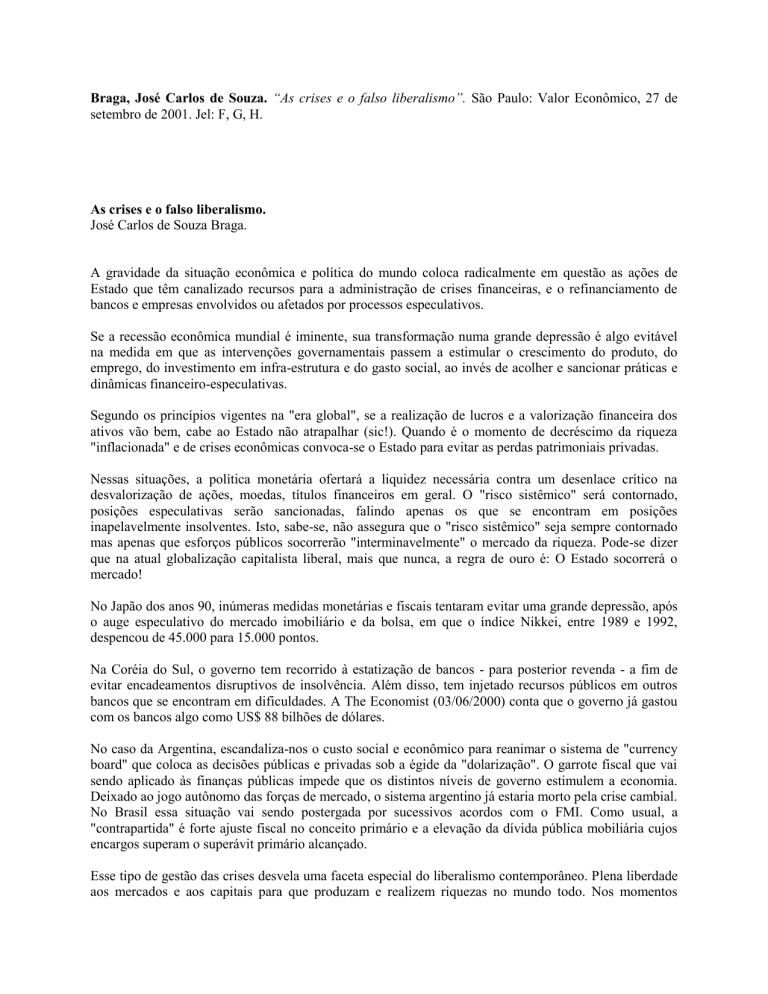
Braga, José Carlos de Souza. “As crises e o falso liberalismo”. São Paulo: Valor Econômico, 27 de
setembro de 2001. Jel: F, G, H.
As crises e o falso liberalismo.
José Carlos de Souza Braga.
A gravidade da situação econômica e política do mundo coloca radicalmente em questão as ações de
Estado que têm canalizado recursos para a administração de crises financeiras, e o refinanciamento de
bancos e empresas envolvidos ou afetados por processos especulativos.
Se a recessão econômica mundial é iminente, sua transformação numa grande depressão é algo evitável
na medida em que as intervenções governamentais passem a estimular o crescimento do produto, do
emprego, do investimento em infra-estrutura e do gasto social, ao invés de acolher e sancionar práticas e
dinâmicas financeiro-especulativas.
Segundo os princípios vigentes na "era global", se a realização de lucros e a valorização financeira dos
ativos vão bem, cabe ao Estado não atrapalhar (sic!). Quando é o momento de decréscimo da riqueza
"inflacionada" e de crises econômicas convoca-se o Estado para evitar as perdas patrimoniais privadas.
Nessas situações, a política monetária ofertará a liquidez necessária contra um desenlace crítico na
desvalorização de ações, moedas, títulos financeiros em geral. O "risco sistêmico" será contornado,
posições especulativas serão sancionadas, falindo apenas os que se encontram em posições
inapelavelmente insolventes. Isto, sabe-se, não assegura que o "risco sistêmico" seja sempre contornado
mas apenas que esforços públicos socorrerão "interminavelmente" o mercado da riqueza. Pode-se dizer
que na atual globalização capitalista liberal, mais que nunca, a regra de ouro é: O Estado socorrerá o
mercado!
No Japão dos anos 90, inúmeras medidas monetárias e fiscais tentaram evitar uma grande depressão, após
o auge especulativo do mercado imobiliário e da bolsa, em que o índice Nikkei, entre 1989 e 1992,
despencou de 45.000 para 15.000 pontos.
Na Coréia do Sul, o governo tem recorrido à estatização de bancos - para posterior revenda - a fim de
evitar encadeamentos disruptivos de insolvência. Além disso, tem injetado recursos públicos em outros
bancos que se encontram em dificuldades. A The Economist (03/06/2000) conta que o governo já gastou
com os bancos algo como US$ 88 bilhões de dólares.
No caso da Argentina, escandaliza-nos o custo social e econômico para reanimar o sistema de "currency
board" que coloca as decisões públicas e privadas sob a égide da "dolarização". O garrote fiscal que vai
sendo aplicado às finanças públicas impede que os distintos níveis de governo estimulem a economia.
Deixado ao jogo autônomo das forças de mercado, o sistema argentino já estaria morto pela crise cambial.
No Brasil essa situação vai sendo postergada por sucessivos acordos com o FMI. Como usual, a
"contrapartida" é forte ajuste fiscal no conceito primário e a elevação da dívida pública mobiliária cujos
encargos superam o superávit primário alcançado.
Esse tipo de gestão das crises desvela uma faceta especial do liberalismo contemporâneo. Plena liberdade
aos mercados e aos capitais para que produzam e realizem riquezas no mundo todo. Nos momentos
críticos de desvalorização dessas riquezas, plena liberdade aos poderes públicos - ao Banco Central e ao
Tesouro Nacional - para a defesa dos patrimônios privados ainda que o custo seja expansão monetária
"indesejada", ônus fiscais, desemprego elevado, subordinação governamental na condução do processo.
Na hora da euforia valem os mercados, na hora da queda valem as providências estatais. Mercado na
"alta", Estado na "baixa".
Na década de 30 do século XX aprendeu-se que a grande depressão poderia ser evitada com o "Big Bank"
(banco central como refinanciador) e o "Big Government" (dispêndio público ampliado), e foi desse
modo que, durante os 50 anos posteriores, administrou-se recessões, evitou-se que elas se transformassem
em depressões.
A grande "inovação" do liberalismo atual é que as crises são administradas com o propósito específico de
defender os patrimônios privados numa postura cúmplice com a especulação e a riqueza financeira
fictícia.
Se o "Big Government", num certo sentido, saiu de cena, com as reformas liberalizantes, o contrário
acontece com o "Big Bank". Saíram de cena os dispêndios governamentais de caráter produtivo, de
geração de infra-estrutura, de gasto fiscal anti-cíclico, anti-desemprego. Mas, os bancos centrais e as
instituições multilaterais sustentadas com dinheiro público estão permanentemente presentes para garantir
a "interminável" valorização da riqueza privada.
Não se trata apenas do banco central como emprestador de última instância que protege os ilíquidos mas
não os insolventes. É muito mais. O Estado passa, em suposta era neoliberal, a ser o garantidor, o coautor, o orquestrador da macroeconomia da riqueza financeira. Antes, o Estado assegurava os lucros
produtivos co-dinamizando a demanda efetiva. Agora, com a fiscalidade aprisionada, afastada daquela
função, as finanças públicas, a gestão fiscal, e a gestão monetária passam a ser elementos públicos
fundamentais da própria reprodução da valorização financeira. Não é o Estado mínimo, é o Estado
máximo ou pleno na reprodução da riqueza expressa em moedas internacionalmente conversíveis, em
títulos que são quase-dinheiro, multiplicação da riqueza abstrata.
A questão econômica que já estava posta e que se radicaliza pelas conseqüências previsíveis, após a
destruição das torres do World Trade Center, em Nova York, é a da redefinição do padrão de intervenção
estatal até agora vigente na globalização. Tanto em favor da ampliação da renda, do emprego e da
multiplicação de políticas sociais, quanto em prol da coordenação de bancos centrais para impor
disciplina financeira, com regras prudenciais e intervenções que previnam a eclosão de crises financeiras
e cambiais antes que elas dilapidem recursos públicos.