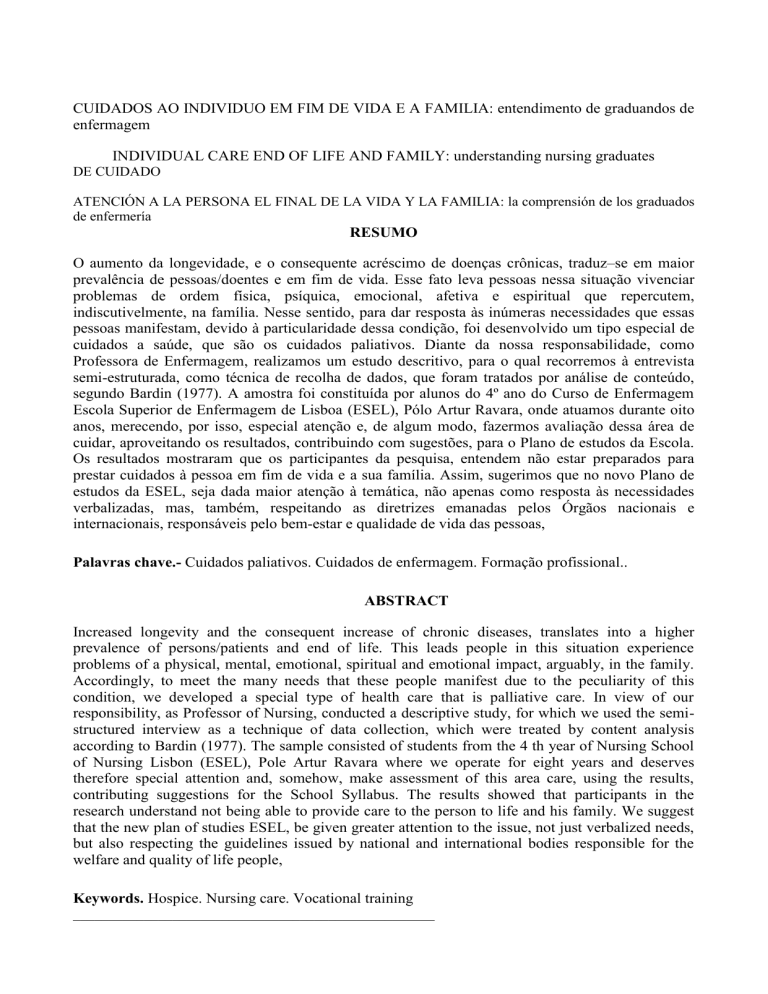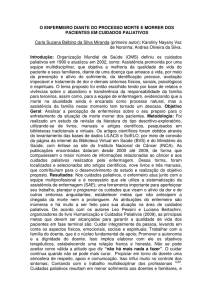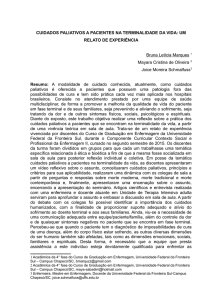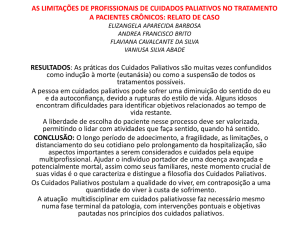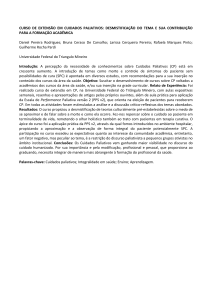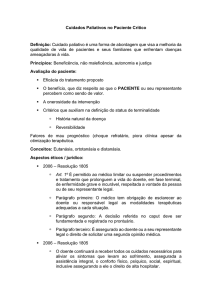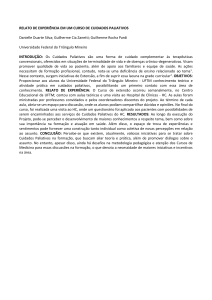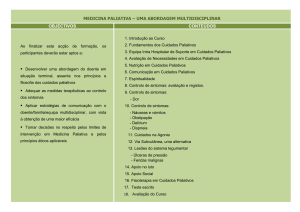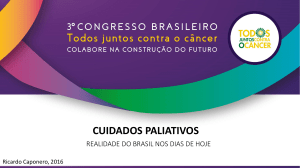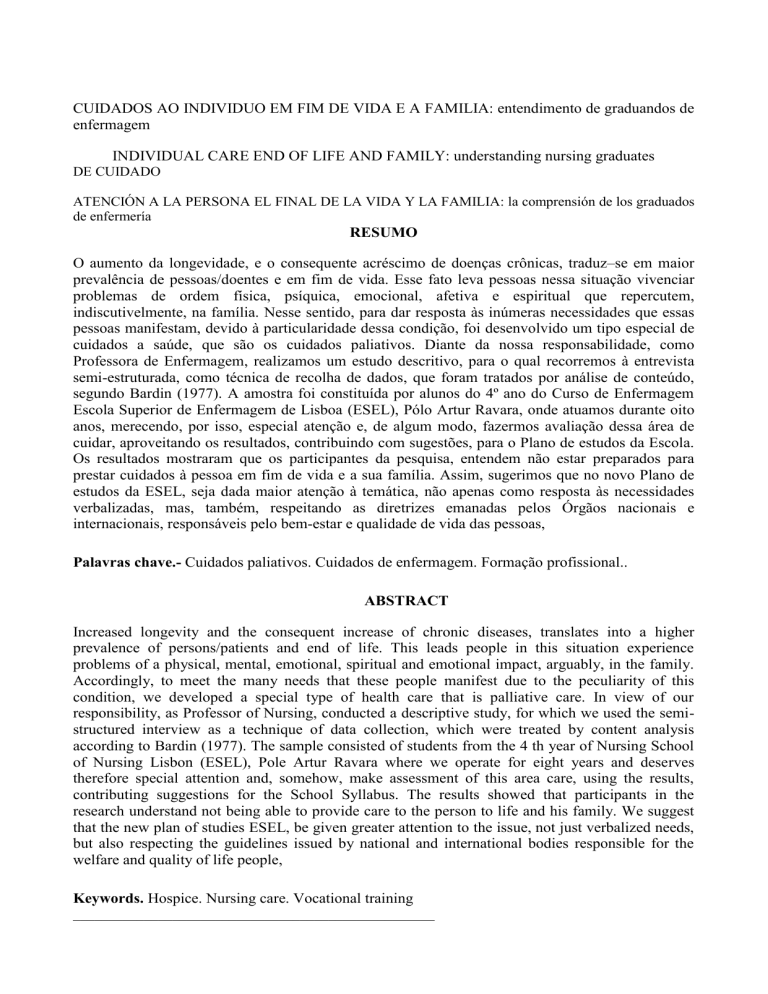
CUIDADOS AO INDIVIDUO EM FIM DE VIDA E A FAMILIA: entendimento de graduandos de
enfermagem
INDIVIDUAL CARE END OF LIFE AND FAMILY: understanding nursing graduates
DE CUIDADO
ATENCIÓN A LA PERSONA EL FINAL DE LA VIDA Y LA FAMILIA: la comprensión de los graduados
de enfermería
RESUMO
O aumento da longevidade, e o consequente acréscimo de doenças crônicas, traduz–se em maior
prevalência de pessoas/doentes e em fim de vida. Esse fato leva pessoas nessa situação vivenciar
problemas de ordem física, psíquica, emocional, afetiva e espiritual que repercutem,
indiscutivelmente, na família. Nesse sentido, para dar resposta às inúmeras necessidades que essas
pessoas manifestam, devido à particularidade dessa condição, foi desenvolvido um tipo especial de
cuidados a saúde, que são os cuidados paliativos. Diante da nossa responsabilidade, como
Professora de Enfermagem, realizamos um estudo descritivo, para o qual recorremos à entrevista
semi-estruturada, como técnica de recolha de dados, que foram tratados por análise de conteúdo,
segundo Bardin (1977). A amostra foi constituída por alunos do 4º ano do Curso de Enfermagem
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL), Pólo Artur Ravara, onde atuamos durante oito
anos, merecendo, por isso, especial atenção e, de algum modo, fazermos avaliação dessa área de
cuidar, aproveitando os resultados, contribuindo com sugestões, para o Plano de estudos da Escola.
Os resultados mostraram que os participantes da pesquisa, entendem não estar preparados para
prestar cuidados à pessoa em fim de vida e a sua família. Assim, sugerimos que no novo Plano de
estudos da ESEL, seja dada maior atenção à temática, não apenas como resposta às necessidades
verbalizadas, mas, também, respeitando as diretrizes emanadas pelos Órgãos nacionais e
internacionais, responsáveis pelo bem-estar e qualidade de vida das pessoas,
Palavras chave.- Cuidados paliativos. Cuidados de enfermagem. Formação profissional..
ABSTRACT
Increased longevity and the consequent increase of chronic diseases, translates into a higher
prevalence of persons/patients and end of life. This leads people in this situation experience
problems of a physical, mental, emotional, spiritual and emotional impact, arguably, in the family.
Accordingly, to meet the many needs that these people manifest due to the peculiarity of this
condition, we developed a special type of health care that is palliative care. In view of our
responsibility, as Professor of Nursing, conducted a descriptive study, for which we used the semistructured interview as a technique of data collection, which were treated by content analysis
according to Bardin (1977). The sample consisted of students from the 4 th year of Nursing School
of Nursing Lisbon (ESEL), Pole Artur Ravara where we operate for eight years and deserves
therefore special attention and, somehow, make assessment of this area care, using the results,
contributing suggestions for the School Syllabus. The results showed that participants in the
research understand not being able to provide care to the person to life and his family. We suggest
that the new plan of studies ESEL, be given greater attention to the issue, not just verbalized needs,
but also respecting the guidelines issued by national and international bodies responsible for the
welfare and quality of life people,
Keywords. Hospice. Nursing care. Vocational training
___________________________________________________
RESUMEN
Aumento de la longevidad y el consiguiente aumento de enfermedades crónicas, se
traduce en una mayor prevalencia de personas o pacientes y fin de vida. Esto lleva a
la gente en esta situación los problemas de la experiencia de un impacto físico,
mental, emocional, espiritual y emocional, sin duda, en la familia. En consecuencia,
para satisfacer las muchas necesidades que estas personas se manifiestan debido a la
peculiaridad de esta situación, hemos desarrollado un tipo especial de atención de
salud que es el cuidado paliativo. En vista de nuestra responsabilidad, como Profesor
de Enfermería, realizó un estudio descriptivo, para lo cual se utilizó la entrevista semiestructurada como técnica de recolección de datos, que fueron tratados mediante
análisis de contenido según Bardin (1977). La muestra estuvo conformada por
estudiantes de la 4 º año de la Escuela de Enfermería de Enfermería de Lisboa (ESEL),
Artur Polo Ravara donde operamos durante ocho años y por lo tanto, merece una
atención especial y, de alguna manera, hacer una evaluación de esta área cuidado,
usando los resultados, aportando sugerencias para el programa escolar. Los
resultados mostraron que los participantes en la investigación, no ser capaz de
entender para la atención de la persona a la vida y su familia. Sugerimos que el nuevo
plan de estudios de ESEL, prestar mayor atención a la cuestión, no sólo verbalizar
necesidades, pero también respetando los lineamientos emitidos por organismos
nacionales e internacionales responsables para el bienestar y la calidad de vida
personas.
Palabras clave -. Hospicio. El cuidado de enfermería. La formación profesional .
1-INTRODUÇÃO
Os avanços científicos e tecnológicos do último século têm–se feito sentir na área das
ciências da saúde, com repercussões no aumento da esperança de vida, por conseguinte na
longevidade, com a emergência de doenças crónicas e degenerativas. Essa situação é peculiar no
mundo ocidentalizado, refletindo-se, por consequência, em Portugal. Aliás, Galriça Neto1 (2003)
refere que a morte acontece cada vez mais no final de uma doença crónica-evolutiva e de duração
mais prolongada. Comenta, ainda, que a luta incessante pela cura das doenças e a sofisticação dos
meios utilizados para isso, levou à ilusão do possível controle sobre a morte, que é encarada, muitas
vezes, como uma derrota para os profissionais de saúde. De fato, prolonga-se a vida, mas não se
pode evitar a morte.
Nesse contexto, o ensino de enfermagem procura, hoje em dia, formar profissionais de
enfermagem com maior autonomia, de forma a serem capazes de, integrados em equipes de saúde
multiprofissionais, planejar, executar e avaliar os cuidados ao indivíduo, são ou doente, à família e
comunidade. Será assim de esperar que o enfermeiro esteja preparado para assegurar a manutenção
Isabel Galriça Neto, médica, assistente graduada de clínica geral, dedica-se aos cuidados paliativos desde 1993. Fez
parte da coordenação da equipa de cuidados continuados do Centro de Saúde de Odivelas, é formadora na área de
cuidados paliativos e docente da Faculdade de Medicina de Lisboa. É Presidente da Associação Nacional de cuidados
Paliativos Membro da associação Europeia de Cuidados Paliativos e membro fundador do Movimento de Cidadãos pró
Cuidados Paliativos. Actualmente é responsável pela Unidade de Cuidados Paliativos no Hospital da Luz. Tem escrito
inúmeros artigos e colaborado em livros sobre a temática dos cuidados em fim de vida.
1
da saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, fazendo jus à definição
de saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS), que a indica como estado de completo bemestar físico, mental e social do indivíduo, e não somente a ausência de doença ou incapacidade2.
Diante disso, é finalidade do Curso de Enfermagem em estudo é formar enfermeiros
generalistas, eticamente responsáveis e capazes de, com autonomia, ter criatividade e espírito de
equipe3. Na verdade, durante o processo ensino–aprendizagem, pretende-se que o aluno adquira as
competências necessárias à prestação de cuidados de enfermagem, ao indivíduo e à família, na sua
globalidade. No final do curso, o enfermeiro, recém-formado, deve ter adquirido competências
cognitivas, afetivas, relacionais, psicomotoras e técnicas, de modo a ser capaz de identificar no
indivíduo a necessidade de cuidados de saúde, e ajudá–lo a satisfazê–las, quando diagnosticadas.
Daí considerarmos como objeto dos cuidados de enfermagem o indivíduo como ser bio-psico-social
e cultural.
Em 2002, a OMS definiu Cuidados Paliativos como uma abordagem que visa melhorar a
qualidade de vida dos doentes e das famílias, que enfrentam problemas decorrentes de uma doença
incurável e ou com prognóstico limitado, através da prevenção e alívio do sofrimento, com recurso
à identificação precoce e tratamento rigoroso dos problemas não só físicos, mas também dos
psicossociais e espirituais. Também, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos – ANCP (2006)
assumiu ess mesma posição. Em Portugal, foi criada a Associação Portuguesa de Cuidados
Paliativos4 em 21 de Julho de 1995, com a designação de Associação Nacional de Cuidados
Paliativos (ANCP), conforme Diário da República, III Série, N.º 223, de 26 de Setembro de 1995. A
criação ANCP partiu de algumas pessoas, que sentiram a necessidade e a obrigação de promover e
desenvolver a área dos cuidados paliativos, as quais, na sua maioria, trabalhavam na Unidade de
Cuidados Paliativos do Instituto Português de Oncologia do Porto.
Nesse sentido, decidiram reunir profissionais de diferentes áreas, com interesse comum no
campo dos Cuidados Paliativos. Assim, de acordo com artigo 2º dos seus estatutos5 a ANCP
afirma:
tem por finalidade promover o desenvolvimento, o estudo, a investigação e o ensino dos
cuidados paliativos prestados aos doentes com doença crónica avançada e progressiva, com
o objectivo de obter a melhor qualidade de vida possível, integrando os aspectos
psicológicos, sociais e espirituais e sendo consideradas as necessidades básicas da família
tanto em vida como para além da morte.
Em resposta a essa preocupação, o Programa Nacional de Cuidados Paliativos, com
Despacho Ministerial de 15/06/2004, fez alusão à necessidade de “uma preparação sólida e
diferenciada, que deve envolver quer a formação pré-graduada dos profissionais que são chamados
à prática deste tipo de cuidados, exigindo preparação técnica, formação teórica e experiência prática
efectiva”, no âmbito das áreas de enfermagem e médica.
Do exposto, registramos o interesse em estudar essa problemática, que aliada à minha
preocupação e responsabilidade como Professora de Enfermagem, constituiram a motivação para a
realização desta pesquisa, para a qual definimos os seguintes objetivos: identificar o que entendem
os alunos do 4º ano do Curso de Enfermagem por cuidados paliativos versus cuidados à pessoa em
fim de vida; identificar as principais dificuldades que os alunos do 4ºano do Curso de Enfermagem,
antecipam vir a ter, nessa área de cuidados e obter sugestões sobre temas relacionados com os
cuidados paliativos/à pessoa em fim de vida, a abordar no Curso de Enfermagem.
Focamos a pesquisa no grupo de alunos do 4º ano do Curso de Enfermagem da ESEL, Pólo
Artur Ravara, por ter sido com esse plano de estudos que temos trabalhado. Daí o nosso
Saúde 21 (1998) – Saúde para todos no século XXI - Organização Mundial de Saúde, Bureau Regional para a Europa.
Plano de Estudos e Programas da Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara
4
Htt://www.apcp.com.pt
5
Htt://www.apcp.com.pt
2
3
envolvimento na formação do grupo de futuros enfermeiros, nos merecer atenção especial, porque,
pode ser uma forma de avaliação, embora parcelar, desse plano de estudos. Apesar de não termos
abrangido todos os alunos do 4º ano da ESEL, uma vez que frequentam os planos curriculares do
Curso de Enfermagem das ex-escolas Calouste Gulbenkian de Lisboa; Francisco Gentil e Maria
Fernanda Resende, e sendo este estudo restrito aos alunos do Curso de Enfermagem da ex – Escola
de Artur Ravara, pensamos poder, com os seus resultados, dar sugestões para o novo plano
curricular do Curso de Enfermagem da ESEL, ainda em inicio de implementação. Assim, como
ponto de partida da temática colocamos a seguinte questão: será que os alunos do 4ºAno, que
terminam o curso de Enfermagem no ano letivo 2008/2009, na ESEL, Pólo Artur Ravara, entendem
estar preparados para prestar cuidados de Enfermagem ao doente em fim de vida e família?”
Para dar resposta a esta questão, realizámos um estudo descritivo cujos dados recolhidos
foram tratados por análise de conteúdo, sendo o objeto do estudo: a forma como, esses estudantes
antecipam as dificuldades e aptidões para prestarem Cuidados de Enfermagem e a forma como
sentem-se habilitados ou não para a prestação de Cuidados à pessoa em fim de vida.
2- EVOLUÇÃO DA FORMAÇÃO DE ENFERMAGEM EM PORTUGAL E O CUIDAR DA
PESSOA EM FINAL DE VIDA
O ensino de enfermagem, no País, é integrado no Ensino Superior Politécnico, passando o
Curso, em 1997, a ter quatro (4) anos de duração, atribuindo o grau de licenciatura, o que, de algum
modo, constituiu uma resposta às recomendações do Comitê Consultivo no Domínio dos Cuidados
de Enfermagem e de acordo com o parecer técnico de Pereira (1998)6. De fato, foi considerado
necessário aumentar a experiência clínica (estágio) dos alunos de enfermagem, daí a duração passar
a ser de 4 anos e a carga horária de 4600 horas7,
Em Portugal, desde a integração do ensino de enfermagem no Ensino Superior Português,
que se iniciaram esforços para a inclusão das escolas nos subsistemas do ensino superior
(Politécnico e Universitário). Paralelamente, iniciaram-se contatos entre as escolas, publicas,
existentes em Lisboa, Coimbra e Porto, com vistas à fusão e o objetivo de criar grandes escolas, nas
três cidades, como forma de rentabilizar recursos humanos e materiais, visando um ensino
diversificado e de melhor qualidade, para maior número de alunos. O processo de fusão dessas
escolas, teve lugar no ano de 2006, e deu origem às Escolas Superiores de Enfermagem de Lisboa,
Porto e Coimbra, que funcionam como escolas superiores não integradas.
Com essa racionalização, pretendeu-se melhorar a qualidade do ensino de enfermagem, isto
é, formar mais e melhor, significando dizer, formar profissionais de enfermagem capazes de
satisfazerem as necessidades de cuidados de saúde do indivíduo, família e comunidades, com
autonomia e capacidade para dar respostas às necessidades de cuidados às problemáticas de saúde
contemporâneas. A sociedade atual, caracterizada pela constante evolução social, tecnológica e
científica, a rápida construção e divulgação do conhecimento, através dos meios de comunicação
social, influencia o rumo das profissões, incluindo a profissão de enfermagem. Desse modo, é
necessário formar profissionais capazes de intervir em qualquer que seja o contexto das políticas
sociais, culturais, econômicas e científicas da sociedade onde estão inseridos.
De acordo com as recomendações do Comitê Consultivo para a Formação no Domínio dos
Cuidados de Enfermagem8, os cuidados de saúde, prestados pelos profissionais de enfermagem,
devem ser orientados para a assistência, a formação, o aconselhamento e a coordenação dos
PEREIRA, (1998) – As exigências do exercício da profissão de enfermagem e a organização da educação em
enfermagem, em articulação com as alterações ao sistema de ensino superior politécnico (Parecer técnico). Lisboa,
Direcção Geral dos Recursos Humanos da Saúde,Ministério da Saúde.
7
De acordo com as recomendações do Comité Consultivo para a Formação no Domínio dos Cuidados de Enfermagem
ao nível da União Européia- Rapports Techniques- La pratique Infirmère.Genève,1996.
8
Comissão Europeia XV/9432/7/96-PT.
6
serviços de saúde, assegurando a continuidade dos cuidados de saúde à pessoa e família. Ainda,
para o Conselho da Europa9, os cuidados de enfermagem, representam, simultaneamente, uma
técnica e uma ciência que exigem o domínio e a aplicação dos conhecimentos específicos da
disciplina. Assim, para além dos conhecimentos e das técnicas próprios da disciplina de
enfermagem, esta socorre-se, também, de outras disciplinas como: as ciências humanas,
fisiológicas, biológicas e médicas.
Considera-se, pois, que os enfermeiros devam receber formação multifacetada, que lhes
permitam a reflexão crítica, a tomada de decisão e a capacidade de intervenção de forma
competente e autónoma. Daí o plano de estudos do curso de enfermagem incluir para além da
componente de ensino teórico e teórico-prático, lecionado na escola, em sala de aula, a componente
de ensino clínico (estágio), durante o qual os alunos relacionam os conhecimentos teóricos, com a
prática clínica, nas diferentes Instituições e serviços de saúde.
Nesse sentido, concordamos com Bevis e Watson (2005), quando recomendam que o
desenvolvimento curricular deve ter por base os verdadeiros problemas de saúde que a sociedade
enfrenta tais como o aumento do número de idosos, o prolongamento da sobrevivência das pessoas
com doenças crônicas ou incapacidade e a epidemia da síndrome de imunodeficiência adquirida,
entre outros, sendo que nessas situações o enfermeiro é o principal prestador de cuidados. Refere,
ainda, que de acordo com os atuais indicadores de saúde esses problemas de saúde serão,
provavelmente, os que irão prevalecer nos próximos 30 anos.
Na construção do Plano de Estudos do Curso de Enfermagem é necessário ter em conta as
áreas científicas, cujos contributos concorrem, também, para compreensão dos conteúdos do
domínio de Enfermagem. Salientamos, a este propósito, as Ciências sociais e as Ciências
Biomédicas. Assim, os docentes têm a responsabilidade de utilizar no percurso de aprendizagem
metodologias que facilitem a gestão das ideias e das temáticas inerentes ao campo de Enfermagem,
promovendo o pensamento reflexivo indispensável à intervenção cada vez mais autónoma dos
enfermeiros. O conhecimento que temos do plano de estudos do Curso de Enfermagem10, permitenos descrevê-lo como estando organizado nos componentes teórico e prático, como o ensino
teórico, o teórico-prático e o ensino clínico (estágio), que passamos a enunciar:
No que diz respeito ao componente de ensino teórico e teórico-prático inclui as seguintes
disciplinas: Enfermagem, nas vertentes: Fundamentos de Enfermagem, Saúde Comunitária, Saúde
Materna e Obstétrica, Saúde Infantil e Pediátrica, Saúde do Adulto e do Idoso, Saúde Mental e
Psiquiátrica; Ciências Sociais e Humanas, tais como: Psicologia, Sociologia, Antropologia e
Pedagogia; Ciências Biomédicas, tais como: Nutrição, Farmacologia, Microbiologia, Parasitologia,
Epidemiologia, Bioética e Bio Estatística; Gestão e Economia da Saúde;Investigação e Estatística.
No início do Curso de Enfermagem, o ensino teórico e teórico-prático ocupam dois terços
das horas curriculares para um terço de horas da componente ensino clínico, invertendo-se a
situação no final do curso. Nóvoa e Finger (1988) proferem que a formação é uma forma de
desenvolver nos alunos as competências necessárias para mobilizarem os conteúdos teóricos e
técnicos, em situações concretas;
A componente de ensino clínico (estágio), tem como finalidade o relacionamento dos
conteúdos teóricos da disciplina de Enfermagem com os conteúdos da prática profissional,
respeitando uma estrutura lógica e coerente da aprendizagem do “ser Enfermeiro”. Desse modo,
realiza-se nas diferentes áreas da prestação de cuidados de saúde, tais como: Saúde Comunitária;
Saúde Materna e Obstetrícia; Saúde Infantil e Pediatria; Saúde do Adulto e do Idoso; Saúde Mental
e Psiquiatria e Gerontologia e Geriatria.
Ao se debruçar sobre a formação em enfermagem, Carvalhal (2003, p.25) refere que:
Projecto de revisão do Acordo Europeu relativo à formação e educação dos enfermeiros, CDSP (94) 35 de 11 e 12 de
Outubro.
10
Plano de estudos do Curso de Enfermagem da Escola Superior de Artur Ravara.
9
Os conhecimentos adquiridos na escola não são suficientes no sentido de desenvolver
competências e criar a auto confiança necessária à prestação de cuidados. Só o ensino
clínico lhes dará a consolidação e a aquisição de novos conhecimentos, ou seja, permitirá
desenvolver um saber contextualizado.
Ainda, a autora, sugere que a competência profissional é a capacidade de pôr em prática, em
uma determinada, situação, um conjunto de conhecimentos, de atitudes e comportamentos
compatíveis com o saber, o saber fazer, o saber ser e estar. Desse modo, dada a complexidade do
processo formativo, que, em ensino clínico, exige dos formadores/orientadores não só competências
pedagógicas, mas, também, competências pessoais e de enfermagem compatíveis com a progressão
do aluno no processo de aprendizagem, é necessário aproximação e colaboração entre os
professores (enfermeiros) e os enfermeiros da prática profissional. Daí, na atualidade, os alunos
serem integrados nas equipes multiprofissionais das instituições de saúde.
Nesse sentido, é também relevante para a qualidade da formação que as aprendizagens em
ensino clínico seja, também, acompanhado por professores, pois a complementaridade entre os
diferentes atores no aprender a ser enfermeiro, favorece a partilha de responsabilidade e promove o
processo de aprender a aprender. (ABREU, 2003). Resumindo, é no ensino clínico, que os alunos de
enfermagem, futuros enfermeiros, interiorizam os saberes teóricos e desenvolvem as competências
relacionais (saber ser e/ou estar) e psicomotoras (saber fazer – aprender a aprender), fundamentais
para a prestação de cuidados de enfermagem globais ao indivíduo, à família e à comunidade, no
continuum de vida, no processo de saúde – doença e, fundamentalmente, nos cuidados de fim de
vida.
Partindo do princípio de que se aprende fazendo, e que os saberes se constroem na ação e na
interação, pensamos que a formação do enfermeiro, só é eficaz quando incorporada no habitus
profissional. Assim, é necessário que exista relação entre a formação dos profissionais de
enfermagem e o exercício da profissão, na medida em que é através dessa complementaridade, que
se constrói o saber profissional, nomeadamente no campo da saúde e, especificamente, na profissão
de enfermagem, Dubar (1997) salienta que são os saberes práticos, adquiridos diretamente no
exercício da profissão, que validam a formação profissional.
Igualmente, Benner (2001) refere que o saber prático/saber fazer, desenvolve-se na
aprendizagem da prestação dos cuidados de enfermagem e do testemunho dessa aprendizagem nos
contextos de trabalho, devendo o pensamento critico estar embutido na prática da qual decorre.
Nessa ordem de ideias, consideramos que o saber desenvolvido pelos professores de enfermagem e
pelos enfermeiros do exercício deve estar em consonância, para que possa ser questionado, refletido
e, por consequência, compreendido e interiorizado.
Dessa maneira, pensamos ser indispensável, que os professores de enfermagem dominem a
prática da prestação de cuidados de enfermagem para que os alunos a experimentem e a
interiorizem, dando continuidade à sua aprendizagem, pois os saberes, socialmente construídos,
estão subjacentes à história pessoal e social, evoluindo em uma trajetória de experiências, de
práticas, de estudos e de atividades, através dos aspectos operativos, afetivos e intelectuais.
No entanto, verifica-se que existe alguma discrepância entre a formação dos alunos de
enfermagem e o desempenho dos profissionais de enfermagem, daí Abreu (2001) 11 alertar para o
fosso existente entre os modelos da prestação dos cuidados de enfermagem, transmitidos pelo
ensino e os praticados nos contextos de trabalho, pois constatamos, por vezes, a sobrevalorização
dos saberes teóricos, em detrimento dos saberes oriundos da prática, o que contribui para a
dicotomia entre o ensino e o exercício da prática profissional.
Curiosamente, constata-se que os alunos de enfermagem evidenciam que é no ensino
teórico-prático, na escola, que aprendem o que é ser enfermeiro, mas é no estágio que aprendem a
11
Estudo realizado no âmbito da dissertação do doutoramento e publicado em 2001.
fazer, a ser enfermeiros, dizendo ser difícil integrar a teoria na prática. Com alguma frequência, que
os alunos de enfermagem facilmente copiam os modelos da prestação de cuidados de enfermagem,
adotados pelos enfermeiros do exercício, o que confirma o que temos vindo a defender, ou seja,
serem os contextos de trabalho aqueles que dão significado à prestação de cuidados de enfermagem.
Também, Bento (1997) refere que, no discurso de alunos, é clara a dicotomia relativa à
forma de como os alunos pensam e fazem enfermagem. Eles vivenciam a teoria e a praxis como
coisas diferentes. Salienta que os alunos, quando transmitem as vivências da prestação de cuidados,
dizem que é na prática que aprendem, e que não há articulação efetiva entre os dois componentes,
teórico – prático e ensino clínico/estágio.
Ao revermos o Plano de Estudo do Curso de Licenciatura em Enfermagem, em estudo,
concluímos que sua filosofia assenta-se no seguinte princípio: o nível de saúde de uma comunidade
como um bom indicador do desenvolvimento social. Igualmente, evidencia o interesse pela
disciplina de enfermagem no âmbito da saúde do indivíduo e da família, nas alterações de saúde,
durante o ciclo de vida, assumindo o processo de cuidar como serviço essencial à comunidade, uma
vez que a sua prática deve refletir as diferentes necessidades e exigências da sociedade atual sobre
os cuidados de saúde, conducentes à manutenção da qualidade de vida do indivíduo e família.
No entanto, em nenhum dos conteúdos descriminados nos programas das diferentes
unidades curriculares, e especificamente na área da Saúde do Adulto e Idoso, existe referência aos
Cuidados Paliativos. Esse fato. alerta-nos para o não cumprimento do recomendado pela a
Organização Mundial de Saúde e o Conselho Internacional de Enfermeiros12, relativamente aos
princípios que devem reger o ensino de Enfermagem e a prestação de cuidados, que passamos a
expor: cuidado centrado nas necessidades de cada utente; implicação do indivíduo, família, grupos e
comunidade nos cuidados de Enfermagem, integrando um processo educativo, que promova a curto
prazo o auto–cuidado; o conceito de família como unidade de cuidados; articulação entre diferentes
níveis de cuidados de saúde, salvaguardando um continuum de saúde; a realização de estudos no
âmbito do cuidar em Enfermagem e na melhoria dos cuidados de Enfermagem e a colaboração na
formação na área da saúde e suas envolventes, bem como na gestão de unidades de Saúde
Também, o Plano Nacional de Saúde, 13Orientações Estratégicas para 2004-2010, do
Ministério da Saúde, no capitulo “Gestão da doença” alerta para o fato de ser na fase adulta que o
individuo, através da família, do trabalho e da sua relação com a sociedade, é que demonstra
capacidade para se afirmar e exercer a sua cidadania, pelo que, no decurso da evolução da
sociedade, vai sendo acometido de constrangimentos como o stress, a violência, a poluição a
emergência de doenças transmissíveis, o aumento de doenças crónicas potencialmente
incapacitantes e do número de doentes portadores dessas doenças, influenciando o estado de saúde
na idade adulta.
Ainda, na proposta da Ordem dos Enfermeiros (s.d.), para “Implementação e Consolidação
do Enfermeiro de Família em Portugal” chama a atenção, com base no Documento emitido pela
OMS - Saúde 21- reforça a importância da contribuição de enfermagem “como detentora de um
papel ao longo de todo o continuo de cuidados, desde o nascimento até à morte, incluindo a
promoção e proteção da saúde, a prevenção da doença, a reabilitação e a prestação de cuidados aos
indivíduos doentes ou que se encontram nos estádios finais de vida”.
2.1 CUIDAR DA PESSOA EM FINAL DE VIDA
Tendo em conta que a filosofia dos Cuidados Paliativos, que se assenta nos cuidados
prestados à pessoa com doença crónica, avançada e incurável e à família, com vistas à manutenção
Enfermagem e Midwife; Health 21 – Saúde 21 (s.d.); 2ª Conferência da OMS, Munique, Alemanha, 15 – 17 de Junho
2000.
13
Documento de trabalho de 11.02.2004
12
do conforto e da qualidade de vida, ser enfermeiro em nessa aréa não envolve apenas competências
teóricas e técnicas, mas, simultaneamente, competências do nível do saber ser e estar, manifestadas
através da presença, do toque, da palavra, da escuta e empatia, conforme ANCP, 1996; ABIVEN,
1997; SFAP, 1999; Galriça Neto, 2003; PNCP, 2004 e Pereira, 2007.
Ainda, para Twycross (2003, p.16):
Os cuidados paliativos são os cuidados activos e totais aos pacientes com doenças que
constituam risco de vida, e suas famílias, realizados por uma equipa multidisciplinar, num
momento em que a doença do paciente já não responder aos tratamentos curativos ou que
prolongam a vida.
O enfermeiro, como membro da equipe de saúde responsável pela satisfação das
necessidades humanas fundamentais, afetadas, no indivíduo, família ou comunidade, dever possuir
sólidos conhecimentos científicos e técnicos, e conforme nos refere Pacheco (2002), ter
“competência técnica e sensibilidade afetiva”, sendo que elas nunca devem estar separadas.
Registramos que a essência de Enfermagem, em conformidade com Carvalho (1996), é o
respeito pela dignidade humana, que deve se manter independentemente da variação dos conceitos
ao longo dos tempos. Contudo, na prática dos cuidados de enfermagem, nem sempre otimizamos
essa atitude, pois o modo como o exercício da prática está organizado, muitas vezes, privilegia a
rotinização dos cuidados de saúde, assentando-se na administração da terapêutica e recurso
tecnologico, que, se por um lado proporciona mais tempo disponível, por outro facilita o
predomínio do modelo biomédico na prática de cuidados de enfermagem.
Nesse sentido, parece-nos pertinente referir Ribeiro (1995, p.30), quando acentua que:
Como ninguém, os enfermeiros cuidam dos indivíduos na sua totalidade, estão autorizados
a tocar-lhes, a partilhar as suas experiências de saúde, de doença e a manter com eles um
contacto, cuja intensidade e duração dificilmente são experienciados por outros técnicos.
Isto intensifica a possibilidade de conhecimento, acompanhamento, partilha de valores e
necessidades de ajuda.
Desse modo, pensamos que para cuidar da pessoa com doença em fim de vida, os
enfermeiros são os profissionais de saúde que, por terem maior possibilidade de contato, podem ter
uma relação privilegiada com a pessoa, auferindo a possibilidade de maior qualidade nos cuidados
que prestam.
Também, o Ministério da Saúde reconhece a importância da prestação de cuidados à pessoa
em fim de vida, e através do Decreto-lei n.º 104/98 prevê que o enfermeiro, ao acompanhar o
doente nas diferentes etapas da fase de fim de vida, assume o dever de defender e promover o
direito do doente à escolha do local e das pessoas que deseja o acompanhar na fase terminal da vida;
respeitar e fazer respeitar as manifestações de perda expressas pelo doente em fase terminal, pela
família ou pessoas que lhe sejam próximas e respeitar e fazer respeitar o corpo após a morte”
(PORTUGAL, 1999).
Se atentarmos à origem da palavra paliar, encontramos no Dicionário da Língua Portuguesa,
que ela advém do latim palliāre «cobrir com capa», significa atenuar, aliviar, tornar menos
desagradável. Por outro lado, Costa, Sampaio e Melo (1999) referem que o cuidado paliativo é
aquele que serve para paliar, remédio que não cura, mas mitiga a doença, meio ou estratégia para
atenuar momentaneamente uma crise.
A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1990 p.11-2) define cuidados paliativos como:
Cuidados activos completos, dados aos doentes cuja afecção não responde ao tratamento
curativo. A luta contra a dor e outros sintomas, e a tomada em consideração dos problemas
psicológicos, sociais e espirituais são primordiais. O objectivo principal dos cuidados
paliativos é manter a qualidade de vida a um nível óptimo, para os doentes e para a sua
família.
Nos últimos anos, temos assistido a um progressivo acréscimo de serviços, destinados aos
cuidados paliativos, na Europa, a par do seu desenvolvimento em países pioneiros como a GrãBretanha, o Canadá ou os E.U.A. Esse quadro surge em resposta aos problemas de saúde da
sociedade atual, decorrentes do aumento da população de maiores de 65 anos e dos avanços
técnicos e científicos na área da saúde, com reflexos no domínio da doença crónica, debilitante e
avançada, e consequente necessidade de definição de novas políticas de saúde.
Ainda, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos (ACNP, 1996 p. 2) descreve os
cuidados paliativos como:
Cuidados totais e ativos prestados aos enfermos, cuja doença já não responde aos
tratamentos curativos, com o objectivo de obter a melhor qualidade de vida possível até que
a morte ocorra, controlando a dor e outros sintomas e integrando aspectos psicológicos,
sociais e espirituais nesses cuidados.
É, também, determinado pela National Consensus Project (NCP, 2004), que o enfoque dos
cuidados paliativos seja o alívio do sofrimento e o suporte, no sentido de melhorar a qualidade de
vida das pessoas que enfrentam doenças ameaçadoras para a vida, e suas famílias, indo ao encontro
das necessidades físicas, psicológicas, espirituais, sócio-culturais e práticas, afetadas durante a
vivência da doença, devendo ser prestados por equipes multiprofissionais.
Em Portugal, embora a Rede Nacional de Cuidados Continuados, criada pelo Decreto-Lei
N.º281 de 8 de Novembro de 2003, ofereça respostas específicas para doentes que necessitam de
cuidados de média e de longa duração, em regime de internamento, no domicílio ou em unidades de
dia, e contemple a prestação de ações paliativas em sentido genérico, não está prevista a prestação
diferenciada de cuidados paliativos.
Assim, surgiu o Programa Nacional de Cuidados Paliativos, contemplado Plano Nacional de
Saúde 2004 – 2010, que identifica os Cuidados Paliativos como uma área prioritária de intervenção,
devendo ser entendido como um contributo do Ministério da Saúde para o movimento internacional
dos cuidados paliativos, constituindo-se norma do Sistema Nacional de Saúde (PORTUGAL,
2004). Nesse Programa, os cuidados paliativos são desenvolvidos por equipes em unidades
específicas, em internamento ou no domicílio, e incluem apoio à família. Conforme o preconizado
pelas directivas da OMS14, têm como componentes essenciais: o alívio dos sintomas; o apoio
psicológico, espiritual e emocional; apoio à família durante o luto e a interdisciplinaridade.
Ainda, a prática dos cuidados paliativos assenta-se nos seguintes princípios: afirma a vida e
encara a morte como um processo natural; encara a doença como causa de sofrimento a minorar;
considera que o doente vale por quem é e que vale até ao fim; reconhece e aceita em cada doente os
seus próprios valores e prioridades; considera que o sofrimento e o medo perante a morte são
realidades humanas, que podem ser médica e humanamente apoiadas; assenta-se na concepção
central de que não se pode dispor da vida do ser humano, pelo que não se antecipa nem se atrasa a
morte, repudiando a eutanásia, o suicídio assistido e a futilidade diagnostica e terapêutica; aborda de
forma integrada o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual do doente. É baseada no
acompanhamento, na humanidade, na compaixão, na disponibilidade e no rigor científico; centra-se
na procura do bem-estar do doente, ajudando-o a viver tão intensamente quanto possível, até ao fim;
só é prestada quando o doente e a família a aceitam; respeita o direito do doente escolher o local
onde deseja viver e ser acompanhado no final da vida; é baseada na diferenciação e na
interdisciplinaridade. (CIRCULAR NORMATIVA n.º 14 de 15 de Junho de 2004, p.5).
De acordo com essa Circular, a prestação de Cuidados Paliativos deve ser articulada com as
outras redes do Sistema Nacional de Saúde, e se faz de acordo com três níveis de diferenciação:
Ação Paliativa – representa o nível básico de paliação e corresponde à prestação de ações
paliativas sem o recurso de equipes ou estruturas diferenciadas. Pode e deve ser prestada quer em
14
Estratégia Europeia de Educação/Formação de Enfermeira da OMS (2001)
regime de internamento, quer em regime domiciliário, no âmbito da Rede Hospitalar, da Rede de
Centros de Saúde ou da Rede de Cuidados Continuados; Cuidados Paliativos de Nível I– São
prestados por equipes com formação em cuidados paliativos, podendo ser tanto em regime de
internamento, quanto em regime domiciliário. Organizam-se através de equipes móveis que não
dispõem de estrutura de internamento próprio, mas de espaço físico para sediar a sua atividade.
Cuidados Paliativos de Nível II– prestados em unidades de internamento próprio ou no domicílio,
por equipes diferenciadas, que prestam diretamente os cuidados e garantem disponibilidade e apoio
durante 24 horas. As equipes multiprofissionais têm formação em cuidados paliativos e que, para
além de médicos e enfermeiros incluem técnicos, indispensáveis à prestação de um apoio global,
nomeadamente nas áreas social, psicológica e espiritual. Cuidados Paliativos de Nível III –
Reúnem condições e capacidades próprias dos Cuidados Paliativos de Nível II, acrescidas das
seguintes características: desenvolvem programas estruturados e regulares de formação
especializada; desenvolvem atividade regular de investigação nessa área; possuem equipes
multiprofissionais amplas, com capacidade para responder a situações de elevada exigência e
complexidade, assumindo-se como unidades de referência.
Desse modo, face à complexidade dos cuidados em fim de vida, de acordo com Gomez
(1996), implica que os enfermeiros desenvolvam algumas características, tais como: sensibilidade–
indispensável para a identificação das necessidades do doente e família, e permitir a abertura
imprescindível à disponibilidade, quer para o doente e família quer para os demais parceiros dos
cuidados de saúde; flexibilidade– os cuidados paliativos exigem grande capacidade de adaptação,
improviso e mudança, a fim de poder intervir de forma adequada na diversidade de situações de
cuidar o doente e família; amadurecimento– é difícil manter a estabilidade emocional quando se
enfrenta situações de perda e morte, daí a necessidade de desenvolver uma maturidade, que nos
permita enfrentar e resolver problemas, assumir responsabilidades, aceitar e partilhar sentimentos,
reconhecer os erros, em suma, partilhar as aprendizagens da vida; por fim profissionalismo, que é
fundamental para que o enfermeiro desempenhe suas funções, baseadas em conhecimentos sólidos,
articulados com atitudes e habilidades concernentes a cada situação de cuidar. Consideramos essas
características fundamentais para um desempenho de enfermagem, que se pretende de excelência,
pois um dos principais objetivos dos cuidados paliativos, é manter e promover a qualidade de vida
dos doentes no fim de vida e família, implementando medidas adequadas ao bem-estar. Nesse
contexto, considera-se que os cuidados paliativos assentam-se em três pilares principais: o controle
de sintomas, a comunicação com o doente e apoio à família e a prevenção dos sintomas,
relacionados aos efeitos secundários da terapêutica farmacológica, conforme defende Twycross
(2003).
Sobre a formação do enfermeiro para prestar cuidados paliativos, Sapeta (2002), no seu
estudo “Formação Pré– Graduada em Enfermagem sobre Cuidados Paliativos e Dor Crónica”,
concluiu o seguinte: É superficial a abordagem destas matérias dado que o número de horas
atribuído à abordagem dos cuidados paliativos, varia entre 2 a 75 horas, sendo o intervalo, mais
frequente, de 2 a 4 horas; as Escolas Superiores de Enfermagem não cumprem uma das principais
directrizes adequar e preparar novos enfermeiros, visando a permanente articulação com a realidade
e contextos actuais; nem todos os professores de enfermagem valorizam os mesmos conteúdos; por
fim provou existir formação sobre os cuidados paliativos no curso de Enfermagem apesar da
insuficiência e profundidade dos conteúdos.
Ainda, Pereira (2007) desenvolveu um estudo sobre a “Formação sobre Cuidados Paliativos
no Ensino Pré-Graduado em Enfermagem”, concluindo que em metade das escolas estudadas não
foi possível saber quais os conteúdos específicos lecionados no domínio dos cuidados paliativos,
por ausência de informação particular, sobre o assunto. De acordo com as recomendações da SFAP
(1999), a Enfermagem Paliativa nos cursos de Enfermagem deveria contemplar um “bloco”
independente com o mínimo de 12 horas, abordando temas como: comunicação, ética, anatomia,
fisiologia e farmacologia, já ministrados em outras disciplinas. Salienta, ser primordial a integração
de assuntos fundamentais, como: Princípios dos Cuidados Paliativos, a Comunicação, a Gestão de
Problemas de Enfermagem, o Enfrentar da Morte e os Aspectos Ético-Legais. Igualmente,
aconselha a utilização pedagógica da metodologia ativa, como forma de tornar mais interativo o
processo de aprendizagem, em uma área que muito interfere com os nossos sentimentos e emoções.
No entanto, apesar de já haver legislação sobre esta matéria, constata-se haver grandes
assimetrias na acessibilidade a esse tipo de cuidado, existindo a necessidade de se incrementar, cada
vez mais, a formação dos profissionais de saúde, em especial dos enfermeiros em cuidados
paliativos. Essa é uma condição necessária ao cumprimento do Programa Nacional de Cuidados
Paliativos, de 15 de Junho de 2004, aprovado por Despacho do Ministro da Saúde, a ser aplicado no
âmbito do Serviço Nacional de Saúde, segundo o qual:
A complexidade do sofrimento e a combinação de factores físicos, psicológicos e
existenciais na fase final da vida, obrigam a que a sua abordagem, com o valor de cuidado
de saúde, seja, sempre, uma tarefa multiprofissional, que congrega, além da família do
doente, profissionais de saúde com formação e treino diferenciados, voluntários preparados
e dedicados e a própria comunidade.
Assim, no âmbito dos sistemas de saúde verifica-se a necessidade crescente de cuidados
paliativos que, inevitavelmente, potencia perda de terreno por parte da cura decorrente da ação
médica, cedendo ao cuidado de enfermagem a forma privilegiada de reduzir sofrimento, promover o
bem-estar e o conforto.
3- METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa empírica, descritiva, desenvolvida com recurso da análise de
conteúdo que, de acordo com Fortin et al (1988); Richardson (1989); Demo (2000); Gil (1995),
entre outros, consiste em descrever um fenômeno ou um conceito relativo a uma população, de
forma a estabelecer suas características.
A população foi constituída por alunos que frequentam o 4º ano do Curso de Licenciatura de
Enfermagem na ESEL – Pólo Artur Ravara (62 alunos), por ter sido com esse plano de estudos que
temos trabalhado durante o ano letivo, bem como nos últimos 8 anos. Nosso envolvimento na
formação desse grupo, merece-nos especial atenção, porque essa pode ser uma forma de avaliação,
embora parcial, desse plano de estudos. Apesar de não termos abrangido todos os alunos do 4º ano
da ESEL, pensamos, mesmo assim, poder com os seus resultados, dar sugestões para o novo plano
curricular desse Curso de Enfermagem, ainda em inicio de implementação. Recorremos a uma
amostra não probabilística e, assim, selecionamos alunos, que depois de contatados
telefonicamente, demonstraram disponibilidade para o efeito. Salientamos, como fato importante,
que todos os entrevistados mostraram-se disponíveis, tendo-se deslocado ao Pólo Artur Ravara,
expressamente para esse fim.
Para a recolha dos dados recorremos à entrevista semi estruturada, pois permitiu-nos colher
informações junto dos participantes, relativas aos fatos, às ideias, às expectativas e às atitudes sobre
o fenômeno em estudo. De acordo com os objetivos, formulamos as seguintes questões, para a
entrevista: o que entende por cuidados de saúde à pessoa em fim de vida e família? Que cuidado de
enfermagem pensa que o enfermeiro deve dispensar à pessoa em fim de vida e família? Sente-se
capacitado, como próximo futuro enfermeiro, para cuidar da pessoa em fim de vida e família? A
formação que teve no curso de licenciatura em enfermagem facultou-lhe as capacidades necessárias
para, no seu entender, cuidar da pessoa/família em fim de vida? Que formação, no seu entender,
poderá ser introduzida no curso de enfermagem de forma a proporcionar melhor preparação para
cuidar o doente em fim de vida e família?
A fim de testar a clareza, funcionalidade e validade do roteiro da entrevista, realizamos um
pré- teste e, após a análise das respostas, verificamos que iam ao encontro dos nossos objetivos. As
entrevistas foram realizadas individualmente, e tiveram a duração média de 15 minutos, tendo sido
pedido autorização para efetuar a gravação das mesmas. Assim, antes de iniciarmos, informamos os
sujeitos a razão do conteúdo das entrevistas, bem como garantimos o sigilo e anonimato. Com a
realização das 10 entrevistas percebemos a saturação das respostas, sobre a temática abordada. As
entrevistas foram gravadas e, posteriormente transcritas, após o que, iniciamos a análise.
No processo de organização e análise dos dados, levamos em conta a utilização da análise de
conteúdo, que segundo Bardin (1977, p. 19) “ é uma técnica que tem por finalidade a descrição
objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto na comunicação”. Nessa técnica, não há
“pronto-a-vestir”, considera – se que ela se adequa ao domínio e objetivos pretendidos.
Conforme as fases, previstas nessa técnica, na primeira transcrevemos cada uma das
entrevistas e fizemos leitura flutuante, após o que passamos à elaboração do corpus de análise;
seguidamente procedemos ao recorte do texto, em unidades de registro e passamos à codificação
dessas unidades, de onde emergiram as categorias e subcategorias do estudo. As categorias que
emergiram, permitiu-nos aproximação com as significações do entendimento que os alunos têm
sobre o estarem preparados para prestarem cuidados de Enfermagem ao doente em fim de vida e
família.
Registramos que foi nossa pretensão atuar eticamente pelo que nos baseámos nos princípios
éticos, referentes à realização de um trabalho de investigação. Assim sendo, no início de cada
entrevista procedemos a um cumprimento, informámos sobre os objetivos do estudo, a garantia do
anonimato dos dados recolhidos, da liberdade de participação e de recusa à entrevista. Solicitámos,
também, a autorização para proceder à gravação das entrevistas. A seguir, apresentamos os
resultados sob a forma de quadros, resultantes da análise das entrevistas, com as categorias e
subcategorias emergentes
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Conforme exposto na metodologia, para a consecução do estudo, realizamos dez (10)
entrevistas com alunos, com idades compreendidas entre os 22 e os 25 anos, que frequentam o 4º
Ano do Curso de Licenciatura de Enfermagem (Plano de Estudos da ex-Escola Superior e
Enfermagem de Artur Ravara). Através da análise de conteúdo, consideraramos seis categorias:
Cuidados Paliativos; Cuidados de enfermagem em fim de vida; Cuidados à família do doente em
fim de vida; Formação inicial em cuidados paliativos; Tipo de formação sobre cuidados paliativos
e Patologia associada aos cuidados paliativos. A partir dessas categorias, foram determinadas
subcategorias anunciadas sob a forma de quadro, para melhor compreensão das unidades de
registros, descritas ao longo do texto.
Na categoria Cuidados paliativos, buscamos o entendimento dos participantes sobre o os
cuidados de saúde aos utentes em fim de vida e família. A partir dela, foram determinadas três
subcategorias conforme quadro nº 1.
Quadro n.º 1 – Cuidados paliativos
Categoria
Cuidados Paliativos
Subcategoria
Cuidados ao individuo e família em
processo de doença terminal
Cuidados paliativos igual a cuidados de
saúde em fim de vida
Área diferenciada da prestação de
cuidados
Na subcategoria “Cuidados ao individuo e família em processo de doença terminal”, de
acordo com os participantes, cuidados Paliativos são aqueles prestados ao utente e família que
vivenciam o processo de doença terminal. Parece-nos que os participantes, têm ideia sobre cuidados
paliativos, não parecendo, no entanto, dominar a temática aprofundadamente, pois, quando
pretendemos explora-la, não foram além do abaixo transcrito, repetindo o que ja havia referido, a
exemplo de:
“ (...) e a prestação de cuidados ao individuo e família que se encontram em processo de doença terminal (...)”
P6
“ (...) são os cuidados que são prestados no sentido de dar resposta aos problemas que surgem sem situação de
doença prolongada (...) “ P7
“ (...) cuidados paliativos envolve tudo, há uma diversidade de patologia, uma diversidade de sintomatologia,
há uma diversidade de abordagens (...)” P9
Ao debruçarmo-nos sobre o conceito da ACNP (1996, p.2), que descreve os cuidados
paliativos como “cuidados totais e activos prestados aos enfermos, cuja doença já não responde aos
tratamentos curativos, com o objetivo de obter a melhor qualidade de vida possível até que a morte
ocorra”, verificamos que sua abrangência é maior do que a espelhada pela amostra.
Quanto à subcategoria “Cuidados paliativos igual a cuidados de saúde em fim de vida”, foi
referido po três participantes não existir diferença entre os dois conceitos, revelando, a nosso ver,
não terem ancorado o conhecimento sobre a temática em estudo, dada a insipiência das respostas.
“ (...) não vou conseguir encontrar a diferença certa (...) “ P1
“ (...) para mim vão bater um pouco se calhar no mesmo, mas se calhar não é (...) P2
“ (...) os cuidados em fim de vida não são só específicos dos cuidados paliativos” P10
A esse respeito, Galriça Neto (2003, p.27) menciona que esses cuidados centram-se nas
necessidades aos doentes e famílias. Em uma fase inicial podiam ser encarados como cuidados em
fim de vida, mas no seu desenvolvimento e reconhecimento permite que os Cuidados Paliativos
sejam hoje encarados como uma intervenção ativa no sofrimento, determinado pela doença crônica
e as perdas associadas, muito antes dos últimos dias de vida. Essa opinião é partilhada por vários
autores a exemplo de Twycross (2003), que afirma a necessidade de existir um continuum de
cuidados, e o envolvimento dos doentes e famílias, desde a confirmação do diagnóstico, uma vez
que, muito cedo, estão sujeitos ao estresse físico, psicológico e espiritual.
Na subcategoria “Área diferenciada da prestação de cuidados”, os participantes
consideraram que os cuidados paliativos se constituem uma área específica dos cuidados de
enfermagem, Transcrevemos o dito pelos participantes a esse propósito:
“ (...) Penso que os cuidados paliativos são uma área muito específica da enfermagem (...) P3
“ (...) a prestação de cuidados paliativos exige uma formação específica (...)” P7
“ (...) são cuidados mais específicos e prestados por alguém com uma formação adequada para essa fase da
vida (...)” P7
Os cuidados paliativos exigem desenvolvimento de competências mais de índole
psicossocial do que psicomotoras, sendo necessário envolvencia, respeito a autonomia do doente e
da família, respeito a vida e o aceite a inevitabilidade da morte.
Segundo Abiven (1997, p.31):
A tarefa do prestador de cuidados, nos cuidados ao doente em fim de vida e família, deve
ser de ajudar a gerir esta crise, tanto nos planos afetivos, familiar, social e espiritual, como
no plano fisiológico. Morrer não é só parar de respirar ou ter um eletroencefalograma
plano. É também, e em primeiro lugar, ter de romper os laços de amor, o apego às coisas,
aos lugares de que se gosta.
Acrescenta, ainda, que morrer é, quaisquer que sejam as convicções religiosas, ver-se
confrontado com a interrogação do após vida. Daí, a função do técnico de saúde ir além da
determinação do diagnóstico e prescrição da terapêutica, para assistir o doente nas dimensões
inerentes à sua condição de ser humano.
Na categoria “ cuidados de enfermagem em fim de vida” objetivamos o entendimento dos
participantes sobre o significado da terminologia dos cuidados de enfermagem e a diferença por eles
apontada entre cuidados paliativos e cuidados em fim de vida. Nessa categoria foram encontradas
três subcategorias, expressas no quadro n.º 2.
Quadro n.º 2 – Cuidados de enfermagem em fim de vida
Categoria
Subcategoria
Ideia sobre cuidados em fim de vida
Qualidade de vida/Satisfação das
necessidades
Proporcionar conforto/alívio do
sofrimento
Cuidados de enfermagem em fim de vida
Quando questionados sobre os cuidados em enfermagem nessa área, os participantes
disseram que os cuidados de enfermagem devem ser dirigidos ao doente e família, no sentido da
manutenção da qualidade de vida, do alívio do sofrimento, da satisfação das necessidades, do alívio
da sintomatologia, o que está de acordo com Twycross (2003).
Notamos, no entanto, falta de clareza no que se refere ao fato do alvo dos cuidados ser o
doente e a família e não a alteração do estado de saúde, e a aceitação da morte. Pois, conforme
evidencia o autor, os cuidados paliativos “constituem uma aliança entre o doente e os prestadores de
cuidados preocupam-se mais com a reconciliação do que com a cura”.
Verificamos, através do discurso, que na subcategoria “Ideia sobre cuidados em fim de
vida”, que esses cuidados visam a intervenção do enfermeiro à pessoa na última etapa do seu ciclo
de vida, dando ênfase à dignidade humana, sendo essa intervenção alargada à família. Assim,
descrevemos algumas das expressões usadas pelos alunos:
“ (...) são intervenções adequadas pelo enfermeiro à última etapa do ciclo vital da pessoa e à respectiva
família (...)” P5
“ (...) são cuidados que são prestados quando não há uma perspectiva de cura, mas há uma perspectiva de
fazer tudo o que é possível pela pessoa, ou seja, reabilitar mas no sentido paliativo, aliviar, mas no sentido
paliativo (...)”P9
“ (...) cuidados em fim de vida abrangem, principalmente, os cuidados que servem para dar a dignidade que
cada pessoa merece no seufim de vida (...) “ P4
“ (...) São cuidados que visam o conforto/bem-estar da pessoa em situação terminal e da respectiva família
(...)” P5
Face a isso, cabe-nos reforçar, que o enfermeiro desenvolve sua atividade em todas as etapas
do ciclo de vida e no continuum de saúde, que lhe é subjacente. Nesse sentido, intervém nas
diferentes abordagens de cuidar o indivíduo e a família quer no âmbito da promoção e manutenção
da saúde, quer no tratamento, reabilitação e paliação. Desse modo, tem a responsabilidade de
planejar, executar, avaliar e reformular os cuidados que desenvolve, em função das necessidades
detectadas naqueles que são alvo dos seus cuidados.
Nesse sentido, na subcategoria “Qualidade de vida/Satisfação das necessidades” os
participantes evidenciaram os cuidados em fim de vida com necessários para aumentar, manter e
promover a qualidade de vida do doente em fim de vida, conforme recortes dos discursos, abaixo:
“(...)Cuidados de fim de vida tem a ver com a qualidade de vida da pessoa, portanto eu acho que é o manter
ao máximo a qualidade de vida até, pronto a pessoa falecer (...)” P1
“(...) são os cuidados à pessoa em fim de vida que promovam o seu bem estar e conforto e diminua as dores
que possam sentir (...)” P3
“(...) são todos os cuidados que servem para aumentar a qualidade de vida naquele momento (...) “ P4
“(...) A questão preponderante é a promoção da qualidade de vida e a satisfação dos desejos antes da morte
(...) P2
A propósito da “qualidade de vida”, atributo dos cuidados paliativos, mencionado pelos
participantes do estudo, Twycross (2003, p. 19) informa que “qualidade de vida é aquilo que a
pessoa considera como tal”, e que está relacionada “com o grau de satisfação subjetiva que a pessoa
sente pela vida, sendo e é influenciada por todas as dimensões da personalidade. Assim, o conceito
de qualidade de vida varia de pessoa para pessoa e circunstâncias que a envolvem, podendo ser
perspectivada de formas diferentes pela mesma pessoa, em função do estádio de vida em que se
encontra.
Na subcategoria “proporcionar conforto/alívio do sofrimento”, os participantes alegam que
providenciar conforto ao doente família é uma das finalidades dos cuidados em fim de vida. Nessa
continuidade, verifica-se que os participantes valorizam o controle sintomático como um dos
cuidados em fim de vida, bem com o alívio do sofrimento, conforme manifestaram duas
participantes:
“(...) levar a pessoa a passar todo esse percurso com o menos sofrimento possível (…)” P1
“(...) passa por tentar, na medida do possível, satisfazer a pessoa nas suas necessidades (...)” P4
(...) Os cuidados de enfermagem à pessoa em fim de vida devem ser cuidados de conforto, com vista à
diminuição do sofrimento (...)”P3
Reportando-nos a Hesbeen (2000), os cuidados de enfermagem, são compostos de múltiplas
ações que, acima de tudo, apesar do espaço ocupado pelos gestos técnicos, são uma infinidade de
“pequenas coisas”, que possibilitam ao doente e família, ser o centro da atenção do cuidar.
Também, os participantes manifestaram que os cuidados de enfermagem em fim de vida são
oportunidade privilegiada para proporcionar momentos considerados importantes pelo doente:
“ (...) atender pequenas necessidades que às vezes podemos não ligar, mas que nesta fase são extremamente
importantes, pequenas coisas, como por exemplo uma refeição, uma visita a mais, acho que é muito por ai
(...)” P4
“ (...) proporcionar à pessoa o melhor fim de vida de acordo com as suas prioridades e vontades (...) É
continuar a vê-la como uma pessoa com capacidades e explorá-las consoante a sua vontade e desejo (...) “ P6
“ (...) A pessoa em fim de vida, além de necessitar de cuidados personalizados e que abordem a pessoa ao
nível físico, psíquico e social devem promover acima de tudo o conforto da pessoa em questão (...)” P3
Segundo Waldow (2004, p.167), é “essencial obter a confiança do paciente, dar espaço para
se sentir confortável” e seguro bem como a sua família. Na verdade a família tem papel fulcral no
bem-estar do doente em fim de vida, daí ser considerada como um dos atores no processo dos
cuidados paliativos.
Na categoria “Cuidados à família do doente em fim de vida” pretendemos entender a
valorização que os participantes dão à família, não só como alvo de cuidados, mas, também, como
parceiros. Nesta categoria foram determinadas quatro subcategorias que se apresentam no quadro
n.º 3
Quadro nº 3 – Cuidados à família do doente em fim de vida
Categoria
Subcategoria
Relações familiares
Relação de parceria com utente,
família e comunidade
Continuidade de cuidados de
enfermagem após a morte
Intervenção ao nível do luto
Cuidados à família
Notamos a valorização que os participantes atribuem à família no contexto de prestação de
cuidados ao utente em fim de vida, a qual se realça nas unidades de registro, apresentadas.
Para Pace (1997), uma enfermagem de qualidade em cuidados paliativos exige que os
enfermeiros desenvolvam cuidados de forma atenciosa, com criatividade e direcionados a cada
doente e família, no tempo que lhe é devido. A forma como o enfermeiro estabelece relação com o
doente e família é de crucial importância, pois permite que o doente sinta-se “vivo” e que a sua vida
vale como tal.
Na subcategoria “Relações familiares” em contexto da intervenção familiar, denota-se que
os participantes valorizam as relações familiares e a importância do papel do enfermeiro na
mediação das mesmas.
“(...) acho que é uma pessoa muito importante [enfermeiro] no trabalho das relações familiares também nessa
altura (...)” P2
“(...) à uma situação de crise naquela família, è difícil lidar com a morte, é difícil lidar com a doença que
pode gerar imensos problemas, não só para a pessoa mas também para a família (...)” P8
“ (...) servirmo-nos talvez com um inter-mediador no trabalho das relações inter-familiares em termos de
resolução de conflitos patentes que possa para a pessoa ser importante (...)” P2
Reforçando, as falas consideram que em todo o processo é fundamental envolver a família e
os membros da equipe multiprofissional, nos cuidados de saúde e na preparação do percurso fim de
vida. Os participantes valorizam a família como alvo e parceira nos cuidados paliativos,
evidenciando como importante a intervenção do enfermeiro.
Também, Galriça Neto (2004, p.33) alerta para a necessidade de apoiar a família:
Pressupõe, para os profissionais, adoptar uma atitude pró activa por forma a avaliar
sistematicamente as suas necessidades – que frequentemente são distintas das do doente –
programar espaços próprios para a discussão da evolução da doença e dos tratamentos em
curso, promover, quando útil, conferências familiares, que representam uma forma
estruturada de intervenção na família, embora não corresponda à terapia familiar.
Acrescenta que considera como família aqueles que estão, efetivamente, próximo do doente,
podendo ou não, haver laços de sangue entre eles.
Assim, na subcategoria “relação de parceria com utente, família e comunidade”, emerge
como vertente fundamental à sustentabilidade dos cuidados em fim de vida, constituindo-se como
indispensável:
“(...) a família deve ser envolvida no sentido da prestação dos cuidados (...) muitas vezes as famílias prestam
cuidados porque têm que o fazer, mas não se sentem emocionalmente capazes de o fazer (...)” P7
“ (...) Acho que é muito pela parceria que tem de existir com a família do doente (...) temos de preparar a
família, não deixar a família a parte e talvez integrar outros profissionais ao nível da comunidade (...) “ P4
“ (...) há interesse na família e no elo de ligação entre a família, o enfermeiro ou o médico, neste caso os
profissionais de saúde, e o doente (...)” P10
A OMS, já em 1990, ao definir os princípios orientadores dos cuidados paliativos afirmava
que o doente e a família formam uma unidade de cuidados, e devem ser vistos como parceiros,
iguais, no estabelecimento e alcance de finalidades realistas.
Na subcategoria “Continuidade de cuidados de enfermagem após a morte” um participante
sugere, ainda, a sua importância fundamental nessa área de cuidados:
“(...) o enfermeiro de cuidados paliativos é diferente porque eu acho que um enfermeiro de cuidados paliativos
planeia continuar a ter contacto com a família e a trabalhar com a família após a morte daquela pessoa (...)”
P2
Na realidade, o ato de cuidar enfermagem implica relação interpessoal, sem a qual não
existe envolvimento entre quem cuida e quem é cuidado e, sem ela, não são criadas condições
inerentes à intervenção eficaz de enfermagem.
Twycross (2003) considera a comunicação como uma das pedras basilares dos cuidados
paliativos, através da qual é possível a aliança terapêutica conducente à melhoria da qualidade de
vida.
Na intervenção familiar, definimos a subcategoria “Intervenção ao nível do luto”, também,
valorizada pelos participantes, como podemos observar nas unidades de registo abaixo descritas:
“(...) nos cuidados de enfermagem o enfermeiro trabalhar com a pessoa e com a família para falar de cada
uma das fases [de fim de vida], e preparar sempre para as fases que se seguem, para não haver um choque
(...)” P9
“ (...) acho que a família tem de ser tida muito em conta no processo, porque ela também vai viver toda esta
fase com o doente e tem de se preparar para o luto (...)” P4
“ (...) perceber a família, ajudá-la a compreender a morte, ajudar no processo de luto (...)” P10
Destacamos que apesar de cada pessoa ser única no seu modo de viver e reagir às diferentes
situações, referenciamos a SFAP (1999), quando relata que, no contexto de cuidados paliativos, as
reações do doente e família são, frequentemente, análogos, sendo prevalentes: a fadiga, o medo, o
sentimento de impotência, a angústia espiritual, a ansiedade, a perturbação da imagem corporal, a
dor e o sofrimento.
Também, Hennezel (1996, p.11) alude que:
Quem tem o privilégio de acompanhar alguém nos seus últimos instantes de vida sabe que
estes entram num espaço muito íntimo. A pessoa, antes de morrer, tentará transmitir aos
que a acompanham o essencial de si própria. Através de um gesto, de uma palavra, às vezes
somente de um olhar, tentará dizer o que realmente conta, e que ela nem sempre pôde ou
soube dizer. A morte, essa que todos havemos de viver um dia, a que fere os nossos
próximos ou os nossos amigos, talvez seja o que nos leva a não nos contentarmos a viver á
superfície das coisas e dos seres, o que nos move a penetrar na sua intimidade e profundeza.
Assim, a OMS (1990) reconhece nos princípios em que assentam os cuidados paliativos que
o ensino adequado, especifico e planejado pode melhorar o conhecimento, a confiança e o
desempenho dos enfermeiros nos cuidados a prestar aos doentes em fase avançada de doença ou em
fase final. Admite, também, que os conhecimentos e as técnicas que sustentam a enfermagem
paliativa devem ser acessíveis a todos os enfermeiros na formação inicial e nos programas de
formação continua. Similarmente os participantes mencionam a necessidade de, durante a formação
inicial, serem implementadas estratégias de desenvolvimento pessoal, especificamente,
direccionadas para a prestação de cuidados ao doente em fim de vida e família.
A categoria “ Formação inicial em cuidados paliativos” teve como finalidade saber a
opinião dos participantes sobre a preparação que o estudante de enfermagem deve ter nessa área de
prestação de cuidados e se consideram suficiente os conhecimentos adquiridos na formação inicial.
Para o efeito, foram elaboradas três subcategorias que se encontram no quadro n.º 4.
Quadro n.º 4 – Formação inicial em cuidados paliativos
Categoria
Formação inicial em cuidados paliativos
Subcategoria
Formação teórica em cuidados
paliativos
Acompanhamento pedagógico
em ensino clínico
Necessidade de continuidade da
formação inicial
Conforme o PNCP, a formação básica é, fundamental, para a humanização dos cuidados de
saúde e considera a formação como um dos principais alicerces na prestação de cuidados de
enfermagem paliativos, na Europa. (PORTUGAL, 2004).
Também, os participantes revelaram que a temática cuidados paliativos deve ser
desenvolvida, nas escolas de enfermagem, ao nível da formação inicial, sugerindo falhas na sua
abordagem em diferentes dimensões. Daí a subcategoria “Formação teórica em cuidados
paliativos” se fundamentar no verbalizado pelos participantes, sobre as lacunas sentidas no decurso
do ensino teórico:
“ (...) devia haver uma componente de cuidados paliativos na formação dos alunos, seria importante (...)
cuidados paliativos não é uma especialidade por algum motivo é, se calhar o que tem de diferente não é
suficiente para se tornar uma especialidade (...) se nós perguntarmos quais são as competências de cuidados
paliativos, não existem(...)” P10
“ (...) poderia haver um reforço nas aulas acerca desta temática, que pudéssemos trabalhar através de
dinâmicas (...) mesmo para os cuidados em fim de vida, acho que não estamos preparados (...) nós
aprendemos na teoria, mas depois chegamos á prática e é sempre diferente, somos confrontados com
determinado tipo de perguntas e não sabemos o que responder ás pessoas (...)” P7
“ (...) na Escola também passaram essa mensagem dos cuidados paliativos (...) daquilo que falamos um pouco
mas também não abordamos muito em sala de aula (...) eu acho que paliativos foi um cheirinho (...) portanto
veio um profissional de enfermagem que estava ligado diretamente a uma rede de cuidados paliativos, que me
recordo, e foram breves momentos de debate também e de partilha, mas foi pouco, foi pouco (...) “ P2
“ (...) a formação que nós recebemos enquanto enfermeiros de cuidados gerais não é suficiente (...) os
enfermeiros do curso base, licenciatura, deviam de ser mais preparados, deviam de insistir mais nesta
temática (...)” P9
Reportando-nos a Pacheco (2002. p.4):
As atitudes face à morte diferem de cultura para cultura, país para país, de região
para região e, até, de pessoa para pessoa, o que leva a concluir que a forma como
reagimos à morte está dependente de uma multiplicidade de factores (…) que se
relacionam principalmente com aspectos espacio-temporais, sócio-culturais,
pessoais e educacionais.
Identicamente, Kübler–Ross (2002, p.278) refere que os profissionais de saúde, entre os
quais salienta os enfermeiros, podem ser uma mais valia nos momentos finais de vida.
Ao centrarmos no aluno o processo de aprendizagem, estamos a contribuir para o seu
desenvolvimento individual e social, nas dimensões afetiva, cognitiva e psicomotora, em uma
perspectiva de bem-estar pessoal e profissional. No entanto, conforme refere Perrenoud (1997), o
modelo clínico de formação obriga o formador/professor a estar disponível, permitindo maior
reflexão e compreensão dos fenômenos. É, pois, necessário que exista ajustamento entre a formação
dos profissionais de enfermagem e o exercício da profissão. Segundo Dubar (1997), são os saberes
práticos, adquiridos diretamente no exercício da profissão, que tornam válida a formação
profissional.
Nesse sentido, conforme Benner (2001), o saber prático/saber fazer em enfermagem,
desenvolve-se na aprendizagem da prestação dos cuidados e do testemunho dessa aprendizagem nos
contextos de trabalho. Desse modo, o saber desenvolvido pelos professores de enfermagem e pelos
enfermeiros do exercício deve estar em consonância, para que possa ser questionado, compreendido
e interiorizado.
Igualmente, Malglaive (1995) refere que pela ação, os saberes teóricos / saberes processuais
e os saberes práticos/saber fazer, substituem-se uns aos outros, interpenetram-se, combinam-se,
misturando-se. Daí, salientarmos que os saberes são socialmente construídos, estão subjacentes à
história pessoal e social e a aquisição de competências ocorre ao longo do tempo.
Nessa ordem de ideias, Pereira (2007) alude que muitos estudantes, em ensino clínico,
verbalizam dificuldades que se repercutem na comunicação e na relação que estabelecem com os
doentes em fim de vida e familiares, demonstrando tendência para o afastamento e fuga. Salienta,
também, que um dos fatores que concorre para esse comportamento é sentirem-se insuficientemente
preparados, entendendo ser escasso o espaço de abordagem da problemática dos cuidados paliativos
na formação inicial.
Os participantes enfatizaram a necessidade do acompanhamento pedagógico do professor
face ás situações de vulnerabilidade na prestação de cuidados ao doente em fim de vida e família. A
esse propósito, criamos a subcategoria “Acompanhamento pedagógico em ensino clínico “ com
base nas seguintes descrições:
“ (...) acho que poderia haver mais qualquer coisinha, qualquer coisa mais específica, porque se prende com
os cuidados de enfermagem habituais. Para mim seria difícil em termos psicológicos, a carga que é trabalhar
com as famílias assim (...)” P8
“ (...) se tivéssemos no contexto prático uma orientação que fosse mais eficaz, temos orientadores em campos
de estágio que também não estão direccionados para essa temática... Evitam a família e evitam perguntas da
pessoa (...) é um bocado difícil evoluir se não tivermos aquela pessoa a acompanhar (...)” P7
“ (...) ao longo de todos os estágios, os alunos também necessitam de ser cuidados (...)” P9
Nessa ordem de ideias, reportamo-nos a SFAP (2000), quando salienta que a aprendizagem
dos cuidados paliativos versus cuidados em fim de vida está diretamente ligada à qualidade da
orientação do estágio na área. à análise das práticas e ao acompanhamento pedagógico dos
professores. Denota-se, também, preocupação, dos participantes, na formação continuada, no
contexto de trabalho e da aprendizagem integrada. Nesse contexto, foi criada a subcategoria
“Necessidade de continuidade da formação inicial”, definida com base no abaixo transcrito:
“ (...) um profissional que trabalhe nesta área deve investir nela, frequentando cursos que possam ser úteis ao
seu crescimento (...)” P3
“ (...) Formação em Enfermagem (licenciatura), que poderá ser expandida com cursos de pós-graduação e/ou
frequência de seminários/conferências na área dos cuidados paliativos (...)” P5
“ (...) mesmo falando isso nas aulas nunca é o suficiente e exige uma aprendizagem ao longo da vida que nós
ainda não temos neste momento (...)” P7
Também, a ANCP (2006) recomenda atividades de formação contínua, que digam respeito à
especificidade da formação, com recurso a metodologias pedagógicas ativas como discussão de
casos, role playing, simulações, trabalhos de grupo, grupos de discussão, entre outros.
Na categoria “Tipo de formação sobre cuidados paliativos” pretendemos perceber quais os
principais conteúdos que os participantes consideram dever ser mais aprofundados ao nível da
formação inicial em enfermagem.
Foram levantadas quatro subcategorias, apresentadas no quadro nº 5.
Quadro n.º 5 – Tipo de formação sobre cuidados paliativos
Categoria
Subcategoria
Desenvolvimento pessoal
Desenvolvimento de conteúdos
específicos
Relação de ajuda/comunicação
Trabalho em equipa
Tipo de formação em cuidados paliativos
Procedendo a analise, consideramos ser necessário que o enfermeiro conheça suas
limitações, desenvolva o auto conhecimento, de forma a se distanciar do seu eu, quando vai ao
encontro do outro, ajudando, o doente e a família na satisfação das necessidades afetadas e
mantendo a dignidade e sentido de vida. Realçamos que, nessa área, como em outras dos cuidados à
saúde, o desenvolvimento profissional deve estar em consonância com o desenvolvimento pessoal.
Canário (1998) salienta que na formação é imprescindível a articulação entre a dimensão
pessoal e profissional, entre a dimensão social e coletiva do exercício profissional, bem como entre
os saberes teóricos e os construídos na ação, pois se um profissional não se desenvolve como
pessoa, não é um profissional completo.
Constatamos, no discurso dos participantes, a necessidade de estratégias de desenvolvimento
pessoal, especificamente, direcionadas à prestação de cuidados ao utente em fim de vida e família,
daí a subcategoria “Desenvolvimento pessoal”, exemplificadas nas falas abaixo:
“ (...) a nível psicológico requer da parte do profissional uma preparação (...)” P3
“ (...) Penso que se calhar alguma preparação ao nível do trabalho da nossa capacidade psicológica e do
acompanhamento às famílias e à própria pessoa (...) “ P4
“ (...) é para mim difícil lidar com esse tipo de situações (...)” P8
“ (...) abordar mais os aspectos psicológicos (...)” P9
O desenvolvimento de atitudes de cuidado às pessoas que necessitam de cuidados paliativos,
bem como a estimulação do auto cuidado nas equipes, é uma constante, entre os profissionais de
saúde, particularmente os enfermeiros. A esse propósito, conforme Ramos (2004, p.307), é
necessário que os profissionais de saúde tenham acesso a uma formação sólida sobre a
complexidade de fatores explicativos e intervenientes nos comportamentos de saúde e no recurso
aos cuidados, os quais não são, unicamente, de ordem individual, mas um conjunto indissociável de
fatores culturais, sociais, educativos, psicológicos, ambientais e políticos.
De fato, no que se refere à subcategoria “Desenvolvimento de conteúdos específicos” de
cuidados paliativos na formação inicial, os participantes sugerem que não só os relacionados,
concretamente, à área dos cuidados paliativos, mas também às outras áreas associadas.
Passamos a transcrever:
“ (...) noção geral do que são os cuidados paliativos, para que servem, qual a sua missão, a sua filosofia, os
objectivos, quais são os pilares em que assentam (...) os principais sintomas, como a dispneia, a dor (...) os
principais sintomas que estão evidentes numa fase em fim de vida, deviam de ser mais explorados em
conciliação com a cadeira de anatomia (...)” P9
“ (...) penso que uma formação que foque métodos de proporcionar conforto (...) técnicas para o alívio da dor
(...) se calhar haver mais anatomia e fisiologia (...)” P9
“ (...) os professores de enfermagem conjuntamente com a cadeira de anatomia, fazer um estudo e perceber
quais as maiores dificuldades que os alunos sentem na prática em relação à anatomia e fisiologia e tentar dar
esse foco nessas áreas (...)” P9
Similarmente, foi evidenciado a necessidade de maior preparação na área da comunicação,
voltada para a relação de ajuda, como competência indispensável na área de cuidados de
enfermagem. Definimos, assim, a subcategoria “Comunicação/relação de ajuda”:
“ (...) a nível de competências/ formação acima de tudo relacional (relação de ajuda) (...) “ P6
“ (...) É essencial e fundamental nestas alturas estabelecer uma relação de ajuda (...) trabalhar a relação (...)
como se faz a abordagem a essa família, a essa pessoa ao nível da comunicação e da relação (...)” P8
(...) “o enfermeiro de cuidados paliativos precisamente tem que ter um bom conhecimento nesta área para
trabalhar individualmente com aquela família, obviamente, e com aquela pessoa e consoante as diferentes
características e diferentes concepções que a pessoa vai tendo ao longo da vida em relação à morte (...) “P2
“ (...) aspectos da comunicação (...) trabalhar com o estudante estratégias de comunicação (...)” P9
Para Galriça Neto (2004, p.33), a comunicação é fundamental no apoio a doente em fim de
vida e família, nessa ordem de ideias, refere que qualquer elemento da equipe de saúde “deverá
estar aberto ao que o doente tem para dizer, escutar sem julgar, avaliar também o tipo de linguagem
não verbal e validar as reacções emocionais que possam surgir.” Sobressai, ainda, no discurso de
um dos participantes na subcategoria “trabalho em equipe”, como importante para a eficácia da
prestação de cuidados em fim de vida.
“ (...) apostar no trabalho em equipe (...)” P9
“ (...) a importância do trabalho em equipe, é a área em que tenho observado que é a área em que funciona
realmente bem e é importante (...)” P9
Assim, a eficácia dos cuidados paliativos está relacionada à dinâmica do trabalho de equipe
e, de acordo com Marques (2000, p.127), “só uma equipe de profissionais trabalhando de forma
coordenada, respeitando-se mutuamente e compartilhando as suas experiências e saberes, pode
concretizar os objetivos dos cuidados paliativos”. Similarmente, Twycross (2003) faz alusão à
necessidade do trabalho em equipe, em cuidados paliativos, por considerar que eles são melhor
administrados por um grupo de pessoas. No entanto, alerta para a conflitualidade do trabalho em
equipe e para a habilidade necessária à gestão de conflitos de forma construtiva e criativa.
No que se refere à categoria “Patologia associada aos cuidados paliativos”, pretendemos
compreender se os participantes têm a informação sobre as situações patológicas que implicam na
necessidade de cuidados paliativos. Face ao verbalizado, determinamos três subcategorias,
enunciadas no quadro n.º 5.
Quadro n.º 6 – Patologia associada aos cuidados paliativos
Categoria
Patologia associada aos cuidados paliativos
Subcategoria
Patologia oncológica
Patologia de prognóstico
reservado
Patologia crónica terminal
Os participantes parecem ter noção sobre as situações clínicas, alvo de cuidados paliativos,
no entanto, não esclarecidos convenientemente. Desse modo, quanto às situações patológicas, alvo
de cuidados paliativos, mencionaram a predominância da doença oncológica, não deixando, no
entanto, de fazer referência a outras doenças com prognóstico reservado, doença crônica terminal e
com ausência de tratamento. Assim, definimos como subcategoria “a patologia oncológica”, que os
participantes do estudo destacaram da seguinte forma:
“ (...) doentes em fim de vida podem também ser da área da oncologia (...) “ P1
“ (…) Daquilo que eu vi seriam as patologias de foro oncológico (…)” P2
“ (...) Maioritariamente a pessoas com problemas oncológicos (...)” P3
“ (...) Doentes a nível oncológico se calhar são grande parte (...)” P4
Assim, além das situações oncológicas (com maior incidência), apresentaram, também,
patologias degenerativas graves do sistema nervoso central, a síndrome de imunodeficiência
adquirida e a demência em estado avançado.
Ainda, na subcategoria “patologias de prognóstico reservado”, apresentaram, a esclerose
lateral amiotrofica e a sida, destacando:
“ (...) não vou generalizar mas se houver um prognóstico muito reservado e definirem que de facto (??), eu
acho que num meio hospitalar se poderia iniciar a prestação de cuidados paliativos(...) “P2
“ (...) as demências, a sida, doenças crónicas com prognóstico limitado, como é o caso da esclerose lateral
amiotrofica (...)”P9
“ (...) pessoas que sobreviveram a situações traumáticas ou doenças crónicas em fase terminal (...) P5
Existem outras doenças crônicas, resultantes da falência de órgãos como as doenças
cardíacas, renais, respiratórias, hepáticas diabetes que podem induzir a necessidade de cuidados
paliativos. Essas situações, não de forma explícita, foram nomeadas pelos participantes do estudo
como patologias com ausência de tratamento/ sem hipótese de cura, alvo de cuidados paliativos, que
denominamos como subcategoria “Patologia crónica terminal”, exemplificada pelas falas abaixo:
“ (...) aos que sofrem de doença para a qual não existe tratamento (...) “ P6
“ (...) situações onde não se prevê uma cura (...)” P7
“ (...) quando não há hipótese de cura (...)” P9
A ANCP (2006) refere que não só os doentes incuráveis e avançados poderão ser alvo de
cuidados paliativos, mas também, pessoas acometidas de uma doença grave, debilitante, ainda que
curável, pode determinar necessidades de cuidados de saúde.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Face aos resultados obtidos, os participantes parecem ter noção das dificuldades no domínio
na area dos cuidados paliativos, argumentando terem deficit de conhecimentos sobre cuidados ao
doente em fim de vida e família, tanto a nível teórico como prático. Também, relativo às questões
colocadas na entrevista, as respostas não foram claras nem precisas, demonstrando dificuldade no
desenvolvimento da temática, quando tivemos a pretensão em aprofundar mais o tema,
verbalizaram falhas e dificuldades sentidas durante o desenvolvimento do Curso de Enfermagem, e
que, de algum modo segundo suas perspectiva, tiveram repercussões na formação face aos cuidados
a prestar ao doente em fim de vida e família.
Referiram, também, que deveriam ter sido abordadas temáticas relacionadas como: a
conceitualização dos cuidados paliativos; a comunicação versus relação de ajuda; o cuidado à
“família doente”, o trabalho de equipe em cuidados paliativos, predominantemente, no domicílio; a
gestão de conflitos pessoais e relacionais em situação de cuidados ao doente em fim de vida; a
neurofisiologia, principalmente, com incidência na avaliação e controle da dor e do sofrimento; a
preparação para o fim de vida do doente e da família e a fase do luto.
No que diz respeito à componente prática–ensino clínico, manifestaram a necessidade de
terem mais experiências na prestação de cuidados aos doentes em fim de vida e família, em
internamento e/ou no domicilio; terem mais acompanhamento por parte dos professores enfermeiros
e/ou enfermeiros orientadores pedagógicos; serem utilizadas estratégias promotoras do pensamento
critico reflexivo no processo de aprendizagem e terem “espaço” para a gestão das emoções e
sentimentos desencadeados pela proximidade com essa área do cuidar.
Assim, podemos concluir, que os alunos do 4º ano do Curso de Enfermagem, Plano de
Estudos da ex-Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara, entendem, face à sua preparação
academica, não estar preparados para a prestação de cuidados ao doente em fim de vida e família,
sugerindo que o Curso de Enfermagem proporcione “ferramentas” necessárias para esse tipo de
cuidar, acrescentando que a formação continuada é primordial para a melhoria da qualidade dos
referidos cuidados. Diante disso, consideramos que os objetivos do estudo foram atingidos, e
sugerimos que a temática seja incluída no Plano de Estudos do Curso de Enfermagem, na área da
saúde do Adulto e Idoso, dada a prevalência de problemas de saúde nessa fase da vida, devido ao
aumento da longevidade e das doenças crónicas e progressivas.
Afinal, o profissional de enfermagem é por formação, o profissional de saúde com contato
privilegiado com o indivíduo, a família, a comunidade e a cultura, uma vez que o cuidar é uma
expressão, de relacionamento com o outro ser e com o mundo, uma forma de viver plenamente,
onde a reciprocidade entre quem cuida e quem é cuidado é uma constante.
REFERÊNCIAS
ABIVEN, M.– Para uma morte mais humana. Experiência de uma Unidade Hospitalar de
Cuidados Paliativos. Loures: Lusociência,1997.
ABREU, W. C. Identidade, Formação e Trabalho. Lisboa: Educa Formação, 2001.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS. Boletim Informativo, 1996, nº. 1,
p.2.
BENNER, P. De Iniciado a Perito. Coimbra: Quarteto Editora, 2001.
BENTO, M. C. Cuidados e Formação em Enfermagem. Que Identidade? Lisboa: Fim de Século,
1997.
BEVIS, O; WATSON, J. Rumo a um Curriculum de Cuidar: Uma Nova Pedagogia para a
Enfermagem. Lisboa : Lusociência, 2005.
CANÁRIO, R. Formação e Mudança: três orientações estratégicas. In Pensar Enfermagem. Vol. I,
nº 2, 1º semestre, ESEMFR, Lisboa, 1998.
CARVALHAL, R. Parcerias na formação. Papel dos orientadores clínicos. Loures: Lusociência,
2OO3.
CIRCULAR NORMATIVA Nº 14/DGCG DE 13/07/04 (PROGRAMA NACIONAL DE
CUIDADOS paliativos), 2004.
DECRETO – LEI n.º 104/ 98 de 21 de Abril – Diário da República I Série. Ministério da Saúde de
Portugal – Do Código Deontológico do Enfermeiro. Nº 93 (98-04-21), p. 1754 – 1757.
DEMO, P. Educação e qualidade. Campinas: Papirus, 2000.
DUBAR, C. A. Socialização, construção das identidades sociais e profissionais. Porto: Porto
Editora, 1997.
FORTIN, M. F. ET AL Introduction a la recherche. Montreal, Décarie éditeur, 1988.
GALRIÇA NETO, I. Cuidados paliativos: o desafio para além da cura. Revista Portuguesa de
Clínica Geral. N.º 9 (2003), p.19 -27. 2003).
GALRIÇA NETO, I. A dignidade e o sentido da vida na prática dos cuidados paliativos.
Cascais: Pergaminho, 2004.
GIL, A.C. Como elaborar projectos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1995.
HENNEZEL, M. () – Sens et valeur du temps qui précède la mort. In LECOURT, P. F. (Dir.), La
fin de la vir: qui en décide? Forum Diderot. Paris: Presses Universitaires de France, 1996. P.19-28.
HESBBEN, W. Cuidar no hospital. Enquadrar os Cuidados de Enfermagem numa perspectiva de
Cuidar: Loures: Lusociência, 2000.
KÜBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
MALGLAIVE, G.– Ensinar adultos. Porto: Porto Editora, 1995.
NATIONAL CONSENSUS PROJECT STEERING COMMITTEE (2004) – Clinical practice
guidelines for quality palliative care. Http://www.nationalconsensusproject.org/Guideline.pdf
NÓVOA, A; FINGER, M. O método (auto) biográfico e a formação de professores. Cadernos de
Formação nº1. Lisboa, Ministério da Saúde Departamento dos Recursos Humanos, 1988.
PACE, J.– Palliative Care. In American Cancer Society, a Cancer source Book for Nurses.
Atlanta, Ed. Jones and Bartlett, 1997.
PACHECO, S. Cuidar a pessoa em fase terminal. Perspectiva ética. Loures: Lusociência, 2002.
PEREIRA, S. M. Formação sobre cuidados paliativos no ensino pré-graduado em
Enfermagem. Lisboa, Dissertação apresentada à Universidade Católica Portuguesa para obtenção
do Grau de Mestre. (Não publicada), 2007.
PEREIRA, T. Q. As exigências do exercício da profissão de enfermeiro e a organização da
educação em enfermagem, em articulação com as alterações ao sistema de ensino superior
politécnico. Departamento dos Recursos Humanos da Saúde, Ministério da Saúde. PORTUGAL,1998.
PERRENOUD, P.– Práticas pedagógicas, profissão docente e formação. Lisboa: Publicações Dom
Quixote, Instituto de Inovação Educacional, 1997.
PORTUGAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE (1999) – Saúde: um compromisso. estratégia de saúde para o
virar do século.Lisboa, Ministério da saúde, 1998-2002.
PORTUGAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Direcção-geral de Saúde. Plano Nacional de Saúde 20042010. Estratégias para obter mais saúde para todos. Lisboa, Ministério da Saúde, 2004.
RAMOS, N. Psicologia Clinica e Saúde. Lisboa: Universidade Aberta, 2004.
RIBEIRO, L. F. Cuidar e tratar: formação em enfermagem e desenvolvimento sócio-moral.
Lisboa: Educa – Formação, 1995.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social, métodos e técnicas. São Paulo (Brasil): Atlas, 1989.
RODRIGUES, A. Psicologia social. Petrópolis: Vozes, 1996.
SAPETA, A. P. Formação pré – graduada em enfermagem sobre cuidados paliativos e dor
crônica. Dissertação apresentada e concurso de provas públicas para provimento de vaga de
Professor Coordenador na Área Cientifica de Enfermagem Medico-Cirurgica da Escola Superior de
Saúde Dr. Lopes Dias (Não publicada), 2002.
SOCIEDADE FRANCESA DE ACOMPANHAMENTO E DE CUIDADOS PALIATIVOS
(SFAP). Desafios de enfermagem em cuidados paliativos. «Cuidar»: ética e práticas. Loures:
Lusociência, 1999.
STREUBERT, H.; CARPENTER, D. Investigação qualitativa em enfermagem. Avançando o
imperativo humanista. Loures: Lusociência, 2002.
TWYCROSS, R. Cuidados Paliativos. Lisboa: CLIMEPSI, 2003.
WALDOW, V. R. o CUIDADO NA SAÚDE, as relações entre o eu e o outro e o cosmos. Petrópolis:
Vozes, 2004.
WATSON, J. Enfermagem: ciência humana e cuidar. Uma teoria de Enfermagem. Loures:
Lusociência, 2002.