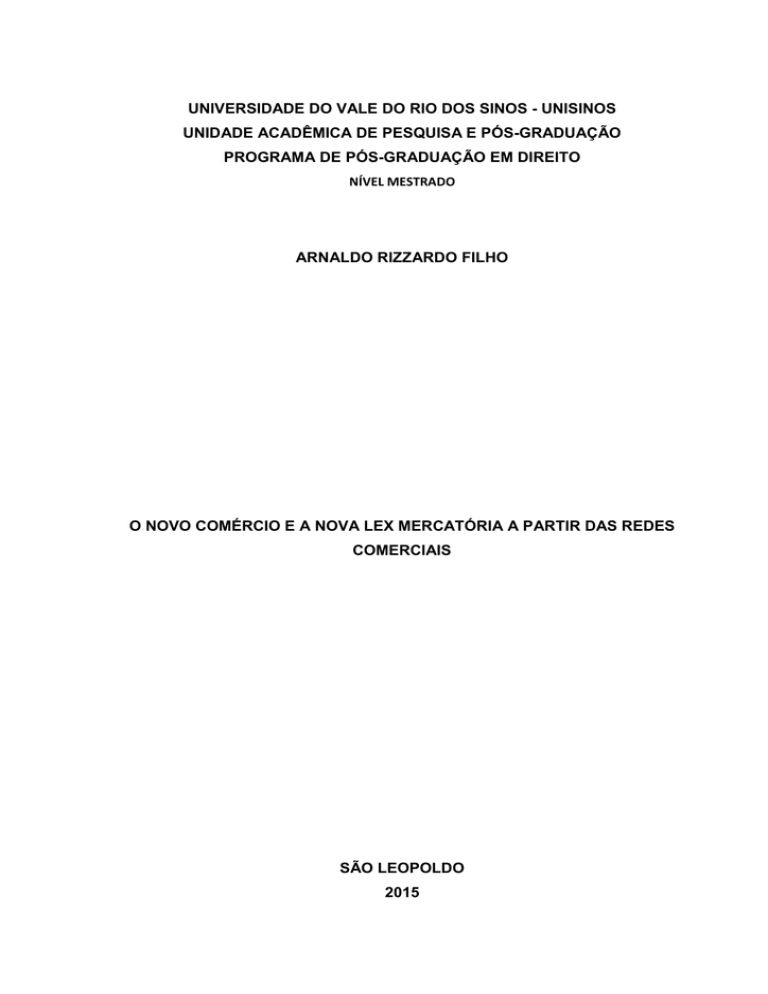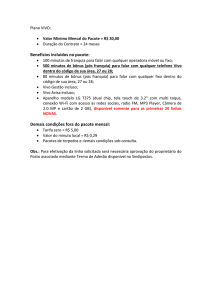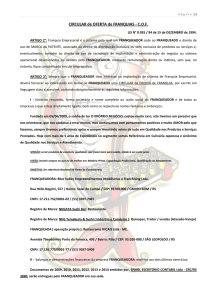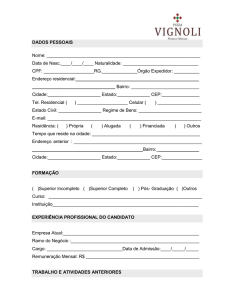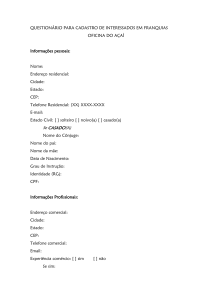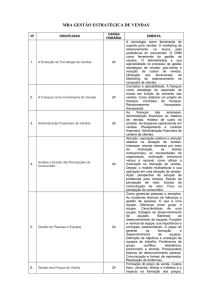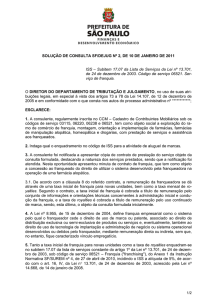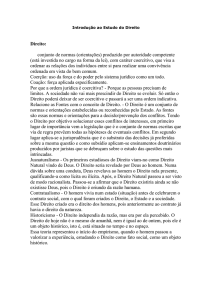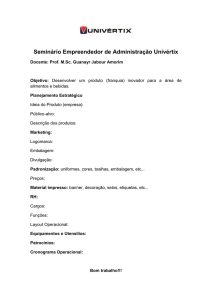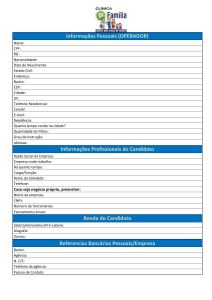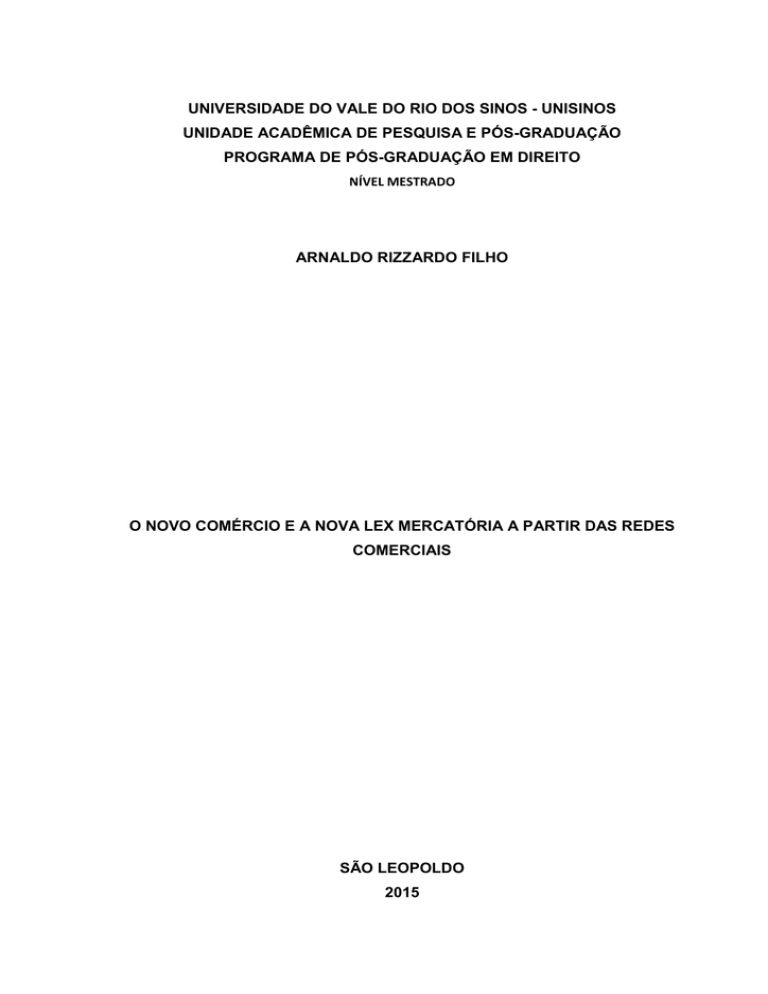
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS
UNIDADE ACADÊMICA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
NÍVEL MESTRADO
ARNALDO RIZZARDO FILHO
O NOVO COMÉRCIO E A NOVA LEX MERCATÓRIA A PARTIR DAS REDES
COMERCIAIS
SÃO LEOPOLDO
2015
Arnaldo Rizzardo Filho
O NOVO COMÉRCIO E A NOVA LEX MERCATÓRIA A PARTIR DAS REDES
COMERCIAIS
Artigo apresentado para a Disciplina
Tópicos Especiais 2 - O Direito no
Pensamento
Crítico
e
Social
Contemporâneo, pelo Programa de PósGraduação em Direito da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, sob
orientação da Prof.(a) José Rodrigo
Rodriguez
São Leopoldo
2015
O NOVO COMÉRCIO E A NOVA LEX MERCATÓRIA A PARTIR DAS REDES
COMERCIAIS
Arnaldo Rizzardo Filho
Orientador José Rodrigo Rodriguez
Resumo
O objetivo principal do presente artigo é demonstrar como a teoria brasileira sobre o direito
comercial não acompanha os movimentos comerciais contemporâneos. Para tanto, faz-se
uma análise do fenômeno comercial e do direito comercial. Na introdução será debatida a
importância econômica do comércio e a necessidade de se traçar políticas públicas ao seu
fomento. No capítulo seguinte será realizado um esboço histórico entre o desenvolvimento
da economia e do comércio na época moderna e sua influência nas teorias jurídicas de
direito comercial. O item seguinte tratará da unificação do direito privado no Brasil e
denunciará como a teoria da empresa mostra-se defasada em face nas novas formas
comerciais. Essas novas formas comerciais formam uma nova lex mercatoria que reclama
novas perspectivas sobre institutos jurídicos clássicos, como obrigações, contratos e
responsabilidade. No quinto capítulo será proposta uma teoria contemporânea sobre o
direito comercial a partir da sociologia (teoria sistêmica, de Luhmann), da ciência econômica
(Castells) e da ciência administrativa (Verschoore e Balestrin). Finalmente, na conclusão se
apontará a necessidade jurídica de uma racionalidade adequada ao fenômeno comercial
contemporâneo (Rodriguez), única maneira de se dar vigência a um direito coerente com a
sociedade.
1. INTRODUÇÃO
Em termos econômicos, o comércio representa setenta por cento do Produto Interno Bruto
(PIB) do Brasil, fato que destaca a necessidade de se pensar políticas que facilitem o seu
desenvolvimento. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
1
(MDIC) , o comércio influencia de forma direta a geração de renda e de empregos. Governos
estruturam agendas voltadas para inovação e ampliação do mercado. Exemplo daqui é o Plano
2
Brasil Maior , que envolve política industrial, tecnológica e comercial, cujo objetivo é sustentar
o crescimento econômico inclusivo num contexto econômico adverso. Pretende-se sair da
crise internacional dos últimos oito anos em melhor posição do que se entrou, o que resultaria
numa destacada ação do país na economia mundial. Por esses e outros motivos que a
Confederação Nacional do Comércio (CNC) considera fundamental para economia de uma
nação a elaboração de políticas que venham a desenvolver o comércio de bens e serviços.
1
2
http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/
http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/conteudo/128
1
Os reflexos sociais são inevitáveis, e a literatura jurídica às vezes reflete sobre a importância do
comércio e sua influência na construção de uma ordem social. Conforme Coelho (2007, pp. 5 e
6),
[...] os bens e serviços que homens e mulheres necessitam ou
desejam para viver (isto é, vestir, alimentar-se, dormir, divertir-se etc.)
são produzidos em organizações econômicas especializadas [...]
Alguns povos da Antiguidade, como os fenícios, destacaram-se
intensificando as trocas e, com isso, estimularam a produção de bens
destinados especificamente à venda. Esta atividade de fins
econômicos, o comércio, expandiu-se com extraordinário vigor.
Graças a ela, estabeleceram-se intercâmbio entre culturas distintas,
desenvolveram-se tecnologias e meios de transporte, fortaleceram-se
os estados, povoou-se o planeta de homens e mulheres; mas,
também, em função do comércio, foram travadas guerras,
escravizaram-se povos, recursos naturais se esgotaram. Com o
processo econômico de globalização desencadeado após o fim da
Segunda Guerra Mundial (na verdade, o último conflito bélico por
mercados coloniais), o comércio procura derrubar as fronteiras
nacionais que atrapalham sua expansão. Haverá dia em que o
planeta será um único mercado.
O comércio gerou e continua gerando novas atividades econômicas.
Foi a intensificação das trocas pelos comerciantes que despertou em
algumas pessoas o interesse de produzirem bens de que não
necessitavam diretamente; bens feitos para serem vendidos e não
para serem usados por quem os fazia. É o início da atividade que,
muito tempo depois, será chamada de fabril ou industrial. Os bancos
e os seguros, em sua origem, destinavam-se a atender necessidades
dos comerciantes. Deve-se ao comércio eletrônico a popularização
da rede mundial de computadores (internet), que estimula diversas
novas atividades.
Na sua primeira fase de desenvolvimento, quando ainda era pensado em termos de “direito
mercantil”, o comércio era juridicamente embasado nos interesses subjetivistas dos
participantes das corporações de ofício. Seus interesses eram o paradigma das premissas
normativas que então vigiam. Conforme Ramos (2009),
A expressão ius mercatorum pertence à linguagem jurídica culta;
usavam-na, prevalecentemente, os glosadores como Bártolo e Baldo.
A expressão possui um significado especial: mais do que referir-se a
um ramo do direito, significa um modo particular de criar o direito.
Chama-se de mercatorum porque foi criado pela classe mercantil, e
não porque regula a atividade dos comerciantes.
Expressão do caráter privado do direito comercial estava no fato de que até aquele momento
não havia nenhum texto legal considerado como código propriamente dito, sendo que os
códigos foram importantes símbolos daqueles novos estados constitucionais que estavam
surgindo em grande parte da Europa ocidental. As organizações de classe (corporações de
mercadores) providas de poder político e econômico, diante da precariedade do direito
comum, criavam regras corporativas, que eram utilizadas na solução das disputas entre
comerciantes. Nessa fase a legislação comercial era construída em face de uma determinada
categoria profissional. O fim dessa fase corresponde ao fim da Idade Média, justamente
quando floresce o comércio burguês. É justamente quando se faz a normatização estatal.
2
Na segunda fase abandonou-se o sistema subjetivista e adotou-se o sistema objetivista, que
tem como núcleo norteador os “atos de comércio”. A nomenclatura muda, e o termo usado
passa a ser Direito Comercial. A era das codificações napoleônicas chegara. A primeira grande
obra legislativa foi o Código Civil de 1804; depois o Código Comercial de 1807. Sabe-se que,
diferentemente do cuidado que houve quando da elaboração do Código Civil, os trabalhos do
Código Comercial foram apressados, havendo consenso geral em desqualificá-lo em face do
coirmão. Inobstante, o Code de Commerce é a primeira condensação de leis comerciais de que
se tem notícia, e sua importância é extrema para o que se desenvolveu logo em seguida em
termos jurídico-comerciais.
Materialmente, o Código seguiu as duas grandes ordenações de Luís XIV, que tratavam do
comércio terrestre e marítimo. O fato é que o Código de 1807 representou uma mudança de
paradigma em relação ao objeto do Direito Mercantil que então vigorava. O ato comercial
substituiu a corporações de ofício como objeto do novo direito.
Pouco mais de um século depois, reagindo ao sistema objetivista, surgiram novas ideias,
principalmente a partir da Itália, e o Direito Comercial passou a ser o Direito de Empresas. Sob
esses novos parâmetros há o abandono do elemento isoladamente considerado que é o ato de
comércio em razão da adoção da nova teoria da empresa. Eis uma nova realidade, na qual os
agentes econômicos são grandes organizações capitalistas de comércio constituídas para a
criação ou oferta de bens ou de serviços em massa. Portanto, o Direito Comercial que regulava
o comerciante e os atos de comércio passa a regular a empresa, passando a ser identificado
como Direito Empresarial.
De forma breve, esse é o desenvolvimento histórico do Direito Comercial, que passa por três
períodos evolutivos, o subjetivo das corporações de ofício, o objetivo dos atos de comércio, e a
atual teoria da empresa, considerada subjetivista, mas não em face de uma classe, e sim em
face da organização jurídico-econômica.
A questão que vem à tona diz respeito à identificação de formas atuais do fenômeno
comercial, especificamente dentro do comércio varejista, e à análise de como o direito se
porta perante elas. O próximo título visa analisar o movimento econômico a partir das
revoluções industriais, seguindo os demais com considerações jurídicas sobre esse movimento.
2. DAS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS À REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. O
DIREITO COMERCIAL SEGUINDO A TENDÊNCIA ECONÔMICA
2.1. A primeira revolução industrial
O desenvolvimento do fenômeno econômico no decorrer dos tempos tem fomentado as mais
diversas teorias sobre o direito comercial. A primeira revolução industrial, ocorrida na segunda
metade do século XVIII, decorreu da invenção da máquina a vapor, e resultou no nascimento
das empresas industriais, que impuseram um novo padrão de competitividade no mercado. A
partir daí ocorreu o desenvolvimento ferroviário nos Estados Unidos, que representou, no
ramo empresarial, a necessidade de novas técnicas administrativas que fossem capazes de dar
3
conta das complexidades e contingências econômicas geradas pelos aumentos do fluxo,
3
velocidade e distância (BALESTRIN E VERSCHOORE, 2008, pág. 29) .
Essas mudanças ocasionaram o rompimento do modelo de administração tradicional, dando
azo ao chamado “capitalismo gerencial”, caracterizado principalmente pela ampliação de
escala, coordenação administrativa, redução de custos, rotinização das tarefas e acréscimo de
produtividade. A ideia de internalização de todas as atividades produtivas em uma única
estrutura empresarial era o paradigma econômico daquele momento (BALESTRIN E
VERSCHOORE, 2008, págs. 30 e 31).
É apenas a partir dessa época que se começa a pensar no conceito jurídico de empresa.
Predominava o pequeno comércio e as indústrias de manufaturados, permanecendo a
agricultura como principal fonte de riqueza das nações. Lobo (2002) dá o panorama daquele
momento:
A par disso, (a) o conflito entre produtores e industriais, (b) os
monopólios estatais e (c) o controle estatal das indústrias
prejudicaram sobremodo o comércio e as indústrias nascentes, e, em
consequência, que se desse a devida atenção à empresa, de que são
exemplos marcantes: a) do conflito entre produtores e industriais: o
pedido dos produtores de lã da Prússia ao Rei Frederico Guilherme I
para que fosse abolida a lei de 1700 que proibia a exportação de seu
produto e a resposta vazada nestes termos: “Sua Majestade o Rei da
Prússia... considera necessário manter a proibição de exportação de
lã... pois a experiência mostra que outras potências, particularmente a
Inglaterra, que também não permitem a exportação de lã, com isso
estão agindo bem, e o país enriquece”; b) dos monopólios estatais,
na crítica de JOSEPH TUCKER, em 1749: “nossos monopólios,
companhias públicas e companhias por ações são um prejuízo e
destruição para o comércio livre... Toda a nação sofre em seu
comércio, e fica privada do comércio com mais de três quartos do
globo, para enriquecer alguns diretores ambiciosos. Eles se
enriquecem dessa forma, ao passo que o público se torna mais
pobre”; c) do controle estatal da indústria, tão bem retratados nesta
página de LEO HUBERMAN: “Era de esperar que a oposição à
restrição
e
regulamentação
mercantilista
surgisse
mais
acentuadamente na França, pois foi nesse país que o controle estatal
da indústria atingiu o máximo. A indústria estava ali cerceada por uma
tal rede de “pode” e “não pode” e por um exército de inspetores
abelhudos que impunham os regulamentos prejudiciais, que é difícil
compreender como se conseguia fazer qualquer coisa. As regras e
regulamentos das corporações já eram bastante prejudiciais.
Continuaram em vigor, ou foram substituídos por outros regulamentos
governamentais, ainda mais minuciosos, e que se destinavam a
proteger e ajudar a indústria da França. De certa forma, ajudaram.
Mas, ainda quando tinham utilidade, aborreciam aos industriais. Podia
o fabricante de tecidos, por exemplo, fabricar o tipo de fazenda que
lhe agradasse? Não. Os tecidos tinham de ser de uma qualidade
determinada, e nada mais. Podia o fabricante de chapéus atrair a
procura do consumidor, produzindo chapéus feitos de uma mistura de
castor, pele e lã? Não. Só podia fazer chapéus todos de castor ou
todos de lã, e nada mais. Podia o fabricante usar uma ferramenta
nova e talvez melhor na produção de suas mercadorias? Não. As
3
Os professores Jorge Verschoore e Alsones Balestrin, oriundos da ciência da administração, são
vanguardistas no estudo das redes no brasil, a partir da Universidade Do Vale Dos Sinos/UNISINOS.
4
ferramentas tinham que ser de determinado tamanho e forma, e os
inspetores apareciam sempre para verificar isso”. Esses freios à
atividade produtiva livre levaram à luta pela abolição completa e
definitiva da tutela do Estado e ao extremo oposto - nenhum controle
- que culminou no lema, cunha por GOURNAY, laissez-faire.
O fato é que a primeira revolução industrial foi responsável pela perspectiva moderna de
comércio, trazendo à tona a insuficiência normativa da regulação das atividades comerciais
naquele momento. Até então, o direito comercial “tratava-se de um direito criado pelos
mercadores para regular as suas atividades profissionais e por eles aplicado” (TOMAZETTE,
2007, p. 7). Essa realmente era a principal característica da lex mercatória daquele momento:
regras criadas pelos próprios mercadores para serem aplicadas a eles próprios. Tomazette
(2007, p. 7) expõe que nessa fase vigorava o
“[...] sistema subjetivo, porquanto havia a aplicação do chamado
critério corporativo, pelo qual o sujeito fosse membro de determinada
corporação de ofício, o direito a ser aplicado seria o da corporação,
vale dizer, era a matrícula na corporação que atraía o direito
costumeiro e a jurisdição consular. Entretanto, não era suficiente o
critério corporativo, era necessário que a questão também fosse
ligada ao exercício do comércio. Tratava-se de um direito
eminentemente profissional”.
Segundo Tomazette (2007, p. 6), “A disciplina estatal era baseada na prevalência da
propriedade imobiliária, estática e cheia de obstáculo para sua circulação”. Em função disso,
entendeu-se pela necessidade de uma disciplina que tratasse especificamente sobre o tema,
fato que culminou com o código comercial de Napoleão, do início do século XIX, momento em
que se o direito comercial entrou em sua segunda fase montado na teoria do ato comercial.
2.2. A segunda revolução industrial
Tempos depois, na segunda revolução industrial, na metade do século XIX, houve a superação
da energia a vapor pela energia elétrica, o que significou um aumento ainda maior do
transporte e da velocidade. No início do século XX, novas técnicas gerenciais apareceram para
suprir as insuficiências do modelo gestional até então desenvolvido, altamente hierarquizado
verticalmente. Esse movimento decorreu da necessidade de maior agilidade em termos
estruturais, pois o mercado cresce na conformidade em que a sociedade interage e, aliado à
crise financeira do período pós-primeira guerra mundial, cada vez mais era preciso dividir os
custos da operação empresarial, mesmo que isso significasse dividir os ganhos.
O ambiente estava se tornando propício para que uma teoria centrada empresa passasse a ser
o paradigma do Direito Comercial até então dominado pela teoria do ato de comércio, e os
italianos foram vanguardistas nesse movimento. Cada vez mais operações comerciais surgiam,
e uma teoria calcada apenas no ato comercial não era capaz de abranger todos os eventos que
brotavam. De Oliveira explica que
Devido sua objetividade o sistema francês não trouxe elementos
subjetivos para alcançar todos os comportamentos que
caracterizariam os atos de comércio, indispensáveis para a aplicação
5
do direito, como se tem na modernidade. Ademais, é notório que esse
sistema se apresenta incapaz de abranger todas as relações sociais
que devam ser vislumbradas pelo direito empresarial, haja vista a
dinamicidade por elas apresentadas. Por superar o entendimento do
sistema francês, o direito italiano codificou, em 1942, a conceituação
de empresário, estabelecendo que é empresário quem exerce
profissionalmente uma atividade econômica organizada tendo por fim
a produção ou a troca de bens ou serviços. A partir dessa ideia
codificada, para se entender empresa é preciso considerar a
premissa da atividade por ele exercida. Com isso, o foco do estudo
do direito deixa de ser os atos do comércio que deu lugar ao direito
empresarial, relativo à empresa, ficando nítido que o sistema italiano
retornou à definição de empresa calcada no fenômeno econômico
2.3. A terceira revolução industrial, a revolução tecnológica
Anos mais tarde, principalmente desde a década de setenta do século passado até o presente,
alguns acontecimentos sugerem que se repense a teoria da empresa calcada apenas nas
premissas de um empresário que exerce profissionalmente atividade econômica organizada
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, conforme artigo 966 do Código Civil
brasileiro. A revolução da tecnologia da comunicação determinou o nascimento de uma nova
sociedade, de uma nova economia, e até mesmo de uma nova cultura. O principal cenário
onde essa revolução ocorreu foi os Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, no Vale
do Silício. Castells (2011, p. 44) observa que
Não tanto em torno de sua política, visto que o Vale do Silício sempre
foi um firme baluarte do voto conservador, e a maior parte dos
inovadores era metapolítica, exceto no que dizia respeito a afastar-se
dos valores sociais representados por padrões convencionais de
comportamento na sociedade em geral e no mundo dos negócios. A
ênfase nos dispositivos personalizados, na interatividade, na
formação de redes e na busca incansável de novas descobertas
tecnológicas, mesmo quando não faziam muito sentido comercial,
não combinava com a tradição, de certa forma cautelosa, do mundo
corporativo. Meio inconscientemente, a revolução da tecnologia da
informação difundiu pela cultura mais significativa de nossas
sociedades o espírito libertário dos movimentos dos anos 60. No
entanto, logo se propagaram e foram apropriadas por diferentes
países, várias culturas, organizações diversas e diferentes objetivos,
as novas tecnologias da informação explodiram em todos os tipos de
aplicações e usos que, por sua vez, produziram inovação tecnológica,
acelerando a velocidade e ampliando o escopo das transformações
tecnológicas, bem como diversificando suas fontes.
Essa revolução tecnológica foi de suma importância para a reestruturação do capitalismo na
década de oitenta, inaugurando a chamada era pós-industrial. A burocracia interna seguia
sendo combatida, pois significava assunção de custos e riscos demasiados, principalmente em
face dos novos padrões de mercado, que passaram a ser globais, justamente em decorrência
da revolução tecnológica. Uma série de reformas institucionais em torno do gerenciamento
empresarial buscava aprofundar a lógica capitalista em busca do lucro, do aumento de
produtividade, e da globalização da economia, que naquele momento tornava-se possível em
face do fenômeno digital, que abriu as portas ao pós-industrialismo. A nova tecnologia
6
transformou as estratégias organizacionais; flexibilidade e adaptabilidade são essenciais para
gerir a velocidade e a eficiência do novo ambiente digital. Conforme Castells (2011, pág. 119):
Uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do
século XX. Chamo-a de informacional, global e em rede, para
identificar suas características fundamentais e diferenciadas e
enfatizar sua interligação. É informacional, porque a produtividade e a
competitividade de unidades ou agentes nessa economia (sejam
empresas, regiões ou nações) dependem basicamente de sua
capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a
informação baseada em conhecimentos. É global porque as principais
atividades produtivas, o consumo e a circulação, assim como seus
componentes (capital, trabalho, matéria prima, administração,
informação, tecnologia e mercados) estão organizados em escala
global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes
econômicos. É rede porque, nas novas condições históricas, a
produtividade é gerada, e a concorrência é feita em uma rede global
de interação entre redes empresariais. Essa nova economia surgiu no
último cartel do século XX porque a revolução da tecnologia da
informação forneceu a base material indispensável para sua criação.
Esse período também é chamado por alguns de pós fordismo, e põe em cheque os
fundamentos do capitalismo gerencial e suas estruturas hierárquico-burocráticas. Trata-se do
novo capitalismo de aliança, calcado na cooperação em busca de lucro a partir da
comunicação. Conforme observam Balestrin e Verschoore (2008, p. 34),
Esse conjunto de modificações abalou os fundamentos do capitalismo
gerencial e das estruturas hierárquicas e burocráticas. Um novo
padrão competitivo despontou no final do século XX, marcado, entre
outros aspectos, pela flexibilidade produtiva, pela adaptabilidade das
fronteiras organizacionais e pela busca constante de inovações,
culminando no paradigma denominado nova competição (Best 1990).
A nova competição baseia-se em empreendimentos que buscam
estratégias de aprimoramento contínuo de produtos e processos.
Para tanto, a exigência de parcerias com fornecedores, clientes e
concorrentes (Doz e Hamel, 1998) tornou os limites organizacionais
maleáveis e imprecisos. Evidenciou-se a incapacidade das grandes
estruturas em agregar internamente as competências necessárias
para atender ao consumidor mais exigente. As relações com outras
empresas passaram a ser vistas não apenas como transações de
mercado, mas também como forma de aprendizado, oportunidades
tecnológicas e possibilidade de obter ativos complementares (Dosi et
al., 1992). Consequentemente, a administração das relações entre
organizações transformou-se no fator chave da nova economia.
[...]
É por tais motivos que as empresas ainda hoje seguem promovendo
constantes adaptações internas a fim de possibilitar, no longo prazo,
a manutenção das mais diversas formas de parcerias. As
organizações passaram a enfrentar o que alguns autores
denominaram desafio da co-opetição (Nalebuff e Branden Burger,
1989). A cooperação se desenvolve quando fornecedores,
companhias e compradores unem-se para elevar o valor gerado na
cadeia produtiva. A competição, por sua vez, ocorre no memento de
dividir o bolo. Isto é, as empresas definem estratégias competitivas e
colaborativa simultaneamente, visto que o locus das competências
distintivas não está mais na empresa de forma isolada, mas em toda
sua rede de relacionamentos (Prahalad e Ramaswamy, 2004). Essa
7
dicotomia competição-cooperação marca a configuração das relações
econômicas capitalistas contemporâneas, sendo, por isso,
denominada por alguns autores capitalismo de alianças (Gerlach,
1992a).
A cooperação passa a ser considerada um dos paradigmas do sistema econômico. No campo
empresarial, a cooperação obviamente não é altruísta; visa um ganho que só pode ser
alcançado, ou pode ser alcançado de forma muito mais efetiva, quando se atua em conjunto.
Balestrin e Verschoore (2008, p. 40) entendem que “[...] a cooperação interorganizacional
decorre do desenvolvimento deliberado de relações entre organizações autônomas para a
consecução de objetivos individuais e coletivos [...]”. A cooperação entre empresas torna-as
mais forte e mais competitivas em relação àquelas que não fazem parte do grupo. A Teoria dos
Jogos, decorrente de estudos sobre estratégia, segundo Von Neumann e Morgeintern, é citada
por Balestrin e Verschoore (2008, p. 41) como explicação do paradigma cooperativo entre
empresas.
Estratégias baseadas na cooperação tornam-se constante na virada para o século XXI,
ocupando lugar de peso no mesmo ambiente comercial antes dominado pela competição.
Segundo Balestrin e Verschoore (2008, p. 51),
Os inúmeros casos de empresas que têm aumentado sua
competitividade com a formação de redes, alianças e parcerias
sugerem a necessidade de reavaliar as teorias clássicas sobre
estratégia. À diferença do paradigma da competição (jogo de soma
nula), o paradigma da cooperação (jogo de soma positiva) visa à
adoção de estratégias coletivas por um conjunto de atores
(fornecedores, concorrentes, clientes, etc.) tendo em vista atingir
objetivos comuns, habilitando as empresas a competir em estâncias
mais elevadas.
A partir da estratégia da cooperação surge forte no cenário econômico as redes, chamada por
Balestrin e Verschoore (2008) de “redes de cooperação”, das quais fazem partes as redes de
franquias, as redes de representantes comerciais, as redes de distribuição, dentre outras. As
redes de cooperação surgem da necessidade de se criar novas estratégias competitivas. A
partir das redes há articulação de várias empresas com forte relação de reciprocidade,
formando um verdadeiro grupo que passa a agir de forma coordenada.
Castells (2011, págs. 211 – 221) identifica alguns vestígios desse contexto: transição da
produção em massa para a produção flexível, importância das pequenas e médias empresas,
surgimento de novos métodos de gerenciamento, e a formação de alianças entre empresas
para formação de redes.
O modelo econômico vai ficando propício à formação de redes de empresas. As pequenas e
médias empresas passaram a ser largamente subcontratadas ou licenciadas, fazendo parte do
ciclo produtivo. O exemplo que Castells (1999, pág. 219) invoca é o da malharia italiana
Benetton:
A malharia italiana, multinacional oriunda de uma pequena empresa
familiar na região de Vêneto, opera com franquias comerciais e conta
com certa de cinco mil lojas em todo o mundo para a distribuição
exclusiva de seus produtos, sob o mais rígido controle da empresa
principal. Uma central recebe o feedback on line de todos os pontos
8
de distribuição e mantém o suprimento de estoque, bem como define
as tendências de mercado em relação às formas e cores. O modelo
de redes também é eficaz no nível de produção, fornecendo trabalho
a pequenas empresas e domicílios na Itália e em outros países do
Mediterrâneo, como a Turquia. Esse tipo de organização em redes é
uma forma intermediária de arranjo entre a desintegração vertical por
meio dos sistemas de subcontratação de uma grande empresa e as
redes horizontais das pequenas empresas. É uma rede horizontal,
mas baseada em um conjunto de relações periféricas/centrais, tanto
no lado da oferta como no lado da demanda do processo.
Fica evidente que o modelo vertical de organização produtiva cedeu espaço para o
crescimento e afirmação de um modelo mais horizontal, flexível, onde inúmeras empresas se
organizam para ação econômica. A concepção de rede na organização empresarial surge como
a nova forma de gerenciamento da economia. O crescimento em compasso com a globalização
requer justamente esse modelo, pela impossibilidade do controle administrativo racional em
escala mundial, sem uma burocracia interna que importe em um elevado custo operacional e
em uma total assunção de riscos mercadológicos. A questão agora é identificar se essa
tendência está sendo captada pelo direito brasileiro. Antes, porém, um breve panorama sobre
o direito comercial ou empresarial e da lex mercatória no Brasil.
3. A UNIFICAÇÃO DO DIREITO PRIVADO BRASILEIRO
Até pouco tempo, o Brasil possuía um código especialmente destinado ao comércio, o Código
Comercial, instituído pela Lei nº 556, de 1850. Mais de cento e cinquenta anos depois de
estabelecido, o atual Código Civil unificou o direito obrigacional privado (direito comercial e
direito civil), derrogando quase que totalmente o Código Comercial. Basicamente, apenas as
disposições sobre o comércio marítimo seguiram vigendo. Segundo Miguel Reale (1986, p.6),
autor do anteprojeto do Código, essa proposta nada mais significou que “ir ao encontro de
uma realidade já existente, cujo marco inicial remonta a 1850, com a edição do Código
Comercial Brasileiro. Por força do art. 121, que preceitua que as regras e disposições do Direito
Civil para os contratos em geral são aplicáveis aos contratos mercantis”. Reale ainda expõe em
4
sua visão geral sobre o anteprojeto que
É preciso, porém, corrigir, desde logo, um equívoco que consiste em
dizer que tentamos estabelecer a unidade do Direito Privado. Esse
não foi o objetivo visado. O que na realidade se fez foi consolidar e
aperfeiçoar o que já estava sendo seguido no País, que era a unidade
do direito das obrigações. Como o Código Comercial de 1850 se
tornara completamente superado, não havia mais questões
comerciais resolvidas à luz do Código de Comércio, mas sim em
função do Código Civil. Na prática jurisprudencial, essa unidade das
obrigações já era um fato consagrado, o que se refletiu na ideia
rejeitada de um código só para reger as obrigações, consoante
projeto elaborado por jurisconsultos da estatura de Orozimbo Nonato,
Hahnemann Guimarães e Philadelpho de Azevedo. Não vingou
também a tentativa de, a um só tempo, elaborar um Código das
Obrigações, de que foi relator Caio Mário da Silva Pereira, ao lado de
um Código Civil, com a matéria restante, conforme projeto de Orlando
4
http://www.miguelreale.com.br/artigos/vgpcc.htm
9
Gomes. Depois dessas duas malogradas experiências, só restava
manter a unidade da codificação, enriquecendo-a de novos
elementos, levando em conta também as contribuições desses dois
ilustres jurisconsultos.
5
Segundo o autor do anteprojeto , os direitos e deveres da pessoa humana são pressupostos
gerais da vida civil, projetam-se nas obrigações e nos contratos vivenciados em sociedade.
Reale adota o termo “direito empresarial” em face do termo “direito comercial” pelo fato de a
atividade econômica não se caracterizar mais por atos de comércio, tendo uma projeção muito
mais ampla, sendo igualmente relevantes os atos de natureza industrial ou financeira.
Assim, o Código Civil atual adota o Direito de Empresa como teoria que abarca situações em
6
que as pessoas se associam e se organizam para empreender. Conforme Reale , “O Direito de
Empresa não figura, como tal, em nenhuma codificação contemporânea, constituindo, pois,
uma inovação original”.
Conforme já referido. O antigo Código Comercial brasileiro, que regia de modo geral a
atividade comercial, foi parcialmente revogado, restando vigente apenas aspectos do
comércio marítimo. Toda uma série de disposições normativas sobre qualidades necessárias
para ser comerciante, obrigações comuns e prerrogativas dos comerciantes e dos agentes
auxiliares do comércio, dentre outras, deixou de estar prevista na legislação pátria.
Na doutrina há o entendimento de que o Direito Comercial não deixou de existir com a
unificação, mas apenas mudou seu objeto. Ulhoa (2007, p. 4) afirma que o direito comercial
cuida da atividade econômica organizada de fornecimento de bens e serviços, que se
denomina empresa:
Estruturar a produção ou circulação de bens ou serviços significa
reunir os recursos financeiros (capital), humanos (mão de obra),
materiais (insumo) e tecnológicos que viabilizem oferece-lo ao
mercado consumidor com preços e qualidade competitivos. Não é
tarefa simples. Pelo contrário, a pessoa que se propõe a realiza-lo
deve ter competência para isso, adquirida mais por experiência de
vida que propriamente por estudos. Além disso, trata-se sempre de
empreitada sujeita a risco. Por mais cautelas que adote o empresário,
por mais seguro que esteja do potencial do negócio, os consumidores
podem simplesmente não se interessar pelo bem ou serviço
oferecido. Diversos outros fatores inteiramente alheios à sua vontade
– crises políticas ou econômicas no Brasil ou no exterior, acidentes
ou deslealdade dos concorrentes, por exemplo – podem também
obstar o desenvolvimento da atividade. Nesses casos, todas as
expectativas de ganho se frustram e os recursos investidos se
perdem. Não há como evitar o risco do insucesso inerente a qualquer
atividade econômica. Por isso, boa parte da competência
característica dos empresários vocacionados diz respeito à
capacidade de mensurar e atenuar riscos.
5 http://www.miguelreale.com.br/artigos/vgpcc.htm
6 http://www.miguelreale.com.br/artigos/vgpcc.htm
10
Fran Martins (2013, p.13) vai no sentido de que o direito de empresa é mais abrangente do
que o direito comercial, abarcando temas relacionados a fatos econômicos comerciais e não
comerciais:
O chamado Direito das Empresas, quando se refere às empresas
comerciais, é o mesmo Direito Comercial; se, entretanto, uma regra
jurídica se referir a uma empresa não comercial, teremos uma regra a
regular fatos simplesmente econômicos, mas não comerciais – daí o
Direito agrário, o Direito industrial, o Direito imobiliário etc.
A partir da teoria da empresa, o ramo do direito que trata da atividade econômica não mais
está centrado unicamente no comerciante estrito senso e no ato de comércio, passando a
abranger os negócios de modo geral, as atividades econômicas como um todo, a partir da
centralização na conceituação de empresário. O primeiro artigo do Livro destinado ao Direito
de Empresa, no Código Civil atual, estabelece que o exercício profissional de atividade
econômica é o parâmetro essencial à matéria em estudo. O ato de comércio, portanto, cede
seu lugar para a atividade econômica profissional, ou seja, para o empresário, que pode ser
comerciante, industriário, prestador de serviço, agricultor, pecuarista, etc. Rubens Requião
(2003, p. 07), explicando o entendimento do professor belga Jan van Ryn, aponta que
[...] se se reconhecer que o direito comercial é, na realidade, o direito
das atividades econômicas, põe-se em evidência o exclusivo princípio
de unidade que permite justificar o agrupamento em uma única
disciplina destas diversas regras. Acolhe a expressão direito
econômico em substituição à ‘histórica e tradicional denominação que
tantas ambiguidades, confusões e dificuldades têm regado para a
disciplina nos dias atuais’. Formula um conceito amplo: ‘Nós podemos
dizer, de logo, que o domínio próprio do direito comercial é o conjunto
de regras jurídicas relativas à atividade do homem aplicado à
produção, à apropriação, à circulação e ao consumo das riquezas. O
comércio não é senão um dos elos da cadeia que constitui a atividade
econômica global’.
Ocorreu, nas palavras de Waldírio Bugarelli (2000, p. 19), uma transmutação do Direito
Comercial, que passou de mero regulador dos comerciantes e dos atos de comércio, passando
a atender à atividade, sob a forma de empresa, que o é o seu atual fulcro. Tal transmutação
acarretou, inclusive, a modificação de sua própria denominação, que passou a ser Direito de
Empresa.
Assim, na presente fase evolutiva do Direito Comercial, a teoria da empresa é o “carro chefe”.
O foco deixa de repousar em determinadas atividades (as de mercancia) e passa a disciplinar
uma forma específica de produzir e colocar em circulação bens e serviços, que é a empresa. A
influência é italiana é muito bem explicada por Jorge Lobo (2002):
Evaristo de Moraes ensina que ‘coube a Lorenzo Mossa, verdadeiro
romântico do conceito de empresa, campeão do seu conceito
institucional na Itália, defender a tese de que o direito comercial é
direito das empresas, esgotando-se sua tratação no regulá-las,
atingindo por aí os atos de comércio. O direito comercial, para ele, é o
direito da economia organizada, encontrando seu apogeu na
expansão da grande empresa capitalista. A existência da empresa,
como seu objeto, constitui o principal argumento a favor da sua
11
própria autonomia, em confronto com o direito comum: ‘A empresa,
no momento capitalista mais agudo, e agora na passagem para um
sistema mais justo, assumiu o motivo próprio da atividade econômica.
As pessoas perdem importância, diante das organizações de bens e
de forças vivas por ela criadas. Duram no tempo, aperfeiçoam a
iniciativa humana, a perpetuam e renovam no mudar contínuo das
pessoas... A empresa, como organização e como unidade, é o núcleo
não só da forma social mas também da atividade pessoal... A
empresa é a pessoa econômica que o direito comercial regula na sua
vida, as uniões de empresas assumem caracteres próprios, e não se
assimilam às simples associações de pessoas’. Além de MOSSA,
defendem a ideia de que o Direito Comercial é o Direito das
Empresas, dentre outros, Ascarelli, Joaquim Oarriouez, J. Escarra, J.
Hamel e O. Laoarde, D. Bessone e Evaristo De Moraes.
O direito comercial passa a ser o direito da economia organizada, encontrando seu apogeu na
expansão da grande empresa capitalista, que passa a ser objeto de uma nova teoria. A teoria
da empresa mostra-se mais abrangente que a teoria dos atos de comércio por não estar
limitada às previsões legislativas tipificadoras de atos comerciais. Concentrando-se o direito
comercial na regulamentação das empresas, os atos comerciais ficam ilimitados enquanto
fenômenos empíricos, o que é, por óbvio, vantajoso em termos de sincronização entre direito
e experiência. Inobstante, a terceira revolução industrial aportou inúmeros atos comerciais
novos no contexto econômico global, e o direito privado unificado no Brasil não era capaz de
reconhecê-los.
4. A (NOVA) LEX MERCATÓRIA A PARTIR DAS REDES COMERCIAIS
Muitas são os nuances conceituais sobre a lex mercatoria. No presente capítulo, analisa-se três
definições a partir de Goldman, Teubner e Rava e Da Ros, que mostram as variáveis
conceituais do instituto. Goldman (1964, p. 177 – 192) entende a lex mercatória como um
conjunto de “princípios gerais” e de “regras costumeiras” aplicadas espontaneamente ou
elaboradas para o “comércio internacional”. Goldman demonstra que as relações comerciais
internacionais “parecem escapar ao império de um direito estatal, em direção a um direito
uniforme integrado na legislação dos Estados que a ele tenham aderido”. Como se pode notar,
trata-se de um conceito fortemente ligado ao direito internacional. Em verdade, Goldman
sempre traz uma explícita relação entre direito comercial e comércio internacional. Em relação
à autoridade impositora da lex mercatória, Goldman coloca a autoridade profissional no local
da tradicional autoridade estatal. Nos termos de Huck (1992),
[...] Goldman argumentava que o sistema de direito do comércio
internacional contaria inclusive com a coação, elemento essencial
para a configuração plena de um sistema de direito. Essa coação
seria exercida, num primeiro momento, através da pressão moral da
classe dos comerciantes, por penalidades comerciais, pela
publicidade, ou finalmente pelo próprio Estado.
Outro autor que trata da a lex mercatoria é Teubner (2003, p. 21), que a identifica na práxis
contratual que
12
[...] ultrapassa as fronteiras nacionais e transforma a produção
jurídica puramente nacional em produção jurídica global: inúmeras
transações internacionais individuais, contratos padronizados de
associações profissionais internacionais, contratos pré-formulados de
organizações internacionais e projetos de investimento em países em
desenvolvimento. Assim que tais contratos reivindicam vigência
transnacional, eles não só estão separados das suas raízes no direito
nacional, como também perdem toda sustentação em qualquer
ordenamento jurídico.
Para Teubner (2003, p. 21), o aspecto distintivo da lex mercatoria é tratar-se “de uma área do
direito que cresce e se transforma em correspondência com as transações econômicas
globais”. Teubner prefere o termo “transnacional” ao termo “internacional”. A lex mercatoria,
assim, sustentar-se-ia a partir da autoconstituição, ou seja, da desnecessidade da constituição
através de uma ordem política externa e hierarquicamente superior. Os sistemas parciais
formam seus próprios núcleos de sentido, e o direito passa a ser produzido na periferia,
descentralizados dos burocráticos órgãos estatais que identificam países. Assim, o contrato
privado é fonte do direito do mesmo grau que a legislação e as decisões judiciais. E mais, a
legitimidade do direito está na sua autorreferencialidade, nascendo do próprio sistema parcial,
independente de um sistema mais geral e de caráter centralizador.
Rava e Da Ros (2007), por sua vez, evidenciam alguns tipos contratuais muito específicos que
apenas recentemente foram introduzidos nas práticas econômicas, e que estão identificados
com o fenômeno da “globalização” da economia, permitindo uma nova forma de compreensão
do fenômeno jurídico. São analisados pelos autores contratos veiculados mundialmente,
próprios da nova lex mercatória, como os contratos de leasing, factoring, franchising e
performance bond.
Rava e Da Ros afastam-se do conceito de lex mercatória baseada na “uniformidade jurídica
internacional” e “enxergam uma uniformidade econômica” que
[...] toma corpo a partir de um determinado modelo econômico que
busca sua expansão (e que gerou sua hegemonia), e que se coloca
diante de cada economia nacional como uma “alternativa” – por vezes
irrecusável e irresistível – aos modelos preconizados por cada
sociedade política nacional. Entretanto, essa universalidade de um
mesmo sistema jurídico e econômico não é obtida somente através
da celebração, por parte do Poder Executivo, de tratados
internacionais. Lembra-nos mais uma vez Francesco Galgano: “O que
domina a cena jurídica do nosso tempo não são as convenções
internacionais de direito uniforme, nem são, no âmbito europeu, as
diretivas comunitárias de harmonização do direito dentro da União. O
elemento dominante é, muito antes, a circulação internacional de
modelos contratuais uniformes. São, no mais das vezes, contratos
atípicos: quem os cria não são os legisladores nacionais, mas são os
departamentos jurídicos das grandes multinacionais, são os
consultores das associações internacionais de diversas categorias
empresariais. O seu nome, que é quase sempre um nome em inglês,
testemunha a origem americana desses modelos; mas do país de
origem leasing, franchising, performance bond etc. são propagados
para todo o planisfério. Eles não têm nacionalidade: a sua função é a
de realizar a unidade do direito dentro da unidade dos mercados”.
Ralf Dahrendorf salienta que “a nação-estado era também um veículo
13
necessário para o estabelecimento do contrato moderno no lugar da
servidão feudal”. Nada mais correto. O estado nacional e a sua
continuidade jurídica interna – substituindo a descontinuidade
formada pela fragmentação feudal de outrora – é um instrumento
necessário à concretização da ideia de contrato, o instrumento
burguês por excelência das trocas econômicas. Assim, tem-se o
estado-nação como sendo nada muito diferente de uma função da
ideia de contrato, tendo ele próprio, na visa moderna, se originado em
um grande contrato social, como descreveram Hobbes, Rousseau e
Kant, entre outros. Observa-se que essa continuidade jurídica interna
– que encontra seu apogeu com o período das codificações –
somente pode ser entendida desejável enquanto as vias comerciais
não ultrapassarem o âmbito destes estados nacionais. Uma vez
superada pela via econômica essa barreira outrora intransponível,
grande parte da função legislativa para a qual nasceu o estado
nacional, também se torna dispensável. Dito de outro modo: tendo
nascido o estado nacional em grande medida para monopolizar a
produção legislativa num dado contexto territorial para dar-lhe
uniformidade às práticas econômicas e jurídicas, e uma vez sendo
ampliada a abrangência dessas relações econômicas, que se buscam
uniformes, para além dos limites dos estados nacionais, por óbvio a
produção legislativa escapará ao domínio do estado, sendo muitas
vezes imposta a ele de fora, visando inserir-lhe num dado novo
modelo econômico uniforme, do qual ele não seja mais o
protagonista, mas sim apenas mais um participante.
Dos autores acima citados, vê-se que nos contratos internacionais, ou nos contratos que
correm o globo sob o mesmo molde caracterizador, seja através de um direito “internacional”,
“transnacional” ou “global”, está radicada a lex mercatória. No que interessa ao presente
artigo, temos as redes comerciais como gênero contratual que engloba espécies de contratos
previstos nos mais diversos sistemas jurídicos nacionais e que acabam por “globalizar” e
“internacionalizar” a economia, como o contrato de franquia, o contrato de representação
comercial, o contrato de agência, o contrato de distribuição, dentre outros que mesmo não
sendo tipificados por leis, são utilizados de forma idêntica através do mundo, como os
contratos de cessão de marca. A questão que resta é entender qual o sentido dessa lex
mercatória hoje representada por redes comerciais.
5. OS SISTEMAS QUE FORMAM REDES COMERCIAIS E O PARADIGMA
DA COOPERAÇÃO. A TEORIA SISTÊMICA E O DIREITO DO NOVO
COMÉRCIO
5.1. Breve introdução sobre a teoria sistêmica
A teoria sistêmica em sua linhagem jurídica se mostra epistemologicamente adequada para
explicar as redes comerciais. Não é à toa que a Lei de Franquia, legislação brasileira mais
avançada em termos de contratos que formam redes, conceitua o contrato de franquia
empresarial como sendo um sistema.
Em termos sistêmico-sociais, Parsons afirmava que os indivíduos dão sentido próprio às
próprias ações e a partir daí atuam entre si, integrando expectativas recíprocas de
14
comportamento, e essa integração ocorre com o recurso à estabilidade de normas duráveis,
compreensíveis e assimiláveis, que estruturam verdadeiros sistemas de ação (Luhmann, 1983,
pp. 30 e 31).
Luhmann, que foi aluno de Parsons, inverteu a lógica de seu professor, passando do paradigma
“estrutural-funcionalista” para o paradigma “funcional-estruturalista”. Conforme Schwartz
(2013, p. 51), “O ponto de partida do estrutural funcionalismo é dado pela existência das
estruturas em um sistema”. Luhmann dá outra visão à teoria sistêmica, aplicando-a ao direito,
e afirmando que não é a predeterminação estrutural que comanda o sistema, mas sim suas
funções.
Teubner (Mello, 2004, p. 352), também jurista, “procura incorporar à teoria dos sistemas de
Luhmann o conceito de reflexividade, com o qual explica o processo de interação entre fatores
externos (pressões sociais) e internos (formalismo jurídico) nas configurações dos sistemas
contemporâneos”.
5.2. Os sistemas que formas redes comerciais. O paradigmático contrato
de franquia empresarial. Lei, doutrina e jurisprudência
As redes comerciais são sistemas de ações coletivas, estruturadas a partir de determinada
funções e objetivos, e que por isso necessitam ser entendidas em termos cooperativos. Tal
percepção é diferente do enfoque individualista do Código Civil. Tanto é assim que nenhum
caso de responsabilidade civil coletiva é previsto no Codex. Com isso não se quer aplicar às
redes comerciais o instituto da responsabilidade civil coletiva. Pelo contrário, enquanto na
responsabilidade civil coletiva todos os membros de um grupo causador do dano respondem
solidariamente em face de uma fictícia presunção, na responsabilidade civil das redes
comerciais o movimento é inverso, no sentido de haver uma obrigação do empresário que
forma a rede para com os outros empresários que foram atraídos a aderir à rede. Por aí é
possível notar que há uma responsabilidade especial aplicada às redes comerciais, que por
enquanto será apenas denominada de responsabilidade comercial das redes, da qual não há
rastro algum na legislação brasileira.
De modo que é preciso entender quais obrigações estão envolvidas nos contratos que formam
redes comerciais, para a partir daí ser possível abrir o debate acerca das questões contratuais
e de responsabilidade civil (ou comercial) que afluem desses novos instrumentos negociais.
Para entender como esses institutos jurídicos básicos de direito privado (obrigações, contratos
e responsabilidades) mudam a sua lógica quando aplicados às redes comerciais, usar-se-á
como paradigma as redes de franquia empresarial, pois é o negócio em rede comercial mais
complexamente experimentado e normatizado dentre aqueles negócios que formam redes
comerciais. Realmente, a lei de franquia é a que mais complexamente prevê o fenômeno
econômico em rede.
A Lei 8.955/94, que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial, em seu artigo segundo,
conceitua a franquia como um
“sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de
uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição
exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e,
15
eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de
implantação e administração de negócio ou sistema operacional
desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração
direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo
7
empregatício” .
Esse conceito deve ser dividido em dois. Na primeira parte, o importante é que a franquia
empresarial forma um sistema. Na segunda parte, destacam-se as operações envolvidas no
negócio: uso de marca ou patente, direito de distribuição, direito de uso de tecnologia, direito
de uso de sistema operacional.
Fixados esses dois pontos do conceito legal de franquia, parte-se agora à análise da doutrina
pátria sobre o conceito de franquia.
5.3. O conceito doutrinário do negócio de franquia
Waldirio Bugarelli (2000, p. 529), conceitua o instituto a partir da instituto da cessão de marca.
Nesse sentido, franquia é
[...] a operação pela qual um comerciante, titular de uma marca
comum, cede seu uso, num setor geográfico definido, a outro
comerciante. O beneficiário da obrigação assume integralmente o
financiamento da sua atividade e remunera o seu co-contratante com
uma porcentagem calculada sobre o volume dos negócios. Repousa
sobre cláusula de exclusividade, garantindo ao beneficiário, em
relação aos concorrentes, o monopólio da atividade.
Orlando Gomes (Bugarelli, 2000, pp. 530) define-o como “a operação pela qual um empresário
concede a outro o direito de usar a marca de produto seu com assistência técnica para sua
comercialização, recebendo, em troca, determinada remuneração”.
Antônio Chaves (Bugarelli, 2000, p. 531), por sua vez, apresenta esse negócio jurídico como
[...] o contrato pelo qual uma pessoa assume o compromisso de
efetuar distribuição seletiva de bens de sua fabricação ou de terceiro,
ou a proporcionar método ou serviços caracterizados por marca
registrada a outras que a ela se vinculam, em dependência, por
compromisso de licença, ligação contínua, e eventual assistência
técnica, para a venda limitada à determinada área geográfica.
Fran Martins (Bugarelli, 2000, p. 530) entende o contrato em comento como sendo
[...] o contrato que liga uma pessoa a uma empresa, para que esta,
mediante condições especiais, conceda para a primeira o direito de
comercializar marcas ou produtos de sua propriedade, sem que,
contudo, a essas estejam ligadas por vínculo de subordinação. O
franqueado, além dos produtos que vai comercializar, receberá do
7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8955.htm
16
franqueador permanente assistência técnica e empresarial, inclusive
no que se refere à publicidade dos produtos.
Adalberto Simão Filho (1997, p. 35) elabora o seu conceito nos seguintes termos:
Portanto, entendemos que o franchising é um sistema que visa à
distribuição de produtos, mercadorias ou serviços em zona
previamente delimitada, por meio de cláusula de exclusividade,
materializado por contrato(s) mercantil(is) celebrado(s) por
comerciantes autônomos e independentes, imbuídos do espírito de
colaboração estrita e recíproca, por qual, mediante recebimento de
preço inicial apenas e/ou prestações mensais pagas pelo franqueado,
o franqueador lhe cederá, autorizará ou licenciará para o uso
comercial propriedade incorpórea constituída de marcas, insígnias,
título de estabelecimento, know how, métodos de trabalho, patentes,
fórmulas, prestando-lhe assistência técnica permanente no comércio
específico.
Adalberto Simão Filho (1997, p. 33) aponta os seguintes caracteres que predominam no
contrato de franquia: distribuição, colaboração recíproca, preço, concessão e autorizações e
licenças, independência, métodos e assistência técnicas permanentes, exclusividade e contrato
mercantil.
Conforme expõe Bugarelli (200, p. 531), os pontos fulcrais que caracterizam o contrato de
franquia empresarial são, basicamente,
1. contrato bilateral, consensual, comutativo, oneroso, de duração;
2. entre empresas (dado o caráter de autonomia das partes, uma em
relação à outra);
3. tendo como objeto a cessão do uso de marca (conjuntamente ou
não com o produto, podendo este ser fabricado pelo franqueador) ou
o título de estabelecimento ou nome comercial, co assistência
técnica, mediante o pagamento de um preço que se pode designar
pelo termo royalty);
4. com exclusividade ou delimitação territorial.
Denota-se claramente que a doutrina brasileira desenvolve apenas o segundo elemento do
conceito de franquia dado pelo artigo segundo Lei 8.955/94, aquele que descreve as
operações envolvidas no negócio, como o uso de marca ou patente, o direito de distribuição, o
direito de uso de tecnologia, e o direito de uso de sistema operacional. A primeira parte do
conceito legal, que trata do contrato como sendo um sistema, é ignorado.
De modo geral, parece haver um descompromisso no que diz respeito à cooperação entre os
empresários. O novo capitalismo de aliança passa longe de qualquer consideração jurídica, o
que causa prejuízo em qualquer raciocínio que se faça em termos obrigacionais.
5.3. A jurisprudência envolvendo o negócio de franquia (análise de um
caso)
Nos Tribunais de Justiça brasileiros o problema verificado na doutrina se repete. Não entra nas
razões de decidir questões pertinentes à cooperação e à aliança que dá razão à existência das
17
redes comerciais. Exemplos transbordam na jurisprudência. Um caso emblemático foi julgado
pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, no qual um contrato de franquia de
concessionária de automóveis da marca Fiat, sem prazo fixo estipulado, foi resolvido com base
em uma cláusula contratual que previa uma mera notificação com antecedência de 30 (trinta)
dias para tanto. A franqueada, devido à prejudicialidade extrema da cláusula, intentou ação
visando a declaração da nulidade da mesma (processo nº 001/1.10.0254118-3. No CNJ o
processo recebeu o nº 2541181-76.2010.8.21.0001). Na sentença de mérito, o Juiz
argumentou que
Os contratos impugnados trazidos aos autos contêm, de forma clara e
expressa, todos os elementos contratuais essenciais à modalidade da
franquia empresarial. Da mesma forma, não há qualquer vício na
alteração sobre a vigência do contrato, de determinado para
indeterminado. Assim, tenho não ser possível falar-se em nulidade,
seja por simulação ou outro fundamento, vez que a autora não logrou
êxito na demonstração de seu alegado direito.
Interposto recurso pela franqueada (apelação cível nº 70049318918, CNJ nº 023848209.2012.8.21.7000), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu que o
contrato de franquia fora firmado por tempo indeterminado, autorizando a rescisão por
interesse de qualquer das partes, bastando que a franqueadora notificasse devidamente a
franqueada manifestando desinteresse na continuidade da relação contratual. E mais, referiu a
Desembargadora Relatora do recurso que “O contrato de franquia é negócio de risco,
mediante o qual há um investimento pelo franqueado visando à expectativa de lucro”.
Nesse exemplo fica claro que o Poder Judiciário não capta os princípios basilares que norteiam
a relação empresarial contida nas redes comerciais. Um contrato de rede comercial
envolvendo concessionárias de automóveis possui altos valores de investimento, manutenção
e fluxo de caixa, devido ao porte do estabelecimento comercial necessário, ao preço dos
produtos vendidos e ao número de empregados necessários. Ademais, existem
invariavelmente outros serviços agregados que devem ser obrigatoriamente absorvidos pelas
concessionárias, como o serviço de oficina. De forma que o investimento em um negócio
altamente custoso como uma concessionária de automóveis deve ser entendido pelos
Tribunais em face de sua continuidade, preservado de cláusulas abusivas, como as que não
fixam prazo mínimo de validade do contrato, não dando chance ao aderente da rede fazer
uma mínima projeção de lucro. Ora, no negócio independente, fora das redes comerciais, tal
insegurança não ocorre. Como aceitar que seja mais inseguro ao franqueado estar em rede ao
invés de estar sozinho no mercado?
Ademais, falar em risco em um contrato de rede comercial parece um tanto ilógico, pois quem
adere a uma rede comercial quer justamente fugir dos inúmeros riscos que o negócio
independente oferece, que são maiores que os riscos existentes dentro de uma rede. A lógica
da rede impõe que não haja concorrência interna. Ao se aderir a uma rede, o comerciante
adere a um grupo onde obviamente não pode haver a concorrência que há fora desse grupo.
Esse é o objetivo básico da rede: identificação em grupo e crescimento coletivo para vencer a
concorrência. Como se pode pensar em risco do negócio entre franqueador e franqueado,
como afirmou o Tribunal gaúcho? O risco diz respeito à relação entre “franqueados de uma
rede” e face de “franqueados de outra rede” ou em face dos “comerciantes que atuam de
forma autônoma” no mercado. O paradigma contratual individualista, fruto do iluminismo e
18
dos seus Códigos de direito privados, não é adequado para as relações obrigacionais em rede,
e é nesse ponto que deve ocorrer a virada para um novo direito comercial. A ação econômica
em rede é uma realidade cada vez maior, e enquanto não for entendido do que se tratam as
redes comerciais, o direito não será capaz de alcançar seu objetivo maior, de virtualizar a
melhor sociedade possível. Pelo contrário, acabará desvirtualizando, como vem ocorrendo
8
sistematicamente com os negócios em redes comerciais .
6. CONCLUSÃO
Mais uma vez é possível dar um passo adiante no desenvolvimento do direito comercial. A
evolução que o atual Código Civil representou no Brasil unificando as obrigações privadas,
pondo de lado a teoria do ato de comércio em face da teoria de empresa, é apenas o primeiro
passo para atualizar o direito comercial aos eventos econômicos contemporâneos. Mas é uma
tendência que já vem desde a década de quarenta do século passado, e muito aconteceu
desde então com a economia capitalista. O paradoxo da unificação do direito obrigacional
privado está na evidência de que as regras e disposições do direito civil para os contratos em
geral não são totalmente aplicáveis aos contratos mercantis, ao contrário do que defendeu
Reale. Nos atos comerciais em rede, as obrigações e responsabilidades são diferentes da
usuais. Há um motivo especial para se investir na aderência a uma rede. O aderente (no
exemplo utilizado, o franqueado) escolhe investir determinado valor para entrar em uma rede
comercial e receber inúmeras experiências, ao contrário de se jogar livremente no mercado. O
aderente também paga royaties ao formatador da rede e espera que o mesmo faça a gerência
ou controle da mesma. A questão é que a ação em rede é coletiva e que a estratégia não está
na concorrência interna, mas exatamente no contrário, na comunhão de esforços para
concorrer com o ambiente externo à rede. O ambiente interno de uma rede comercial
compõe-se de ações em que todos os indivíduos agem juntos para o bem grupo.
O direito comercial realmente mudou desde a terceira revolução industrial, e a ação coletiva é
uma realidade. É necessário agora dar início a uma leitura adequada das relações existente no
interior das redes, de modo a se construir um direito coerente com as expectativas de quem
atua de forma coletiva. Somente a partir da leitura adequada das expectativas em torno das
redes é possível começar um debate jurídico em que realmente haja uma coerência entre
economia e direito.
A crítica que aqui se faz, calcada no contexto de um capitalismo de alianças, e posicionada a
partir das fases de desenvolvimento do direito comercial e da lex mercatoria, visa a
determinação de uma racionalidade jurídica adequada à forma que se desenvolve comércio
contemporâneo a partir de redes.
Segundo Rodriguez (2013, p. 160),
Os modelos de racionalidade jurídica consistem em conjuntos de
regras, cânones, conceitos ou padrões interpretativos, cujo objetivo é
formar padrões para a justificação das sentenças por meio da
imposição de determinados ônus argumentativos aos órgãos
competentes para decidir casos judiciais. Os modelos de
8 Utiliza-se nessa perspectiva “virtual” as teorias desenvolvidas por Pierre Lévy.
19
racionalidade jurídica não dizem respeito à maneira pela qual o juiz
chega à sua decisão (Dewey, 1924), mas sim à maneira pela qual ele
apresenta publicamente, afinal, a justificação da decisão pode vir a
vincular os julgamentos futuros que tratam de temas semelhantes.
Rodriguez (2013) refere-se às regras que irão presidir a construção do texto justificador da
decisão judicial, sem definir tais regras como as únicas possíveis, uma vez que diferentes
decisões racionais podem resolver congruentemente o mesmo problema jurídico.
A adoção de um padrão argumentativo que busca o “convencimento das partes na ação
jurisdicional e dos cidadãos em geral” (Rodriguez, 2013, p. 162) pede, obviamente, que se
entenda qual o tipo de ação se está tratando. No caso das redes comerciais, são ações
coletivas, com expectativas, regras e estratégias próprias às ações coletivas.
E o papel da teoria, ainda nas bases de Rodriguez (2013, p. 162), é “dizer se ocorreu uma boa
ou má escolha decisória”. Como se pode ver, é preciso, em última análise, perceber a
capacidade da própria teoria em entender um fenômeno, e a teoria da empresa certamente
não está dando conta das redes comerciais. A pergunta de Rodriguez (2013, p. 163) sobre qual
o critério adequado para discernir bons e maus modelos teóricos é um questionamento difícil
de responder. Inobstante, arrisca-se afirmar que para definir o adequado direito das redes
comerciais é preciso dar um mergulho em outras ciências diversas da jurídica, como a
econômica e a administrativa, o que acaba conferindo uma grande dose de pragmaticidade
para construção de uma teoria adequada ao direito comercial contemporâneo.
REFERÊNCIAS
Bugarelli, Waldirio. Direito Comercial. Atlas, São Paulo, 15. ed., 2000.
Bugarelli, Waldirio. Contratos Mercantis. Atlas, São Paulo, 12. ed., 2000.
Goldman, Berthold. Les frontieres du droit et lex mercatoria. Archives de Philosofie du Droit, n.
9, 1964.
Castells, Manuel. A sociedade em rede. Paz e Terra, São Paulo, 2011.
Coelho, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial : direito de empresa. Saraiva, São Paulo,
2007.
Huck, Hermes Marcelo. Lex mercatoria-horizonte e fronteira do comércio internacional.
Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 1992.
Lobo, Jorge. A Empresa: novo instituto jurídico. Revista da EMERJ 5.17, 2002.
Oliveira, Raul Durizzo de, et al. Do empresário à empresa: aspecto evolutivo.
Rava, Ben-Hur, and Luciano Da Ros. Posicionamentos da magistratura brasileira: sobre a nova
lex mercatoria. 2007.
20
Reale, Miguel. O Projeto de Código Civil: situação atual e seus problemas fundamentais.
Saraiva, São Paulo, 1986.
Requião, Rubens. Curso de direito comercial. Saraiva, São Paulo, 2003.
Rodriguez, José Rodrigo. Como decidem as cortes? : para uma crítica do direito (brasileiro).
Ditora FGV, Rio de Janeiro, 2013.
Martins, Fran. Curso de direito comercial. Atual. Carlos Henrique Abrão. 36 ed. rev. atual. e
ampl. Forense, Rio de Janeiro, 2013.
Ramos, André Luiz Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial. 3. ed. rev., amp. e atual. Editora
Podium, 2009.
Simão Filho, Adalberto. Franchising: aspectos jurídicos e contratuais. 2. ed. Atlas, São Paulo,
1997.
Teubner, Gunther. A Bukowina global sobre a emergência de um pluralismo jurídico
transnacional. Impulso: Revista de Ciências Sociais e Humanas, v. 14, n. 33, p. 9-31, 2003.
Tomazette, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário. volume 1. 6.
ed., Atlas, São Paulo, 2014.
Verschoore, Jorge; Balestrin, Alsones. Redes de cooperação empresarial: estratégias de gestão
na nova economia. Bookman, Porto Alegre, 2008.
21