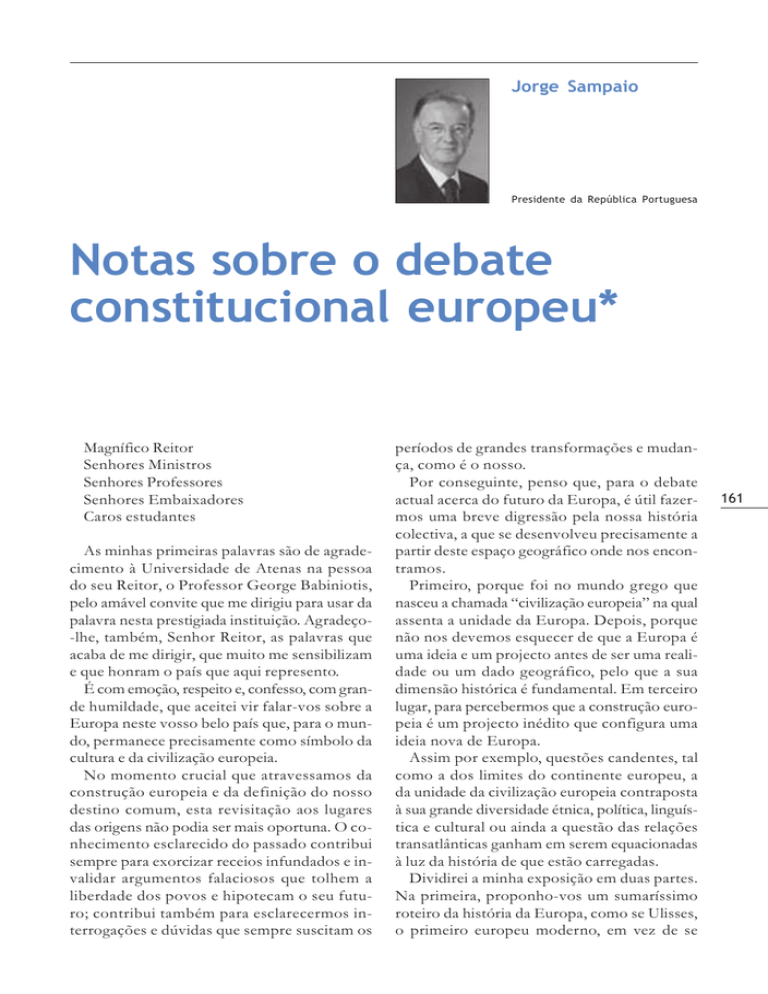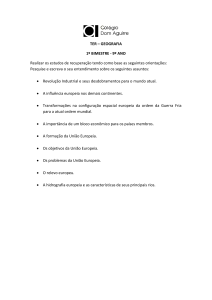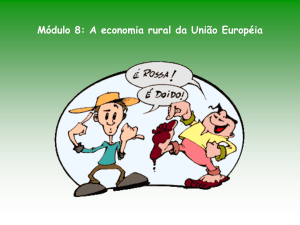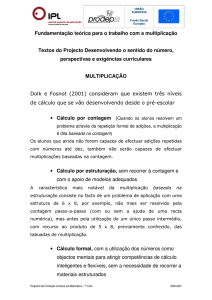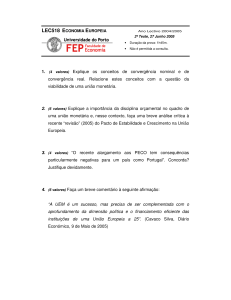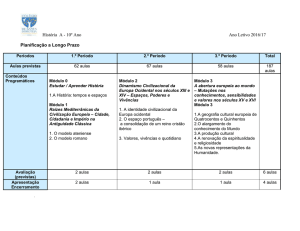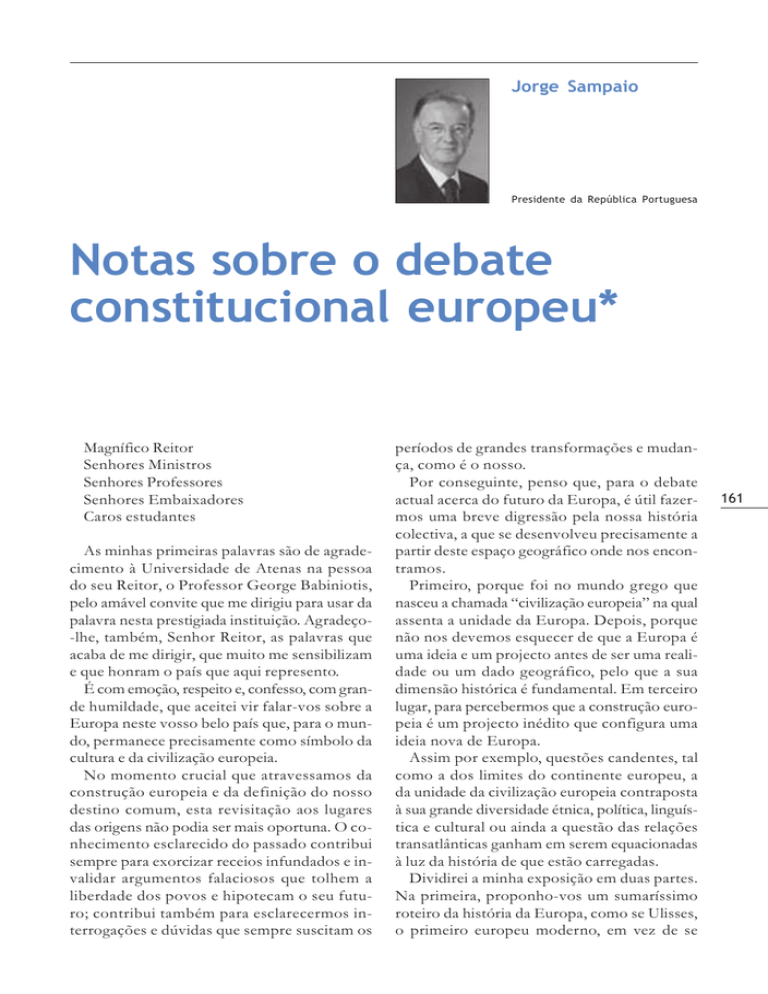
Jorge Sampaio
Presidente da República Portuguesa
Notas sobre o debate
constitucional europeu*
Magnífico Reitor
Senhores Ministros
Senhores Professores
Senhores Embaixadores
Caros estudantes
As minhas primeiras palavras são de agradecimento à Universidade de Atenas na pessoa
do seu Reitor, o Professor George Babiniotis,
pelo amável convite que me dirigiu para usar da
palavra nesta prestigiada instituição. Agradeço-lhe, também, Senhor Reitor, as palavras que
acaba de me dirigir, que muito me sensibilizam
e que honram o país que aqui represento.
É com emoção, respeito e, confesso, com grande humildade, que aceitei vir falar-vos sobre a
Europa neste vosso belo país que, para o mundo, permanece precisamente como símbolo da
cultura e da civilização europeia.
No momento crucial que atravessamos da
construção europeia e da definição do nosso
destino comum, esta revisitação aos lugares
das origens não podia ser mais oportuna. O conhecimento esclarecido do passado contribui
sempre para exorcizar receios infundados e invalidar argumentos falaciosos que tolhem a
liberdade dos povos e hipotecam o seu futuro; contribui também para esclarecermos interrogações e dúvidas que sempre suscitam os
períodos de grandes transformações e mudança, como é o nosso.
Por conseguinte, penso que, para o debate
actual acerca do futuro da Europa, é útil fazermos uma breve digressão pela nossa história
colectiva, a que se desenvolveu precisamente a
partir deste espaço geográfico onde nos encontramos.
Primeiro, porque foi no mundo grego que
nasceu a chamada “civilização europeia” na qual
assenta a unidade da Europa. Depois, porque
não nos devemos esquecer de que a Europa é
uma ideia e um projecto antes de ser uma realidade ou um dado geográfico, pelo que a sua
dimensão histórica é fundamental. Em terceiro
lugar, para percebermos que a construção europeia é um projecto inédito que configura uma
ideia nova de Europa.
Assim por exemplo, questões candentes, tal
como a dos limites do continente europeu, a
da unidade da civilização europeia contraposta
à sua grande diversidade étnica, política, linguística e cultural ou ainda a questão das relações
transatlânticas ganham em serem equacionadas
à luz da história de que estão carregadas.
Dividirei a minha exposição em duas partes.
Na primeira, proponho-vos um sumaríssimo
roteiro da história da Europa, como se Ulisses,
o primeiro europeu moderno, em vez de se
161
encaminhar para Ítaca, navegasse rumo ao presente, no oceano da nossa memória colectiva;
tratar-se-á de uma breve evocação histórica, em
obediência ao lema délfico, que Sócrates ajudou
a vulgarizar, do “Conhece-te a ti próprio”, na
esperança de que possamos validar a hipótese
de Freud, que atribuiu à prática deste preceito
inegáveis virtudes terapêuticas... Na segunda
parte, abordarei as dificuldades e as questões
propriamente políticas que o futuro ordenamento constitucional da Europa coloca, bem
como os desafios com que inelutavelmente nos
confrontamos.
1. Do passado ao presente
162
Embora desenvolvendo-se em torno do
Mediterrâneo, o universo greco-romano é, como
sabemos, fundador da Europa. Devemos aos
Gregos e aos Romanos a invenção da política,
bem como da história enquanto história política. Também a ideia de império universal atravessa toda a história da Europa, desde sempre
marcada por uma sucessão de ambições imperiais a que não são alheios propósitos universalistas. Aristóteles, que foi preceptor de Alexandre Magno, atribuía à organização política dos
Helenos a sua capacidade de governar o mundo. O império romano acabou por ser uma expressão do sonho de Alexandre, que ambicionava fundir os povos num império universal.
Para Atenas, símbolo da civilização grega, a
questão política era essencialmente filosófica.
Platão, ao reflectir sobre a cidade ideal, fundou-a na ideia de justiça. Aristóteles parte da noção
de lei, liberdade e igualdade dos cidadãos para
determinar a melhor forma de Governo. A democracia grega radica, não esqueçamos, no logos, na razão política e no debate que os representantes do povo travam com os seus eleitores
na praça pública, a agora.
Diferentemente desta civilização baseada no
uso livre da palavra, a matriz da civilização romana radica na regra, ou no jus. A questão política é uma questão de direito. O direito regula
o exercício do poder político, incluindo o do
próprio imperador e exprime-se em instituições. Foi o carácter abstracto deste sistema, simples e rigoroso, que permitiu a sua aplicação
generalizada ao conjunto das províncias do
império. Por ter conseguido preservar a unidade e a diversidade, Roma permanece o paradigma do mito do império universal.
Durante a Idade Média, a oposição até então
prevalecente entre o Norte (bárbaro) e o Sul (greco-latino) atenua-se, o Mediterrâneo perde a sua
centralidade e acentua-se a clivagem entre o Ocidente e o Oriente, agravada depois com a tomada de Constantinopla em 1453 e a sua integração
no Império Otomano. A Europa passa, então, a
ser identificada com o Ocidente, ao arrepio de
qualquer razão de ordem geográfica, fazendo tábua rasa de uma leitura histórica mais atenta.
Muitas das ambiguidades da Europa actual têm
a sua origem nesta assimilação abusiva.
Atribui-se a Carlos Magno o nascimento da
Europa na acepção moderna, com a instalação
da capital do seu império em Aix-la-Chapelle,
bem longe do Mediterrâneo. A imagem do
império, renovada pelo ideal da universalidade
cristã e pela assimilação do direito romano, continuou a marcar o pensamento político medievo, que nunca chegou a resolver a questão, na
altura crucial, de saber se a autoridade suprema
cabia ao Papa ou ao Imperador.
Sabemos que a Europa feudal dá progressivamente lugar à constituição de uma Europa de
Estados soberanos e rivais. A partir do Renascimento, as transformações aceleram-se. Esmorece o projecto do império universal, a unidade
católica é quebrada, emergindo uma Europa dos
cristianismos: a oriente, os ortodoxos; a ocidente, os católicos, posteriormente divididos entre
protestantes a norte e católicos a sul.
A Reforma não é alheia à emergência das nações, entendidas como exercício de soberania,
dotadas de uma religião e de uma língua nacional. As soberanias vão dividir a Europa do
ponto de vista político. Com o correr do tempo, a noção de soberania deslocar-se-á do monarca para a nação e, com a Revolução Francesa,
a nação apropria-se do poder político, tal como
um século antes, em Inglaterra, o Estado havia
sido já “nacionalizado”.
A história moderna da Europa é marcada pela
afirmação política dos Estados-nação, soberanos,
zelosos das suas autoridade e independência,
procurando manter um certo equilíbrio nas relações entre si. Já em 1648, o Tratado de Vestefália
refere expressamente a necessidade de assegurar
“um justo equilíbrio entre as potências”.
Não obstante, a nossa história é uma sucessão de apetências hegemónicas, de rivalidades,
de alianças e de coligações adversas, em que os
grandes se opõem aos grandes e os pequenos
servem de contrapeso, aliando-se a uns e outros, consoante os interesses em jogo.
O princípio das nacionalidades, como expressão da vontade política de fazer coincidir Estado
e nação, foi-se afirmando progressivamente no
século XIX. A independência da Grécia em 1830
é disso um exemplo. Na sua versão moderna,
corresponde ao direito dos povos a disporem
de si mesmos, ou seja, ao direito a constituíremse como Estados independentes. O caso mais
recente do exercício deste direito é precisamente
Timor-Leste, que, como sabem, mobilizou tremendos esforços por parte da comunidade internacional e em que Portugal tanto se empenhou, com o apoio constante da Grécia.
A Segunda Guerra Mundial e a descolonização põem fim ao apogeu da Europa, arruinando definitivamente as suas pretensões sobre o
mundo. Desenvolvem-se novas dinâmicas a
nível mundial, surgem forças e actores que assumem um protagonismo até então desconhecido, condicionando o exercício da soberania por
parte dos Estados. Penso na emergência das
opiniões públicas, na internacionalização acentuada das economias e na estruturação da sociedade internacional. Nada mais será como dantes. A Europa deixa de ser o centro do mundo
para passar a ser um continente do mundo.
Nos escombros da guerra, lutando contra o
espectro da ideia do seu declínio, a Europa põe-se então à procura de uma unidade. Dá-se início ao processo de construção europeia. Nunca
será de mais salientar que se tratou de um projecto inédito, destinado a reconciliar os povos e
a impedir a guerra, tanto mais arrojado quanto
a própria Europa se encontrava dividida em
dois blocos antagónicos e que a paz então possível residia no equilíbrio bipolar da Guerra Fria
que ensombrou o continente europeu durante
quase meio século.
É por isso que o ano de 1989, com a queda do
Muro de Berlim e o início do reencontro da Europa Central e Oriental com a democracia, ficará
na história como a grande oportunidade do nos-
so continente. Apesar das incógnitas que permanecem, a Europa prepara-se agora para assumir a
tarefa histórica da reunificação do continente europeu. A este objectivo, acrescem ainda o da consolidação dos seus fundamentos e o do aprofundamento do processo integrador, ou seja, o
da redefinição da Europa como projecto vincadamente político. O desafio é duplo e incomensurável. Mas são tantas as razões de esperança!
2. Do presente ao futuro
No quadro do debate sobre o futuro da Europa coloca-se uma série de questões de fundo
que, a meu ver, ganham em ser elucidadas. São
elas, designadamente: a questão dos limites da
União Europeia; a questão das relações transatlânticas; a questão das finalidades da União
Europeia; a questão da natureza política da
União Europeia. Abordá-las-ei sucessivamente.
a) A questão dos limites
da União Europeia
Se, como acabámos de ver, a geografia por si
só não basta para determinar os limites da Europa de que a história e a política são indissociáveis, também parece óbvio que os não podemos afastar indefinidamente no espaço.
Na delimitação da Europa, os seus limites
orientais são os mais polémicos. Primeiro, porque encontramos na charneira da Europa e da
Ásia dois vastos países – a Rússia e a Turquia –
cujos territórios, embora se situem essencialmente no continente asiático, estão profundamente ligados à Europa por uma história secular comum. Depois, porque, embora revestindo
um grande interesse estratégico, as suas vastidão e especificidades têm sido fonte de inesgotáveis polémicas.
A meu ver, na inclusão ou na exclusão de um
determinado Estado, como a Turquia e a Rússia, que a geografia situa nos confins do continente europeu, devem intervir essencialmente
razões de ordem histórica, política e estratégica.
É, de resto, este o significado das palavras do
general de Gaulle ao afirmar que a Europa se
estendia do Atlântico aos Urais.
Actualmente, é a questão da Turquia que alimenta mais polémicas, dado o empenho reno-
163
164
vado que as autoridades de Ancara têm manifestado em relação à adesão do seu país à União
Europeia enquanto prioridade de política externa turca e motivação decisiva de política interna.
É certo que a União Europeia está agora a braços com o incomensurável desafio que o próximo alargamento representa, totalmente absorvida com a sua preparação e também com a
reforma constitucional interna que se pretende
levar a cabo, cuja necessidade decorre, em parte,
do próprio alargamento. A União atravessa, assim, um momento de viragem na sua história,
anunciam-se grandes mudanças que são também
portadoras de receios e de algumas hesitações.
Estou em crer que algumas reacções menos favoráveis à perspectiva da futura adesão da Turquia se devem a esta conjuntura extremamente
exigente em que nos encontramos.
Mas não devemos ignorar também que alguns receios se prendem com a ideia errónea de
que a matriz judaico-cristã da civilização europeia exclui irremediavelmente do projecto europeu uma nação preponderantemente islâmica, como a Turquia. Ora, estamos a meu ver
perante um grave preconceito. Sem negar a importância do Cristianismo enquanto factor de
unidade da civilização europeia ocidental, a herança greco-latina, raiz do pensamento político
ocidental, parece-me tão ou ainda mais determinante, com as suas noções de liberdade, direito, justiça e democracia. Acresce que não nos
podemos esquecer de que as relações com o
“Império do Levante” são uma componente
importante da história e da política da Europa.
De resto, César e Deus sempre se reclamaram
de cidades diferentes.
Por conseguinte, o ponto crítico da questão
da integração da Turquia no projecto europeu
não reside no facto de a maioria da sua população ser de confissão muçulmana. A questão está
em verificar se a Turquia é de jure et de facto um
Estado laico, de direito, democrático, respeitador dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Mas, para verificar esta hipótese, existem precisamente os critérios políticos fixados
em 1993 em Copenhaga, à luz dos quais se deve
aferir, juntamente com os restantes parâmetros,
da capacidade de um Estado europeu para aderir
à União Europeia. Não cabe formular, no caso
vertente, exigências adicionais. Mas também não
podem fazer-se transigências, sob pena de comprometer toda a União Europeia.
É, por outro lado, minha profunda convicção que, sem um forte e amplo consenso nacional em torno do projecto de adesão, este
processo não tem condições de sucesso. Representando a União Europeia uma comunidade de valores e de destino, é necessária uma
“vontade comum de viver em conjunto, de fazer valer uma herança comum e indivisa”, para
parafrasear Renan. A meu ver, esta, sim, é uma
condição prévia à do preenchimento dos critérios de Copenhaga. Mas a sua ponderação é eminentemente interna ao país candidato, o que
explica, por exemplo, que a Noruega nunca tenha chegado a aderir à União ou que a Suíça se
tenha mantido à margem deste projecto.
Complementarmente, há que salientar também que a decisão da fixação de uma data para
o início das negociações de adesão de um novo
candidato implica igualmente a ponderação da
capacidade da própria União para assumir, numa
determinada altura, as responsabilidades que
sobre ela recaem. Mas trata-se de uma mera avaliação de oportunidade ou de possibilidade prática, não é uma questão de princípio.
A meu ver, a integração da Turquia na União
Europeia é uma aposta promissora de interesse mútuo: por um lado, permitirá reforçar o
consenso nacional em torno da laicidade do
Estado turco; por outro, contribuirá certamente, no mundo conturbado em que vivemos
após o 11 de Setembro, para uma melhor percepção da Europa por parte dos países muçulmanos, invalidando a ideia, falsa e perigosa, da
tão propalada “guerra de civilizações”.
Na junção entre dois mundos, sendo a Turquia já membro do Conselho da Europa, da
OCDE e da NATO, a sua integração na União
Europeia ancorá-la-á definitivamente à Europa, consolidando o espaço de liberdade, democracia, justiça e segurança a que aspiramos para a
humanidade. São estes os valores que, independentemente dos seus credos, todos os povos reivindicam como seus.
Neste contexto, não posso deixar de referir a
questão de Chipre, que, após décadas de impasse e de tensões entre a Grécia e a Turquia,
parece estar agora em vias de solução desde que
todas as partes mostrem um idêntico sentido
de compromisso e indispensáveis cedências recíprocas. É um exemplo encorajador, que revela como a integração dos povos e dos Estados
é uma aposta certa na unidade, na paz e na estabilidade. Faço votos para que, no âmbito da
próxima presidência grega da União, Atenas
possa ser o testemunho privilegiado deste cabo
histórico que representa a reunificação da ilha e
a sua integração na União Europeia.
De resto, a questão que agora se levanta em
relação à Turquia colocar-se-á provavelmente,
daqui por algum tempo, em relação à Rússia e
quiçá no que respeita a alguns países da orla
mediterrânica. Mas é certo também que, tal como
a noção de “acordo de associação” surgiu de um
acaso, precisamente no contexto da adesão da
Grécia à então CEE, poder-se-á, se for caso disso, forjar uma nova categoria de parceria privilegiada com estes países por forma a criar um espaço de proximidade e de sinergias acrescidas
em que ninguém se sinta injustamente excluído.
b) A questão das relações
transatlânticas
Nesta questão estão em causa as noções ambíguas de “Europa” e “Ocidente”, mais determinadas pela história do que condicionadas pela
geografia.
Durante a Guerra Fria, a matriz do “Ocidente”, que abrangia também os Estados Unidos
e o Canadá, repousava no sistema de defesa da
NATO. Com a queda do Muro de Berlim e a
dissolução do bloco socialista, desapareceu a
ameaça soviética, que cimentava a unidade do
“Ocidente”, criando uma indefinição quanto às
finalidades da parceria atlântica. Desta forma, a
dependência militar e política das democracias
ocidentais em relação aos Estados Unidos perdeu em larga medida a sua razão de ser.
A partir de então, a Europa empenhou-se em
desenvolver uma autonomia estratégica própria,
intuito, de resto, já de alguma maneira presente
na criação anterior da União da Europa Ocidental. Como se sabe, o Tratado de Maastricht
consagrará definitivamente esta ambição, que
não é alheia ao propósito de prosseguir com a
integração política da Europa, também firmemente reiterado em Maastricht.
As incertezas que têm marcado o desenvolvimento de uma política externa e de segurança
comum, bem como as dificuldades da definição de uma política de defesa ao nível da União
Europeia, devem-se em grande parte à preponderância da afirmação das soberanias nacionais
neste domínio e dos seus jogos de alianças e de
afinidades electivas. Mas prendem-se também
com uma certa ambiguidade que enforma as
relações transatlânticas.
Para que a União Europeia se possa afirmar
como uma potência mundial credível, tem de
dispor de operacionalidade militar, capacidade
autónoma, armamentos e equipamentos
adequados, bem como um sistema de informação próprio, no quadro de uma autonomia política em relação aos Estados Unidos.
Pessoalmente, não concebo uma política de
defesa europeia que não seja articulada em
complementaridade com o quadro da NATO.
Afinal, a maior parte dos países da União Europeia são também membros da Aliança Atlântica, e todos os seus membros coincidem na
defesa dos valores e princípios em que assenta
a nossa civilização. O alargamento da NATO,
recentemente decidido na Cimeira de Praga,
constitui um passo, a meu ver decisivo, para o
reforço do pilar europeu da Aliança, contribuindo para a consolidação da política europeia
de segurança e defesa.
Assegurar a defesa do Ocidente não é, no
entanto, o mesmo que construir a Europa. Por
isso, na sua componente de política externa de
segurança e defesa, a Europa também não se
esgota de forma alguma no quadro da NATO.
Entendo que, na perspectiva da realização a prazo de uma unidade política da Europa e da sua
afirmação como potência mundial, é imprescindível que esta disponha de uma voz própria
e de uma presença forte, que desenvolva uma
acção autónoma na cena internacional, complementar, concorrente ou antagónica à de outras
potências, segundo as vicissitudes da história e
as correlações variáveis das forças em causa.
c) A questão das finalidades
da União Europeia
A construção europeia assenta em três pressupostos: no plano filosófico, na liberdade e
na cidadania; no plano das instituições políticas, na democracia; no plano económico, numa
economia de mercado.
165
166
O método de Jean Monnet, que consistiu em
fixar progressivamente as sucessivas etapas da
construção europeia, sem prejudicar os objectivos últimos do processo, deu os seus frutos.
No entanto, depois de acumulados 50 anos de
sucessos, depois de realizados o mercado único e a união económica e monetária, depois de
introduzida a cidadania europeia, de registados
alguns progressos consideráveis em matéria de
justiça e de assuntos internos, depois das iniciativas tomadas no âmbito da política externa e
de segurança comum, bem como das tentativas de definição de uma política de defesa europeia, mesmo se as podemos considerar insuficientes, a União Europeia não se pode eximir a
redefinir mais claramente os contornos do projecto que quer prosseguir.
Perante a iminência da reunificação do continente europeu, que fará com que a União Europeia mude de escala, perante um contexto
internacional caracterizado pela globalização,
carregada de oportunidades acrescidas mas também de ameaças novas, perante um mundo
marcado pela instabilidade e a eclosão de crises
de toda a ordem, o aprofundamento do projecto europeu torna-se irrecusável.
Foi nesta convicção de que não se tratava agora
de proceder a uma mera revisão dos tratados e
de introduzir apenas mais algumas reformas
no seio da União que os próprios chefes de
Estado e de Governo dos Quinze decidiram
convocar não uma conferência intergovernamental ordinária, mas uma Convenção. O significado e o alcance desta decisão não devem ser
menosprezados.
A convocação inédita da Convenção, que tem
funcionado à imagem de uma quase assembleia
constituinte, parece justamente ter obedecido
ao propósito de a União se repensar a ela própria, redefinindo os seus objectivos e finalidades. No fundo, o que está em causa é a clarificação das finalidades políticas da União Europeia,
sempre pressupostas, jamais explicitadas.
A inexistência da Europa política neste novo
século é, sem dúvida, matéria para amplas reflexões, obrigando os Europeus a pensarem
no que querem para a Europa, no que esperam
dela e no que estão dispostos a arriscar e a investir para alcançar esses objectivos. Cabe-nos,
não tenho dúvidas, a histórica tarefa de redefi-
nir um novo conceito do exercício da soberania
nacional dos Estados que, sem a abolir, implicará, no entanto, novos modelos de decisão
política e uma partilha acrescida de competências, designadamente nos domínios diplomático e, a prazo, militar.
Resta saber se conseguiremos ultrapassar as
divergências que têm marcado o meio século de
história de integração europeia durante o qual
se têm afrontado duas visões da Europa: por
um lado, a concepção da Europa enquanto zona
de comércio livre, dotada de algumas políticas
comuns e de uma moeda única, mas com ambições políticas limitadas; por outro, uma concepção da Europa dispondo de uma unidade
política, dotada de meios adequados para prosseguir as suas finalidades e vocacionada para se
tornar uma potência mundial.
Pessoalmente, penso que, para vencermos os
desafios do século XXI, teremos de apostar
forte nesta segunda via, sob pena de ficarmos
prisioneiros de uma noção estática de soberania do Estado Nação ultrapassada pela história. A meu ver, será pela integração política da
Europa, pela construção da Europa como unidade política que rumaremos, definitivamente,
para o futuro.
d) A questão da natureza política
da União Europeia
Atravessamos um período de mutações fundamentais. Para que se possa proceder à refundação da União Europeia, há que esclarecer que
tipo de unidade política se pretende para a Europa. Ou seja, não nos podemos esquivar mais
à questão da natureza política da “Federação de
Estados-Nação” que queremos construir.
O ponto fulcral do próximo tratado constitucional residirá, sem dúvida, no tipo de modelo político que aí será apresentado, não só a
nível da configuração das relações entre os Estados-membros e a União, mas também no
plano do exercício do poder pela própria União.
Ninguém ignora que, numa perspectiva da
Europa alargada, o extenso número de Estados, a diversidade acrescida de sensibilidades
e de culturas em presença serão, como aquando do Império Romano, factor potenciador
de dissolução ou, pelo menos, de diluição do
projecto europeu. A extrema diversidade que
resultará do alargamento e as enormes disparidades de desenvolvimento dos Estados entre si tornarão absolutamente necessário um
reforço da solidariedade e dos elementos que
asseguram a coesão.
A meu ver, a ideia da conclusão de um pacto
constitucional é, em si, já um bom princípio,
porque permitirá reforçar a confiança entre os
povos e os Estados. Mas, obviamente, não
bastará. O modelo de União aí proposto, bem
como a forma de governação europeia apresentada, serão determinantes para o sucesso ou o
fracasso da Europa.
Permitam-me, a este respeito, que evoque
Tucídides. Na análise que nos apresenta das causas da Guerra do Peloponeso, refere as pretensões hegemónicas de Atenas e a quebra do equilíbrio de poderes até então prevalecente entre
as diferentes cidades.
Recorro a este exemplo para pôr em destaque
que o princípio da igualdade entre os Estados
me parece absolutamente basilar na construção
europeia. Mas não basta a igualdade jurídica.
Terão também de se assegurar, na arquitectura
institucional e no modelo funcional da União,
as condições efectivas de um equilíbrio de poder
entre os Estados, sob pena de a Europa renunciar à sua ambição propriamente federadora.
De facto, seria utópico pensar que, no quadro
da futura federação, deixarão de existir relações
de poder entre os seus Estados-nação, deixarão
de contar a sua dimensão, o seu peso específico e
poder próprio. No seio da União, continuarão a
produzir-se jogos de poder, tentativas hegemónicas, afrontamentos e alianças entre os Estados-membros. Mas a novidade reside precisamente
no facto de esta geometria variável de coligações
estar agora inscrita num quadro de regulação sujeito a normas bem definidas. A título de exemplo, vale a pena lembrar o caso significativo da
reformulação, em Nice, dos critérios de cálculo
das maiorias qualificadas, que passaram a incluir,
como se sabe, uma componente demográfica.
A meu ver, é fundamental que na futura arquitectura institucional da União se acautelem
mecanismos que impeçam a configuração a priori de situações de hegemonia e de constituição
de directórios, da mesma forma que é indispensável preservar os elementos valorizadores
da igualdade entre os Estados.
Duas palavras sobre o regime das presidências rotativas do Conselho: por um lado, não
deve confundir-se a discussão da rotatividade
com a da figura de presidente da União porque
são duas questões distintas, que devem permanecer separadas; por outro, a ideia da insustentabilidade das presidências rotativas é uma mera
pressuposição, que falta demonstrar, embora
pessoalmente reconheça as dificuldades de que
o actual regime se revestirá numa Europa alargada. Dito isto, entendo que o próprio lado
simbólico do exercício das presidências rotativas é politicamente importante, numa União
que, aos olhos dos cidadãos, parece tão abstracta e desprovida de símbolos e de carga afectiva.
Acresce que é também uma ocasião privilegiada
da expressão do compromisso europeu de um
Estado-membro, do reforço das suas credibilidade e capacidade de liderança no âmbito da
Europa, que mobiliza também toda a sociedade civil e a opinião pública interna.
Considero um erro acabar, sem mais, com as
presidências rotativas. Entendo, ao invés, que
o regime de rotatividade deveria ser mantido,
podendo ser adaptado e melhorado. Há várias
possibilidades de o fazer, por forma a levar em
consideração o elevado número de Estados com
que a União Europeia passará a contar, mas
também para melhorar o seu desempenho.
Quanto à questão da eventual instituição da
figura de um presidente da União, parece-me
uma ideia que vai ao arrepio do princípio da
economia que deve governar o bom funcionamento de qualquer sistema. A meu ver, não é a
multiplicação de cargos, nem o desdobramento de figuras e funções que permitirão melhorar a eficácia da União, torná-la mais coerente
ou reforçar a sua imagem. A futura federação
de Estados-nação não será nunca uma federação à imagem dos Estados Unidos, pelo que a
figura do presidente da União não me parece
nem necessária, nem, quiçá, desejável.
A questão da desejável credibilidade e da afirmação externa da União poderá ser resolvida
noutros termos. Como sabemos, para além das
presidências rotativas do Conselho Europeu, a
União Europeia dispõe já das figuras permanentes de um presidente da Comissão e de um secretário-geral do Conselho que é também o alto
representante para a política externa e de segu-
167
168
rança comum, para além do comissário para as
relações externas. A meu ver, seria preferível rever a atribuição das respectivas competências, articular conjuntamente as funções de uns e outros e reforçar o papel do presidente da Comissão
Europeia, dotando-o de legitimidade democrática acrescida. Seriam estas, certamente, medidas
que iriam no sentido que desejamos, sem afectar
princípios e equilíbrios indispensáveis para que
todos os Estados se reconheçam na arquitectura
institucional da União.
Para consolidar a unidade política da União,
precisamos de desenvolver a sua componente
supra-estadual. Isto significa não só o reforço
da Comissão, que deverá consolidar a sua credibilidade e força política, como também uma
generalização das decisões por maioria qualificada. Na impossibilidade de se poder abolir
desde já a estrutura em pilares da União e de
comunitarizar todas as matérias, o método de
coordenação aberta poderia, pelo menos, passar a ser aplicado à área da actual cooperação
política. Nesta perspectiva, a Comissão e o Conselho Europeu poderiam desenvolver novas
relações de trabalho, em estreita sinergia com o
alto representante para as relações externas e de
segurança comum e o envolvimento activo das
estruturas militares já criadas no seio da União.
O investimento futuro nas áreas da política
externa, de segurança e defesa da União deverá
constituir a principal transformação da Europa
pós-alargamento. Este é, a meu ver, o correlato
da refundação política da União. Mas traduz
também a ambição de dar à Europa o estatuto
de potência mundial que legitimamente tem de
reivindicar.
Acresce que me parece bem provável que a
opção pelo investimento na dimensão externa
da União produza inevitavelmente uma outra
alteração que, para países como Portugal e a
Grécia, terá de imediato um efeito negativo: a
de um menor peso acordado às políticas de
coesão, num cenário de manutenção do nível
de recursos disponíveis. Para não assistirmos à
renacionalização destas políticas será necessário
aumentar os recursos disponíveis. Mas, para
isso, é necessário demonstrar às opiniões públicas europeias que se trata de uma decisão legítima, fundada numa política de redistribuição justa, em prol da independência da Europa
e em nome da afirmação de uma identidade
europeia partilhada por todos os europeus.
Nesta conformidade, não devemos descurar
a Europa dos cidadãos, alfa e ómega da construção europeia. Sem a sua adesão, sem a sua
participação activa, sem a sua responsabilização, a Europa será uma casa vazia num continente deserto. Há pois que manter a chama da
Europa acesa no coração dos cidadãos, tornando-os solidários neste destino comum.
Meus amigos, da mesma forma que o regresso de Ulisses a Ítaca pode ser interpretado
como uma gesta do Europeu à procura de si
próprio, também a nossa aventura da construção europeia se tem desenvolvido como
uma descoberta da unidade da Europa, apesar
do mosaico étnico, linguístico, político e cultural de que é feita.
O caminho que percorremos tem sido, tal
como o de Ulisses nas palavras de Cavafy, “longo, cheio de aventuras e recheado de descobertas”. Possamos também nós, Europeus,
como Ulisses, “manter sempre Ítaca na nossa
mente”, deixando que a “lenda entre na realidade”, como sugestivamente nos propõe Fernando Pessoa.
* Alocução proferida por S. Exa. o Presidente da
República na Universidade de Atenas, por ocasião da
sua visita oficial à Grécia, e que, pelas suas relevância
e oportunidade, foi solicitada, e gentilmente cedida,
para publicação neste número da revista Europa: Novas Fronteiras.