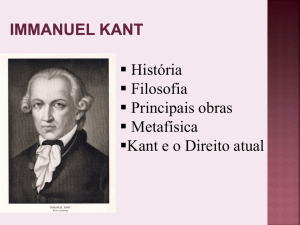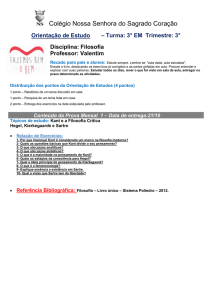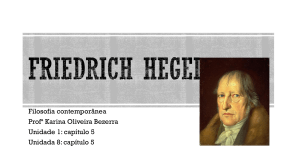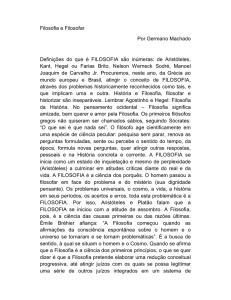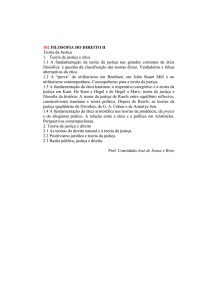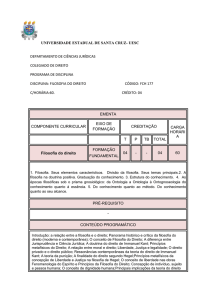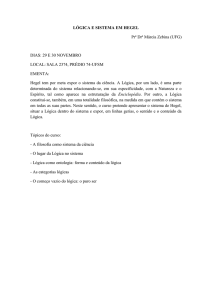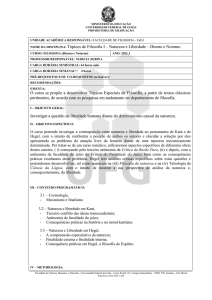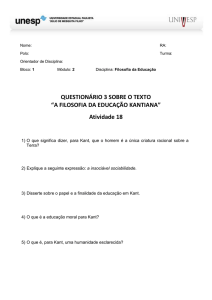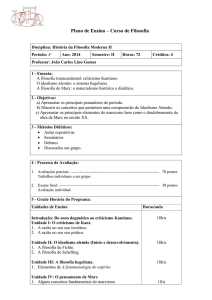O Ensino de Filosofia à luz kantiana e hegeliana
André Santiago Baldan (UNOESTE) [email protected]
Genivaldo de Souza Santos (UNOESTE e SEE-SP) [email protected]
Resumo:
“O que” e “como” devemos ensinar Filosofia? Partindo destas questões, este artigo tem como
objetivo apresentar duas concepções sobre o ensino de Filosofia: a de Immanuel Kant e a Georg
Wilhelm Friedrich Hegel. Kant defende que não podemos ensinar Filosofia, podemos ensinar apenas
a filosofas e só filosofamos através do exercício crítico da razão; já Hegel apresenta que o estudo de
Filosofia deve ocorrer de modo histórico, partindo do mais próximo da realidade do estudante e
chegando aos mais elevados níveis de pensamento, só filosofamos quando estudamos conteúdos
específicos de Filosofia. Essas duas concepções podem auxiliar com os objetivos da disciplina de
Filosofia no contexto das salas de aula de ensino médio brasileiras. Tal preocupação com o tema do
ensino de filosofia é relevante dado o retorno da disciplina de Filosofia para os jovens do ensino
médio com a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96; compreender “o que” e “como” ensinar Filosfia, de
modo significativo, nos auxiliam a alcançar melhores resultados e avanços nas práticas dos docentes
desta disciplina. Metodologicamente, partimos de uma hermenêutica dos textos de ambos os filósofos,
assim como dos comentadores da tradição filosófica que tratam desta questão. Trazemos então à luz
duas concepções de importância filosófica para o ensino de filosofia, numa tentativa de responder
filosoficamente uma questão até então tratada somente pela educação (pedagogia): o que é isso, o
ensino de filosofia?
Palavras chave: Ensino de Filosofia, Hegel, Kant.
The Teaching of Philosophy in a Kantian and Hegelian notion
Abstract
“What” and “how” we should teach Philosophy? Starting from these questions, this article has how
objective introduce two conceptions about teaching Philosophy: Immanuel Kant’s and Georg Wilhelm
Friedrich Hegel’s. Kant argues that we cannot teach Philosophy, we can just teach philosophers and
philosophize only by critical exercise of reason; but Hegel presents that the study of Philosophy must
occur historically, starting from the closer of the reality of the student and reaching higher levels of
thinking, we philosophize only when we study specific contents of Philosophy. These two conceptions
can assist with the objectives of the discipline of philosophy in the context of Brazilian’s high school's
classroom. This concern with the theme of teaching philosophy is relevant given the return of the
discipline of Philosophy for young high school with the Law of Guidelines and Bases 9.394/96;
comprehend “what” and “how” teach Philosophy, significantly, assist us to achieve better results and
advances in the practice of teachers of the subject. Methodologically, we start from a hermeneutics of
the texts of both philosophers, as well as commentators on the philosophical tradition dealing with this
issue. Then we bring to light two notions of the philosophical importance to the teaching of
philosophy, in an attempt to answer a question philosophically hitherto treated only by education
(pedagogy): what it is, the teaching of philosophy?
Key-words: Teaching Philosophy, Hegel, Kant.
1 Introdução
Como nos aponta Severino (1990), dentro da história da filosofia temos evidenciado o
interesse pela educação em todo seu percurso. Como exemplo temos, na filosofia clássica, a
preocupação de Platão em esclarecer conceitos em seus diálogos; ou, na filosofia medieval,
temos a filosofia escolástica que deu base para o método utilizado na formação cultural e
religiosa de seu tempo; seguindo no percurso histórico da filosofia temos o projeto humanista,
na filosofia renascentista, que levava as preocupações filosóficas a centrarem-se nos homens;
tendo, ainda, na filosofia moderna o iluminismo que preocupava-se em tirar o homem da
ignorância. Tal preocupação da filosofia com a educação permaneceu válida até o final da
primeira metade do século XX onde, devido influencias positivistas, as preocupações
filosóficas voltaram-se a exercícios puramente lógicos, afastando-se das preocupações
pedagógicas.
Mesmo com pouca tradição filosósofica, já tivemos em nosso país três períodos de
destaque no que se refere ao ensino de filosofia. Um primeiro período, que seria o ensino de
filosofia no século XX onde se procurava ensinar A Filosofia que era “constituída por
conteúdos como Lógica, Metafísica, História da Filosofia” (TOMAZETTI, 2012. p. 231).
Entretanto, em 1961, a partir do decreto de lei n. 4.024/61, a filosofia deixou de ser
obrigatória no ensino e como o Decreto de Lei 869/69, regulamentado pelo Decreto
68.065/71, que a filosofia sai definitivamente do currículo do segundo grau, dando lugar para
a Educação Moral e Cívica e OSPB.
Um segundo período seria dos anos 80 até a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96
que se caracterizou pela luta do retorno do ensino de filosofia às salas de aula, apontando
como objetivo da Filosofia “[...] ensinar o aluno a ser crítico de seu tempo” (TOMAZETTI,
2012. p. 231); com a LDB 9.394/96 a conquista veio de forma tímida, primeiramente em sua
transversalidade, que supostamente deveria atravessar os conhecimentos disciplinares.
Com a LDB temos um terceiro período, caracterizado pela luta da obrigatoriedade da
disciplina de Filosofia nas salas de aula do ensino médio brasileiro. Essa luta foi marcada
pelos discursos de que ensinar filosofia é ensinar a filosofar, porém estes mesmos discursos
nos levaram a um problema: o que ensinar e como ensinar Filosofia no contexto escolar?
Além da novidade representada pela inserção da filosofia como disciplina escolar, gerando
uma verdadeira necessidade de uma pesquisa teórica mais específica, uma questão de fundo
anima os debates em torno do ensino da filosofia: a não consensualidade sobre o que vem a
ser a Filosofia.
Partindo desta apresentamos duas concepções sobre o ensino de filosofia. Em
cumprimento dos objetivos do ensino de filosofia para o ensino médio deveríamos ensinar a
filosofar, por meio do uso crítico da razão, como proposto por Kant? Ou devemos nos
preocupar em transmitir conteúdos filosóficos constituintes da História da Filosofia, como
propõe Hegel? Apesar de estarmos cientes de existirem outras propostas do que seria ensinar
filosofia (FÁVERO, CEPPAS, GONTIJO et al. 2004 ; GELAMO, 2008; TRENTIN, 2011) e
do que é Filosofia, optamos por Kant e Hegel pelo reconhecimento de que se trata de autores
clássicos que se preocuparam com o ensino da Filosofia, trazendo contribuições importantes
para essa discussão que é tão viva hoje em nosso país.
2 Concepção Kantiana
Como já é conhecido de muitos estudantes de Filosofia, e que praticamente se
caracteriza como um mantra para alguns professores da disciplina no ensino médio ressoa a
famosa frase não se ensina filosofia, se ensina a filosofar! que de certa forma descreve o que
seria o ensino de filosofia no âmbito escolar conforme a concepção kantiana. Trata-se,
também, de uma expressão assumida como base dos discursos realizados por acadêmicos
brasileiros na luta pelo retorno da disciplina de filosofia às salas de aula do ensino médio em
nosso país.
Porém o sentido da concepção kantiana acerca do ensino de filosofia, ou mesmo sobre
o ensino de um modo geral, não pode ser tão pobremente resumida em uma única frase. Os
escritos deste célebre autor acerca da arte de ensinar1 são relevantes quando refletimos à
forma de se ensinar filosofia.
Ramos (2007) indica que Kant possui três aspectos essenciais e que direcionam sua
concepção acerca da pedagogia, incluindo o que se refere ao ensino de filosofia, esses
aspectos seriam:
[...] a) o ideal de perfectibilidade do gênero humano; b) o preceito da
Aufklarung do pensar por si mesmo e o exercício crítico da razão, e c) a
necessidade da coação como instrumento para a realização dos fins racionais
do caráter normativo da conduta humana [...] (RAMOS, 2007. p. 199).
O ideal de perfectibilidade do gênero humano significa que o objetivo final da
educação é aperfeiçoar a natureza de cada indivíduo através da orientação de um educador, e
este deve ser guiado por um ideal de humanidade, utilizando-se da disciplina com a “[...]
função de transformar aquilo que é ‘animal’ ou selvagem no homem em humanidade”
(GELAMO, 2009, p. 42), potencializando o que há de natural nos homens, a aprendizagem e
o pensamento. Ou seja, a busca por ser uma pessoa melhor, a busca por preencher lacunas em
seu ser torna a educação essencial, sendo esta a responsável pelo aperfeiçoamento dos
homens:
É dever do homem educar-se, tornar-se melhor, desenvolver todas as suas
disposições e potencialidades, sobretudo, aquelas que dizem respeito à
moralidade. Ao agir na formação do indivíduo, a educação porfia em
desenvolver o ideal de humanidade que se conquista geração após geração.
(RAMOS, 2007. p. 200).
O aspecto do pensar por si mesmo é o segundo aspecto de relevância para a filosofia
kantiana visto que se caracteriza pelo exercício crítico da razão, estando esse preceito
formulado nas três máximas do juízo de gosto: “A primeira máxima é a do pensamento livre
do preconceito, a segunda máxima é aquela do pensamento alargado, a terceira máxima é a do
pensamento consequente [...]” (RAMOS, 2007. p. 200).
A primeira máxima remete ao homem ser capaz de pensar autonomamente, a
capacidade e habilidade humana de poder pensar com uma razão crítica, livre de coerção,
porém guiada por uma mente esclarecida. A segunda máxima refere-se à capacidade do
homem de pensar por meio do espírito aberto, fazendo com que a capacidade de pensamento
livre se regule e corrija-se.
Já a terceira máxima, vem de modo a suprir um paradoxo deixado pelas duas
capacidades iniciais: um pensamento livre não é coagido, esse pensamento visa rejeitar toda
coação possível; já o pensamento alargado mostra-se um pensamento coagido visto que ele
visa se autorregular, posicionando-se sempre com a visão do outro. O pensamento
consequente vem por tentar solucionar essa querela utilizando do imperativo do dever e do
imperativo do direito, onde tais imperativos possibilitam que o homem, sendo coagido de
modo externo ou interno, chegue à maioridade onde poderá então fazer o bom uso da razão.
Já o terceiro aspecto, que se refere à “[...] necessidade da coação como instrumento
para a realização dos fins racionais do caráter normativo da conduta humana [...]” (RAMOS,
2007, p. 199), está mais intimamente ligado com a essência da educação, onde a educação
ocorre por meio da coação. Utilizando-se de educadores que já passaram pelo processo de
educação pela coação e que estão preparados para instruir os jovens e formá-los para a vida. O
educador deve preocupar-se em criar o jovem para seguir as regras e leis da sociedade em que
este indivíduo se encontra e para que consiga utilizar-se do pensamento livremente, visando a
crescimento pessoal e até mesmo o crescimento da humanidade, visto que para Kant o
pensamento filosófico não está dado, mas esta em constante construção (GELAMO, 2009).
2.1 O objetivo da educação
Como nos indica Ramos (2007), para Kant o objetivo principal da educação é tirar o
homem de seu estado de menoridade, ou como coloca Kant (1985) o homem deve buscar o
esclarecimento, pois essa “é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é
culpado” (KANT, 1985, p. 100); o homem deve chegar ao esclarecimento através da conexão
de sua autonomia moral, sua cultura e sua autonomia cognitiva:
A educação deve ter por finalidade formar no educando o desejo de andar
com as próprias pernas, e fazer com que ele tenha a coragem de fazer uso do
seu próprio entendimento. (RAMOS, 2007, p. 201).
Com este objetivo em foco verificamos que o ensino de filosofia deve ocorrer de modo
a ensinar o sujeito a filosofar, e não ensinar Filosofia. Filosofia deve ter um papel
significativo na vida do jovem, deve ser próxima a ele, deve auxiliar com que este educando
possa alcançar a maioridade, capaz de utilizar-se de um pensamento livre do toda coação
possível; ou, como nos aponta Gelamo (2009), Kant entende que a filosofia deve ser
entendida como ciência da representação, do pensamento e da ação do homem; a filosofia tem
de auxiliar no desenvolvimento do uso público da razão, preparar o cidadão para torar-se um
critico do pensamento, que consiga fazer o bom uso da razão. Quando ensinamos conteúdos
de Filosofia desestimulamos o sujeito a desenvolver seus próprios pensamentos, afinal se
você tem a possiblidade de que outro pense por você não há a necessidade de pensar por si
mesmo. Kant indica que o professor deve guiar seu aluno no exercício de pensar por meio de
perguntas que remetam aquilo que o mestre deseja ensinar.
A mera erudição do individuo pode transformá-lo em uma pessoa culta, porém
limitada no que concerne ao uso da sua razão. Sem contar que ao recorrermos ao ensino
conteudista corremos o risco de termos mentes “servis, dependentes e tuteladas”. O ensino
como treinamento prepara os homens para o uso privado da razão, fazendo com que os
homens não problematizem as normas a que estão submetidos; esta forma de ensino acaba
sendo a desejada pelos governantes pois contribuem para um controle social e a “[...] inibir o
homem de fazer uma problematização dos pressupostos doutrinários [...]” (GELAMO, 2009,
p. 47) .
Nesta concepção de ensino de filosofia, o mestre aparece cumprindo um papel
parecido com o de Sócrates, que tenta trazer à luz o conhecimento ao estudante através de um
exercício erotético em que o professor, de modo dialógico ou catequético, faz com que o
estudante chegue às conclusões desejadas2.
A educação assume então o papel de possibilitar a autonomia do homem, fazendo com
que ele consiga se livrar das coerções, paradoxalmente através do uso da coerção. O homem,
para que possa alcançar um estágio de autonomia, primeiro terá de se submeter à educação
coercitiva. Com isso vemos então que o “princípio supremo da educação é a ‘cultura da
liberdade pela coerção’” (RAMOS, 2007, p. 207) auxiliando o individuo a atingir a autonomia
mesmo estando sob uma força coercitiva legítima3.
3 Filosofia: um conjunto sistemático de ideias
Como demonstra Novelli (2005), Hegel esteve fortemente envolvimento com a
educação de seu tempo, apesar de nunca ter escrito nenhum tratado especificamente sobre este
assunto, esteve à frente do colégio de Nurnberg como diretor e professor de filosofia (18061816), período em que ele escreveu três textos relacionados à estrutura educacional de sua
época e sobre o ensino de filosofia.
O primeiro texto, que trata essencialmente do que significa para os jovens ginasiais
terem a possibilidade de estudar filosofia, em um parecer elaborado para o real conselheiro
superior da Baviera, Immanuel Niethammer (NOVELLI, 2005. p. 130). O segundo texto, cujo
teor se refere aos conflitos existentes entre forma e conteúdo, é também uma carta ao real
conselheiro superior Niethammer. Por fim, o terceiro texto, que se refere ao ensino de
filosofia nas instituições superiores em uma carta enviada a Friedrich v. Raumer, professor e
real conselheiro do governo prussiano.
Vale ressaltar que Hegel não possui apreço pelas tendências pedagógicas que lhe eram
contemporâneas, pois elas se preocupam “com situações periféricas em relação à educação
que se traduziam na concentração sobre os métodos e as técnicas” (NOVELLI, 2005, p. 132).
As preocupações com o homem no momento pontual não são de importância para Hegel, tais
preocupações deveriam voltar-se para um homem focado em tudo o que ocorre: “O homem se
caracteriza por se construir e ao fazê-lo ele acaba por construir seu próprio mundo”
(NOVELLI, 2005, p. 132) O processo de construção pessoal está inserido num macro
processo de construção social; nossos pensamentos e ações só são possíveis pois tivemos um
processo de desenvolvimento inserido num contexto histórico que possibilitou tais ações.
Novelli (2005) nos indica ainda que o filósofo Hegel não acredita que o ato de utilizar
a razão seria o suficiente para “emitir um juízo caracterizado pela atividade filosófica”
(NOVELLI, 2005, p. 136). Para o filósofo, a Filosofia seria fruto de reflexão e análise, onde a
Filosofia não deve ser rebaixada ao povo, mas sim “o povo deveria ser elevado ao nível da
filosofia” (NOVELLI, 2005, p. 136).
Gelamo (2008) nos mostra que, mesmo Hegel tendo dúvidas acerca da “permanência
do ensino de filosofia no ginásio” (GELAMO, 2008. p. 155), ele dá grande atenção ao
assunto, que chegou a ser sua ocupação quando veio a se tornar diretor e professor de ciências
filosóficas preparatórias no Ginásio de Nuremberg (GELAMO, 2008).
Hegel procura mostrar que o ensino da filosofia não é um mero refletir sobre algo, pois
para ele o exercício filosófico se dá através da exposição do educando a “modos mais
elevados de pensamento” (GELAMO, 2008, p. 156), trazendo conteúdos específicos ao
estudo de Filosofia.
Gelamo (2008) nos indica que Hegel se preocupa em formular um mapa de conteúdos
a serem abordados de forma que partam de algo existente até chegarem ao pensamento
conceitual. Com isso, Hegel mostra-se parcialmente de acordo com o regimento do ensino de
sua época, concordando que o ensino de filosofia, na primeira etapa formativa
(correspondente ao primeiro ano do ginásio) deveria se dar através do ensino de direito,
passando para ensinamentos morais até chegar na temática da religião.
Na segunda etapa (correspondente a dois anos de estudos), onde o estudo seria voltado
às temáticas da lógica, metafísica e da psicologia, o filósofo concorda quanto às temáticas
propostas pela Normativa de sua época, porém discorda que a o estudo da lógica deva ocorrer
prioritariamente com a lógica kantiana, Hegel é a favor que Kant seja conhecido a fundo,
porém acredita que os estudos sobre a lógica devam ocorrer com ênfase em “sua lógica
objetiva (que consiste na superação da lógica formal e da lógica kantiana)” (GELAMO,
2008,. p. 157); ao que concerne a temática metafísica Hegel posiciona-se a favor de estudos
relacionados às obras kantianas.
Passando pela lógica e pela metafísica, Hegel coloca como conteúdo posterior a
psicologia, que é a mais abstrata das três temáticas e por isso deve vir por último; esse tema
deve ser abordado cuidadosamente visto que para o filósofo o estudo de psicologia nessa fase
pode ser danoso à formação do individuo. Os estudos sobre psicologia deveriam ser divididos
em duas partes: a primeira, a do espírito que se manifesta, onde deveriam estudar temas como
“a consciência, a autoconsciência e a razão” (GELAMO, 2008, p. 158); e, a segunda parte, a
do espírito em-si e para-si, onde se tem como “objetivo explicitar a relação do espírito
consigo mesmo” (GELAMO, 2008, p. 158).
Chegando ao que seria a terceira, e última, fase dos estudos (correspondente ao último
ano do ginásio) sobre filosofia, Hegel estabelece que é de extrema importância abordar apenas
conteúdos estritamente filosóficos, reservando-se, assim, aos estudos enciclopédicos; que o
filósofo restringe “a lógica, a filosofia da natureza e a filosofia do espírito” (GELAMO, 2008,
p. 158). Ao final desse último ano de estudos, Hegel indica um estudo mais agradável ao
aluno com estudos relacionados à estética. Gelamo (2008) nos indica que “Hegel procura
evidenciar que o ensino da filosofia precisa se dar como um ensino enciclopédico em seu
verdadeiro sentido: enkyklios + paidéia, ou seja, uma educação universal” (p. 159).
Hegel procura elaborar conteúdos de filosofia de forma que eles tenham relação e que
através do estudo desses temas os alunos tenham contato com o exercício de pensamento
realizado por grandes mentes da história da humanidade. Essa aproximação do educando com
os conteúdos de filosofia faria com que os alunos aprendessem como ocorre o exercício de
pensar, e aprendendo esse exercício, os alunos estariam aprendendo a filosofia.
Ainda no que se refere aos conteúdos de filosofia, o filósofo aponta grande
importância para o estudo dos clássicos, a filosofia grega, visto que estes trabalham com
grande destreza assuntos relacionados à formação do homem:
“O homem derivado do mundo grego é aquele que se direciona para a
eticidade, pela razão e pelo espírito despojado de suas contingências. Saber e
conhecer o que os gregos sabiam e conheciam significa garantir a formação
de homens guiados pela razão e pelo espírito.” (NOVELLI, 2005. p. 134).
4 Considerações finais
No que se refere aos dois filósofos em questão (Kant e Hegel) assumimos o caráter
plural das concepções de Filosofia, pois esta pode ser tratada como um exercício crítico da
razão (Kant) ou como uso da razão animados por conteúdos filosóficos (Hegel), além de
outras concepção a serem exploradas. Essa diversidade acaba por ser um dos motivos de se
estudar formas e concepções de como ensinar Filosofia.
Pelo que vimos, Kant nos mostra que o ensino de filosofia não ocorre por meio de
conteúdos, pois não temos a possibilidade de estudar A Filosofia. A arte de ensinar acaba se
caracterizando pela arte de possibilitar ao sujeito que alcance a maioridade, que chegue ao
estado de espírito livre e que saiba superar determinadas coerções. Esta arte pode ser
sintetizada como a arte de libertar pela coerção, e devido este paradoxo o ensinar se mostra
tão problemático e complexo. Para que não se crie um espírito limitado, porém repleto de
erudição, Kant propõe que o ensino de filosofia se dê de modo a fazer das aulas de filosofia
uma oficina do uso crítico da razão, exercitando o criticismo de seus estudantes, justificando
sua famosa frase: Não se ensina filosofia, se ensina a filosofar.
Posturas similares à desenhada por Kant, podemoss encontrar em Jacques Rancière
(2002), em que o professor assume a postura de um mestre ignorante, isto é, o professor
reconhece sua ignorância junto de seus alunos e os convida para a paciência do pensamento
baseado no problemas filosóficos, transformando a sala de aula em uma oficina de
pensamento; ou então, análoga à concepção dialógica do professor socrático, que tenta ensinar
através do diálogo. Entretanto, para Kant, nossos educandos não vão aprender a pensar
simplesmente por serem expostos a uma estrutura de pensamento; os estudantes só terão a
capacidade de filosofar se exercitarem a capacidade de pensar; para nosso filósofo só
aprendemos a pensar pensando. Porém quando nos remetemos a Hegel vemos que ele
discorda de kant em acreditar que o ensino de filosofia é um exercício do uso critico da razão,
advogando que isso acaba por diminuir a filosofia, tornando-a um uso da razão sem
embasamento, não conhecendo as grandes estruturas de pensamento.
Para Hegel, o ensino de filosofia deve ser um saber que siga um conteúdo especifico
pois através do estudo desses conteúdos os jovens estudantes tenham a possibilidade de ter
contato com a filosofia e por meio desse contato aprendam a estrutura do pensamento. Com
este contato com pensamentos de grau avançado de abstração os alunos exercitariam sua
razão. Dessa forma o mestre assume a forma de um professor que tem o papel de alavancar o
estudante para um grau de pensamento, conhecimento, de alta abstração, fazendo com que
seu/a aluno/a consiga exercitar e possivelmente estruturar seu pensamento embasado na
tradição filosófica. Tendo, então, como preocupação não rebaixar a Filosofia ao nível do
estudante, mas sim de trazer o estudante para a Filosofia; aproximando o pensamento do
aluno com o nível do pensamento filosófico.
Contudo, se assumirmos o pensamento de Hegel de forma irresponsável, onde os
alunos teriam de decorar esquemas e pensamentos filosóficos, onde teriam de provar seu
conhecimento ao final de cada bimestre/semestre, corremos o risco de cair em uma educação
onde seria praticado um desprezo pela filosofia, pois adotaríamos um ensino meramente
“enciclopédico”, esquema esse criticado Friedrich Nietzsche em Schopenhauer como
educador (1874) e citado em Gallo (2012).
Conforme Nietzsche, quando adotamos um ensino enciclopédico caímos em um
desprezo pela filosofia pois os jovens decoram os esquemas filosóficos para o exame onde
demonstram o conhecimento necessário e depois esquecem todo o conteúdo. Nesse estilo de
ensinar Filosofia ensinamos “[...] uma filosofia completamente afastada da vida dos jovens
estudantes.” (GALLO, 2012, p. 120).
Visto o posicionamento desses dois filósofos acerca do que é o ensino de filosofia, e
numa tentativa de aproximar essa discussão das nossas salas de aula, podemos perceber que as
Orientações Curriculares Nacionais – Conhecimentos de Filosofia - OCNs tentam estabelecer
uma relação entre as concepções kantianas e hegelianas acerca do ensino de filosofia quando
propõe que as aulas de filosofia deveriam estimular o filosofar e o pensar (Kant), através do
estimulo a um estudo histórico da Filosofia (Hegel).
A título de exemplo, as OCNs citam a concepção de Silvio Gallo, em que este aponta a
filosofia como um “[...] processo e produto ao mesmo tempo; só se pode filosofar pela
História da Filosofia, e só se se faz história filosófica da Filosofia, que não é mera
reprodução” (BRASIL, 2006, p. 32). As OCNs objetivam que o ensino de filosofia seja
ensinar a filosofar e pensar, ao mesmo tempo o documento procura esclarecer que o ensino de
filosofia “[...] não poderia ser apenas a expressão das opiniões dos estudantes, mas deveria
estar sustentado na tradição” (TOMAZETTI, 2007, p. 234), vinculando o ato do filosofar à
História da Filosofia. Deixando a entender que as aulas de filosofia seriam espaços onde se
realizariam atividades e exercícios, estimulando os estudantes a pensarem filosoficamente
embasados pela tradição filosófica. Assim o aluno tomaria consciência de seu papel social,
onde ele é agente nos mais diversos níveis sociais, culturais e políticos de sua sociedade.
Temos, então, que a Filosofia tem por função transformar o aluno auxiliando-o no processo de
ganho de consciência, tornando o jovem capaz de transformar sua realidade questionando-se
sobre seu contexto sócio-histórico.
REFERÊNCIAS
BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ciências humanas e suas
tecnologias. Brasília, DF, 2006. (Orientações Curriculares para o Ensino Médio; v.3).
FAVERO, A. A. CEPPAS, F. GONTIJO, P. E. et al. O ensino de Filosofia no Brasil: um
mapa das condições atuais. Caderno Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 257-284, set./dez.
2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v24n64/22830.pdf. Acessado em 7
Abr. 2013, às 14 horas e 23 minutos.
GALLO, S. Metodologia do ensino de filosofia: Uma didática para o ensino médio.
Campinas – SP: Papirus, 2012.
GELAMO, R. P. O Ensino da filosofia e o papel do professor-filósofo em Hegel.
Trans/Form/Ação, São Paulo. v. 31. n. 2., p. 153-166, 2008. Disponível em:
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/transformacao/article/viewFile/987/890.
Acessado no dia 6 Mar. 2013, às 16 horas e 58 minutos.
GELAMO, R. P. O ensino da filosofia no limiar da contemporaneidade : o que faz o
filósofo quando seu ofício é ser professor de filosofia. Tese (Doutorado em Educação) –
Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista: Marília, 2009. Disponível
em:
http://www.marilia.unesp.br/Home/PosGraduacao/Educacao/Dissertacoes/gelamo_rp_dr_mar.pdf. Acessado no dia 13 Mai. 2013, às
22 horas e 13 minutos.
KANT, I. (1784). Que é o esclarecimento? (Aufkalärung). In: CARNEIRO LEÃO, E. (Org.).
Immanuel Kant: Textos seletos. Petrópolis: Vozes, 1985.
NOVELLI, P. G. A. O ensino da filosofia segundo Hegel: contribuições para a atualidade.
Trans/Form/Ação, São Paulo. v. 28. n. 2., p. 129-148, 2005. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732005000200009.
Acessado no dia 3 Abr. 2013, às 17 horas e 50 minutos.
RAMOS, C. A. Aprender a filosofar ou aprender a filosofia: Kant ou Hegel?
Trans/Form/Ação, São Paulo. v. 30. n. 2., p. 197-217, 2007. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/trans/v30n2/a13v30n2.pdf. Acessado no dia 4 Abr. 2013, às 14 horas
e 39 minutos.
RANCIÈRE, J. O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual. Tradução
de Lilian do Valle. Belo Horizonte: Auténtica, 2002.
TOMAZETTI, E. M. Formação e Arte de viver: o que se ensina quando se ensina Filosofia?.
In. BUENO, S. F. PAGNI, P. A. GELAMO, R. P. (org.). Biopolítica, arte de viver e
educação. Marília: Oficina Universitária, São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. p. 229-247.
SEVERINO, A. J. A contribuição da Filosofia para a Educação. In. Aberto. Brasilia, ano 9,
n.
45,
Jan-Mar,
1990.
Disponível
em:
http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/717/640. Acessado em 12
Jun. 2013, às 14 horas e 24 minutos.
SILVEIRA, R. J. T. Ensino de Filosofia de uma perspectiva histórico-problematizadora.
Educação em Revista, Marília, v.12, n.1, p.139-154, Jan.-Jun, 2011. Disponível em:
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/educacaoemrevista/article/viewFile/1544/13
38. Acessado em 8 Abr. 2013, às 15 horas e 19 minutos.
1
Ramos (2007) aponta que Kant colocava a arte de ensinar como uma das duas invenções humanas
com merecimento de maior destaque devido sua dificuldade. Junto à arte de ensinar, nessa posição de
destaque, estaria a arte de governar. Tal dificuldade se dá pois existem problemas quando um espírito
livre tem de se posicionar pensando nas coações que o mundo impõe.
2
Para Kant o professor deve utilizar de uma didática que estimule o aluno a exercitar seu pensamento,
levando aos alunos os problemas filosóficos e transformando a sala de aula em uma oficina onde o
pensamento é exercitado e levado a níveis elevados. O professor pode utilizar um método dialógico
onde estimula seus alunos de modo platônico, com perguntas-respostas-perguntas, que levam o aluno
ao resultado esperado; ou mesmo utilizar do modo catequético que aproveita o espaço para discussões
e reflexões acerca de um determinado assunto.
3
Essa força coercitiva pode ser interna ou externa, esta última pode ser dividida em função legislativa
ou uma função executiva.