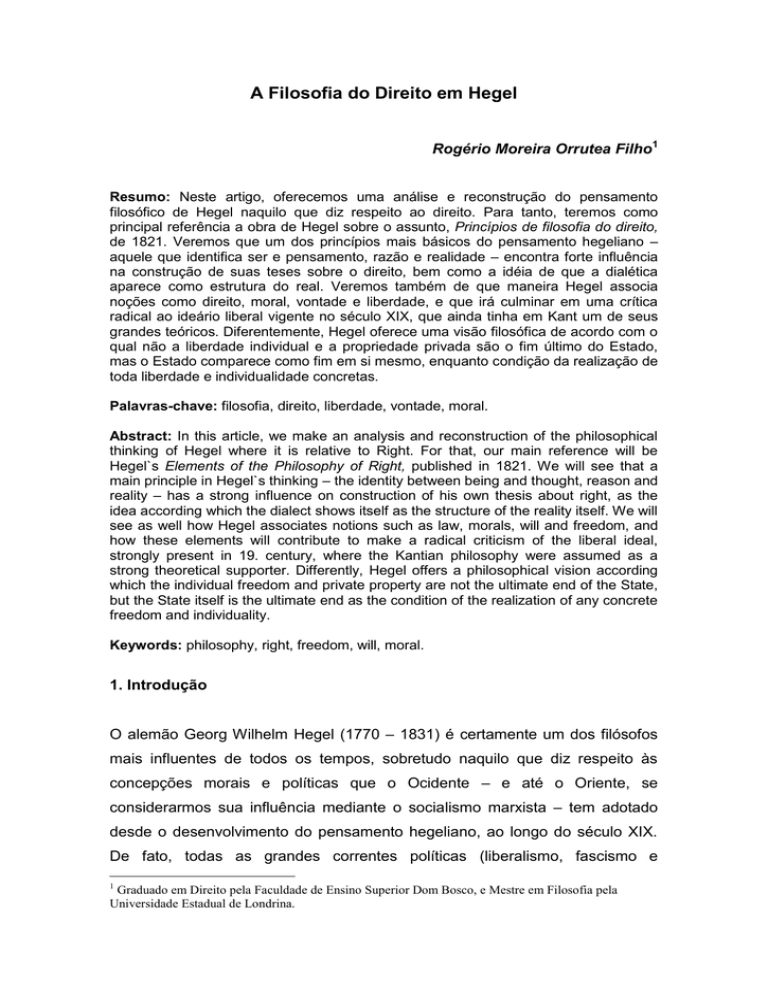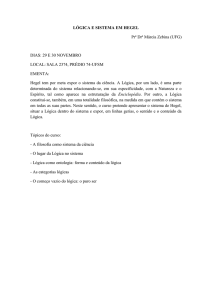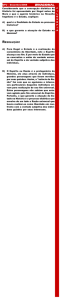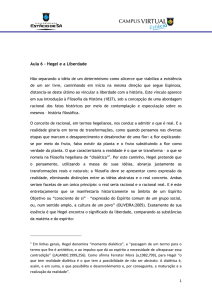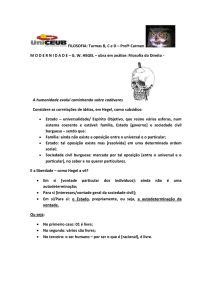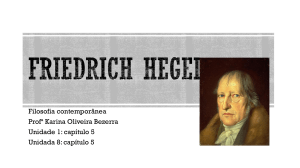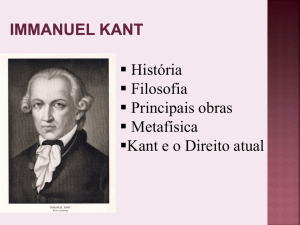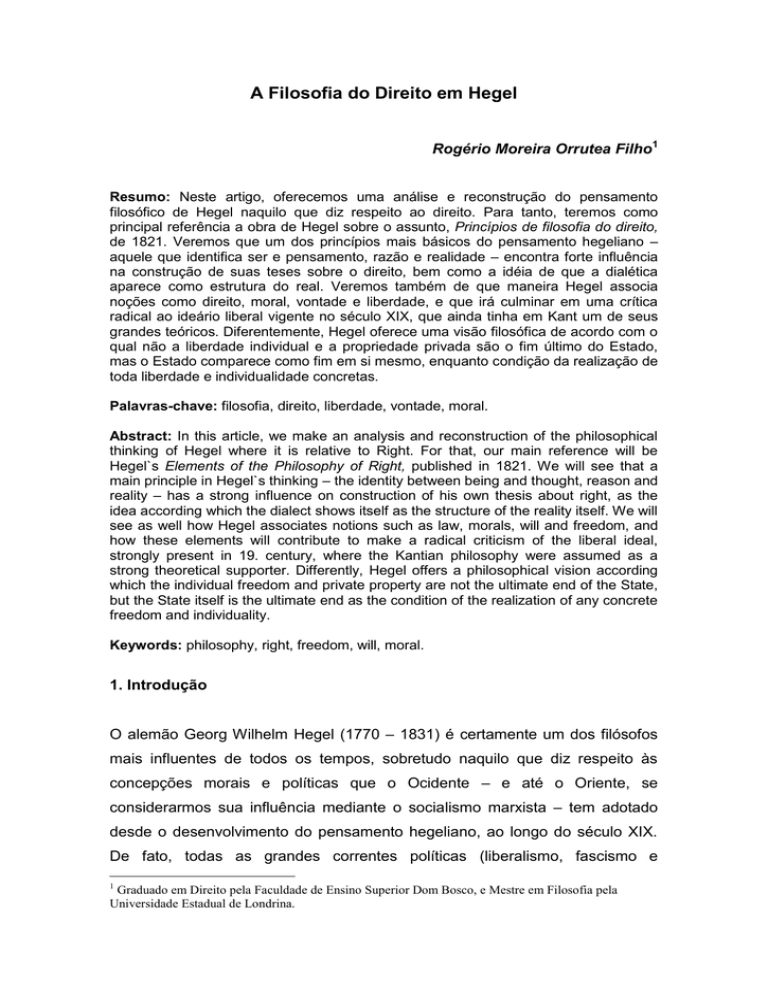
A Filosofia do Direito em Hegel
Rogério Moreira Orrutea Filho1
Resumo: Neste artigo, oferecemos uma análise e reconstrução do pensamento
filosófico de Hegel naquilo que diz respeito ao direito. Para tanto, teremos como
principal referência a obra de Hegel sobre o assunto, Princípios de filosofia do direito,
de 1821. Veremos que um dos princípios mais básicos do pensamento hegeliano –
aquele que identifica ser e pensamento, razão e realidade – encontra forte influência
na construção de suas teses sobre o direito, bem como a idéia de que a dialética
aparece como estrutura do real. Veremos também de que maneira Hegel associa
noções como direito, moral, vontade e liberdade, e que irá culminar em uma crítica
radical ao ideário liberal vigente no século XIX, que ainda tinha em Kant um de seus
grandes teóricos. Diferentemente, Hegel oferece uma visão filosófica de acordo com o
qual não a liberdade individual e a propriedade privada são o fim último do Estado,
mas o Estado comparece como fim em si mesmo, enquanto condição da realização de
toda liberdade e individualidade concretas.
Palavras-chave: filosofia, direito, liberdade, vontade, moral.
Abstract: In this article, we make an analysis and reconstruction of the philosophical
thinking of Hegel where it is relative to Right. For that, our main reference will be
Hegel`s Elements of the Philosophy of Right, published in 1821. We will see that a
main principle in Hegel`s thinking – the identity between being and thought, reason and
reality – has a strong influence on construction of his own thesis about right, as the
idea according which the dialect shows itself as the structure of the reality itself. We will
see as well how Hegel associates notions such as law, morals, will and freedom, and
how these elements will contribute to make a radical criticism of the liberal ideal,
strongly present in 19. century, where the Kantian philosophy were assumed as a
strong theoretical supporter. Differently, Hegel offers a philosophical vision according
which the individual freedom and private property are not the ultimate end of the State,
but the State itself is the ultimate end as the condition of the realization of any concrete
freedom and individuality.
Keywords: philosophy, right, freedom, will, moral.
1. Introdução
O alemão Georg Wilhelm Hegel (1770 – 1831) é certamente um dos filósofos
mais influentes de todos os tempos, sobretudo naquilo que diz respeito às
concepções morais e políticas que o Ocidente – e até o Oriente, se
considerarmos sua influência mediante o socialismo marxista – tem adotado
desde o desenvolvimento do pensamento hegeliano, ao longo do século XIX.
De fato, todas as grandes correntes políticas (liberalismo, fascismo e
1
Graduado em Direito pela Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco, e Mestre em Filosofia pela
Universidade Estadual de Londrina.
2
socialismo) que protagonizaram e determinaram o maior evento histórico do
século XX – e um dos maiores de toda a história da humanidade –, a Segunda
Grande Guerra Mundial, foram traçadas dentro de dogmas e conceitos inscritos
por Hegel ao longo de suas grandes obras, tais como Fenomenologia do
Espírito, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Ciência da Lógica e aquela
que, no presente momento, é a que mais nos interessa: Princípios de Filosofia
do Direito. É nesta obra que Hegel expõe sua concepção fundamental acerca
daquele processo que seria (na visão do próprio Hegel) o desenvolvimento
verdadeiramente racional e concreto da vida ética, política e jurídica de um
povo. Como veremos, essa concepção fundamental se baseia na ideia de
mudança ou transformação progressiva dentro da dialética, entendida não
apenas como discurso racional comprometido com a descoberta da verdade,
mas, além disso, como estrutura imanente ao próprio real externo ao sujeito
cognoscente, real este que se caracteriza através da contraposição entre
diferentes momentos imperfeitos que, confrontados entre si, chegam a um
terceiro momento mais completo e mais perfeito. Ao aplicarmos este mesmo
raciocínio à realidade política, jurídica e moral de um povo, poderemos concluir
que, em Hegel, os valores e costumes que norteiam a sociedade possuem
transitoriedade e apresentam progressão no tempo, até alcançar seu termo
final no Estado em si. Logo, o pensamento de Hegel pode ser visto como
oposição aos jusnaturalistas de sua época – tais como Kant ou Schopenhauer
– cuja filosofia jurídica consistia na busca por padrões normativos absolutos
existentes na consciência moral humana independentemente da realidade
estatal.
2. Apontamentos gerais sobre o pensamento de Hegel
O pensamento de Hegel pode ser reconstruído, em certa medida, como
um sucedâneo ou tentativa de superação do Idealismo Transcendental de
Immanuel Kant. Após Kant proclamar, através de suas obras críticas –
sobretudo na Crítica da Razão Pura – os limites do conhecimento humano, o
qual, de acordo com Kant, jamais poderia conhecer as “coisas em si mesmas”,
mas apenas “fenômenos” ou “representações” que o próprio sujeito promove,
Hegel, diferentemente, promove um retorno radical ao dogmatismo filosófico
3
anterior a Kant, isto é, ele restaura o antigo otimismo epistemológico em
relação aos poderes da Razão.
Através da filosofia hegeliana, opera-se a
identificação total entre ser e pensamento (Reale; Antiseri, 1991, p. 127). Se,
portanto, a dedução da “coisa em si” faz-se exigência lógica na filosofia
kantiana, onde o objeto é necessariamente moldado pelo aparato cognitivo e
intuitivo do sujeito conhecedor (por meio das categorias e formas intuitivas a
priori) e, de conseguinte, é sempre apresentado na forma de fenômeno, sendonos vedado qualquer conhecimento da constituição absoluta das coisas
consideradas em si mesmas, em Hegel, diferentemente, tal dualismo (entre
sujeito e objeto/ser e pensamento) é eliminado, pois para este filósofo “o que é
racional é real, e o que é real é racional”. Este é o princípio proclamado no
prefácio da obra Princípios da Filosofia do Direito, uma das teses principais de
todo o hegelianismo (Abbagnano, 1998, p. 497), e que ilustra muito bem aquilo
em que consiste o idealismo filosófico de Hegel.
Disso, extrai-se outro princípio básico que norteia a filosofia hegeliana: a
identificação, já aludida, entre ser e pensamento. Assim, o antigo fosso
kantiano entre sujeito que pensa e realidade externa que é pensada – e, por
isso, modelada pela consciência do sujeito – é eliminado pela suposição
hegeliana de que a realidade em si e o pensamento compartilham uma mesma
estrutura. E se pensamento não é estático, e sim dinâmico, na medida em que
avança dialeticamente, o mesmo deve ser dito sobre a realidade externa. É,
pois, a dialética outro elemento importante e bastante distintivo na filosofia de
Hegel. A dialética não aparece como mero discurso; muito mais que isso, a
dialética é a estrutura imanente à própria realidade. Tal como o pensamento
avança dialeticamente, também a realidade avança pelas mesmas regras.
Todo conceito formado no entendimento é uma tese que abriga em seu próprio
conteúdo uma tese contrária, e a partir desta oposição, deste conflito, é que o
pensamento progride. Ao princípio lógico da identidade, estimado por outros
filósofos como o mais importante, Hegel contrapõe justamente o da contradição
como a grande mola propulsora do pensamento e, de conseguinte, de toda a
realidade (Reale; Antiseri, 1991, p. 135). Todavia, a razão supera este estado
de contradição ao formular uma síntese, chamada por Hegel de etapa da
especulação ou razão positiva (Inwood, 1997, p. 100). Esta síntese, por sua
4
vez, torna-se tese, provoca a sua antítese, o que possibilita uma nova síntese,
e assim sucessivamente. Escreve Hegel (1997, p. 39):
Tal como o particular está contido no universal, também o segundo momento está,
pela mesma razão, contido no primeiro e constitui apenas uma posição de que o
primeiro já é em si. O primeiro momento, enquanto primeiro para si, não é
verdadeira infinitude ou universal concreto, isto é, o conceito, mas apenas algo
determinado, unilateral.
E ainda:
A filosofia se ocupa de Idéias, e não do conceito em sentido estrito; mostra ao
contrário que este é parcial e inadequado, revelando que o verdadeiro conceito (e
não o que se chama com freqüência por esse nome, que consiste apenas em uma
determinação abstrata do entendimento) é o único que possui realidade,
precisamente, no modo de proporcionar-se tal realidade. Toda realidade que não é
imposta pelo próprio conceito tem existência passageira, contingência exterior,
opinião, aparência superficial, erro, ilusão etc.
Vê-se, portanto, que a realidade, que é concreta, só pode ser decifrada
pela filosofia quando esta se ocupa de conceitos igualmente concretos – e não
de abstrações do entendimento. A filosofia necessariamente deve examinar a
realidade, e ignorar qualquer ideal imaginário fruto da idiossincrasia individual.
Em Hegel, certos ideais que certos indivíduos constroem por meio de sua
imaginação, comparecem apenas como determinações de ordem meramente
subjetiva, na medida em que não se aceita aquilo que está verdadeiramente
posto, aquilo que é real. O ideal subjetivo ou imaginário surge de uma reação
de natureza emotiva que se ressente da realidade: é luta do sentimento contra
a razão (o “real é racional”). Por este motivo, conclui Del Vecchio (1979, p. 153)
que o conformismo, ou o otimismo em relação àquilo que está posto
caracteriza a filosofia hegeliana, que neste sentido atinge um importante papel
na ordem política. No que atine ao Direito, é fácil deduzir a justificação que sua
filosofia proporciona para toda interpretação de caráter legalista. Tendo isso em
vista, nos esclarece Del Vecchio (1979, p. 153) que “para Hegel, o fato é
divino, é digno de ser adorado, porque se identifica com a Ideia”. “Ideia”, por
sua vez, possui significado específico no pensamento de Hegel. Trata-se do
sujeito do processo mundial, conforme explicação de Del Vecchio. No entanto,
outros escritores adotam posicionamento diverso. Kenneth Westphal (1999, p.
234 e ss.), por exemplo, taxa a filosofia de Hegel de “liberal reformista”, já que
5
o modelo de Estado descrito nas páginas de “Princípios de Filosofia do Direito”
não está em absoluta conformidade com a ideologia conservadora de então.
Ademais, o mesmo escritor ressalva que “The usual objection to Hegel's
emphasis on a community's practices and standards is that it simply endorses
the status quo of any community. Two points should be made in advance. First,
on Hegel's account, not just any communal structure will do; it must be a
structure that in fact aids the achievement of individual freedom. This is central
to his whole account of the justification of acts, norms, and institutions; they are
justified only insofar as they make a definite and irreplaceable contribution to
achieving individual freedom” (Westphal, 1999, p. 256). Ou seja: em Hegel
existiria, na visão do autor inglês, um único valor que serviria de critério para a
legitimação do status quo: a liberdade. Em outro ponto, Westphal diz que o
Estado racional de Hegel não trata de uma descrição desinteressada acerca da
realidade posta, mas sim de uma ideia “advogada” pelo filósofo alemão, cujas
instituições já haviam se perdido ou nem mesmo haviam sido realizadas tal
como descritas por Hegel (Westphal, 1999, p. 256). Obviamente, esta
interpretação (do Hegel liberal) não é definitiva. Entre o Hegel conformista e
legalista de uns, e o Hegel liberal de outros, existe ainda o Hegel fascista que
emergiu na Itália a partir dos estudos de Giovanni Gentile (Bobbio, 2007, p. 83
e ss). Além disso, não podemos deixar de ignorar a evidente influência que
Hegel exerceu sobre Karl Marx e todo o pensamento socialista desenvolvido
desde então, a ponto de ser considerado “grande filósofo” pelo dicionário
filosófico soviético de Rosental e Iudin (1959, p. 249).
Apesar de todas estas disputas naquilo que se refere à ideologia que
melhor pode ser imputada à filosofia de Hegel, uma conclusão que permanece
inequívoca é a de que Hegel, ao associar a realidade social e jurídica de um
povo com a noção de movimento e transformação impostos pela própria
estrutura do real – estrutura esta que se move conforme as regras da dialética
–, tornou-se uma referência da indefinição moral e jurídica, bem como do
progressismo político. Por este motivo, futuros inovadores sociais e políticos
como Karl Marx e Giovanni Gentile teriam em Hegel sua principal referência.
3. O Espírito Objetivo e a relação entre direito e liberdade
6
Estreitamente ligado à noção de direito e moral está, na filosofia de
Hegel, o conceito de “espírito”; mais precisamente, o conceito de “Espírito
Objetivo”. “Espírito” é um conceito equívoco, no sentido de que pode comportar
diferentes significados. Aliás, pode-se dizer que uma das maiores dificuldades
para a compreensão das teorias de Hegel consiste justamente no uso
exagerado que este filósofo alemão faz de noções exageradamente abstratas e
ambíguas, o que rendeu a Hegel duras críticas por parte de adversários, dentre
os quais se destaca Arthur Schopenhauer (o §34 da obra Sobre a quádrupla
raiz do princípio de razão suficiente é recheada de críticas severas à
“verborragia” do “conhecido charlatão Hegel”). No entanto, de acordo com
Michael Inwood (1997, p. 118), por “Espírito Objetivo” Hegel quer se referir ao
“temperamento dominante de uma época (...) consubstanciado em seus
costumes, leis e instituições (direito), e impregnando o caráter e a consciência
dos indivíduos pertencentes ao grupo”. Portanto, as concepções morais, bem
como as instituições e normas jurídicas seriam parte do “Espírito Objetivo”, na
medida em que expressam a mentalidade ética de uma comunidade em um
determinado espaço e tempo.
O direito pressupõe a idéia de liberdade. Tem nela seu ponto de partida.
É o “reino da liberdade realizada, o mundo do espírito que se manifesta como
uma segunda natureza a partir de si mesmo” (Hegel, 1997, p. 46, §4). Mas a
Ideia de liberdade, como tudo o mais, se desenvolve em diferentes etapas, até
alcançar o último estágio de efetiva concretização (“liberdade em si e para si”):
I) Primeiramente, a vontade livre é aquela cuja existência se dá no exterior e
seu objeto é aquilo que é dado imediatamente neste exterior (deve-se lembrar
que, em Hegel, todas as ideias de ordem prática se realizam no “Espírito
Objetivo”, onde o sujeito se coloca no espaço e tempo e, por conseguinte, se
imiscui no mundo exterior; por isso, essa primeira manifestação deve dar-se
necessariamente na relação com o exterior). É o momento ainda abstrato ou
insuficiente da vontade. “É o domínio do direito abstrato formal” (Hegel, 1997,
p. 65, §33).
II) Seguindo a tradição hegeliana, deduz-se o momento antitético da liberdade
exteriorizada, onde a vontade interioriza-se. Surge a ideia do Bem, que é
7
interiorizada. É a moralidade subjetiva (conforme algumas traduções) ou
simplesmente moralidade (Moralität). Aqui, as esferas exterior e interior do
Espírito Objetivo permanecem rigidamente separadas.
III) E por fim, o momento de síntese ou da razão positiva, “a unidade e a
verdade destes dois fatores abstratos”, “a idéia em sua existência universal em
si e para si” (Hegel, 1997, p. 65, §33), a realização do Bem no plano interior e
exterior: a moralidade objetiva ou eticidade (Sittlichkeit), que por sua vez
possui seus três momentos particulares: família, sociedade civil e Estado.
Disso devemos deduzir que, a
liberdade, em suas diferentes
manifestações, aplica-se de diferentes maneiras, desencadeando o processo
dialético, com seus elementos característicos já aduzidos neste trabalho: tese e
antítese, como dois momentos de abstração, fragmentação e incompletude; e
síntese, como o momento de superação e concretização.
Para
melhor
compreensão,
faz-se
necessário
aqui
alguns
esclarecimentos quanto às terminologias utilizadas por Hegel. Ensina-nos
Norberto Bobbio (1991, p.57) que, na obra “Princípios de Filosofia do Direito”
de Hegel, existem duas significações para a palavra “direito”, uma em sentido
específico e outra de significação mais geral. Em geral, toda a idéia de
liberdade – que se desenvolve naquelas três etapas – é desenvolvimento do
Direito. Em Hegel, “liberdade” e “direito” praticamente se identificam como um
só conceito. Assim, direito abstrato, moralidade subjetiva e moralidade objetiva
são momentos do Direito, considerado em sua generalidade, porquanto sejam
também momentos do desenvolvimento da idéia de liberdade – ainda que entre
estas etapas de desenvolvimento exista uma hierarquia (pois em Hegel toda
síntese supera as antigas determinações antitéticas). O trecho na obra de
Hegel utilizado por Bobbio para fundamentação daquela asserção é o seguinte:
O Direito é a existência do conceito absoluto, da liberdade consciente de si, e, só
por isso, é ele algo sagrado. Mas a variedade das formas do Direito (e, por
conseqüência, do Dever) nasce da diferença que há no desenvolvimento do
conceito de liberdade. Em face do Direito mais formal, isto é, mais abstrato e,
consequentemente, mais limitado, o domínio e a fase do espírito, no qual os
posteriores elementos contidos na idéia de liberdade alcançam a realidade,
possuem um Direito mais elevado, já que mais concreto, mais rico e mais
verdadeiramente universal (Hegel, 1997, p. 61, §30).
8
E acrescenta uma nota:
Cada fase do desenvolvimento da idéia de liberdade tem seu direito particular,
porque é a existência da liberdade em uma de suas determinações particulares (...)
A moralidade, subjetiva ou objetiva, e o interesse do Estado constituem, cada um,
um direito particular, pois cada um destes aspectos é determinação e existência da
liberdade (Hegel, 1997, p. 61, §30, nota).
De acordo com Bobbio, Hegel concedeu bastante importância ao direito,
pois toda a sua filosofia prática é uma filosofia de caráter jurídico – a própria
moral é apenas parte do direito. Tal consideração nos parece ser inédita em
toda a filosofia prática. Kant, por exemplo, dizia que nossa liberdade é
conhecida apenas através de imperativos morais, daí não ser errado o
entendimento geral de que a Moral é a ciência dos deveres, ainda que as
noções de direitos e de deveres se relacionem (Kant, 1957, p. 347, AB 48).
Mais tarde, Del Vecchio (1979, 314), diferente de Kant na definição dos
conceitos, mas ainda bastante influenciado por ele, colocou a moral e o direito
como categorias existentes dentro da ética. A razão de Hegel romper com toda
a tradição da filosofia do direito kantiana é bastante simples: Hegel não
concebe o direito em termos puramente formais. Em Kant, quase que a
totalidade das relações jurídicas (inclusive as familiares) se fazem em termos
obrigacionais e de apropriação. O seu formalismo jurídico é conseqüência
direta da natureza formal da liberdade noumênica, que Hegel degrada em
simples momento abstrato e incompleto do processo de desenvolvimento da
idéia de liberdade. Para Hegel, tais relações jurídicas devem ter um
fundamento também de índole moral, que deverá alcançar sua efetiva
concretização e estabilidade com a tutela promovida pelo Estado ético. Esta
diferença fica patente nas considerações que os dois filósofos traçam acerca
da natureza jurídica do casamento. Na medida em que, para Kant, o direito
matrimonial está no gênero dos “direitos de posse sobre um objeto exterior
como de uma coisa e do uso do mesmo como de uma pessoa”, e que,
portanto, o casamento define-se como “o pacto (Verbindung) de duas pessoas
de diferente sexo para a posse mútua, durante toda a vida, de suas
propriedades sexuais (Geschlechtseingenschaften)” (Kant, 1956, p. 390, §24,
AB 105), Hegel, diferentemente, responde que “não pode, portanto, considerar-
9
se o casamento dentro do conceito de contrato. Foi isso, no entanto, o que
Kant estabeleceu, e, é preciso dizê-lo, em todo o seu horror” (Hegel, 1997, p.
93). O casamento não seria fundado em relações de posse ou uso, mas sim
forjado nas relações de vida ética, numa “unidade espiritual” e “amor
consciente” (Hegel, 1997, p. 156).
Considerado em sua especificidade, temos o direito abstrato. É o direito
privado, em contrapartida com a moralidade objetiva (ou eticidade, Sittlichkeit)
que é entendida como direito público. Portanto, deve-se frisar que o direito
abstrato é nada mais que o direito kantiano privatista, onde tudo é explicado a
partir de relações obrigacionais e de posse, que Hegel considera manifestação
da primeira etapa na dialética da vontade livre. Um direito de espírito
“individualista”, diriam críticos mais severos...
No direito abstrato (ou privado) se dão: o direito de propriedade, a
relação de contrato, e o fato injusto (que contém fatos jurídicos como o dano
civil e o crime). Todavia, antes de adentrar no mérito específico do direito
abstrato – e por conseqüência disso, do direito de propriedade – faz-se
necessário um esclarecimento definitivo quanto à vontade livre e sua relação
com o direito.
Aquilo que é chamado de Absoluto em Hegel é o próprio processo
evolutivo do pensamento. Este processo é determinado pela Idéia (a Idéia é o
sujeito do processo), de maneira que o mundo é essencialmente racional, na
medida em que sua estrutura ontológica é determinação ideal, no sentido de
ser pensada. Assim, não nos surpreende que, para Hegel, filosofia e religião
tenham um mesmo objeto, ainda que descrito através de discursos
diferenciados (Reale; Antiseri, 1991, p. 157). Em ambos os casos, o
pressuposto é o mesmo: uma inteligência que coordena o curso do mundo –
para a religião, é Deus; para a filosofia, a Idéia2. Pois bem: a Idéia, no Espírito
2
Olavo de Carvalho (2003, p. 51), comparando o sistema de Hegel com o de um outro idealista,
Schelling, chega a uma constatação muito importante para a compreensão do exposto. Explica-nos que,
para Schelling, o processo dialético é o meio pelo qual a consciência humana pode apreender Deus. Isso
se dá pelo fato de que o Deus de Schelling (e de qualquer cristão) tem ontos próprio, que não pode ser
confundido com os momentos de um determinado conceito na dialética. A dialética é somente o
instrumento de cognição que supera qualquer tipo de distinção fornecida pelo entendimento (para que se
alcance Deus). Em Hegel, o ontos divino é transferido para o conceito, e de conseguinte a dialética
assume status gnoseológico e ontológico. A Idéia é, portanto, o conceito mesmo. Tudo isso foi muito bem
exposto por Olavo de Carvalho na sua Introdução crítica à dialética erística de Schopenhauer. Portanto,
Deus não desaparece. Apenas muda de status ontológico. Se na filosofia de Schelling ele está fora do
mundo, na filosofia de Hegel ele é imanente ao mundo, na medida em que este é a razão mesma. Assim, a
10
Objetivo, segue também sua própria teleologia, que se consubstancia na busca
e concretização da liberdade. Com efeito, Hegel, no trecho sobre a sociedade
civil, no § 187 de Princípios de Filosofia do Direito (que é extremamente
significativo), escreve sobre um “interesse da Idéia” diverso da “consciência
dos membros da sociedade civil”; e depois, critica implicitamente aquelas
concepções filosóficas de Rousseau – tais como a tese da “inocência no
estado de natureza” e “sociedade corruptora” – como contrárias às “finalidades
da razão”. Assim, a Idéia, objetivando a liberdade em si e para si, na vontade,
desencadeia o processo dialético dentro do qual essa liberdade há de ser
concretizada. Pode-se dizer que a vontade é o veículo da liberdade, na medida
em que esta está contida naquela. Mas a vontade livre se dá em diferentes
estágios, até se elevar àquela forma definitiva, onde a liberdade é absoluta, em
si e para si, conforme já explicado. A vontade livre, inicialmente, sofre uma
divisão elementar: contém o Eu formal, abstraído de qualquer determinação
exterior; e todo conteúdo exterior e estranho, momento de negatividade do Eu.
A filosofia de Kant e Fichte teria alcançado apenas esse momento ainda débil
da liberdade. “A separação e a determinação dos dois momentos mencionados
estão na filosofia de Fichte e também na de Kant” (Hegel, 1997, p. 49, §6, b,
nota). A vontade é cindida em dois momentos ainda inconciliáveis: Eu livre,
mas abstrato, e matéria e conteúdo indeterminável, mas determinante do Eu.
Assim,
o Eu se determina mediante uma relação de negatividade consigo mesmo; o
próprio caráter dessa relação é indiferente em face dessa determinação, porque a
reconhece como sua e ideal (...) porque ele mesmo nela se colocou (...) Tal é a
liberdade que compõe o conceito ou substância da vontade” (Hegel, 1997, p. 50,
§7, c).
Esse trecho se refere ao suposto engano de Fichte ao tomar um dos
elementos intrínsecos da vontade como se fosse o momento absoluto do
conceito, quando na verdade se trataria apenas de uma idéia do entendimento
que contém sua “negatividade imanente” e, por isso, deve ser superado pelo
momento “especulativo” (síntese). Esta vontade livre (livre arbítrio) se
manifesta no direito abstrato, na moralidade subjetiva, e até na sociedade civil,
filosofia de Hegel poderia ser definida como “rational religion”, “theophany”, e até mesmo “theology”
(Liminatis, 2008, p. 188 e ss.).
11
conforme abordaremos mais adiante. Tanto o direito abstrato, quanto a
moralidade subjetiva, ainda carecem daquelas características da vontade livre
em si e para si, que são, a saber: plena identidade entre a vontade e seu
conteúdo. Tanto na moralidade subjetiva, quanto no direito abstrato, o que
existe é um mundo exterior à vontade do sujeito que, por não se identificar em
nada, é uma vontade individual cujo conteúdo só pode ser um interesse
individual – o que será superado no Estado. Limita-se ao campo do formalismo
ou da universalidade formal, ou do subjetivismo moral.
O Estado é o “racional em si e para si” (Hegel, 1997, p. 205, § 258), pois
no Estado há verdadeira fusão entre a parte e o todo, entre indivíduo e
comunidade, é realidade da “consciência particular universalizada”. A razão
especulativa (ou síntese) é o momento do conhecimento onde se alcança uma
visão panorâmica do todo, sem fragmentá-lo. Portanto, a divisão kantiana entre
moralidade e direito é superada em Hegel em sua nova perspectiva de Razão,
e o direito abstrato e a moralidade tornam-se facetas inseparáveis de um
mesmo fenômeno: o direito plenamente realizado na Sittlichkeit, na moral
objetiva (ou eticidade). O direito abstrato oferece as primeiras formas, delineia
na consciência individual o primeiro passo para a liberdade através do qual o
indivíduo – agora dotado de personalidade – concebe o exterior como matéria
de seu arbítrio – e então se apropria, usa, e contrata. Na moral subjetiva
surgem outras noções que irão complementar a vida jurídica: o sentimento de
responsabilidade, a valoração quanto à intenção, a busca pelo bem-estar, e
enfim, é na moral subjetiva onde ocorre a mediação com a Idéia de Bem, a
“liberdade realizada, fim último e absoluto do mundo” (Hegel, 1997, p. 125,
§129). Todavia, como na moral subjetiva o Bem ainda é abstrato, tudo o que
determina moralmente o indivíduo é a simples representação do dever – é o
dever pelo dever e, portanto, ainda estamos sobre solo kantiano nesta moral
subjetiva – que, por ser uma noção apenas abstrata e formal do Bem, ainda
não constitui um conteúdo objetivo a ser alcançado, e a rigorosa fórmula do
dever (o imperativo categórico) conduz fatalmente sempre ao “acordo formal
consigo mesmo”, o que permite “justificar todo comportamento injusto ou
imoral”, justamente porque ainda não há um critério objetivo através do qual
possa se dar a contradição entre o arbítrio do sujeito e a vontade universal
(Hegel, 1997, p. 128, §§ 134, 135). Certamente, esta conclusão de Hegel
12
quanto à incapacidade da teoria kantiana de oferecer critérios objetivos para o
julgamento moral deve-se ao fato de que Hegel elimina, de sua teoria, o
elemento teórico básico pelo qual Kant deduz a universalidade de nossos
julgamentos morais: o puro sentimento de respeito diante das leis morais ou da
fórmula do imperativo categórico. Sobre isso, assim se expressa Westphal
(1999, p. 252):
Hegel held that there can be no such pure rational motive as Kant's „respect for
law.‟ One of his reasons is straightforward: He held that Kant's arguments for
transcendental idealism, and in particular for the distinction between phenomena
and noumena, are inadequate. Hence transcendental idealism provides no
legitimate basis for distinguishing between the sole noumenally grounded motive of
respect and all other phenomenally grounded motives (that is, inclinations) in the
way Kant proposed.
Isto é, não há um sentimento puramente racional, simplesmente porque
não há, de acordo com Hegel, uma dimensão puramente noumênica,
puramente racional, oposta à dimensão puramente fenomênica onde interagem
apenas inclinações sensíveis. A incondicionalidade do dever kantiano deve
ceder, portanto, às instituições concretizadas no plano da Moral Objetiva de
Hegel – ante a pura representação racional do dever concebida pela
consciência individual, impõe-se os costumes familiares, sociais (unificados na
idéia do Estado) como verdadeiros critérios de definição de deveres. Em suma,
se para Kant a liberdade consiste na incondicionalidade do arbítrio, na
impassibilidade diante das circunstâncias mundanas – pois aí, a liberdade
pertence ao reino do puramente inteligível, da “coisa em si”, da qual os
“fenômenos” não oferecem exemplo algum – em Hegel a liberdade está
imanente na realidade, na medida em que esta é o racional, manifestação da
Idéia.
Um pouco mais confusa é a posição de Hegel em relação à segunda
etapa da Moralidade Objetiva ou Eticidade: a sociedade civil. É necessário
frisar que esta sociedade civil, ainda que seja o momento intermediário entre
família e Estado na Eticidade e, consequentemente, seja entendida como
direito público, suas relações jurídicas, no entanto – e, se assim podemos nos
expressar:
“o
estado
de
espírito
de
seus
cidadãos”
–
dão-se
predominantemente na esfera privada. Nas palavras de Bobbio (ano da obra
sobre Hegel, p. 189): “Interessa relevar que aquela sociedade civil que Hegel
13
pretendia superada no Estado não era senão o Estado tal como fora concebido
pelos teóricos do liberalismo clássico, como Kant e o primeiro Fichte”. O texto
original em alemão fala por si só: bürgerliche Gesellschaft (“sociedade civil”).
“Bürgerlich” significa “civil”, bem como “classe média, burguês” (Inwood, 1997,
p. 294). Em outros trechos de Princípios de Filosofia do Direito, Hegel deixa
claro que a sociedade civil busca “positivar” as formas pelas quais os direitos
individuais (direito abstrato) possam ser validados (Hegel, 1997, p. 169-170,
§§183, 184).
4. O direito de propriedade.
De especial interesse e importância são as teorias sustentadas por
Hegel em relação à questão da propriedade privada. As primeiras palavras de
Hegel, sobre a propriedade, são no mínimo apoteóticas:
A pessoa, para existir como Idéia, deve dar um domínio exterior à sua liberdade.
Porque nesta primeira determinação, ainda abstrata, a pessoa é a vontade infinita
em si e para si; o que pode constituir o domínio de sua liberdade é algo distinto
dela, e determina-se como o que é imediatamente diferente e separável de si
(Hegel, 1997, p. 72, §41).
Vê-se que a propriedade comparece como relação de domínio sobre aquilo que
é exterior e imediato. Mas sua relação com a Idéia consiste no fato de ser a
exteriorização da liberdade requerida pela Idéia; daí a necessidade da pessoa
“existir como Idéia” através da propriedade ou, o que é o mesmo que dizer: na
condição de proprietária. Por outro lado, ser pessoa significa reconhecer-se
como individualidade própria, referência pura a si mesmo e, portanto, abstração
pura na qual “toda limitação e valor concretos são negados e invalidados”. “Na
noção de personalidade, encontra-se o fato de que eu (...) sou uma pura
referência a mim mesmo, e na finitude me reconheço como infinito, universal e
livre” (Hegel, 1997, p. 69, § 35 e nota). A personalidade constitui o fundamento
do direito abstrato (Hegel, 1997, p. 70, §36), no qual se desenrola a
propriedade. É através da unilateralidade do conceito de vontade livre, isto é,
no reconhecimento de si mesmo como Eu abstrato, que surge a pessoa. Ser
uma pessoa é, portanto, reconhecer-se livre, ainda que de fato essa liberdade
deva ser desenvolvida na sua dialética própria para que não coexista com
14
nenhuma “finitude” exterior. A extinção total desta “finitude” ocorre dentro do
Estado, “a realidade da liberdade concreta” (Hegel, 1997, p. 211, § 260), e não
abstrata, como o é ainda a liberdade do puro Eu abstraído de todo domínio
exterior. Neste estado das coisas, no qual a Idéia não está em sua “liberdade
em si e para si” – comportada somente pela Moral Objetiva, no Estado mais
precisamente (Hegel, 1997, p. 65, § 33) – o direito é uma referência à
personalidade abstrata tão-somente (§ 40 nota) e, portanto, é imagem desta
liberdade inerente unicamente à personalidade abstrata. Isso quer dizer que a
propriedade é o momento imediato da vontade livre – momento este que exige
superação através dos outros momentos da Idéia de vontade livre em si e para
si (Hegel, 1997, p. 65, § 33).
Assim, a individualidade própria, a personalidade, que desenvolve sua
liberdade por meio da apropriação, constitui-se naquele estado pelo qual a
Idéia da liberdade lança sua semente. O direito de propriedade é, por
conseguinte, a semente da liberdade; ao seu desenvolvimento, segue-se a
planta do Estado, “o racional em si e para si”, “a realidade da liberdade
concreta”, diante do qual nenhum direito de propriedade privada é absoluto.
Isso porque o espírito livre quer a própria liberdade como objeto (Hegel, 1997,
p. 60, § 27), o que equivale a dizer: enquanto a propriedade é expressão mais
próxima da Idéia da liberdade, tal direito (de propriedade) adquire para si o
status de fim último; todavia, em seu estágio adiantado, a liberdade se
concretiza no Estado, que então passa a ser um fim em si mesmo. O estágio
do Espírito Objetivo que tem na propriedade privada ou no bem-estar individual
seu fim último é o da Sociedade Civil:
Quando se confunde o Estado com a sociedade civil, destinando-o à segurança e
proteção da propriedade e da liberdade pessoais, o interesse dos indivíduos
enquanto tais é o fim do supremo que os unificam, do que resulta ser facultativo
ser membro de um Estado. Mas é muito diferente a relação do Estado com o
indivíduo. Se o Estado é espírito objetivo, então só como seu membro é que o
indivíduo tem objetividade, verdade e moralidade (Hegel, 1997, p. 205, § 258).
Engana-se, portanto, aquele que considera Hegel um defensor ferrenho da
propriedade privada3. Tal erro é compreensível, considerando as primeiras
páginas sobre o direito abstrato. Mas longe de ser uma apologia, trata-se ali de
3
Neste sentido, Hans Kelsen (1993, p. 417, 2000, p. 290 e ss.), que utiliza a filosofia do direito de Hegel
como exemplo de ideologia diametralmente oposta às ideologias comunistas.
15
um exame descritivo acerca dos conceitos jurídicos que compõem o direito na
sua forma mais rudimentar, praticado pelo homem num estado rudimentar,
ainda excessivamente individualista, imediatista, carente de subjetividade. Por
outro lado, Hegel repudia o ideal platônico de Estado, que considera a pessoa
incapaz de propriedade privada (Hegel, 1997, p. 66, § 33 nota). De acordo com
Hegel, o Estado idealizado por Platão possui substância moral, todavia
negligencia os princípios básicos que servem de alicerce para o total
desenvolvimento do Estado “racional em si e para si”, seus “primórdios” – a
família e a propriedade privada – bem como aquilo que lhe é inerente a partir
de seu desenvolvimento completo – a livre disposição de si e a escolha da
profissão (Hegel, 1997, p. 171, § 185, nota). Portanto, tais considerações
também distanciam Hegel de qualquer ideal comunista. A propriedade privada
é de todo necessária, assim como o reconhecimento da liberdade individual.
Hegel, resumindo tudo isso, diz que “se o seu direito for reconhecido (da
particularidade subjetiva), ela se torna o princípio que dá alma à sociedade
civil, que permite o desenvolvimento da atividade inteligente, do mérito e da
honra” (Hegel, 1997, p. 181, § 206, nota). Não há, portanto, nenhum óbice ao
instituto da propriedade privada. O que Hegel não aceita é a sua oposição
absoluta erga omnes, o que o distanciaria também das doutrinas liberais mais
radicais. O Estado, que é o “racional em si e para si”, onde reside a “liberdade
concreta”, é o “fim próprio absoluto” (Hegel, 1997, p. 205, § 258) no Espírito
Objetivo, e não a simples liberdade individual.
Não é o Estado um instrumento para a satisfação das necessidades
individuais, mas em Hegel a teoria liberal se inverte: toda necessidade, fruto de
uma vontade meramente individual, é superada em benefício da vida ética
contemplada dentro desta unidade racional, que é o Estado. De acordo com
Hegel, na filosofia de Kant, o ponto de partida de todas as leis morais, ou leis
da liberdade (que abarcam também as leis jurídicas), é o livre-arbítrio (freie
Willkür) do sujeito. Para Kant, o princípio geral do direito é o da conformidade
ou limitação dos diferentes arbítrios individuais sob uma lei geral, para que
aqueles arbítrios possam coexistir livremente (Kant, 1957, p. 337, A 33). A
razão do direito seria, então, a necessidade de proteção geral da liberdade
individual de cada membro da sociedade, por meio de regras que possibilitem
sua coexistência. Se, portanto, nas teorias de Kant a proteção do livre-arbítrio
16
de cada indivíduo constitui-se em finalidade última da vida social, em Hegel a
vida social mesma é a finalidade última, e o seu incentivo inicial – que é o da
satisfação dos instintos – é tão-somente um momento fugaz, fruto de uma
unilateralidade tanto conceitual quanto factual a ser superada no processo
dialético, cujo “momento especulativo”, sua “verdade”, é a vontade racional,
livre em si e para si, refletida no funcionamento orgânico do Estado. De acordo
com Hegel, o erro de Kant consiste em buscar a definição de direito partindo da
vontade individual; ao localizar o fundamento e princípio do direito no indivíduo,
na vontade particular deste, o direito – como corpo de normas que regram a
conduta humana – revela-se uma limitação necessária ao livre-arbítrio do
indivíduo, para que esse mesmo livre-arbítrio possa coexistir com outros
(Hegel, 1997, p. 60, §29 e nota). Contudo, no caminho trilhado por Hegel, o
fundamento está no direito mesmo, que é manifestação da “vontade racional
em si e para si”, e que transcende o arbítrio e vontade individual. Desde que o
fundamento do direito não é a simples busca pela coexistência entre arbítrios
individuais, então não existe qualquer limitação da liberdade no direito, pois ele
é a liberdade mesma – “a liberdade em geral como idéia” (Hegel, 1997, p. 60, §
29, nota).
5. Conclusão
Ao longo deste artigo, vimos como em grande parte a filosofia de Hegel se
desenvolve como uma tentativa de superação da filosofia kantiana, e como
esta tentativa se dá, pelo menos, em dois momentos: primeiro, num plano
teórico, ela consiste na eliminação da “coisa em si mesma” em benefício da
suposição de que ser e pensamento se identificam; segundo, num plano prático
ou moral, ela consiste na conclusão de que o direito é a própria liberdade, e
não mera condição de proteção da liberdade do arbítrio individual que ao direito
preexiste. Aqui, convém mencionar a análise que Hegel oferece sobre as
etapas do desenvolvimento da vontade livre, a qual, em um primeiro instante,
identifica-se com o livre-arbítrio individual, mas que, em seguida, encontra seu
aperfeiçoamento e completude na vida social organizada e harmônica, a qual,
por sua vez, alcança seu apogeu no Estado. O indivíduo, considerado em si,
possui apenas uma liberdade abstrata; o Estado, diferentemente, é a
17
realização da liberdade concreta. Portanto, não devemos nos surpreender que
a filosofia de Hegel, apesar de zombar e denunciar dos devaneios de mentes
revolucionárias e politicamente emotivas (notadamente, na nota ao §5 de
Princípios de Filosofia do Direito), no entanto viria a oferecer fortes premissas
para a constituição de doutrinas coletivistas que iriam triunfar no século
seguinte, tais como o fascismo e o socialismo. Na verdade, tal triunfo poderia
ser reduzido a uma única premissa: a de que o Estado não é uma simples
instituição devotada à proteção de liberdades individuais, mas, muito mais do
que isso, é a única condição sob a qual o indivíduo tem “objetividade, verdade
e moralidade”.
BIBLIOGRAFIA
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução Alfredo Bosi e Ivone
Castilho Benedetti. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
BOBBIO, Norberto. Estudos sobre Hegel: direito, sociedade civil, estado.
Tradução: Luiz Sérgio Henrique e Carlos Nelson Coutinho. 2 ed. São Paulo:
Unesp, 1991.
___. Do fascismo à democracia: os regimes, as ideologias, os personagens e
as culturas políticas. Tradução Daniela Versiani. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
CARVALHO, Olavo de. Introdução crítica à dialética de Schopenhauer. In:
SCHOPENHAUER, Arthur. Como vencer um debate sem precisar ter razão
(dialética erística). Introdução, notas e comentários de Olavo de Carvalho.
Tradução de Olavo de Carvalho e Daniela Caldas. Rio de Janeiro: Topbooks,
2003.
DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de filosofia do direito. Tradução de Antônio
José Brandão. 5º ed. Correta e atualizada. Armênio Amado, 1979.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. 2. ed.
Tradução: Norberto de Paula Lima, adaptação e notas: Márcio Pugliesi. São
Paulo: Ícone, 1997.
INWOOD, Michael. Dicionário hegel. Tradução: Álvaro Cabral. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed., 1997.
KANT, Immanuel. Die Metaphysik der Sitten. Werke in sechs Bänden. Band IV.
Ed. de Wilhelm Weischedel. Wiesbaden: Insel, 1956.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 7.
ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
18
___. A democracia. Tradução dos originais em alemão: Vera Barkow; dos
originais em inglês: Jefferson Luiz Camargo, Machado Brandão Cipolla; dos
originais em italiano: Ivone Castilho Benedetti. 2. ed. São Paulo : Martins
Fontes, 2000.
LIMNATIS, Nectarius G.. Studies in german idealism: german idealism and the
problem of knowlegde. Volume 8. Springer, 2008.
REALE, Giovanni, ANTISERI, Dario. História da filosofia: do romantismo aos
nossos dias. 5º ed. São Paulo: Paulus, 1991.
ROSENTAL, M.; IUDIN, P.; Pequeno dicionário filosófico. Tradução de Guarani
Galo e Rudy Margherito. São Paulo: Livraria Exposição do Livro, 1959.
SCHOPENHAUER, Arthur. Über die vierfache Wurzel des Satzes vom
zureichenden Grunde. Ed. de Arthur Hübscher. Zürich: Diogenes, 1977.
WESTPHAL, Kenneth et al. The cambridge companion to hegel. Cambridge
Press, 1999.