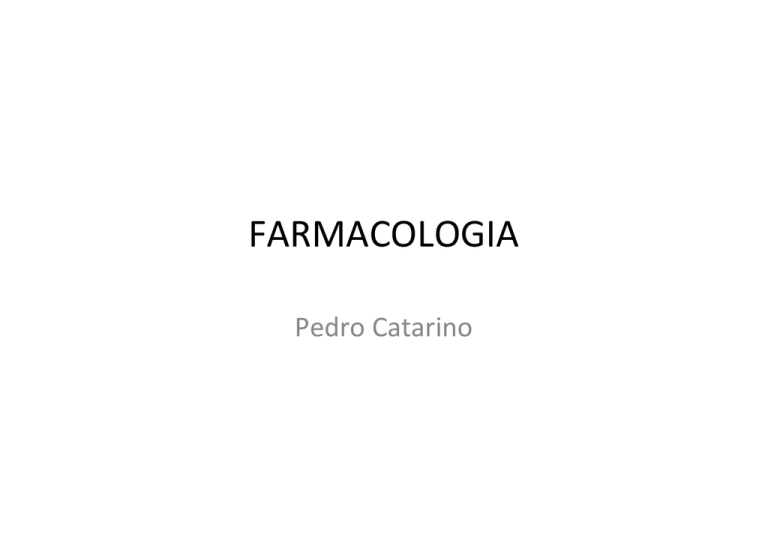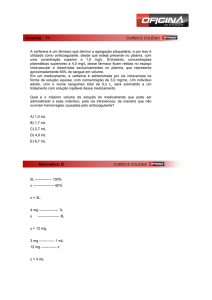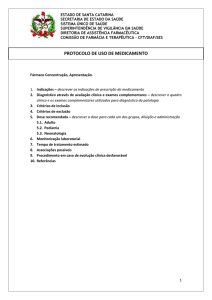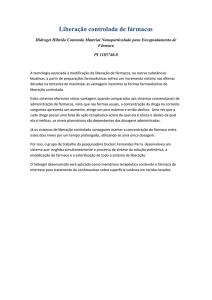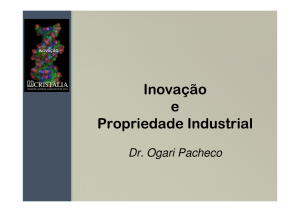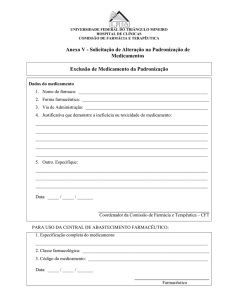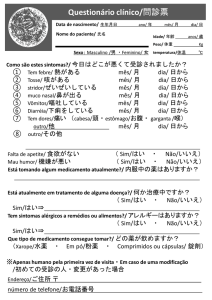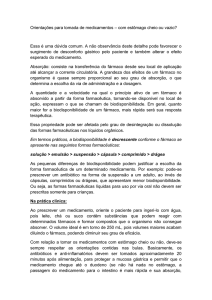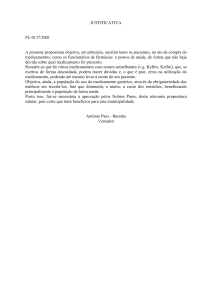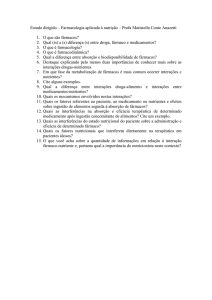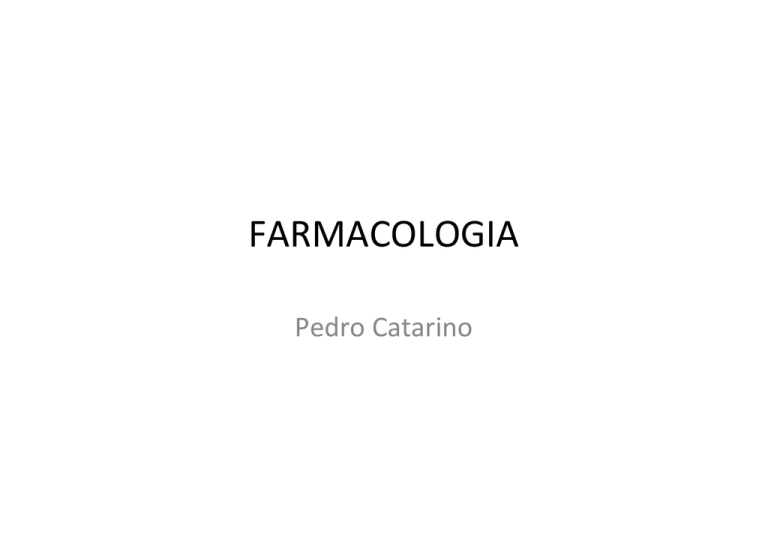
FARMACOLOGIA Pedro Catarino Droga, fármaco e medicamento
• Droga
• Significado pouco preciso
• Produtos de natureza animal, vegetal ou mineral
• Matéria prima de uso farmacêutico
Droga
Toxicomania
Desuso
Produto simples ou complexo que pode servir como matéria prima
(Diário do Governo II série, nº 250-27/10/1955 e nº76-29/03/1956)
Droga – é a matéria-prima de origem
mineral, vegetal ou animal, activa ou
inactiva, que contém um ou mais
constituintes e que não sofreu
manipulação, excepto a necessária para a
sua conservação. De acordo com esta
definição, os agentes terapêuticos de
origem sintética não são drogas.
DROGA ≠ “drug”
Droga, fármaco e medicamento
• Matéria Prima
Qualquer substância, activa ou não, e qualquer que seja a
sua origem, empregue na produção de um medicamento,
quer permaneça inalterável quer se modifique ou
desapareça no decurso do processo;
Mais completa
Droga, fármaco e medicamento
• Fármaco
Substância pura, quimicamente definida, extraída de fonte natural ou
obtida por síntese, dotada de actividade biológica e que pode ser
aproveitada pelos seus efeitos terapêuticos.
Fármaco – tipo especial de droga
Fármaco
Sulfato de cobre
Sulfato de cobre
Medicamento
Droga, fármaco e medicamento
• Substância Activa
– Toda a matéria de origem humana, animal, química
ou vegetal, à qual se atribui uma actividade
apropriada para constituir um medicamento
Origem
Sobreponível ao conceito de fármaco
Actividade terapêutica
Droga, fármaco e medicamento
• Medicamento
– Variadas definições de acordo com grupo
profissional
– Qualquer substância simples ou complexa
que aplicada no interior ou no exterior do
corpo do homem ou do animal possa produzir
efeito curativo ou preventivo
– Todas as substâncias ou conjunto de
substâncias que se possam administrar com
fins terapêuticos
Estatuto do Medicamento
• (Decreto-Lei n.° 72/91)
• Artigo 2.° - (Definições)
• Medicamento: toda a substância, ou associação de substâncias
apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas
de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa
ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a
estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma acção
farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou
modificar funções fisiológicas;
Medicamento = Fármaco(s) + excipiente(s)
Sistemas terapêuticos
•
Sistema alopático - baseia-se num aforismo latino que diz: "contraria
contraris curantur", ou seja, o contrário cura-se com o contrário. Para
determinada doença, administram-se os medicamentos de acção contrária
à causa da doença. Corresponde à medicina tradicional, a qual predomina
na classe médica.
•
Sistema homeopático- são as formas medicamentosas que se baseiam
na frase "similiba similibus curantur", ou seja, o semelhante cura-se com o
semelhante. Administram-se medicamentos de acção semelhante à
doença. Depende das defesas do organismo sendo a sua resposta
suficiente para curar a doença. As doses usadas em homeopatia são muito
pequenas.
•
Sistema fisiátrico- Acreditam que a patología não é nada mais que um
processo fisiológico quantitativamente alterado. O medicamento não cura,
apenas ajuda o organismo a vencer a doença, desde que o próprio
organismo permita as condições ideais para que actue: alimentação,
descanso, exercício controlado.
Medicamento e remédio
• Remédio – sentido amplo e geral
– Todos os meios usados no sentido de
prevenir e curar a doença
• Agentes físicos
– Aeroterapia ou climaterapia – praia ou montanha
– Helioterapia – sol
– Radioterapia – raios X
– Termoterapia – calor
– Electroterapia – correntes de alta frequência
– Hidroterapia – cura pela água
– Talassoterapia – ares do mar
– Cinesioterapia – ginástica para reeducação dos
movimentos.
• Agentes psíquicos
– Acção psicológica desempenhada pelo
médico ou psicólogo
– Bem estar
– Tratamentos mentais
Medicamento - Alimento - Veneno
• Dependendo das
circunstâncias e da
quantidade administrada,
um medicamento pode
tornar-se num veneno, ou
um alimento pode
funcionar como agente de
cura.
“let food be your medicine and medicine your food” Hippocrates Medicamento - Alimento - Veneno
VENENO
MEDICAMENTO
Medicamento - Alimento - Veneno
• Alimento
– Toda a substância que se ingere para manter
o equilíbrio orgânico e para atenuar a fome
Excipientes ou veículos
Os alimentos podem
utilizar-se como
excipientes que facilitam
a administração de
fármacos, p. ex. sacarose
Fácil administração de fármacos
Edulcorante
Sacarose
Fonte de energia
Medicamento - Alimento - Veneno
• Os alimentos podem transformar a parte
activa do medicamento. p. ex. leite.
• Os medicamentos podem utilizar-se como
alimento em doentes muito debilitados ou
naqueles que não se podem alimentar
pelas vias de ingestão naturais. p. ex.
soluções injectáveis de glucose ou
emulsões parentéricas.
Medicamento - Alimento - Veneno
• VENENO
– Produtos que, introduzidos no organismo do
indivíduo normal médio, em pequena
quantidade, sejam susceptíveis de provocar
alterações da saúde ou conduzir à morte.
– Em princípio, todos os medicamentos podem
funcionar como venenos consoante a
quantidade administrada, a via de
administração, as condições do indivíduo, etc.
Medicamento - Alimento - Veneno
Sulfato de atropina:
• Dose máxima por uma só vez:
sob a forma de comprimidos: 0,02 g
sob a forma de injecção subcutânea: 0,01 g
• Dose máxima no período de 24 horas:
sob a forma de comprimidos: 0,04 g
sob forma de injecção subcutânea: 0,02 g
Até às quantidades indicadas, o sulfato de atropina, nas formas
farmacêuticas mencionadas, constitui um medicamento. Se estas
doses forem ultrapassadas será um veneno.
Medicamento - Alimento - Veneno
"um erro nas pesagens
dos medicamentos
pode pôr em perigo
uma vida. Na balança
pode estar a vida ou a
morte"
Efeito dos Medicamentos
•
Efeitos terapêuticos ou acção terapêutica
Quando os efeitos concorrem para a actividade
terapêutica pretendida
•
Efeitos secundários ou laterais
Quando os efeitos não se exercem sobre a
patologia existente.
A classificação depende do objectivo:
Ex. medicamento broncodilatador e hiperglicemiante
Dosagem
• Quantidade de substância activa existente numa f.f.
De acordo com a dosagem o medicamento é administrado
segundo uma dada
POSOLOGIA
(número de doses diárias)
EX.: Clamoxyl® comprimidos
Posologia adultos: 1 cáp. 500 mg/ 3x dia
ou 1 comp. 1000 mg/ 2x dia
• DOSE
Quantidade de medicamento que é necessário administrar por
determinada via, para produzir o efeito terapêutico desejado
• DOSE TERAPÊUTICA MÍNIMA
A menor quantidade para produzir o efeito desejado
• DOSE TERAPÊUTICA MÁXIMA
Quantidade que não deve ser ultrapassada - efeito tóxico
• DOSE TÓXICA
A quantidade a partir da qual se produz o efeito tóxico
• DOSE LETAL
Ex. DL 50 Dose que mata 50% dos animais
Prazo de validade
• Período durante o qual um determinado medicamento pode
considerar-se estável.
• Período máximo durante o qual um medicamento após a sua
preparação não apresenta uma quebra do teor dos seus princípios
activos superior a 10 ou 15 %, quando mantido em determinadas
condições de armazenagem, previamente estabelecidas.
• Influenciado pela:
Incompatibilidades existentes na formula farmacêutica
Forma farmacêutica
Condições de conservação
Comercialização
Produção de
medicamentos
Distribuidores
Transporte
Armazenistas
Farmácia
Casa do
doente
Classificação dos medicamentos
1. Uso interno / uso externo
•
Via de administração e não forma farmacêutica
Uso interno
Uso externo
Medicamento de Uso Externo -­‐ são aqueles aplicáveis na super>cie do corpo ou nas mucosas facilmente acessíveis ao exterior. Ex.: Cremes de Calêndula, Shampo de PiriJonato de Zinco. Medicamentos de Uso Interno -­‐ são aqueles que se desJnam à administração no interior do organismo por via bucal e pelas cavidades naturais (vagina, nariz, ânus, ouvido, olhos, etc.). Classificação dos medicamentos
2. Simples / Complexos (composição) n
n
Medicamento Simples -­‐ aqueles preparados a parJr de 1 único fármaco. Ex.: xarope de vitamina C, pomada de Cânfora. Medicamento Composto -­‐ são aqueles preparados a parJr de vários fármacos. Ex.: a) Injectável de penicilina G + Estreptomicina. Ex.: b) Comprimido de Ácido AceJlsalicílico + Cafeína. 3. Oficinais / especializados / magistrais (modo de preparação) Especialidade farmacêutica
• Toda a preparação
farmacêutica (medicamento)
apresentada no mercado em
embalagem própria a ser
entregue ao consumidor e
com uma designação de
marca privativa
Especialidades farmacêuticas
QUALIDADE, EFICÁCIA E SEGURANÇA
– Sistema de garantia da qualidade:
1. Avaliação do dossier de registo
2. Licenciamento do fabrico
3. Durante a vida do medicamento:
- Inspecções regulares
- Recolha de amostras para o controlo de qualidade
nos laboratórios certificados pelas
autoridades
competentes.
Especialidades farmacêuticas
• Ao ser concedida uma A.I.M. o produtor
tem de fabricar o medicamento
autorizado em local que reúna condições
técnicas que permita obter um produto
com as características que constam do
dossier de registo apresentado às
autoridades competentes.
Especialidades farmacêuticas
A qualidade do medicamento está intimamente relacionada com o
processo de fabrico pelo que foram estabelecidas a nível
comunitário as NORMAS PARA O BOM FABRICO DE
MEDICAMENTOS, que visam assegurar que os produtos sejam:
– Eficazes: contenham a quantidade de princípio activo
declarado e exerçam a ação terapêutica esperada
– Seguros: na dosagem e utilização correctas, tenham o mínimo
aceitável de efeitos secundários indesejáveis
– De qualidade: tenham a qualidade intrínseca cumprida
Especialidades farmacêuticas
• Avaliação da segurança dos medicamentos
Os sistemas de farmacovigilância
existentes nos diversos países permitem o
registo e a avaliação dos efeitos adversos
detectados e a consequente tomada de
decisões que garantam a segurança na
utilização dos medicamentos.
NORMAS PARA
ENSAIOS ANALÍTICOS,
TÓXICO-FARMACOLÓGICOS
E CLÍNICOS
DOS MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
ENSAIOS ANALÍTICOS
1.
Composição qualitativa e quantitativa dos componentes
2.
Descrição do modo de preparação
3.
Controlo das matérias-primas
4.
Controlo efectuado nas fases intermédias do processo de fabrico
5.
Controlo do produto acabado
6.
Ensaios de estabilidade
ENSAIOS TOXICOLÓGICOS E
FARMACOLÓGICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Toxicidade aguda
Toxicidade por doses repetidas (sub-aguda ou crónica)
Avaliação da função reprodutora
Toxicidade embrionária/ fetal
Potencial mutagénico
Potencial carcinogénico
Farmacocinética
Tolerância local.
ENSAIOS CLÍNICOS
Qualquer estudo sistemático de medicamentos no
homem, quer em doentes, quer em voluntários sãos por
forma a descobrir ou verificar os efeitos de produtos
experimentais, identificar os seus efeitos laterais,
estudar a respectiva absorção, distribuição, metabolismo
e excreção a fim de se determinar a eficácia e
segurança deste produtos.
Processo de registo de um medicamento
Pesquisa Básica
ü Identificação de novos compostos que se mostrem promissores
no combate a alguma patologia- fase da descoberta.
ü Há muitos investigadores envolvidos: Universidades, Institutos e
Fundações de Pesquisa.
ü Os compostos promissores identificados têm dificuldade de
passar para as outras etapas do pipeline (ensaios pré-clínicos,
ensaios clínicos e registo).
ü
Esta etapa só termina quando o produto final, o medicamento, é
devidamente registado e disponibilizado ao paciente.
Processo de registo de um medicamento
Pesquisa Pré-Clínica
ü Os compostos promissores são submetidos aos ensaios préclínicos, ou fase de pré-desenvolvimento.
ü Identificados os parâmetros de segurança e eficácia por meio de
estudos de toxicidade e de actividade "in vitro" e também em
animais - "in vivo".
ü A dose e a apresentação farmacêutica podem produzir variações
importantes de toxicidade e actividade, sendo também avaliadas
durante a fase pré-clínica.
ü Se o composto for aprovado pelos resultados obtidos nos testes
em animais, passa-se então para os testes em seres humanos,
os Ensaios Clínicos.
Processo de registo de um medicamento
Pesquisa Clínica
ü Submetem-se os novos compostos a ensaios clínicos para
avaliar a segurança e eficácia do produto em seres humanos.
ü Somente com base nos ensaios clínicos é possível fornecer um
dossier completo de informações necessárias para a obtenção
do registo nas agências reguladoras de medicamentos, o
INFARMED no caso de Portugal.
ü Os ensaios clínicos são divididos em 3 etapas consecutivas
(fases I a III) que representam o estágio de desenvolvimento
propriamente dito, e uma quarta fase, denominada
farmacovigilância, na qual o medicamento continua a ser
avaliado após o registo e lançamento.
ENSAIOS CLÍNICOS
®
Fase I ®
Fase II Procura-­‐se conhecer a tolerância e o metabolismo do medicamento. Para isso, voluntários saudáveis recebem doses crescentes da nova substância. UJliza um pequeno nº de pacientes para os quais o novo medicamento possa ser benéfico (100–200 pacientes). Visa demonstrar acJvidade e estabelecer a segurança do p.a. a curto prazo em doentes. Se possível visa estabelecer a relação dose-­‐resposta (melhor dose a ser uJlizada com menores efeitos adversos). ENSAIOS CLÍNICOS
®
Fase III Fase IV ®
Fase de ensaio piloto. O medicamento é administrado a um número grande de pacientes, que pode variar de dezenas a milhares dependendo do Jpo de patologia, para se avaliar a eficácia e segurança do produto. A avaliação é sempre feita de maneira comparaJva, uJlizando-­‐se placebo ou um outro tratamento de referência, e realizada em condições praJcamente normais de emprego. Cuidados na uJlização e riscos de interacção com outras substâncias também são idenJficados. Também denominada farmacovigilância, esta fase é posterior ao registo e lançamento do novo medicamento. O objecJvo é traçar a relação custo-­‐
bene>cio do tratamento e também idenJficar reacções adversas raras e inesperadas ao medicamento. Processo de registo de um medicamento
Registo de Medicamentos
ü O registo de um medicamento para fins de comercialização e
utilização pela população é feito nas Agências Reguladoras de
Medicamentos, a exemplo do INFARMED (Autoridade Nacional
de Medicamentos e Produtos de Saúde, IP), em Portugal, e da
FDA (Food and Drug Administration), nos Estados Unidos.
ü Para se obter o registro de um produto farmacêutico nestas
agências, todas as informações sobre o medicamento e as suas
fases de desenvolvimento devem ser compiladas em formulários
específicos e submetidas às agências para análise e aprovação.
ü Este processo pode levar até 3 anos, e cada produto tem de ser
registado para cada dose e apresentação e para cada um dos
países onde for utilizado.
Classificação de medicamentos
• Uso interno / uso externo
• Via de administração e não forma farmacêutica
Uso interno
n
n
Uso externo
Simples / Complexos (composição) Oficinais / especializados / magistrais (modo de preparação) Classificação de medicamentos
n QUANTO AO SISTEMA TERAPÊUTICO ADOPTADO AlopáCcos /HomeopáCcos n QUANTO AO MODO DE ACÇÃO Absorvidos ou de acção geral / Tópicos e locais n QUANTO À ACÇÃO TERAPÊUTICA: Organotrópicos: aqueles cuja acção terapêuJca provém de uma acção directa sobre o organismo. ex: medicamento que relaxa a fibra muscular lisa produzindo uma diminuição da resistência Vascular periférica -­‐ efeito anJ-­‐hipertensor. E.otrópicos: a sua acção resulta da influência directa que eles exercem sobre os agentes que provocam as doenças. ex: anJbióJcos para o tratamento das infecções MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Segundo o "ESTATUTO DO MEDICAMENTO“
São aqueles que reúnam cumulativamente as seguintes
condições:
a.
Serem essencialmente similares de um
medicamento já introduzido no mercado e as
respectivas substâncias activas fabricadas por
processos caídos no domínio público ou protegido por
patente de que o requerente ou fabricante seja titular
ou explore com autorização do respectivo detentor.
b.
Não se invocarem a seu favor indicações terapêuticas
diferentes relativamente ao medicamento
essencialmente similar já autorizado.
PRODUTOS ESSENCIALMENTE
SIMILARES
Todos os medicamentos com a mesma composição
qualitativa e quantitativa em substâncias activas, sob a
mesma forma farmacêutica.
(Redacção do D.L. nº 249/93 de 9 de Julho)
Critério Galénico
(segundo Prista e col.)
I GRUPO
• Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica
das substâncias medicinais.
– 1. ESPÉCIES. Formas complementares: cigarros
– 2. PÓS. Formas complementares: granulados,
comprimidos, drageias, pílulas, grânulos, bolos,
chocolates, biscoitos, pastilhas, lentículas e cápsulas.
– 3. POLPAS. Formas complementares: conservas e
electuários.
Critério Galénico
II GRUPO
• Formas farmacêuticas obtidas por extracção
mecânica
– 1. SUCOS
III GRUPO
• Formas farmacêuticas obtidas por dispersão
mecânica
– 1. EMULSÕES
– 2. DISPERSÕES COLOIDAIS E SUSPENSÕES.
• Formas complementares: aerossoles.
Critério Galénico
IV GRUPO
• Formas farmacêuticas obtidas por dispersão
molecular
– 1. HIDRÓLEOS (soluções simples, macerados, digestos,
infusos e cozimentos).
– 2. SACARÓLEOS LÍQUIDOS (xaropes, melitos e
oximelitos)
– 3. ALCOÓLEOS (soluções simples, tinturas e alcoolaturas)
– 4. GLICERÓLEOS
– 5. ETERÓLEOS
– 6. ENÓLEOS
– 7. OLEÓLEOS
– 8. SOLUÇÕES COM OUTROS DISSOLVENTES
Critério Galénico
V GRUPO
• Formas farmacêuticas obtidas por dissolução e
evaporação.
– 1. EXTRACTOS
VI GRUPO
• Formas farmacêuticas obtidas por destilação
– 1. HIDROLATOS
– 2. ALCOOLATOS
Critério Galénico
VII GRUPO
• Formas farmacêuticas obtidas por operações complexas ou
múltiplas
– 1. PARA APLICAÇÃO NA PELE (pomadas, cremes, pastas
dérmicas, cerotos, unguentos, glicerados, linimentos,
loções, sabões, emplastros, cataplasmas, sinapismos e
preparações transdérmicas, preparações para uso
auricular).
– 2. PARA APLICAÇÃO NAS MUCOSAS (colírios, nasoformas,
supositórios, óvulos, velas, lápis e irrigações).
– 3. PARA USO PARENTERAL (soluções, suspensões e
emulsões injectáveis).
CRITÉRIO GALÉNICO
(Segundo Brojo)
1 FORMAS FARMACÊUTICAS DE APLICAÇÃO ORAL:
•
1.1. Formas sólidas (pós, granulados, cápsulas,
comprimidos, pastilhas),
• 1.2 Formas líquidas
– 1.2.1. Soluções aquosas
– 1.2.2. Formas complementares das soluções aquosas
(limonadas, mucilagens, sucos, tisanas, xaropes, melitos,
poções).
– 1.2.3. Soluções alcoólicas
– 1.2.4. Formas complementares das soluções alcoólicas
(tinturas, alcoolaturas, elixires).
– 1.2.5. Suspensões farmacêuticas.
– 1.2.6. Emulsões farmacêuticas
Critério Galénico
2. FORMAS FARMACÊUTICAS PARA APLICAÇÃO
PARENTERAL (INJECTÁVEIS)
3. FORMAS FARMACÊUTICAS PARA APLICAÇÃO NAS
MUCOSAS
– Colírios, colutórios, gargarejos, gotas nasais, gotas
auriculares, pastas dentifrícas, supositórios, óvulos,
aerossoles.
4. FORMAS FARMACÊUTICAS PARA APLICAÇÃO CUTÂNEA
• Pomadas, cremes, geles, pastas, linimentos, loções,
cataplasmas, emplastros, esparadrapos.
5. FORMAS NÃO CLASSIFICÁVEIS QUANTO À APLICAÇÃO
– Extractos, hidrolatos, alcoolatos.
DEFINIÇÃO DAS FORMAS
FARMACÊUTICAS segundo Prista e col.
I GRUPO
Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica das
substâncias medicinais.
• 1. ESPÉCIES
Misturas de plantas secas, divididas em pequenos fragmentos
– 1.1. Cigarros medicinais
– Formados por folhas secas de plantas
medicinais, que se introduzem num invólucro
de papel, ao qual se dá a forma de cigarro.
• 2. PÓS
Preparações farmacêuticas constituídas por partículas sólidas, livres e
secas e mais ou menos finas.
– 2.1. Granulados
Constituídos por substâncias medicamentosas associadas a
açúcar, e/ou outros adjuvantes, apresentando-se formados por
pequenos grãos ou grânulos irregulares, cujo conjunto tem aspecto
homogéneo.
– 2.2. Comprimidos
Preparações farmacêuticas de consistência sólida, forma variada,
geralmente cilíndrica ou lenticular, obtidas agregando, por meio de
pressão, várias substâncias medicamentosas secas.
Podem ou não encontrar-se envolvidos por revestimentos
especiais, tomando, nesse caso, a designação de DRAGEIAS.
– 2.3. Pílulas
Preparações farmacêuticas de consistência firme,
sensivelmente esféricas, cujo peso é cerca de 20 centigramas e
que se destinam a serem deglutidas sem mastigar.
– 2.4. Grânulos
Preparações farmacêuticas semelhantes às pílulas, de peso
inferior ou igual a 50 centigramas.
– 2.5. Bolos
Preparações farmacêuticas semelhantes às pílulas, de peso
superior a 1 grama e inferior ou igual a 50 gramas, que se
destinam ao uso veterinário.
– 2.6. Biscoitos
Preparações farmacêuticas que têm por base açúcar e farinhas,
aos quais se adicionam substâncias medicamentosas.
– 2.7. Chocolates
Preparações farmacêuticas obtidas pela mistura de chocolate com
uma ou várias substâncias medicamentosas. Destinam-se a serem
ingeridos, podendo ou não serem mastigados.
– 2.8. Pastilhas
Preparações farmacêuticas de consistência sólida, destinadas a
dissolverem-se lentamente na boca, que são preparadas por
moldagem de uma massa plástica constituída por mucilagens e/ou
açúcar associados a princípios medicamentosos.
– 2.9. Lentículas
Pequenos discos de consistência firme, obtidos por moldagem,
destinados a serem deglutidos sem mastigar ou a serem utilizados na
preparação de soluções para uso hipodérmico.
– 2.10 Cápsulas
Preparações farmacêuticas constituídas por um invólucro de natureza,
forma e dimensões variadas, contendo substâncias medicinais sólidas,
pastosas ou líquidas.
• 3. POLPAS
Formas farmacêuticas de consistência mole, obtidas a partir de
plantas, de partes de plantas ou de órgãos animais, com
aproveitamento das zonas moles e carnudas e rejeição das partes
fibrosas ou duras das drogas utilizadas.
– 3.1. Conservas
Formas obtidas pela mistura de açúcar com substâncias
medicamentosas de origem vegetal.
– 3.2. Electuários
Formas farmacêuticas de consistência mole, constituídas
por misturas complexas de polpas, extractos, pós
vegetais, etc., que se agregam por intermédio de xaropes,
de mel, de melitos, etc.
MEDICAMENTOS TÓPICOS
1. ANTI-INFLAMATÓRIOS OU ANTI-FLOGÍSTICOS
•
São medicamentos tópicos que modificam
favoravelmente o estado inflamatório de uma região
do corpo.
•
Favorecem o desaparecimento dos edemas:
- por activação da circulação local;
- produzindo vasoconstrição na zona de aplicação ou
por coagulação das proteínas dos tecidos.
MEDICAMENTOS TÓPICOS
– 1.1 ADSTRINGENTES
• Provocam a constrição das superfícies mucosas,
pele, vasos sanguíneos ou tecidos diversos,
diminuindo as secreções e os corrimentos.
• Provocam vasoconstrição local e coagulação das
albuminas levando à absorção dos exsudados das
feridas e erupções cutâneas.
MEDICAMENTOS TÓPICOS
– 1.1 ADSTRINGENTES
• Exemplos:
- derivados metálicos. Ex. cloreto férrico, sulfato de cobre,
calamina, peróxido de zinco, óxido amarelo de mercúrio.
- Taninos ex. ácido tânico, taninos da hamamélia.
- Formas farmacêuticas: pomada de óxido amarelo de
mercúrio, pomada de óxido de zinco, pomadas e óvulos de
tanino.
• Também podem ser utilizados para estancar pequenas
hemorragias: estípticos (ex: metais e taninos) e como antiperspirantes e desodorizantes (ex: cloreto de alumínio).
MEDICAMENTOS TÓPICOS
– 1.2. EMOLIENTES
• São medicamentos que tornam os tecidos suaves e macios.
• Actuam por activação da circulação local provocando calor e
humidade. Ocorre um aumento das defesas leucocitárias e a
atenuação da dor devida à turgescência dos tecidos
inflamados.
• Exemplos: óleo de amêndoas doces, óleo de amendoim,
azeite neutro, silicones, óleos minerais: vaselina e parafina
líquida, gomas, mucilagens, glicerina, propilenoglicol.
– Demulcentes:
• Medicamentos de uso interno local que amolecem as
mucosas inflamadas do tracto digestivo e do aparelho
respiratório (Ex: leite, azeite, etc)
• 1.3. OUTROS ANTI-INFLAMATÓRIOS
– 1.3.1. DERIVADOS CORTICÓIDES TÓPICOS
Utilizados para o tratamento de eczemas e psoríase.
Exemplo: hidrocortisona, acetato de cortisona,
dexametasona, acetato de metilprednisolona.
1.3.2. ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES (AINEs)
– Inibem a síntese das prostaglandinas (mediadores principais
do processo inflamatório).
Exemplos: salicilatos, ácidos fenâmicos: niflúmico,
mefenâmico, profenos, etc.
• 2. REVULSIVOS, CONTRA-IRRITANTES OU
RESOLUTIVOS
Medicamentos que actuam por uma acção irritante local,
provocando uma chamada de sangue ao ponto de
aplicação com consequente hiperemia.
– 2.1. SUAVES OU RUBEFACIENTES
Provocam apenas hiperemia na zona de aplicação.
Usados no tratamento da bronquite, dores reumatismais, etc.
Exemplos: mostarda, terebentina, pimentão, cânfora, mentol,
amónia.
– 2.2. ENÉRGICOS OU VESICANTES
Originam secundariamente a formação de vesículas epidérmicas,
repletas de líquido de exsudação.
Utilizados para diminuir formas mais intensas de dor e
inflamação, por ex. pericardites, ciática, etc.
Exemplos: ácido acético, iodo.
3. QUERATOPLÁSTICOS
– Medicamentos que intensificam a queratinização dos
epitélios promovendo a regeneração da camada córnea
(stratum corneum) que corresponde à zona celular mais
externa da pele.
• 3.1. QUERATOPLÁSTICOS CELULARES
Actuam por estimulação da actividade das células do corpo
mucoso de Malpighi, originando uma renovação do epitélio até à
superfície, provocando a queratinização.
Exemplos: ácido pícrico, sudão IV ou vermelho de escarlate, ácido
salicílico < a 2%.
• 3.2. QUERATOPLÁSTICOS REDUTORES
Diminuem o consumo de oxigénio das células do epitélio pela
acção de compostos redutores, provocando a queratinização.
Exemplos: ictiol, alcatrão vegetal, alcatrão mineral ou coaltar.
MEDICAMENTOS TÓPICOS
– 4. QUERATOLÍTICOS
• Medicamentos capazes de dissolver as formações
queratínicas.
• Provocam desaparecimento de calosidades e cicatrizes.
• Exemplos: ácido salicílico em concentrações >2%
( concentrações 1-2% tem actividade queratoplástica), peróxido
de benzoílo, tripsina.
• Substâncias depilatórias. ex: sulfuretos de cálcio, de sódio e de
estrôncio, tioglicolato de cálcio.
– 5. CÁUSTICOS
• Medicamentos tópicos destinados a destruir ou corroer
determinadas porções de tecido.
• Exemplos: ácido azótico, fenol, podófilo ou podofilina, nitrato de
prata, nitrato de mercúrio, anidrido arsenioso.
MEDICAMENTOS TÓPICOS
• 6. PROTECTORES
– 6.1. PROTECTORES PARA USO INTERNO
• Compostos que não sofrem alteração química apreciável no
tubo digestivo e não são absorvidos sistemicamente.
• Compostos com propriedades absorventes ex: caulino
• Compostos capazes de reterem os gases ex. carvão
activado
• Compostos que formam uma película isolante e protectora
da mucosa gástrica e duodenal ex: subnitrato de bismuto.
• Silcones (dimeticone ou simeticone) auxiliam na expulsão
dos gases.
MEDICAMENTOS TÓPICOS
• 6. PROTECTORES
– 6.2. PROTECTORES PARA USO EXTERNO
• Aplicam-se externamente na pele e nas mucosas.
• Exemplos: talco, estearato de magnésio,
• Protectores solares: absorvem as radiações U.V. 280-310
nm, por ex: ácido para-aminobenzóico, paraaminobenzoatos, esculetina, metilesculetina etc.
• Substâncias que aumentam ou diminuem a pigmentação da
pele.
MEDICAMENTOS TÓPICOS
– 7. ANTI-SÉPTICOS E PARASITICIDAS
– ANTI-SÉPTICOS: Destroem bactérias e fungos ou inibem a sua
proliferação nas mucosas, pele, couro cabeludo, unhas, etc.
– Exemplos: tetraciclinas, neomicina, bacitracina, cloranfenicol,
ácido undecilénico, miconazol, clotrimazol
– PARASITICIDAS
– Anti-escabióticos
– ex: benzoato de benzilo, enxofre.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
FÁRMACO
Absorção a partir do sítio
de aplicação
Administração Directa
PLASMA
Tecidos
Alvo
Tecidos
Activos
Tecidos
Indiferentes
Emunctórios
ex: cérebro
ex:fígado
ex:gorduras
ex:bile
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
Actividade terapêutica
Ø Molécula activa
Ø Organismos
Ø Forma e fórmula farmacêutica
L
A
D
M
E
Libertação Absorção Distribuição Metabolização Eliminação
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
Há três fases fundamentais do princípio activo no organismo
FASE
FARMACODINÂMICA
FASE
BIOFARMACÊUTICA
FASE
FARMACOCINÉTICA
FASE BIOFARMACÊUTICA– corresponde à libertação do princípio activo a partir da
forma farmacêutica
LIBERTAÇÃO –BIODISPONIBILIDADE
Apetência de libertação de um
conjunto que veicula o p.a.
Responsável pela resposta
biológica
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
DISSOLUÇÃO DOS FÁRMACOS
Equação de Noyes-Whitney modificada
Velocidade
de
dissolução
dc
= KS(Cs − C)
dt
6 P
S= ×
D d
D: diâmetro da partícula.
P: peso
d: densidade
P/d: Volume ocupado pelo sólido.
•
S: Área do sólido
•
K: Constante dependente da agitação e do coeficiente de difusão do
sólido
C: Concentração da substância no solvente, no tempo t
Cs: Concentração da substância na zona de difusão que rodeia a parte
não dissolvida. Na prática é o coeficiente de solubilidade.
•
•
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
RELAÇÕES ENTRE FASE FARMACOCINÉTICA E
FARMACODINÂMICA
FÁRMACO
FARMACOCINÉTICA
• Vias de administração
• Absorção
• Distribuição
• Biotransformação
• Eliminação
ORGANISMO
FARMACODINÂMICA
• Local de acção
• Mecanismo de acção
• Efeitos
Concentração no local do receptor
Dose da fármaco
administrada
ABSORÇÃO
Concentração do fármaco na
DISTRIBUIÇÃO
Corrente sanguínea
Fármaco nos tecidos
de distribuição
ELIMINAÇÃO
METABOLIZAÇÃO
Concentração do fármaco
no local de acção
FARMACOCINÉTICA
Fármaco metabolizado
ou excretado
Efeito farmacológico
Resposta clínica
Toxicidade
Eficácia
FARMACODINÂMICA
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
ABSORÇÃO
-­‐ factores relacionados com o indivíduo ü Vascularização do local
ü Superfície de absorção
ü Permeabilidade capilar/membranas
biológicas
-­‐ factores relacionados com o medicamento ü Excipientes
ü Processo de fabrico
ü Tamanho de partícula
ü Lipossolubilidade
ü Peso molecular
ü Grau de ionização
ü Concentração
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
DISTRIBUIÇÃO
ü P r o p r i e d a d e s
fisico-químicas da substância
(hidrossolubilidade e lipossolubilidade, grau de ionização)
ü Nível de proteínas plasmáticas
ü Maior ou menor grau de vascularização de determinadas
áreas do organismo
ü Composição aquosa e lipídica dos orgãos e tecidos
ü Capacidade de biotransformação do organismo
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
METABOLISMO OU BIOTRANSFORMAÇÃO
ü Transformações por via enzimática dos fármacos.
ü Enzimas metabolizadoras: citocromo P450, MAO, estearases, desidrogenases, amidases,
etc.
ü Ocorre principalmente a nível hepático.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
ELIMINAÇÃO
A eliminação de fármacos do organismo ocorre normalmente após a
metabolização por excrecção através dos órgãos emunctórios, com
predominância renal.
A remoção de um fármaco do organismo é quantificada pela clearance ou
depuração, que é expresso como o volume do plasma do qual o fármaco é
completamente eliminado por unidade de tempo (ex. ml/min)
** Cuidados com interações medicamentosas:
• A amiodarona, cuja [ ] hepática é ↑ (1000 x a [ ] do plasma), inibe a clearance
hepática de muitos outros fármacos;
• cuidados especiais com cimetidina, propanolol, lidocaína etc.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
ELIMINAÇÃO
ü O s fármacos são, na sua maioria,
removidos do corpo através da urina, na
forma inalterada ou como metabolitos
polares (ionizados).
ü As substâncias lipofílicas (apolares) são
mais dificilmente eliminadas pelo rim.
ü O s f á r m a c o s l i p o f í l i c o s s ã o
metabolizados, para originar produtos mais
polares, que são, então, mais facilmente
excretados na urina.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
TEMPO DE SEMI-VIDA
t1 / 2 =
0, 693
Ke
IDP
Ke =
Vd
ÍNDICE DE DEPURAÇÃO PLASMÁTICA (IDP) ("CLEARANCE")
VOLUME DE PLASMA QUE, NUM MINUTO, SE LIBERTA DA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA EXCRETADA NO MESMO TEMPO.
IDP = Ke × Vd
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
VOLUME APARENTE DE DISTRIBUIÇÃO
VAD =
Dose
Concentração Plasmática
Volume aparente do corpo humano, acessível ao fármaco, uma vez
que não se considera a quantidade de fármaco existente, no
momento da determinação, no tracto gastro-intestinal e na bexiga.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
• BIODISPONIBILIDADE MEDICAMENTOSA
(conceito lato)
Capacidade com que um fármaco, veiculado em determinado
medicamento, desempenha as suas acções, sejam elas
meramente superficiais (tópicas ou locais) ou envolvam
absorção, com subsequente distribuição, metabolização e
eliminação.
• Segundo a Food and Drug Administration
A biodisponibilidade caracteriza-se pela quantidade de
fármaco que alcança a corrente circulatória bem como
pela velocidade a que se realiza o processo.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
BIODISPONIBILIDADE
Ø É a fracção do fármaco administrado que atinge a circulação
sanguínea quimicamente inalterada.
Ø Quantidade de fármaco disponível no organismo para utilização.
Ø Absorção adequada não garante biodisponibilidade, pois alguns
fármacos podem serem biotransformados, no fígado, antes de
atingirem a circulação geral. (Metabolismo de primeira passagem).
Ø Influencia: Resposta clínica, escolha de doses e vias de
administração.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
BIODISPONIBILIDADE
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
BIOEQUIVALÊNCIA
No caso de administração oral, dependendo de como o
o medicamento é produzido (processo, excipientes,
etc), a fracção absorvida (biodisponibilidade, AUC) e a
velocidade com que isto ocorre (Cmax e Tmax) podem
diferir acentuadamente em relação a unidades
posológicas que contem a mesma quantidade de PA.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
BIOEQUIVALÊNCIA
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
BIOEQUIVALÊNCIA
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
BIOEQUIVALÊNCIA
Ø P ara ajuste da dose é importante ter conhecimento da Biodisponibilidade, Cmax e Tmax, etc, do PA no medicamento. Ø Por exemplo, os genéricos devem sofrer estes estudos para determinar se são bioequivalentes aos medicamentos de referência. Ø É fundamental também que as caracterísJcas do medicamento relacionadas com a absorção do PA sejam consistentes entre diferentes lotes do mesmo produto. MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
A VELOCIDADE E EXTENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DEPENDEM
ü Fluxo
sanguíneo dos tecidos;
ü CaracterísJcas das membranas de transporte; ü Propriedades >sico-­‐químicas dos fármacos; ü Ligação a proteínas plasmáJcas. MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
MEMBRANAS SEMI-PERMEÁVEIS DO ORGANISMO
Natureza lipoproteica:
ü Colesterol
ü Fosfolípidos
ü Triglicerídeos
ü Ácidos gordos
ü Proteínas
As membranas apresentam três características fundamentais:
1. Pequena tensão superficial
2. São atravessadas principalmente por substâncias dotadas de
lipossolubilidade
3. Alta resistência eléctrica.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
TRANSPORTE DOS FÁRMACOS ATRAVÉS DAS
MEMBRANAS BIOLÓGICAS
1. Transporte passivo (ou difusão passiva)
2. Transporte activo
3. Difusão facilitada
4. Pinocitose
5. Fagocitose
Co ncentração
elevada
Sol vente
M embrana
permeável
Co ncentração
bai xa
Sol vente
TRANSPORTE DOS FÁRMACOS ATRAVÉS DAS
MEMBRANAS BIOLÓGICAS
TRANSPORTE DOS FÁRMACOS ATRAVÉS DAS
MEMBRANAS BIOLÓGICAS
BARREIRA HEMATO-ENCEFÁLICA
§ Separação funcional entre o cérebro e o
resto do organismo
§ Consiste numa camada contínua de
células endoteliais unidas por zonas de
oclusão.
§ Capilares sanguíneos cerebrais são menos
permeáveis do que outros capilares dos
corpo
§ Torna o cérebro inacessível a muitos
fármacos de acção sistémica
TRANSPORTE DOS FÁRMACOS ATRAVÉS DAS
MEMBRANAS BIOLÓGICAS
Os pés da glia, rodeiam os
capilares ( pés dos astrócitos),
fazendo parte da BHE.
Os capilares cerebrais não
possuem as aberturas que
estão presentes nos capilares
normais.
Possuem no entanto mais
mitocôndrias, que fornecem
energia aos sistemas de
transporte.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS DOS FÁRMACOS
A penetrabilidade dos fármacos através das membranas
biológicas depende:
a. Da solubilidade dos fármacos, mais propriamente do coeficiente de partilha
óleo/água dos fármacos (o poder de penetração aumenta à medida que cresce a
lipossolubilidade em relação à hidrossolubilidade das substâncias).
b. Do peso molecular, quando as substâncias são insolúveis nos lípidos,
(substâncias de baixo peso molecular como a água e a ureia, são dotadas de
excelente penetrabilidade).
c. Do coeficiente de ionização: pKa
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICA DOS FÁRMACOS
1. Solubilidade: fármacos lipossolúveis atravessam FACILMENTE a membrana citoplasmáJca e quanto MAIOR a taxa de difusão MAIOR é a velocidade de distribuição. Fármacos
Lipossolúveis
2. Peso molecular: fármacos polares e de alto peso molecular
DIFICILMENTE atravessam a membrana citoplasmática e a
velocidade de distribuição é limitada pela taxa de difusão.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICA DOS FÁRMACOS
3. Coeficiente de ionização
Mucosa gástrica – pH 1
Mucosa intestinal – pH 5
Tecido
Mucosa
gástrica
pH
1
α (%)
0,0005
Mucosa
intestinal
5
4,7
Plasma
Tecido
inflamado
7,4
5
92,6
4,7
Plasma – pH 7,4
PIROXICAM
Anti-inflamatório
pKa = 6,3
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
LIGAÇÃO ÀS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS
FÁRMACO
Forma Ligada
AlfaGlicoproteína
Ácida
Forma Livre
ALBUMINA
Lipoproteínas e
Proteínas das Membranas
Eritrócitos
Leucócitos Plaquetas
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
LIGAÇÃO ÀS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS
Fármaco
Livre
Com acção
farmacológica
+
Proteína
Complexo
Fármaco-Proteína
Farmacologicamente
Inerte
Ø A soma da FORMA LIGADA com a FORMA LIVRE é igual a 1.
Ø Quando a FORMA LIVRE for MENOR que 10%, a intensidade de efeito será
MENOR e a duração, MAIOR.
Ø Individuos que tomam fármacos que se ligam às proteínas plasmáticas devem
fazer monitorizações regulares do fármaco.Ex: Se a ligação protéica de um fármaco é
98% e sofre uma redução para 96%, então sua fração livre duplicará de 2% para 4%.
D o se de f ármaco
M E D I CA M E N TO =
Pri ncípo act iv o
+ ex cipient e
+ tecnol ogia
Kr
L I B E R TA Ç Ã O
D i spersão sól ida
do pri ncípio acti vo
KD
D I SSO L U Ç Ã O
D i spersão mol ecul ar
do pri ncípo act iv o
Ka
D esi nt egração da
f o rma f ar macêut ica
D i ssol ução
FA SE
B IOFA RM AC ÊU TIC A
A BSO RÇ ÃO
D I STR IB U IÇ ÃO
M ETA BO L IZA ÇÃ O FA SE
FA RM AC OCI N ÉTIC A
EL IM IN AÇ ÃO
I nt er acção f ármaco /recept or
A B SO R Ç Ã O
E F E IT O
FA SE
FA RM AC OD I N ÂM IC A
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
BIODISPONIBILIDADE DEPENDE
1. Factores fisiológicos
Ø
A maioria dos fármacos são absorvidos por difusão passiva,
segundo a lei de Fick.
Ø
Influência do pH do meio: ácidos ou bases fracos podem ser
melhor ou pior absorvidos consoante a ionização.
Ø
Outros processos de absorção dos fármacos: transporte activo,
transporte facilitado, pinocitose, fagocitose.
Ø
Via de administração escolhida.
Ø
Estado fisiológico do local.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
BIODISPONIBILIDADE DEPENDE
2. Factores físico-químicos
•
Natureza da forma em que se encontra o fármaco:
– as formas L são mais activas do que as D ou os racematos.
– moléculas muito volumosas com alta hidrofilia e baixo coeficiente de partilha
O/A não podem ser administrados por via oral pois são degradados pelos
sucos digestivos, por exemplo, insulina, aminoglicosídeos.
– tetraciclinas + cálcio (leite) = atrasos na absorção.
– formação de complexos tornando os fármacos mais hidrossolúveis
•
Estado físico do fármaco
– Quanto menores as partículas maior a biodisponibiliade. O raio das
partículas e a viscosidade do sistema medicamentoso influenciam
negativamente na difusão.
– Estado físico dos fármacos ex: agulhas, placas, esferas, romboedros ou
amorfos.
MEDICAMENTOS DE ACÇÃO GERAL
BIODISPONIBILIDADE DEPENDE
3. Factores Farmacotécnicos
• Carga eléctrica do fármaco e a sua tendência para a complexação
com materiais inertes de carga oposta.
• Reacções químicas com excipientes e adjuvantes
• Viscosidade antes e após diluição nos sucos digestivos, etc.
• Fixação por adsorção em recipientes plásticos ou em borrachas.
Vias de Administração de Medicamentos TÓPICA ou LOCAL
ENTERAL E f e i t o l o c a l ; o medicamento é aplicado directamente no local de acção Efeito sistémico (não-­‐local); recebe-­‐se o medicamento via tracto digesJvo PARENTERAL Efeito sistémico; recebe-­‐se o medicamento por outra via que não pelo tracto digesJvo. Injectável Não-­‐Injectável Vias de Administração de Medicamentos TÓPICA ou LOCAL
ü aplicação sobre a pele: -­‐ Anestésicos locais ü Aplicação sobre as mucosas: -­‐ Inalatórios: asma -­‐ Gotas okálmicas -­‐ Sprays nasais -­‐ etc ENTERAL ü Via oral ou per os ü Sublingual ü Rectal -­‐ MUCOSAS � Faringe � Traqueopulmonar � Genitourinária � ConjunJva � Bucal � Gástrica � IntesJnal � Rectal Vias de Administração de Medicamentos PARENTERAL Injectável � Intravenosa: na veia; vários fármacos � Intradérmica: na pele; testes a alergenos � Subcutânea: sob a pele; insulina � Intramuscular: no músculo; vacinas, etc � Intrarraquídea:: nas meninges � Intrapleural: na pleura � Intraperitoneal: no peritoneu � Intra-­‐arterial: na artéria; tratamento embolias � Etc Não-­‐Injectável �Transdérmica (difusão através da pele intacta), p. ex. emplastro para terapia da dor � Inalatório, p. ex. inalação de anestésicos gerais Vias de Administração de medicamentos ADMINISTRAÇÃO CUTÂNEA ü Obtenção de uma acção tópica ou sistémica. ü Sistemas transdérmicos: proporcionam uma excelente penetração da pele por vários fármacos, os quais são absorvidos sistemicamente (ex. coronariodilatadores, hormonas (THS), emplastros,etc) Vias de Administração de medicamentos ü Estrutura Histologia da pele ü duas camadas tecidulares disJntas: epiderme (epitélio pavimentoso estraJficado) e a derme (tecido conjunJvo denso). •
Temos ainda: – Na parte mais externa da epiderme – inducto gorduroso (ácidos gordos, colesterol livre e esterificado, glicerídeos, escaleno, ..) – Ligado à derme – camada de tecido laxo subcutâneo, habitualmente rica em tecido adiposo, a qual é designada por hipoderme. – Por toda a super>cie temos os apêndices cutâneos, como os folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. •
O pH da pele oscila entre 5,5 e 7 (ácido lácJco/lactato, ácidos dicarboxílicos e ácidos gordos das glândulas sebáceas e elementos ácidos da queraJna). Histologia da pele
ADMINISTRAÇÃO CUTÂNEA Principais barreiras a atravessar -­‐ Camada córnea com a película lipídica -­‐ Epiderme Circulação sanguínea
A espessura da camada córnea é menor a nível da invaginação
correspondente á bainha do pêlo e na base do folículo
ADMINISTRAÇÃO CUTÂNEA Classificação das preparações quanto ao grau de penetração cutânea: -­‐ Epidérmicas (cam. superf.) -­‐ Endodérmicas (cam. inf.) -­‐ Diadérmicas (cam. int.) Preparações farmacêuCcas: Pomadas propriamente ditas, cremes, geles, pastas, emplastros, cataplasmas, loções, linimentos, sistemas transérmicos. Histologia da pele
1 – Infundíbulo piloso – ponto de
menor resistência da superfície
cutânea
2 – Conduto de excreção do sebo
3 – Colo da glândula sebácea
4 – Glândula sebácea
5 – Passagem transfolicular (2, 3, 4)
6 – Passagem transepidérmica (em
regra a penetração é menor do que
em 2)
ADMINISTRAÇÃO CUTÂNEA Factores que afectam a absorção medicamentosa 1 -­‐ Solubilidade em lípidos (poder intrínseco de absorção cutânea) – piribenzamida – base melhor absorvida que a forma de cloridrato 2 -­‐ Hidratação do tegumento cutâneo QueraJna higroscópica → difusão de água das camada inferiores → evaporação para a atmosfera Oclusão – Acção da forma farmacêutica
Água
Livre
Ureia
Coacervatos
Solvente polar – compostos ionizáveis
Veículo – Natureza animal ≥ natureza vegetal ≥ natureza mineral
Lanolina; banha
Azeite, óleos diversos
Vaselina, parafina
Excipientes hidrosolúveis – associação a detergentes
ADMINISTRAÇÃO AURICULAR • Considerada em conjunto com a administração cutânea, uma vez que o canal audiJvo é revesJdo por pele. • DesJnada à obtenção de um efeito tópico (acção local) PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS -­‐ Soluções -­‐ Suspensões -­‐ Pós -­‐ Aerossoles ADMINISTRAÇÃO AURICULAR MEDICAMENTOS MAIS COMUNS
Removedores do cerúmen (ex. H2O2 5-10V, óleo de
amêndoas doces), anti-infecciosos (ex. cloranfenicol,
tetraciclinas), anti-inflamatórios, analgésicos.
ADMINISTRAÇÃO POR VIA BUCAL - Acção tópica
– Gargarejos, colutórios, comprimidos ou pastilhas tópicas bucais,
antissépticos, desinfectantes, desodorizantes, adstringentes.
- Acção sistémica (absorção através das mucosas).
Via sublingual ou perlingual
®
Veias linguais
®
Jugular externa
®
Os fármacos absorvidos pela via sublingual
passam directamente para a circulação geral,
sem passarem pelo fígado.
A administração de medicamentos por esta via
deve fazer-se antes das refeições (salivação
reduzida, irrigação). As formas farmacêuticas
usadas não devem conter edulcorantes.
Dissolução lenta ou rápida
Absorção sublingual ADMINISTRAÇÃO POR VIA GASTRINTESTINAL ( per os) –
–
–
–
•
Mais correntemente usada. Acções tópica, local e geral. Os medicamentos vão seguir um circuito semelhante ao dos alimentos. Boca — (esófago) — estômago — intesJno delgado -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ intesJno grosso. Absorção: – Estômago – IntesCno delgado Estômago • Não está adaptado fisiologicamente à absorção de fármacos. No entanto, alguns são capazes de ser absorvidos a parJr da mucosa estomacal ex: aspirina, cafeína, anJpirina. • Alcalóides + bicarbonato de sódio — melhor absorção no estômago. • Pretende-­‐se que o fármaco permaneça o mínimo tempo possível no estômago – mais rápida acção e menor inacJvação –
–
–
–
–
Ingestão de apreciáveis volumes de líquido favorece o esvaziamento gástrico Paruculas ténues Soluções de baixa pressão osmóJca (menos concentradas) Acidez gástrica Decúbitos sobre o lado direito (evitam refluxo) 1. Passagem para o tubo digesJvo pelo esófago. 2. Dissolução do medicamento em pequenas paruculas. 3. Absorção, que pode ter lugar a nível do estômago, mas que se leva a cabo principalmente no intesJno.Uma vez absorvido a nível da circulação sanguínea o fármaco circula através do corpo e penetra nos diferentes tecidos. O metabolismo dos fármacos leva-­‐se a cabo principalmente no >gado. IntesCno delgado • Fisiologicamente adaptado à absorção (grande vascularização, vilosidades, válvulas coniventes) • Zona duodeno jejunal (mais propícia à absorção) • Secreções:-­‐ pancreáJcas (tripsina, amilase, lipase) -­‐ bilis (sais biliares) -­‐ suco intesJnal ADMINISTRAÇÃO POR VIA GASTRINTESTINAL ( per os) Formas gastro-­‐resistentes: -­‐ UJlizam-­‐se quando o ataque ao medicamento no estômago (pH 1-­‐3,5, pepsina) conduz à sua destruição. -­‐ Quando os medicamento é agressivo para a mucosa gástrica. VANTAGENS DA VIA GASTRINTESTINAL ü É a via mais aceitável pelos doentes ü É a via mais natural, menos complicada, mais cómoda, mais segura e mais económica. ü A distribuição do fármaco é lenta, evitando-­‐se a ocorrência de níveis sanguíneos elevados de uma forma rápida. ü Possibilidade do uso de lavagem gástrica, em caso de intoxicação. ADMINISTRAÇÃO POR VIA GASTRINTESTINAL ( per os) DESVANTAGENS DA VIA GASTRINTESTINAL q Possibilidade de irritação da mucosa gástrica. q Variação da taxa de absorção –
–
–
–
–
moJlidade gastrointesJnal tamanho das paruculas e formulação factores fisico-­‐químicos interacção com outros medicamentos /ou alimentos destruição de alguns fármacos moJvada pela acção das enzimas digesJvas ou do pH q Efeito de primeira passagem ADMINISTRAÇÃO POR VIA GASTRINTESTINAL ( per os) FORMAS FARMACÊUTICAS (VIA GASTRINTESTINAL): -­‐ Líquidas, sólidas e pastosas. FORMAS FARMACÊUTICAS DE LIBERTAÇÃO CONTROLADA A velocidade de absorção do fármaco depende, em parte, da sua velocidade de dissolução nos líquidos gastrintesJnais. VANTAGENS DAS F.F. DE LIBERTAÇÃO CONTROLADA: -­‐ Redução na frequência de administração, -­‐ Maior adesão à terapêuJca por parte do doente, -­‐ Manutenção do efeito terapêuJco durante a noite, -­‐ Menor incidência de efeitos indesejáveis. ADMINISTRAÇÃO RECTAL •
•
•
•
Acção tópica e acção geral (ex. barbitúricos, anJbióJcos, anJ-­‐tússicos). ConsJtui uma boa via de administração. pH da ampola rectal: 6,8 -­‐ 7,2. Sangue drenado pelas veias hemorroidais: -­‐ Superiores: drenam para a veia porta hepáJca. -­‐ Médias e inferiores: drenam directamente para a veia cava inferior. VANTAGENS DA VIA RECTAL: • Passagem de uma certa quanJdade de fármaco directamente à circulação geral, escapando à biotransformação hepáJca; • O fármaco não sofre transformações químicas devido aos sucos digesJvos, ADMINISTRAÇÃO RECTAL • Possibilidade de administração de produtos mal suportados pela via oral ( preparações com mau cheiro, mau sabor, irritantes gástricas), • Facilidade de administração (pediatria, geriatria), • SubsJtuição da via parentérica, quando a administração oral está contra-­‐
indicada ou é inacessível. FACTORES DOMINANTES NA ABSORÇÃO DE FÁRMACOS POR VIA RECTAL • São os mesmos que regulam a absorção por outras mucosas: -­‐ Coeficiente de parJlha O/A da forma não ionizada da molécula, -­‐ Grau de ionização. ADMINISTRAÇÃO RECTAL ACÇÃO TÓPICA § A administração rectal pode também servir para esJmular o reflexo da defecação (por acção irritante sobre a mucosa) (ex. supositórios de glicerina-­‐gelaJnada). § Pode desJnar-­‐se também à aplicação tópica de medicamentos, regra geral, anJ-­‐inflamatórios (quer esteróides, quer adstringentes). ADMINISTRAÇÃO NASAL • Administração fácil. • Acção tópica e acção geral. • Grande vascularização da mucosa, logo, consJtui uma boa via de absorção de fármacos e, em parJcular de hormonas proteicas. • A absorção nasal processa-­‐se nos mesmos moldes que a absorção por outras mucosas. • A via nasal é preferentemente uJlizada para a administração tópica de medicamentos anJ-­‐infeciosos, vasoconstrictores, anJcongesJvos. ADMINISTRAÇÃO NASAL PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO NASAL
- Soluções aquosas (gotas e aerossoles),
- Soluções oleosas,
- Pomadas.
ADMINISTRAÇÃO TRAQUEOPULMONAR •
•
Administração medicamentosa: -­‐ Traqueia -­‐ Brônquios -­‐ Epitélio alvéolo-­‐pulmonar. Acção tópica (broncodilatadores) e acção geral (anestésicos gerais). •
As mucosas traqueal e brônquica e o epitélio alveolar são facilmente permeáveis, permiJndo a absorção de compostos voláteis ou de dispersões de sólidos ou de líquidos numa fase gasosa (aerossoles). •
Os fármacos absorvidos por esta via escapam à barreira hepáJca. ADMINISTRAÇÃO TRAQUEOPULMONAR • A principal vantagem desta via é a de permiJr a aplicação tópica de agentes farmacológicos em determinadas zonas do tracto respiratório. • A passagem pelas vias respiratórias e o local aJngido dependem do diâmetro das paruculas dispersas. MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS POR VIA TRAQUEOPULMONAR Anestésicos gerais voláteis, anJasmáJcos, anJ-­‐infeciosos, etc. ADMINISTRAÇÃO TRAQUEOPULMONAR ADMINISTRAÇÃO OCULAR • Medicamentos administrados na região ocular: -­‐ Soluções aquosas, -­‐ Soluções oleosas, -­‐ Suspensões, -­‐ Pomadas. COLÍRIO • Qualquer preparação farmacêuJca que se aplique na mucosa ocular. • A maioria dos autores reservam o termo para as preparações líquidas, denominando pomadas okálmicas os colírios pastosos. ADMINISTRAÇÃO OCULAR NOVOS SISTEMAS TERAPÊUTICOS OFTÁLMICOS Formas farmacêuJcas preparadas para a obtenção de uma libertação regular das substâncias medicamentosas, permiJndo uma acção terapêuJca constante e prolongada. AS F.F. PARA A ADMINISTRAÇÃO OCULAR DEVEM SER: 1. Estéreis, 2. pH próximo da neutralidade, 3. Isotónicas ADMINISTRAÇÃO OCULAR Ø A administração por via ocular é geralmente uJlizada para a obtenção de efeitos tópicos. Ø As preparações geralmente incluem fármacos com acções anJ-­‐inflamatórias, mióJcas, midriáJcas, anestésicas locais, vasoconstrictoras, vasodilatadoras, anJ-­‐infeciosos, etc. Ø Os fármacos podem ser absorvidos principalmente, pelos vasos da conjunJva. ADMINISTRAÇÃO GENITOURINÁRIA Administração através da uretra, bexiga, vagina e útero. Bexiga e uretra: ü São formações desJnadas à excreção, as suas mucosas são fisiologicamente inadaptadas à absorção; ü São uJlizadas para a administração de medicamentos tópicos; ü Caso haja inflamação da mucosa pode ocorrer acidentalmente absorção; ü As velas medicamentosas consJtuem uma forma farmacêuJca desJnada a desenvolver uma acção tópica, geralmente anJ-­‐infecciosa, na uretra. ADMINISTRAÇÃO GENITOURINÁRIA Vagina: ü A mucosa vaginal apresenta alguma capacidade de absorção, permiJndo aos fármacos absorvidos escapar à barreira hepáJca. ü Geralmente a mucosa vaginal desJna-­‐se à aplicação de medicamentos (óvulos, comprimidos e pomadas) de acção local (ex. adstringentes, cicatrizantes, queratoplásJcos, etc.) ADMINISTRAÇÃO GENITOURINÁRIA Útero: ü Devido à sua elevada vascularização pode permiJr uma absorção medicamentosa acidental ou propositada. ü Nos períodos pós-­‐parto e pós-­‐menstrual a capacidade de absorção pelo útero encontra-­‐se incrementada. ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL • Administração injectável. • Acção geral. • Fármacos directamente na corrente sanguínea:VIA ENDOVENOSA • Outras vias de administração parenteral: -­‐intramuscular -­‐ subcutânea -­‐ intradérmica -­‐ etc. ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL REQUISITOS FUNDAMENTAIS: 1. Esterilidade 2. pH 3. Tonicidade 4. Apirogenia. VANTAGENS DA VIA INJECTÁVEL Ø Promovem um efeito rápido e preciso do medicamento. Ø AlternaJva à via oral quando esta está obstruída ou interdita. INCONVENIENTES Ø Necessita de um técnico habilitado para promover a administração, Ø É dolorosa Ø Pode promover a destruição dos tecidos quando a administração é repeJda. ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA ENDOVENOSA OU INTRAVENOSA v O fármaco é lançado de um modo imediato e preciso através de uma veia na circulação sanguínea. v Não há possibilidade de retroceder após a administração. v Necessidade de acção imediata do medicamento; v Necessidade de injectar grandes volumes – hidratação v Introdução de substâncias irritantes de tecidos v Colheita de sangue para análises ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA ENDOVENOSA OU INTRAVENOSA ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA ENDOVENOSA OU INTRAVENOSA
PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS I.V. Ø Não oleosos Preparações aquosas, geralmente sob a forma de solução Suspensões aquosas Emulsões O/A Ø Não deve conter cristais visíveis em suspensão Ø As partículas apresentam diâmetros < a 7 µm (geralmente de 1- 2 µm)
Ø Volumes de líquido injectados: 1 a 1000 ml
- Injectáveis de pequeno volume e de grande volume.
Ø Só são utilizadas em casos extremos.
ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA SUBCUTÂNEA OU HIPODÉRMICA Ø Os medicamentos são administrados debaixo da pele, no tecido subcutâneo. Ø Os fármacos não devem ser irritantes para a mucosa (não devem produzir dor, necrose, descamação). Ø Usada para administração de vacinas (anJ-­‐varicela e anJ-­‐sarampo), anJcoagulantes (heparina) e hipoglicemiantes (insulina) Ø A velocidade de absorção lenta — efeito prolongado. Ø Medicamentos líquidos ou sólidos (pellets). Ø Volumes administrados: 0,3 a 1ml. ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA SUBCUTÂNEA OU HIPODÉRMICA Locais onde há mais acumulação de gordura nos homens e nas mulheres ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA SUBCUTÂNEA OU HIPODÉRMICA COMPLICAÇÕES DAS INJECÇÕES SUB-­‐CUTÂNEAS Ø infecções inespecíficas ou abcessos Ø formação de tecido fibróJco Ø embolias -­‐ por lesão de vasos e uso de fármacos oleosos ou em suspensão Ø lesão de nervos Ø úlceras ou necrose de tecidos Ø fenómeno de Arthus -­‐ formação de nódulos devido injecções repeJdas no mesmo local ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA INTRADÉRMICA ü Via muito restrita ü Pequenos volumes -­‐ de 0,1 a 0,5 mililitros ü Usada para reacções de hipersensibilidade ü Provada tuberculina ü Teste de sensibilidade de algumas alergias ü aplicação de BCG (vacina contra tuberculose) -­‐ na inserção inferior do músculo deltóide -­‐ uso mundial ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA INTRADÉRMICA Ø Local mais apropriado: face anterior do antebraço pele glabra pouca pigmentação pouca vascularização fácil acesso para leitura ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA INTRAMUSCULAR
ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA INTRAMUSCULAR
Ø O medicamento é injectado num músculo. Ø Músculo escolhido (nádega, coxa, espádua) –
–
–
–
deve ser bem desenvolvido ter facilidade de acesso não possuir vasos de grande calibre, mas deve ser bem vascularizado não ter nervos superficiais no seu trajecto Ø Via muito uJlizada, devido absorção rápida Ø Medicamentos líquidos: -­‐ Soluções aquosas ou oleosas, -­‐ Suspensões aquosas ou oleosas, -­‐ Emulsões O/A ou A/O Ø Volumes administrados: 1-­‐ 5 ml (nunca deve ultrapassar os 10ml). ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA INTRAMUSCULAR
Volume injectado -­‐ depende da estrutura muscular região deltóide -­‐ de 2 a 3 mililitros região glútea -­‐ de 4 a 5 mililitros músculo da coxa -­‐ de 3 a 4 mililitros ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA INTRA-­‐ARTERIAL -­‐ O medicamento é administrado numa artéria (subclávia ou femural) -­‐ Exige grande experiência por parte de quem procede à administração. -­‐ Usada fundamentalmente para a administração de agentes de contraste radiológico (arteriografia). ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA INTRARRAQUÍDEA
Ø Injecção do medicamento no canal raquidiano: -­‐ Via subaracnoidea ou intratecal, -­‐ Via epidural ou peridural. Ø JusJfica-­‐se esta via pela di>cil passagem de fármacos para o tecido nervoso (barreira hemato-­‐encefálica). Preparações farmacêuCcas Soluções aquosas (não podem conter conservantes). ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA SUBARACNOIDEA OU INTRATECAL v Espaço subaracnoideo. v Líquido céfalo-­‐raquidiano (LCR): * Volume: 80-­‐150 ml * Límpido, incolor * pH: 7,14 a 7,50 * Ligeiramente mais viscoso que a água *Pressão entre 4,15 mmHg a 15 mmHg * Composição: proteínas, ureia, ácido úrico, creaCna, glucose e sais minerais. ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA SUBARACNOIDEA OU INTRATECAL v A espinal medula termina sensivelmente, ao nível da primeira vértebra lombar, transportando-­‐se num filamento muito estreito ("filum terminale") v A injecção é efectuada na zona correspondente ao 2º, 3º e 4º espaço intervertebral. v Volume aquoso injectado no espaço subaracnoideo deverá ser inferior a 10 ml. ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA EPIDURAL OU PERIDURAL v O espaço epidural ou peridural localiza-­‐se entre a dura-­‐máter e a parede do canal raquidiano. v Menos perigosa que a via intratecal. v Usada em regra, para anestesia dos membros inferiores e da pequena bacia (RAQUIANESTESIA) v Volumes usados: 20 a 30 ml. ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA EPIDURAL OU PERIDURAL ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA INTRAPERITONEAL
ü Peritoneu: membrana serosa que recobre as paredes da cavidade abdominal e os órgãos nela conJdos. Área de 22 000 cm2. ü O medicamento é injectado na cavidade peritoneal. ü A absorção processa-­‐se por via linfáJca e sanguínea. ü Via pouco uJlizada em medicina humana. ü Usada correntemente em medicina experimental para avaliar a toxicidade, a imunogenicidade e o efeito farmacológico dos fármacos em animais. ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL VIA INTRAPLEURAL
Ø Pleura: Membrana serosa que , em cada hemitorax reveste o pulmão e a parede torácica. As duas pleuras são independentes contactando entre si apenas numa pequena extensão retro-­‐
esternal. Ø A injecção de um medicamento na cavidade pleural promove uma rápida absorção dos fármacos. Peritoneu Pleura-­‐1