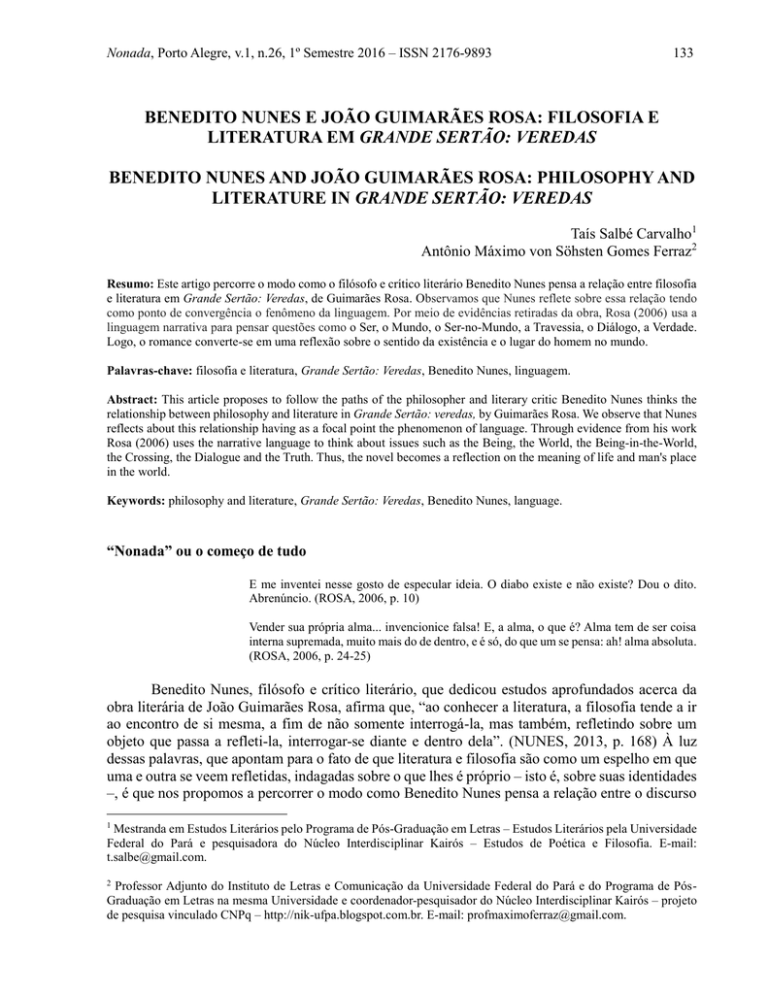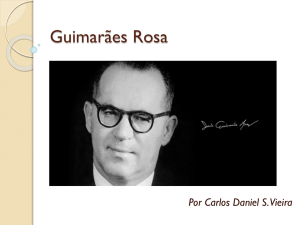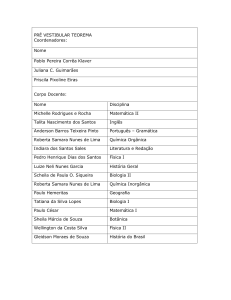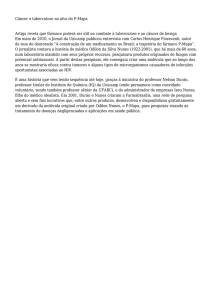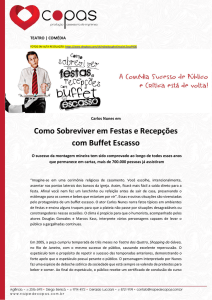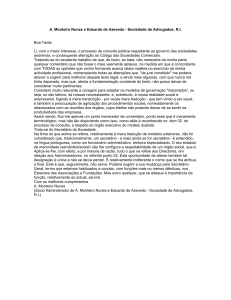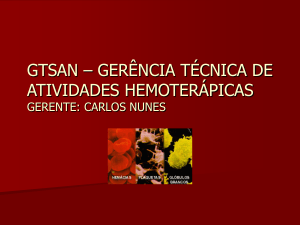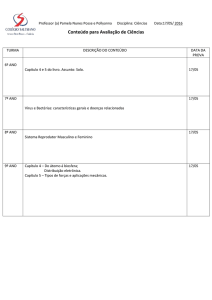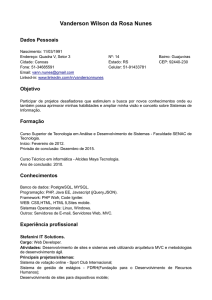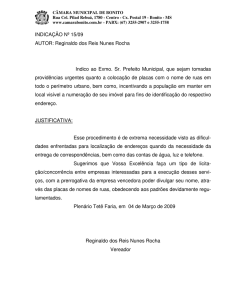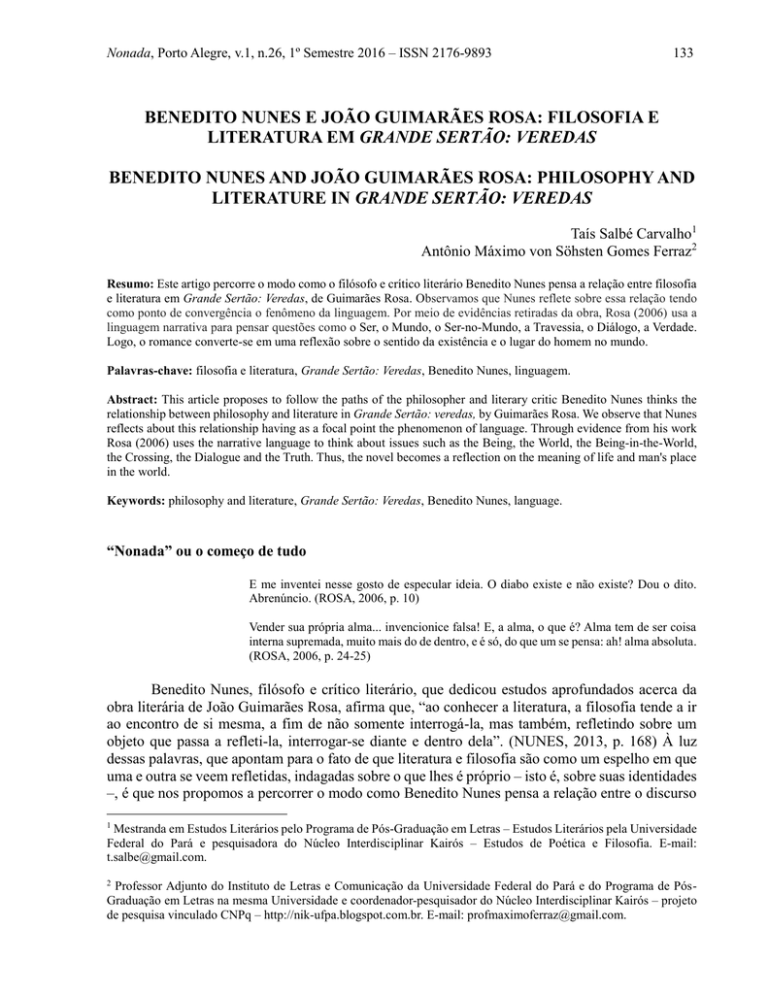
Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893
133
BENEDITO NUNES E JOÃO GUIMARÃES ROSA: FILOSOFIA E
LITERATURA EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS
BENEDITO NUNES AND JOÃO GUIMARÃES ROSA: PHILOSOPHY AND
LITERATURE IN GRANDE SERTÃO: VEREDAS
Taís Salbé Carvalho1
Antônio Máximo von Söhsten Gomes Ferraz2
Resumo: Este artigo percorre o modo como o filósofo e crítico literário Benedito Nunes pensa a relação entre filosofia
e literatura em Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Observamos que Nunes reflete sobre essa relação tendo
como ponto de convergência o fenômeno da linguagem. Por meio de evidências retiradas da obra, Rosa (2006) usa a
linguagem narrativa para pensar questões como o Ser, o Mundo, o Ser-no-Mundo, a Travessia, o Diálogo, a Verdade.
Logo, o romance converte-se em uma reflexão sobre o sentido da existência e o lugar do homem no mundo.
Palavras-chave: filosofia e literatura, Grande Sertão: Veredas, Benedito Nunes, linguagem.
Abstract: This article proposes to follow the paths of the philosopher and literary critic Benedito Nunes thinks the
relationship between philosophy and literature in Grande Sertão: veredas, by Guimarães Rosa. We observe that Nunes
reflects about this relationship having as a focal point the phenomenon of language. Through evidence from his work
Rosa (2006) uses the narrative language to think about issues such as the Being, the World, the Being-in-the-World,
the Crossing, the Dialogue and the Truth. Thus, the novel becomes a reflection on the meaning of life and man's place
in the world.
Keywords: philosophy and literature, Grande Sertão: Veredas, Benedito Nunes, language.
“Nonada” ou o começo de tudo
E me inventei nesse gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito.
Abrenúncio. (ROSA, 2006, p. 10)
Vender sua própria alma... invencionice falsa! E, a alma, o que é? Alma tem de ser coisa
interna supremada, muito mais do de dentro, e é só, do que um se pensa: ah! alma absoluta.
(ROSA, 2006, p. 24-25)
Benedito Nunes, filósofo e crítico literário, que dedicou estudos aprofundados acerca da
obra literária de João Guimarães Rosa, afirma que, “ao conhecer a literatura, a filosofia tende a ir
ao encontro de si mesma, a fim de não somente interrogá-la, mas também, refletindo sobre um
objeto que passa a refleti-la, interrogar-se diante e dentro dela”. (NUNES, 2013, p. 168) À luz
dessas palavras, que apontam para o fato de que literatura e filosofia são como um espelho em que
uma e outra se veem refletidas, indagadas sobre o que lhes é próprio – isto é, sobre suas identidades
–, é que nos propomos a percorrer o modo como Benedito Nunes pensa a relação entre o discurso
Mestranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários pela Universidade
Federal do Pará e pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar Kairós – Estudos de Poética e Filosofia. E-mail:
[email protected].
1
2
Professor Adjunto do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará e do Programa de PósGraduação em Letras na mesma Universidade e coordenador-pesquisador do Núcleo Interdisciplinar Kairós – projeto
de pesquisa vinculado CNPq – http://nik-ufpa.blogspot.com.br. E-mail: [email protected].
Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893
134
filosófico e literário na obra Grande Sertão: Veredas (2006). Centraremo-nos, dentro da totalidade
do romance, ao fazer o referido percurso, na travessia existencial realizada por Riobaldo,
personagem principal da obra.
Ao discorrer sobre o encontro entre filosofia e literatura, Nunes o faz tendo como ponto de
convergência a linguagem. Ele diz que essa relação só se fez possível no momento em que, nos
estudos da filosofia, a linguagem passou ao primeiro plano da reflexão – o que, segundo o autor, já
acontecia nos estudos de Nietzsche –, descobrindo-se, com isso, o solo metafórico da filosofia,
podendo-se, assim, indagar se ela, a filosofia, não é um tipo de literatura. A partir disso, Nunes diz
que:
A filosofia é reflexão crítica abrangente, que se sabe condicionada a estruturas verbais da
língua, a metáforas e aos mecanismos retóricos do discurso. Antes de ser intuição poética
à luz dos conceitos, o diálogo da alma consigo mesma, que foi como Platão entendeu o
pensamento, a reflexão filosófica é um discurso encadeado de palavras. Marcadas por
irredutíveis diferenças, a filosofia e a literatura relacionam-se através da linguagem, como
elemento comum do pensamento de que ambas participam. (NUNES, 2013, p. 171)
Victor Sales Pinheiro, na apresentação do livro A Rosa o que é de Rosa (2013), no qual
organizou todos os ensaios críticos de Benedito Nunes acerca da obra Grande Sertão: Veredas,
também reflete sobre o encontro entre filosofia e literatura, entre Benedito Nunes e Guimarães
Rosa:
Quando um escritor encontra um crítico capaz de acompanhá-lo na densidade literária de
sua obra ficcional, descortina-se uma nova camada de leitura, onde a linguagem e o
pensamento se encontram na confluência poética das palavras. A riqueza da obra de
Guimarães Rosa reside sobretudo no sofisticado trabalho com a linguagem, com que a
refinou plasticamente, recriando-a em seu estado nascente. (...) Um autor dessa magnitude
convoca uma leitura reflexiva, igualmente poética, capaz de penetrar na sua complexidade
estrutural, para poder compreender o projeto literário que o anima. (PINHEIRO, 2013, p.
7-8)
Contudo, Nunes afirma que, para fazer uma reflexão filosófica acerca de uma obra literária,
o crítico deve sempre colocar o objeto de interpretação sob a multiplicidade dos nexos que o
sustentam, ou seja, uma obra literária não deve ser enxergada de forma hermética, não deve ser
encerrada em apenas uma possibilidade de pensamento filosófico. No encontro entre filosofia e
literatura, a função da primeira, segundo Nunes, “talvez seja a de trazer à consideração, sob a forma
de um não apenas isto, mas também aquilo, a cláusula do ideal da inclusividade. Mas dado que
inclusividade não quer dizer compreensão totalizada e exaustiva”. (NUNES, 2013, p. 147)
Emmanuel Carneiro Leão nos diz que, etimologicamente, a palavra “crítica” deriva do
verbo grego krinein, “cujo primeiro sentido é ‘separar para distinguir’ o que há de característico e
constitutivo (...), remontando à ordem dos fundamentos constituintes e por isso elevando-se a uma
ordem superior, à originária” (LEÃO, 1977, p. 164). O que há de originário em uma obra – a sua
fonte sempre a jorrar, a atravessar as épocas – são as questões que manifesta, e que jamais se
encerram em conceitos. Assim entendida, a crítica é escuta das questões que a arte põe em obra.
Crítica como escuta significa, aqui, o deixar-se tomar pelo que a obra diz, a sua fala, sem a
imposição de categorias filosóficas ou de qualquer outro domínio sobre o fenômeno artístico. É,
portanto, com base num exercício da crítica como escuta que pretendemos articular nosso
pensamento e mostrar como Benedito Nunes conjugou, no diálogo com a obra de Guimarães Rosa,
as dimensões da literatura e da filosofia.
Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893
135
Dito isso, Nunes aconselha que, ao fazer a abordagem filosófica da literatura, considerada
como forma, a reflexão deveria voltar-se a alguns pontos que, segundo o autor, são primordiais
para a escuta de questões que se colocam com a obra, a saber: a linguagem; as conexões da obra
com as linhas de pensamento histórico-filosófico; e a instância de questionamento que a forma
representa, “em função de ideias problemáticas, isto é, de ideias que são problemas do e para o
pensamento”. (NUNES, 2013, p. 147)
Com base no que foi exposto até o momento, faz-se necessário deixar claro que, dialogando
com Nunes, todas as questões que serão trazidas à luz neste trabalho acerca de Grande Sertão:
Veredas vão ao encontro de uma reflexão sobre a forma e o pensamento expostos por Guimarães
Rosa no referido romance, partindo dos pontos referidos no parágrafo anterior, principalmente no
que diz respeito à linguagem.
O que interessa da literatura à filosofia
Pelo que compreendermos ser a filosofia – a saber, o estudo de questões originárias
relacionadas, por exemplo, ao Ser, ao Mundo, ao Ser-no-Mundo, ao Diálogo, à Existência, ao
Conhecimento, à Verdade, ao Pensamento, e, também, à Linguagem –, no momento do diálogo
com Nunes e outros referenciais teóricos, podemos dizer que a filosofia, desde o seu surgimento,
nunca esteve afastada da poesia, no caso aqui, da literatura. Diz Nunes:
A filosofia terá conquistado sua primeira identidade graças à polêmica espelhada nos
diálogos platônicos, com que discrimina a poesia (…). Na filosofia moderna, prosperou,
depois de Kant, o interesse filosófico pela poesia e pela arte. Interesse cognoscitivo pela
poesia como meio de conhecimento, que o neokantismo aprofundou (...), quando o
Romantismo já concebera a associação entre o filosófico e o poético. (NUNES, 1999, p.
13)
Dentro desta perspectiva reflexiva, Nunes pensará a linguagem como, acima de tudo, um
discurso, na acepção da experiência grega do lógos – que seria não só o falar uns com os outros
sobre algo, mas o movimentar-se dentro do lógos, isto é, das questões que a obra manifesta. A
própria composição da palavra diálogo nos diz isso: dentro (diá) do lógos. A literatura é um convite
a adentrarmos nas questões que se põem em obra. Nunes dialoga com muitos pensadores, mas com
um estabelece uma relação muito estreita: Heidegger. Este nos fala do diálogo em uma dimensão
ontológica, ao citar uma colocação de Friedrich Hölderlin: “Do momento em que somos um
diálogo e podemos ouvir-nos uns aos outros (...)”. (HEIDEGGER, 2013, p. 224)3 No vigor do
diálogo como escuta, Nunes repousa o seu pensamento crítico, como via de abertura para o modo
como o homem se relaciona com o mundo e na forma em que os homens relacionam-se entre si, o
que se manifesta na arte. Em consonância com a concepção heideggeriana de poesia como
3
Esta obra reúne seis ensaios do filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976), escritos entre 1936 e 1968. Para
Heidegger, a arte é um assunto importante. Se o páthos característico do filósofo é o estranhamento e a recusa da
sabedoria convencional, então o pensamento não radica o homem na sua época e lugar. Por isso, poesia e pensamento
sempre diferirão. A poesia é, no sentido que Heidegger dá a estes termos, fundadora de um lar histórico para os povos
– como em Homero e todos os grandes poetas. A poesia de Hölderlin mostra ao homem moderno a sua época e lugar
como sendo aqueles do qual os deuses fugiram. Uma poesia que anuncia o retiro dos deuses para outra esfera, enquanto
os homens permanecem mergulhados na noite da indigência, não parece oferecer grandes perspectivas de uma
retomada do papel histórico da arte. As explicações da poesia de Hölderlin são motivadas pela crença que esse papel
persiste, mesmo quando dormente, do mesmo modo como a poesia de Hölderlin foi, durante muito tempo, quase
secreta. Por um lado, a poesia tem por tarefa anunciar o lançamento do homem moderno na ausência de destino. Por
outro, ele canta o vínculo, ainda não completamente partido, que une os deuses, os homens, a terra e o céu.
Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893
136
fundação do que permanece, diz Nunes: “Porque podemos falar e porque falando dialogamos,
temos a capacidade de dicção poética, de dizer aquilo que permanece, de fundá-lo, portanto, pela
palavra – mas já a palavra posta fora do circuito verbal da comunicação cotidiana”. (NUNES, 2012,
p. 39) Heidegger nos aponta a relação estreita da linguagem com o homem, em seu ser:
O homem fala. Falamos quando acordados e em sonho. Falamos continuamente. Falamos
mesmo quando não deixamos soar nenhuma palavra. (...) Falamos porque falar nos é
natural. Falar não provém de uma vontade especial. Costuma-se dizer que por natureza o
homem possui linguagem. (...) Enquanto aquele que fala, o homem é: homem. (...) A
linguagem pertence, em todo caso, à vizinhança mais próxima do humano. A linguagem
encontra-se por toda parte. Não é, portanto, de admirar que, tão logo o homem faça uma
ideia do que se acha ao seu redor, ele encontre imediatamente também a linguagem, de
maneira a determiná-la numa perspectiva condizente com o que a partir dela se mostra.
(HEIDEGGER, 2012, p. 7)
Neste diapasão, Nunes refletirá sobre a forma plural da escrita de Guimarães Rosa, tentando
desvelar o que faz a linguagem de Grande Sertão: Veredas ser tão peculiar, garantindo-lhe um
poder verbal extremamente explosivo. O autor, para tentar explicar tal poder, dialoga com Mary L.
Daniel (1968, p. 138), quando a autora afirma que a construção narrativa de Guimarães Rosa se dá
por meio de estruturas da narrativa oral, e que talvez esteja aí a grande peculiaridade do romance,
pois esta oralidade deve ser pensada como “oralidade ficta”, conforme a concepção de Walnice
Nogueira Galvão4. Tal aspecto do romance traduz tanto um afastamento em relação às tradições da
escrita romanesca, quanto um recuo para o “estilo que já constitui o índice da mimese da linguagem
em que se opera o romance”. (NUNES, 2013, p. 148)
Hem? Hem? Ah. Figuração minha, de pior pra trás, as certas lembranças. Mal haja-me!
Sofro pena de contar não... Melhor, se arrepare: pois, num chão, e com igual formato de
ramos e folhas, não dá mandioca mansa, que se come comum, e a mandioca-brava, que
mata? Agora, o senhor já viu uma estranhez? A mandioca doce pode de repente virar
azangada – motivos não sei; às vezes se diz que é por replantada no terreno sempre, com
mudas seguidas, de manaíbas – vai em amargando, de tanto em tanto, de si mesma toma
peçonhas. E, ora veja: a outra, a mandioca-brava, também é que às vezes pode ficar mansa,
a esmo, de se comer sem nenhum mal. E que é isso? (ROSA, 2006, p. 11)
Podemos perceber, no trecho acima, no qual Riobaldo, conversando com o seu interlocutor,
reflete sobre os diferentes tipos de mandioca e relaciona este fato à existência de pessoas boas e
ruins, que a conversa se estrutura com base nas formas orais da narrativa. Nunes nos dirá que
Grande Sertão: Veredas é um romance polimórfico, em que as formas heterogêneas que foram a
ele incorporadas, a partir do efeito de recuo que o nível da oralidade da narrativa indica, estão da
direção de uma atividade preliminar formadora, pensada a partir da tradição clássica dos romances
medievais.5
4
A autora reflete sobre este tipo de oralidade criada a partir de modelos orais e com base na palavra escrita. (GALVÃO,
1972, p. 70)
5
Para esta reflexão, Nunes repousa seu pensamento sobre o trabalho da linguagem, termo cunhado por André Jolles,
em que as formas simples do romance são divididas em: a Lenda e a Saga; O Mito e a Adivinhação (Charada ou
Enigma); o Caso e a Sentença; O Canto e o Memorial. E detalha algumas dessas formas simples que aparecem em
Grande Sertão: Veredas, com o intuito de desvelar na obra os traços que a aproximam da tradição clássica do Romance
arcaico, aquele romance de busca e de demanda, ao mesmo tempo em que mistura traços do moderno Romance de
introspecção.
Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893
137
Tudo o que é criado, fabricado e interpretado é denominado pela linguagem. Mas a própria
linguagem, diz Jolles6, é criação, fabricação e interpretação, na medida em que ela ordena.
É para este trabalho nativo da poiesis que se volta a mimese em Grande Sertão: Veredas,
quando incorpora, entre as suas formas heterogêneas, alguma das chamadas formas
simples, literalmente pré-históricas, isto é, anteriores à história da literatura, mas nela
incidindo, na medida em que serviram de suporte ao desenvolvimento das eruditas. O
Caso (Kausu), a Adivinha ou Enigma (Ratsel) e a Sentença (Spruch) estão disseminados
na forma do romance de Guimarães Rosa”. (NUNES, 2013, p. 148-149)
Entretanto, Guimarães Rosa não se vale somente das formas simples do romance arcaico.
Segundo Nunes, Rosa inserirá dentro da narrativa, distendendo cada uma das etapas das formas
simples, outra forma de romance, a saber: a do moderno romance de introspecção. E é neste
momento em que a filosofia mais se aproxima da literatura, visto que a demanda de Riobaldo, na
figura do cavaleiro-jagunço da epopeia do sertão, passa “ao plano reflexivo do relato em primeira
pessoa, autobiográfico, que se volta para a ação consumada a fim de questionar-lhe o sentido”.
(NUNES, 2013, p. 182)
Travessia poética pela linguagem
Em Grande Sertão: Veredas, é por meio da linguagem – do diálogo com o interlocutor e do
autodiálogo –, que Riobaldo percorre as questões que se dão a ver no momento da travessia de seu
sertão. Contando a sua história a um interlocutor-narratário –, que, para nós leitores, não está
identificado por nome –, é que o jagunço se joga no abismo do não-saber para ir em busca de si
mesmo. Riobaldo doa-se às questões, ao mesmo tempo, lançando-as a outro, o citado interlocutor
(que, de certo modo, somos nós, os leitores). Os leitores recebem as questões, as transformam –
pois também estão lançados no abismo do questionar-se –, e as oferece de volta ao mundo, em um
movimento circular e infinito do sagrado, entendido como doação das questões que estão na origem
do homem enquanto ser questionante.
O homem não faz nem dispõe das questões como objetos: ele está dentro delas, são elas que
o disponibilizam. Por isso, elas são doação de uma instância que, por não poder ser objetivada, nos
excede. Na ação das questões, dá-se o acontecer poético, na acepção clássica grega de poiésis, a
qual se refere à retração do Ser na manifestação dos entes, ou, dito de outro modo, o movimento
das questões que, quanto mais se desvelam, mais se velam, convidando-nos a sermos tomados pelo
empuxo dessa retração.
Na perspectiva do acontecer das questões, percebe-se que é também pela linguagem que se
dá o caminho para o entendimento da relação que acontece entre filosofia e literatura em Grande
Sertão: Veredas; ela, a linguagem, segundo Benedito Nunes, funciona como elemento comum do
pensamento em que ambas transitam. Seria, então, “um enraizamento nas palavras e com as
palavras”. Nunes questiona-se: o que pode a filosofia conhecer da literatura? E ele mesmo
responde: “Tudo quanto interessa à elucidação do poético, inerente à linguagem, e, portanto, tudo
quanto se refere à simbolização do real nesse domínio”. (NUNES, 2013, p. 169) Essa reposta do
crítico-filósofo repousa em sua acepção de que não existe um método filosófico específico e
hermético para se fazer interpretação de uma obra literária, “em concorrência com os da Teoria da
Literatura, que assentam, contudo, em pressupostos filosóficos, quaisquer que sejam os campos
científicos de que se originam”. (NUNES, 2013, p. 169)
6
Jolles (1968, p. 16).
Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893
138
E é com rigor na construção da sua linguagem literária, fazendo relacionar literatura e
filosofia, que Guimarães Rosa constrói o seu Grande Sertão: Veredas, e faz com que o personagem
principal do romance, o jagunço Riobaldo, parta em uma aventura por meio das palavras e dos
questionamentos do “quem das coisas” – para utilizar uma expressão do próprio Rosa, em Carade-Bronze (1956) –, a fim de chegar ao entendimento de sua própria existência e do humano.
Eu sei que isto que estou dizendo é dificultoso, muito entrançado. Mas o senhor vai avante.
Invejo é a instrução que o senhor tem. Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E
estou contando não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente.
Queria entender do medo e da coragem, e da gã que empurra a gente para fazer tantos atos,
dar corpo ao suceder. (ROSA, 2016, p. 100)
Observamos, porém, que a narração de Riobaldo se direciona menos pelo objetivo de
relembrar, como o faz o narrador de Thomas Mann, em A Montanha Mágica (1980), do que como
meio de compreender sua existência, ou seja a “ação escorregada e aflita, sem sustância narrável”
(ROSA, 2006, p. 136), pela qual caminha o Ser. Riobaldo faz a travessia do sertão para se entender,
questionando-se a todo momento, e perguntando sobre o “quem das coisas”, sobre a existência de
Deus e do Diabo, sobre o porquê de estar ali e dos seus atos.
De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando
difícil de difícil, peixe vivo no moquém: quem mói no asp’ro, não fantasêia. Mas, agora,
feita a folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de range rede. E me inventei
neste gosto, de especular ideia. O diabo existe ou não existe? Dou o dito. Abrenúncio.
Essas melancolias. O senhor vê: existe cachoeira; e pois? Mas cachoeira é barranco de
chão, é água se caindo por ele, retombando; o senhor consome essa água, ou desfaz o
barranco, sobre a cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso... (ROSA, 2006, p.
10)
Pensando a literatura como o pôr em obra de questões, Nunes aproxima duas grandes obras
literárias – A Divina Comédia e Grande Sertão: Veredas –, no que tange ao sentido da escrita.
Dante, em carta7 enviada ao seu protetor, o senhor Can Grande della Scala, disse que sua obra não
tinha sentido simples. Pelo contrário, podiam até chamá-la de polissêmica, com mais de um
significado; e que o primeiro significado se forja no que se tem na própria letra, e o outro, de que
emana o seu sentido, está contido daquilo que se diz pela letra. O primeiro, ele chamou de literal,
o segundo, de alegórico ou místico. A partir dessa reflexão, disse Nunes que o sentido alegórico,
em Grande Sertão: Veredas, desdobrar-se-ia numa espécie de “significação anagógica8,
propriamente mística, proposta ao leitor”. (NUNES, 2013, p. 181)
7
ALIGHIERI, Dante. Epístola. Obras Completas, vol. X. São Paulo: Editora das Américas, p. 170. *Nunes (2013) não
refere o ano de publicação desta edição e, em pesquisas bibliográficas, não se pode ter certeza de qual edição se refere
Benedito Nunes para a construção do ensaio, visto que existem várias edições publicadas em anos diferentes.
8
Segundo E-dicionário de Termos Literários, o termo “anagógico” significa a forma de hermenêutica dos textos
sagrados que permite apreender o seu sentido místico. Tradicionalmente, a hermenêutica bíblica possui quatro níveis
de interpretação, por ordem crescente: o literal, o alegórico, o moral e o anagógico. A obra dos autores clássicos como
Virgílio e Dante, por exemplo, foram objecto de interpretações anagógicas. No caso de Virgílio, os exegetas medievais
souberam ler nos seus versos um sentido místico que traduzia a esperança do regresso de Cristo à Terra. Jerusalém foi
interpretada em todos os sentidos: literalmente, como cidade santa; alegoricamente como a imagem da Igreja;
moralmente como o símbolo dos crentes; e anagogicamente como a Cidade de Deus. Disponível em:
http://www.edtl.com.pt/business-directory/6605/anagogia.
Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893
139
Dentro desta consonância de pensamento, Nunes afirmará que o próprio Guimarães Rosa
trabalharia como um filósofo. Mas, neste caso, o filósofo que alegoriza é, antes de tudo, um
pensador-poeta trabalhando como romancista.
Enquanto o pensador-poeta desce até às palavras para construir o solo metafórico do
Sertão (...), o romancista articula a história do jagunço Riobaldo, por este mesmo contada,
numa estrutura meândrica, labiríntica, que envolve, também, formas diferentes de
romance, das quais extraiu esquemas característicos para construir a forma complexa
inconfundível de sua obra. (NUNES, 2013, p. 181)
Convite à travessia pelo sertão
Para conseguirmos avançar no diálogo que propomos, se faz necessário relembrarmos o
enredo de Grande Sertão: Veredas. O romance inicia com Riobaldo narrando sua história, por meio
de uma estrutura labiríntica, que acompanha o vai-e-vem de um relato, uma conversa que, a nós,
nos parece um pouco lacônica, espaçada, “um puro reconto articulado sob o ritmo de impostação
oral”. (NUNES, 2013, p. 186) Esta narração se dirige a um interlocutor que o escuta e não fala,
mas consegue marcar sua interferência de forma silenciosa e descontínua, mediante perguntas que
tacitamente se projetam na fala de Riobaldo, quando este narra suas aventuras. Este personagemnarratário, que não sabemos quem é, segundo Nunes, cristaliza o espaço do intercurso dialogal
dentro do romance, e a todo tempo é referido por meio de chamamentos do tipo: “olhe... senhor
pergunte..., o senhor vê... explico ao senhor... o senhor ouvia... eu lhe dizia... o senhor mire e
veja...”. (NUNES, 2013, p. 187)
Tendo isto em vista, podemos perceber que a narração de Riobaldo se faz nada mais do que
por um processo reflexivo, recordatório e interrogatório sobre a existência do Ser e das coisas.
Trata-se de reviver a memória, esta no sentido mais hermenêutico de “lembrar para compreender”.
Esse nos parece o meio que Riobaldo encontra para chegar ao fundo de si mesmo, o que o leva ao
dúbio conhecimento do que foi e daquilo que se tornou, em meio ao vago discernimento do que
poderia ter sido: “Para poder matar o Hermógenes era que eu tinha conhecido Diadorim, e gostado
dele, e seguido essas malaventuranças, por toda a parte?” (ROSA, 2006, p. 541).
Para Nunes, a lembrança, no romance, se transforma em reminiscência, em recordação
obscura por meio da qual, paradoxalmente, se pode ver com clareza o que de fato importa – a
verdade das coisas, a sua essência, o seu originário. E, de acordo com Heidegger, o “originário
significa aquilo a partir de onde e através do que algo é o que ele é e como ele é. A isto o que algo
é, como ele é, chamamos de sua essência”. (HEIDEGGER, 2010, p. 35) E esta verdade originária,
ou seja, o des-velar autovelante das coisas, segundo uma perspectiva heideggeriana, só pode ser
conseguida por meio da doação para o recebimento feito pelo Ser do ente (o Ser das coisas, algo
que não se define, mas que move o perguntar dos homens e sua autoprocura). Esta doação se dá no
momento em que o homem se abre para receber as questões que lhe chegam, sendo esta abertura
um movimento de dis-puta entre o des-velar (a clareira) e o velar, ou seja, no pólemos entre Terra
e Mundo, entendendo este pólemos não como uma representação metafísica de guerra, mas como
o movimento cíclico da alétheia (desvelamento), a verdade em grego.
Porque a verdade é a mútua oposição de clareira e velamento, por isso, lhe pertence aquilo
que aqui é denominado a dis-posição. Porém, antes, a verdade não existe em si em algum
lugar nas estrelas, para então posteriormente acomodar-se em outro lugar, no sendo. Isso
é já impossível, pelo fato de que somente a abertura do ente dá a possibilidade de algum
lugar e de um lugar cheio de presença. Clareira da abertura e dis-posição no aberto se co-
Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893
140
pertencem. Elas são a mesma e a única essência do acontecer da verdade. (HEIDEGGER,
2010, p. 157)
A verdade, pensada como alétheia, é mais do que a adequação do juízo verdadeiro ao objeto
representado no discurso. Ela é o próprio manifestar das coisas que, ao se desvelarem, ao se
manifestarem no tempo, velam o que realmente são. Este velamento é o próprio movimento das
questões se dirigindo ao homem, e convertendo, ele próprio, em questão para si mesmo. Todo o
processo reflexivo de Riobaldo em busca da sua essência se faz por meio de grandes aventuras pelo
sertão, em que o jagunço irá deparar-se com as questões referentes ao seu Ser no mundo. Estas
aventuras se convertem em acontecimentos épicos – as grandes batalhas entre os jagunços dos
bandos de Zé Bebelo e Joca Ramiro. A construção da narrativa, como já referido, se dá na junção
do romance moderno, que se baseia no alto grau introspectivo-reflexivo, com o romance de
demanda – divido em três partes, a saber: a jornada ou viagem perigosa (agon), entremeada de
peripécias menores; uma luta mortal (pathos) contra Hermógenes, o inimigo perigoso, em que o
herói também pode sucumbir; e o reconhecimento (agnosiris) final da missão realizada pelo herói.
E será este percurso de grandes aventuras, de perigosa travessia dentro do sertão – convertido no
“ser tão”, na procura do ser pleno –, que Riobaldo, personagem-narrador, segundo Nunes, guarda
na sua memória, e tenta contar ao seu interlocutor, de um modo um tanto nebuloso, o suposto pacto
que fez com o demônio.
A interrogação de Riobaldo sobre a existência do Diabo, e consequentemente sobre a
possibilidade de ter sido pactário, é a pergunta acerca do Destino, isto é, a pergunta em
torno da predeterminação ou da liberdade de sua existência. “Digo ao senhor: tudo é pacto.
Todo caminho da gente é resvaloso. Mas, também, cair não prejudica demais – a gente
levanta, a gente sobe, a gente volta! Deus resvala? Mire e veja. Tenho medo? Não. Estou
dando batalha. É preciso negar que o ‘Que-Diga’ existe”. (NUNES, 2013, p. 185-186)
A procura de Riobaldo é a do sentido de suas ações, uma hermenêutica existencial em que
se interrogar sobre seu ser possui uma relação íntima com a questão da verdade e da ética. A
verdade deixa de se opor ao falso e se mostra como processo de desvelamento do sentido. A ética
é resgatada em seu sentido grego, anterior à instância de reflexão sobre o moral, e se revela como
morada (éthos) nas questões. O mal (o diabo) não existe. O que existe é o enraizamento do homem
nas questões: “O diabo não há! É o que eu digo, se for... Existe é homem humano. Travessia”
(ROSA, 2006). Esse é o supremo penhor do empenho do homem em sua travessia existencial:
procurar-se, sabendo-se uma doação da poiésis, a ação do Ser em retração, o que nos converte em
questões para nós mesmos. Ou, como dito por Hölderlin, “poeticamente o homem habita”
(HEIDEGGER, 2006, p. 165) esta Terra. Poesia e filosofia se encontram no pensamento das
questões e se manifestam em uma obra que, como apontado por Benedito Nunes, mercê da
linguagem em que é composta, ultrapassa a mera reprodução da realidade, ou mesmo um caráter
estritamente regional: o sertão, como disse Rosa, está em toda parte, o sertão está dentro da gente.
Considerações finais
Como conclusão deste diálogo crítico a que nos propomos no presente artigo, sem, contudo,
fecharmos para outras discussões a respeito da questão central colocada aqui, a saber, a relação
entre filosofia e literatura em Grande Sertão: Veredas, observamos que durante todo o exercício de
crítica como escuta, Benedito Nunes, em constante diálogo com os vários caminhos possíveis tanto
dos estudos literários quanto da filosofia, em especial com o Heidegger de Ser e Tempo, faz uma
Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893
141
discussão mística, filosófica e literária acerca da obra de Rosa, repousando seu pensamento na
questão da linguagem, apontando para o fato de que, na maioria das vezes, os poetas e os
pensadores falam do Ser. Contudo,
seria preciso auscultar as palavras, ouvir o que elas dizem poeticamente. Num romance
que seja poético, elas poderão dizer da articulação do mundo, da existência e da
temporalidade, propondo-nos o termo limite, mostrado e não demonstrado, de questões
fundamentais que Walter Benjamin chamou de ideal do problema.9 (NUNES, 2013, p.
173)
Para o filósofo e crítico literário, o foco de sua leitura de Grande Sertão: Veredas teve como
objetivo fazer uma aproximação hermenêutica em busca do ideal do problema – termo que utiliza
em diálogo com a concepção de Walter Benjamin – que consiste na
ideia de uma verdade que sendo da própria obra como tal, é não um mero problema
filosófico extrínseco e avulso por ela levantado, mas a intrínseca verdade que prenuncia,
a verdade que por si só constitui, ainda que como interrogação expressa não se formule, e
independentemente de sua prévia aliança com o discurso característico da filosofia, uma
instância de questionamento. (NUNES, 2013, p. 173)
E, para tal, o pensamento de Nunes repousa em evidências presentes na própria obra,
apontando que Guimarães Rosa usa a linguagem narrativa para fazer questionamentos filosóficos
em torno da existência humana. Nunes afirma até existirem alguns proveitos que o jagunço
Riobaldo espera tirar com aquele com quem dialoga. O autor afirma que a versão escrita do relato
de Riobaldo, ou seja, a essência textual do narrado, funciona “como repensamento em forma de
letra que o subtraia do entrançado dos acontecimentos e da contingência dos atos que lhe deram
origem, configurando o traçado do Destino”. (NUNES, 2013, p. 187)
Agora, que o senhor ouviu, perguntas faço. Por que foi que eu precisei de encontrar aquêle
Menino? Toleima, eu sei. Dou, de. O senhor não me responda. Mas, que coragem inteirada
em peça era aquela, a dêle? De Deus, do demo?” (ROSA, 2006, p. 109)
Durante o estudo crítico aqui proposto, a questão central repousou no processo como
Benedito Nunes conduz seu pensamento reflexivo acerca de Grande Sertão: Veredas. Para tal,
tomamos como exemplo o que o próprio autor diz a respeito do seu procedimento como crítico
literário, apoiado nas questões da filosofia.
[…] uma terceira consequência a ressaltar. É o fato de que, nessa conexão recíproca, a
filosofia faz da obra literária como tal objeto de sua indagação (o que ela é, ao que visa,
qual a sua estrutura) e a obra, por sua vez, reverte sobre a Filosofia, da qual, ela, obra se
faz, como poética, a instância concreta, reveladora (ou desveladora) das originariamente
abstratas indagações filosóficas. Eis, em resumo, o procedimento geral que tenho seguido.
(...) Foi sob tal foco dúplice que comecei a examinar (...) obras como o singular romance
Grande Sertão: Veredas (…). Nesse romance de Guimarães Rosa, a poesia cede lugar ao
seu nobre ancestral, o mito, contra o qual luta, desde o início, desde a aurora grega, a
insurgente força intelectual da Filosofia. (NUNES, 2009, p. 29)
Ao fim, fica claro que Benedito Nunes parece repousar suas questões acerca da obra de
Guimarães Rosa na filosofia, colocando em foco alguns aspectos sobre a questão do Ser e do Ser9
BENJAMIN, Walter. Affinités electives de Goethe. In: Oeuvres Choisies. Paris: Julliard, 1959, p. 150.
Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893
142
no-Mundo, apoiando-se, principalmente em Heidegger e sua obra maior Ser e Tempo. Contudo,
não se fecha para outras possibilidades de abordagens filosóficas que são, para ele, questões que
se dão com a obra, sempre apontando seu pensamento reflexivo em múltiplas direções do
pensamento reflexivo, “uma vez que a filosofia se compreende como um discurso sobre outros
discursos”. (TARRICONE, 2011, p. 131)
O próprio Nunes questiona-se: “Como pode o romance, que é ficção, colocando a criação
verbal fora do sistema de enunciação da linguagem, mostrar poeticamente um limite do
Pensamento?” (NUNES, 2013, p. 194). E, mais uma vez, a resposta está no próprio romance, neste
em que se dá a poiésis, e que foi escrito com o cuidado de auscultar as palavras, de “chocar as
palavras”, como disse Rosa em entrevista a Curt Meyer-Clason, seu tradutor para o alemão, de
modo que se percebesse o que elas estavam dizendo poeticamente a respeito do pensamento
filosófico que questiona o Ser, a verdade, o lugar do homem no mundo. Porque, como ainda diz
Rosa, “o que é pra ser — são as palavras!” O que é para ser é a linguagem, lá onde literatura e
filosofia sempre terão encontro marcado.
Referências
DANIEL, Mary L. João Guimarães Rosa: Travessia Literária. Rio de Janeiro: José Olympio,
1968.
GALVÃO, Walnice Nogueira. As Formas do Falso. São Paulo: Perspectiva, 1972.
HEIDEGGER Martin. Ensaios e Conferências Trad. Emmanuel Carneiro Leão, Gilvan Fogel e
Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 2006.
__________________ Ser e tempo. Trad. Marcia Sá Cavalcante Schuback. 8ª Ed. Campinas, SP:
Editora da Unicamp; Petropólis, RJ: Vozes, Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São
Francisco, 2009.
_________________ A origem da obra de arte. Trad. Idalina Azevedo e Manuel Antônio Castro.
São Paulo: Edições 70, 2010.
_________________ A caminho da linguagem. Trad. Márcia Sá Cavalcante Schuback. 6ª Ed.
Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2012.
_________________. Explicações da poesia de Hölderlins. Brasília: Editora: EDU – UNB,
2013.
JOLLES, André. Einfache Formen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1968.
LEÃO, Emmanuel Carneiro. Aprendendo a pensar. Petrópolis: Vozes, 1977.
MANN, Thomas. A Montanha Mágica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.
NUNES, Benedito. Hermenêutica e poesia: o pensamento poético. Org. Maria José Campos,
Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.
Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893
143
_______________. A clave do poético. Org. Victor Sales Pinheiro. São Paulo: Companhia das
Letras, 2009.
_______________. Do Marajó ao arquivo – Breve panorama da cultura no Pará. Org. Victor
Sales Pinheiro, Belém: SECULT: Ed. UFPA, 2012.
_______________. A Rosa o que é de Rosa. Victor Sales Pinheiro (Org.). Rio de Janeiro: DIFEL,
2013.
PINHEIRO, Victor Sales. Apresentação. In: NUNES, Benedito. A Rosa o que é de Rosa. Victor
Sales Pinheiro (Org.). Rio de Janeiro: DIFEL, 2013.
ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
TARRICONE, Jucimara. Hermenêutica e crítica: O Pensamento e a Obra de Benedito Nunes.
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp – Pará: Editora da Universidade
Federal do Pará, 2011.
Recebido em 10/12/2015
Aceito em 15/2/2016