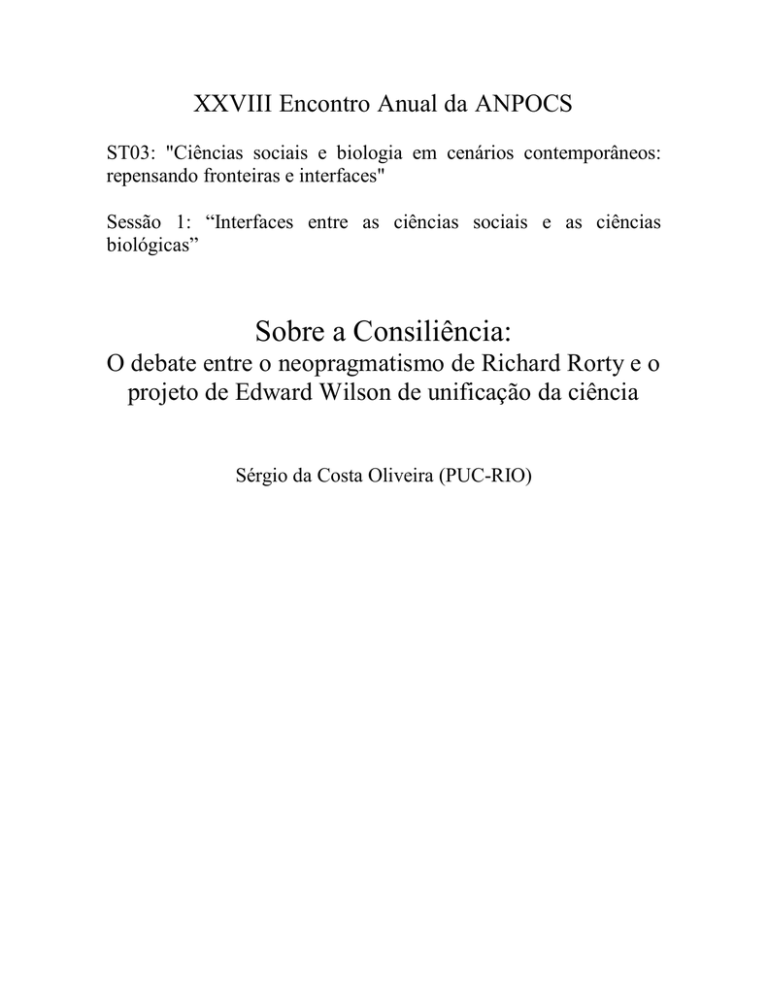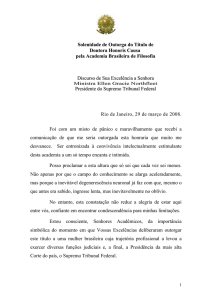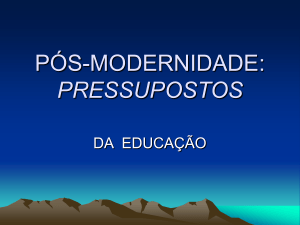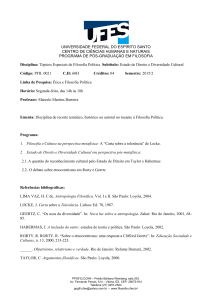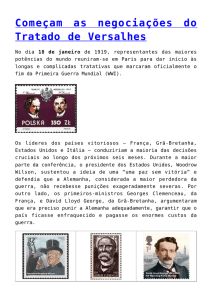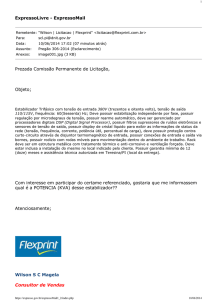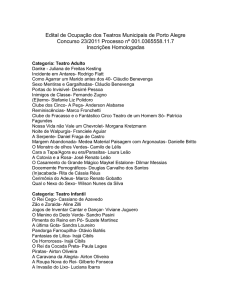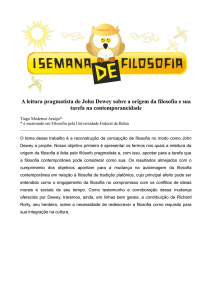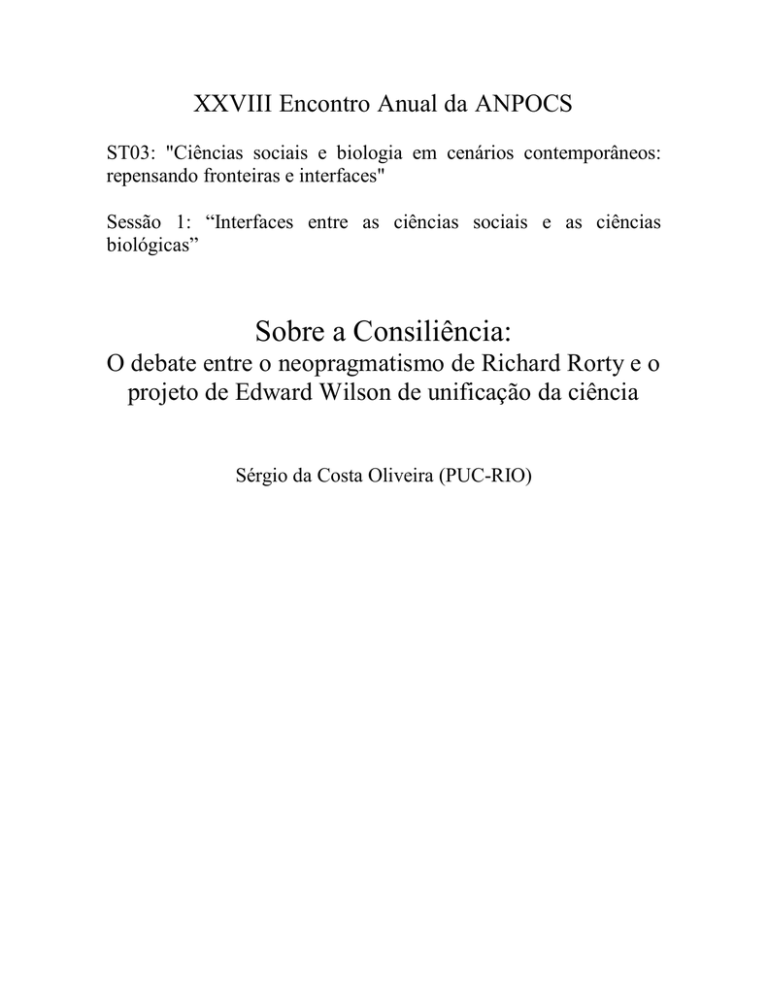
XXVIII Encontro Anual da ANPOCS
ST03: "Ciências sociais e biologia em cenários contemporâneos:
repensando fronteiras e interfaces"
Sessão 1: “Interfaces entre as ciências sociais e as ciências
biológicas”
Sobre a Consiliência:
O debate entre o neopragmatismo de Richard Rorty e o
projeto de Edward Wilson de unificação da ciência
Sérgio da Costa Oliveira (PUC-RIO)
1
Sobre a Consiliência:
O debate entre o neopragmatismo de Richard Rorty e o
projeto de Edward Wilson de unificação da ciência
Science! True daughter of Old Time thou art!
Who alterest all things with thy peering eyes.
Edgar Allan Poe. Sonnet – To Science
RESUMO No presente artigo, procura-se mostrar como o mais novo projeto de unificação das
ciências naturais e sociais, a assim chamada "consiliência", defendida por Edward Wilson, repousa
em pressupostos sobre o conhecimento, a linguagem e a verdade, desafiados inúteis pelas
redescrições que a perspectiva neopragmatista empreende destes vocábulos.
ABSTRACT This paper aims at demonstrating how the newest project of unification between
natural and social sciences, the so-called "consilience", presented by Edward Wilson, lies on
premises about knowledge, language and truth, challenged by the redescriptions of that vocabulary
provided by the neopragmatic approach.
O texto Consiliência de Edward Wilson parece concretizar aquele tipo de narrativa
dramática que anuncia uma mudança oceânica na forma com que o conhecimento é
construído. Descrevendo-se a si mesmo como uma espécie de neo-iluminista, Wilson
procura imaginar que tipo de metanarrativa seria capaz de nos esclarecer sobre o sucesso
hoje experimentado pelas neurociências, pela psicologia evolucionista, pelos hibridismos
disciplinares das ciências cognitivas, esforços intelectuais que não cessariam de fazer
emergir, por força de suas alianças, resultados sobre “o próprio do homem”. O que está em
jogo, segundo ele, é o efeito identificado por William Whewell, “em sua síntese de 1840”,
The Philosophy of the Inductive Sciences, como consiliência, “literalmente, um ‘salto
conjunto’ do conhecimento pela ligação de fatos em todas as disciplinas para criar uma
base comum de explicação” (1999, p.7).
2
Seu desejo de teorizar o conhecimento a partir do progresso recentemente obtido
pela “consiliência” de linhas de pesquisa nas ciências naturais segue uma tendência
crescente na literatura (Giere, R.,1988; Popper, K., 2001) e traz-nos de novo o “espectro”
(uso o termo propositalmente!) positivista da ciência unificada. Desafiado por toda uma
geração que, influenciada pelos textos de Thomas Kuhn (1996) e Paul Feyerabend (1989,
1991), aprendeu a suspeitar de uma descrição do exercício científico que o situasse para
além das práticas contextuais em que ganhavam sentido e a descrer da idéia de um método
único, cuja racionalidade residiria em algum lugar externo a qualquer condicionamento
sócio-histórico (1), aquele espectro volta hoje. Volta como aquilo que foi recalcado e não
devidamente “terapeutizado”, para sempre usar a expressão wittgensteiniana. Sua presença
entre nós, no entanto, agora, se atualiza sob outras circunstâncias (2) e parece atestada como
força materialmente realizada nos escritos de biólogos como Richard Dawkins,
“neurofilósofos” como os Churchland, cientistas cognitivistas como Daniel Dennett e
Steven Pinker. O diagnóstico de Wilson é claro: A unidade do conhecimento é o que
tornará as imagens de sujeito tradicionalmente construídas pelas ciências humanas mero
folclore a ser dispensado e o fará de maneira inevitável.
A unificação, tal como Wilson a propõe, se inspira no projeto de anexação de um
campo do conhecimento por uma disciplina mais fundamental. Isto ocorre, por exemplo,
quando os processos de aquecimento estudados pela termodinâmica são explicados em
termos da mecânica estatística, com suas equações descrevendo o movimento das
moléculas. Em realidade, observamos, hoje, uma batelada de exemplos bem-sucedidos, por
toda parte, nas ciências naturais, de esforços “consilientes” como estes. No entanto, o
3
programa de Wilson, de uma imodéstia ímpar, pretende unificar todos os ramos do
conhecimento – incluindo-se, aí, a tarefa de colmatar o que ele vê como o “fosso” entre as
ciências naturais, de um lado, e as Humanidades e as artes, de outro.
Seja reiterado que as pontes que forjariam a necessária união adviriam da linguagem
desenvolvida pelas sempre exitosas ciências naturais: Seria esta união, então, segundo o
julgamento de Wilson, que nos permitiria o afastamento das “metáforas e das elocubrações
de segunda ordem” (op. cit., p.260) que impedem as Humanidades de experimentarem o
sucesso ali conquistado.
Não há razão óbvia por que a sociologia não deva adotar uma orientação semelhante [à da
biologia, ou seja, o acompanhamento da causação através de muitos níveis de organização],
guiada por uma visão que abranja da sociedade ao neurônio. (op. cit., p. 178 - 179)
As ciências sociais possuem os mesmos traços gerais das ciências naturais no período inicial
de história natural ou predominantemente descritivo do seu período histórico. (...) Mas ainda
não forjaram uma rede de explicações causais que desça com sucesso pelos níveis de
organização, da sociedade à mente e cérebro. Por não sondarem tão longe, carecem do que
pode ser considerado uma verdadeira teoria científica. (op. cit., p. 180)
Nenhuma razão irrefutável chegou a ser apresentada para a mesma estratégia [,explicações
de causa e efeito,] não funcionar na união das ciências naturais com as ciências sociais e
humanas. A diferença entre os dois domínios está na magnitude do problema, não nos
princípios necessários a sua solução. (op. cit., p. 258)
4
Bem entendido, compartilhar a tese do realismo científico de Wilson é desalojar das
Humanidades qualquer direito de prosseguir com sua forma de construir conhecimento
desvinculado das ciências naturais. A diferença não é qualitativa, ele diz, sustentando um
monismo teórico-metodológico entre as ciências naturais e sociais análogo ao de Karl
Popper. A retórica das Humanidades deve ser vista, segundo o “sociobiólogo”, como tãosomente um exercício pré-teórico que necessitaria do esclarecimento advindo das
disciplinas que emergem, desde o seu nascimento, vinculadas à gramática das ciências
básicas. E por que não seria assim? Nada justificaria tal desvinculação, segundo seu
parecer. Reiteremos: Acreditando na “compatibilidade intrínseca” das duas culturas
erroneamente divorciadas, Wilson aposta no progresso do entendimento da ação humana
complexa unicamente à medida que este entendimento procurar se alinhar à epistemologia
das ciências naturais.
Mas o inegável sucesso que a Biologia experimenta hoje, o qual nos permite ver
nela ciência de êxito comparável ao da Física na primeira metade do séc. XX, não pode ser
confundido com o projeto neopositivista de Wilson. Este último não decorre logicamente
do êxito daquela ciência. Apesar de sua absoluta convicção quanto à razoabilidade de seu
programa de pesquisas, há fortes argumentos contra essa sua concepção de conhecimento.
Reiteramos: O lugar que ele pretende dar às ciências de forma nenhuma emerge como um
resultado seja da ciência seja da argumentação lógica. E isto é o que pretendemos mostrar.
O evidente antípoda desta perspectiva é, sem dúvida, o pragmatismo de Richard
Rorty. Por sua vez, este autor é imaginado por Wilson como alguém cujas idéias têm
somente por conseqüência “preguiçosamente, desvalorizar o intelecto” (1999, p.182). Esta
5
observação de Wilson dirige-se ao diagnóstico rortyano de que o projeto de qualquer
epistemologia fundacional, como podemos entender a tarefa de Wilson, não deveria mais
encontrar eco em nossa cultura. Segundo Rorty, uma teoria do conhecimento é apenas a
reificação, a naturalização de procedimentos rotineiros de resolução de problemas que
funcionaram por um bom tempo. Exigi-los de disciplinas em outros momentos de formação
ou querer submeter outros campos ao regime de funcionamento de uma disciplina já bem
codificada é simplesmente fazer fetiche de um método.
Mas, retomemos: Aquele espinhoso comentário de Wilson se dirigia à chamada
pragmatista por uma postura de tolerância frente aos momentos não codificados de uma
disciplina e mesmo frente ao desejo de seus proponentes de não serem movidos tão
fortemente pela prática de codificação formal. No entender de Wilson, assim pensando,
Rorty só estimularia a preguiça e o atual estado de “fragmentação” do conhecimento. No
entanto, talvez possamos ver a situação de outro modo: Nitidamente inspirado por Kuhn e
Feyerabend, Rorty nos adverte de que o anseio pela apresentação de um (ou “do”) método
deveria ceder à percepção de que os métodos são sempre reconstruções a posteriori de
práticas que acabaram por se mostrar rotineiras com o passar do tempo. Mais
especificamente, aquela ácida apreciação de Wilson se constitui em uma reação à forma
peculiar com que Rorty estabelecera, no seu clássico Filosofia e o Espelho da Natureza, a
diferença entre a demanda para “sermos epistemológicos” ou para “sermos hermenêuticos”.
Bem entendido, uma tal diferenciação parece remover muito da força do projeto de Wilson
de alinhar todas as práticas intelectuais em torno da idéia do “salto conjunto” das
disciplinas. Este salto estaria garantido, atentemos, porque calcado no êxito de
procedimentos codificados nas ciências naturais, a que chamamos, então, “método”.
6
Todavia Rorty quer nos lembrar que a filosofia aprendeu a abrir mão desta tarefa, que é o
garante do êxito em que crê Wilson. Se não, vejamos.
Rorty nunca entendeu as ciências humanas como carecendo do tipo de vitalidade
metodológica a que a mentalidade positivista freqüentemente alude quando procura
escarnecer do número de questões não resolvidas por aquelas. De sua parte, ele procura
deixar claro que não somos “hermenêuticos” por alguma razão essencialmente diferente da
razão de por que somos “epistemológicos”. Começa por advertir-nos de que “hermenêutica
não é o nome de uma disciplina, nem de um método de atingir resultados que a
epistemologia não conseguiu atingir, nem de um programa de pesquisa” (1988, p. 249). De
seu ponto de vista,
a linha entre os respectivos domínios da epistemologia e da hermenêutica não é uma questão
de diferença entre as “ciências da natureza” e as “ciências do homem”, nem entre fato e
valor, nem entre o teorético e o prático, nem entre o “conhecimento objetivo” e algo mais
mole e mais dúbio. A diferença é puramente de familiaridade. Seremos epistemológicos
onde compreendermos perfeitamente bem o que se passa mas quisermos codificá-lo para o
estender, fortalecer, ensinar ou “fundamentar”. Devemos ser hermenêuticos onde não
compreendermos o que se passa, mas formos suficientemente honestos para o admitir (...).
Isto significa que somente podemos obter comensuração epistemológica onde já tivermos
acordado práticas de inquérito (ou, de um modo mais geral, de discurso) (...) Podemos obtêla não porque tenhamos descoberto algo acerca da “natureza do conhecimento humano”,
mas simplesmente porque, quando uma prática persistiu por tempo suficiente, as
convenções que a tornaram possível – e que permitem um consenso sobre como a dividir em
partes – são relativamente fáceis de isolar. Não há qualquer dificuldade em obter
7
comensuração na teologia, ou na moral, ou na crítica literária, quando estas áreas da cultura
são “normais”. (...) Em certos períodos, foi tão fácil determinar quais os críticos que têm
uma “percepção justa” do valor de um poema como é determinar quais os experimentadores
que são capazes de fazer observações exatas e medições precisas. Em outros períodos, por
exemplo, nas transições entre os “estratos arqueológicos” que Foucault discerne na recente
história intelectual da Europa – pode ser tão difícil saber quais os cientistas que na realidade
oferecem explicações razoáveis como saber quais os pintores que estão destinados à
imortalidade. (1988, p. 252)
Ora, podemos ver a passagem acima, não como um estímulo à “preguiça
intelectual”, mas como um apelo a que não consideremos de maneira tão reverente os
momentos formalizados das ciências naturais: Estes podem ser compreendidos apenas
como o resultado de uma familiaridade intensa com determinados vocabulários e modos de
proceder e de avaliar vigentes em um determinado período. Desta forma, as regras de um
jogo intelectual, mesmo aquelas com que se procura resolver problemas nas ciências
naturais, nunca mereceriam ser reificadas na forma de alguma racionalidade a-histórica. (É
este todo o sentido, a propósito, da mensagem de Feyerabend e não o relativismo infeliz e
auto-contraditório com que veio a ser identificado). Tampouco deveria se procurar pensar –
continuemos seguindo o raciocínio rortyano – que estes mesmos modos de proceder,
quando fortemente codificados, pudessem funcionar como o modelo final para impulsionar
outras investigações. Simplesmente não parece haver um tal algoritmo universal. Com esta
idéia, por si só, Rorty já se distancia enormemente da tese de Wilson da evolução conjunta
dos saberes promovida pela unificação dos conhecimentos. Uma vez mais: A razão maior é
que, através daquela distinção acima delineada, ele está procurando desmistificar os
procedimentos elogiados como “racionais”, devolvendo-os à condição de algoritmos úteis
8
apenas para determinados fins específicos. Adicionalmente, está a mostrar que as ciências
naturais guardam momentos igualmente não-codificados, embora freqüentemente o êxito,
por vezes impressionante, constatado em alguma área, de algum procedimento (o sucesso
cumulativo de certas fases “normais” da ciência, como diz Kuhn) parece-nos levar à
desnecessariamente exaltada crença de que ali então se está a isolar, finalmente, o modus
operandi da razão científica.
Mas podemos ir bem mais longe. Embora Rorty, precisamente nessa passagem, não
esteja, em absoluto, defendendo uma qualquer diferença fundamental entre as ciências
humanas e naturais, julgamos, a propósito deste ponto preciso e fundamentados nas
próprias idéias deste autor, que se deva lembrar que há fortes e peculiares razões pelas
quais deveríamos resistir a que as Humanidades se tornem rigidamente codificadas, isto é,
que se tornem o objeto de uma “teoria”, nos moldes das ciências físicas, como quer Wilson.
Voltaremos a este ponto, de capital importância, mais tarde. No momento, assinalaremos,
especificamente a respeito disso, que os objetos das ciências naturais não apresentam a
instabilidade particular do objeto das Humanidades.
Ora, se atentarmos que este último diz respeito não mais a simples
comportamentos, a meras reações, mas ao sentido da ação e que, como tal, se encontra
regulado, constituído mesmo, no interior de jogos de linguagem circunstanciais que
sustentam formas de vida para sempre locais, parecer-nos-á, por isso mesmo, difícil
imaginar sua eventual formalização. Afinal de contas, se esses jogos de linguagem que nos
pomos a jogar são contingentes e se eles estão sempre a se reproduzir diferencialmente,
como pensar a partir desta situação, “uma descrição universal da subjetividade humana”?
9
(3) Antiga questão filosófica, a propósito: Como formalizar um corpo de conhecimento cujo
objeto é tão dependente do circunstancial, do contingente? Ora, esta dificuldade particular
para o entendimento “legaliforme” da ação humana complexa parece se seguir da tese da
contingência da linguagem e da subordinação do self a tal condição circunstancial dos
vocabulários. Rorty, portanto, para ser ainda mais fiel às conseqüências de seu pensamento,
deveria se mostrar ainda mais crítico diante da idéia de conceber a ação humana como
objeto de uma ciência natural. Tanto quanto podemos notar, esta é uma posição um tanto
obscura e ainda vacilante em seus textos.
Mas voltemos ao projeto de Wilson. Evidentemente, sua idéia básica não encontra
qualquer eco na versão pragmatista do conhecimento. Do ponto de vista de Rorty, não há
qualquer razão especial para se esperar encontrar um compromisso entre “as duas culturas”
que as tornem capazes de desenvolver a empreitada de uma explicação unificada da
realidade humana. Rorty é um descendente direto do segundo Wittgenstein (como os já
mencionados Kuhn e Feyerabend) e, é claro, também como aquele, não compartilhando do
“retrato agostiniano da linguagem”, não subscreve o entendimento de Wilson de que o
conhecimento, seja do homem seja do mundo, deva ser imaginado como a obtenção da
imagem fidedigna de “uma realidade já pronta” (ready-made world). Estas palavras, não
sendo as utilizadas pelo próprio Wilson, podem, no entanto, ser úteis para entender as
pretensões de seu projeto. Se não, vejamos. Ele nos diz, por exemplo, em uma passagem
particularmente relevante de seu texto:
Dado que a ação humana compreende eventos de causação física, por que as ciências sociais
e as Humanidades devem ser refratárias à consiliência com as ciências naturais? E como
10
podem deixar de se beneficiar dessa aliança? Não basta dizer que a ação humana é histórica,
e que a história é um desenrolar de eventos únicos. Nada de fundamental separa o curso da
história humana do curso da história física, seja nos astros ou na diversidade orgânica.
Astronomia, geologia e biologia evolucionária são exemplos de disciplinas basicamente
históricas ligadas por consiliência ao resto das ciências naturais. A história é hoje um ramo
fundamental do saber por legítimo direito, até o mínimo detalhe. Mas se dez mil histórias de
humanóides pudessem ser rastreadas em dez mil planetas semelhantes à Terra, e de um
estudo comparativo dessas histórias se desenvolvessem testes empíricos e princípios, a
historiografia – a explicação de tendências históricas – já seria uma ciência natural. (op.cit.,
p.10)
Esta passagem exemplifica, da maneira mais radical e mais voraz que poderíamos
supor (4), a retomada contemporânea do projeto da “unidade do conhecimento” de que este
“biólogo neo-iluminista” se ergue como o maior porta-voz. A idéia segue sendo a tendência
em ver nos (mais) diversos empreendimentos intelectuais partes de um todo que precisam
ser unidas. O objetivo, sem dúvida, é fazer surgir, em algum futuro, uma imagem coerente
(leia-se: a única!) da realidade. Uma outra maneira de caracterizar esta proposta é dizer que
ela reinveste na metáfora do conhecimento como um espelho (metáfora já criticada no
célebre livro, já citado, de Richard Rorty), imaginando que o conhecimento confiável é
aquele que, à medida que progredir, nos garantirá um reflexo cada vez mais nítido da
realidade.
Mas por mais persuasiva que tenha se mostrado em nossa cultura essa forma de
falar, não deveríamos, por outro lado, esquecer os motivos pelos quais passamos a julgar
ser mais útil imaginar o conhecimento como uma caixa de ferramentas. Segundo a
11
perspectiva do realista científico Edward Wilson, a mecânica quântica, a bioquímica, a
psicometria ou qualquer outra disciplina funcionam como peças de um imenso “quebracabeça”, que, um dia, devidamente encaixadas, nos deixarão ver “a imagem do quadro”, “o
desenho da tapeçaria”, que sempre esteve ali à nossa espera. É claro que, de um ponto de
vista pragmatista, esta crença é apenas uma outra forma idiossincrática de falar, muito
embora a excessiva familiaridade com tal jogo de linguagem faz com que vejamos nesta
idéia algo de intuitivo, de evidente.
Para um pragmatista, sejamos mais específicos, esta é, ainda, uma forma meramente
vestigial de falar que funcionou na vigência de um tempo em que julgávamos estar
decifrando um mundo através de representações que refletiam “os caracteres com que Deus
o escreveu”. Rorty (1992, p.25-26) põe nos seguintes termos esta forma de pensar que é a
base mesmo do realismo científico de Wilson:
A idéia de que a verdade, tal como o mundo, está diante de nós é uma herança de uma época
em que o mundo era visto como criação de um ser que tinha a sua própria linguagem. Se
deixarmos de tentar dar sentido à idéia de tal linguagem não-humana, não seremos tentados
a confundir o truísmo de que o mundo pode fazer com que tenhamos justificação para
acreditar na verdade de uma frase com a tese de que o próprio mundo se divide, por sua
própria iniciativa, em fragmentos em forma de frase chamados “factos”. Se, no entanto,
passarmos à noção de factos auto-subsistentes, é fácil começar a escrever com maiúscula a
palavra “verdade” e tratá-la como sendo algo de idêntico ou a Deus ou ao mundo enquanto
projecto de Deus. Dir-se-á, então, que a verdade é boa e vencerá.
12
Boa parte da cruzada que vem ganhando espaço crescente nos media contra os
assim chamados “relativistas” (e, seja dito, embora Rorty seja um nome aí freqüentemente
citado, evidentemente que o pragmatista não guarda qualquer compromisso com o
relativismo epistemológico!) alimenta-se da tendência dos sujeitos de nossa cultura se
verem ainda guiados por essas metáforas que nos obrigam a pensar a atividade de
conhecimento como desvelamento da “realidade já pronta”. Do ponto de vista do realismo
científico de Wilson, as únicas metáforas que merecem ser literalizadas entre nós são
aquelas que estiverem a “revelar a natureza intrínseca do mundo e de nós mesmos”. E,
como ele suspeita que seja somente assim que deva ser descrita a atividade dos que se
dedicam a construir o conhecimento confiável, ou seja, como a descoberta (e não a
invenção!) de uma descrição, imaginada como mais fundamental, isto implica tomar a sério
unicamente as metáforas que estejam a ser produzidas pelas ciências. E, é claro, como um
subproduto dessa atitude, passar a duvidar do malin génie das Humanidades ou da
psicologia folclórica (folk psychology), sempre a nos iludir com metáforas desviantes da
“narrativa verdadeira”.
Já Rorty, por seu turno, muito a contrapelo desta tendência, procura nos ensinar que
a diferença entre “descrição literal” e “descrição metafórica” é apenas a diferença entre
uma linguagem antiga que assumiu a condição de catacrese e uma linguagem relativamente
nova que ainda se vê flagrada como linguagem. Com fazer isto, Rorty está a reeditar a idéia
de Nietzsche da “verdade como um exército móvel de metáforas” e a rejeitar por completo
a idéia de que o conhecimento esteja, de alguma forma, a “representar” a realidade.
13
Com relação a Wilson, não podendo este contar com um bon Dieu, é agora o projeto
de uma metanarrativa fundacional que irá ocupar este lugar. Como se vê, é antigo o
impulso que alimenta este espectro de uma epistemologia fundacional, de encontrar a
garantia de um ponto transumano (“trasmundano” é o termo empregado por Nietzsche) para
o conhecimento. Trata-se da previsão de Nietzsche de que a ciência acabaria por ocupar o
lugar vago de Deus. Wilson, é por excelência, um daqueles personagens a quem o filósofo
do martelo chama, pejorativamente, por “homem superior”.
Para nossos objetivos, o que é importante notar é que, situada neste lugar,
doravante, a ordem científica terá os poderes de ou, por um lado, anexar conhecimentos que
se adquiram pelos seus procedimentos reificados ou, por outro, eliminá-los. As “meras
metáforas” desenvolvidas nas Humanidades, sempre descritas como um pântano, nessa
perspectiva, deverão ter o destino do “flogístico”, do “calórico”, do “élan vital”, do
“protoplasma” e outros.
Assim, é de se esperar que autores como Rorty que questionam esta tarefa
higienizadora do “verdadeiro conhecimento”, esta verdadeira “ortopedia das narrativas”,
com base na idéia de que não precisamos mais partilhar da esperança de encontrar um tal
tipo de descrição fundamental, essencial (afinal de contas, não é o mundo que está a nos
obrigar a adotar um determinado vocabulário em detrimento de outro!) sejam concebidos
como não partilhando da “honestidade intelectual dos que procuram a verdade” e relegados
à pseudocategoria de relativistas.
14
No entanto, em recente artigo, The Decline of Redemptive Truth and the Rise of a
Literary Culture, Rorty tenta desfazer esta falsa identidade entre “não ser essencialista” e
“ser relativista”:
Todos sabem que a diferença entre crenças falsas e verdadeiras é tão importante quanto a
que há entre alimentos comestíveis e venenosos. Além do mais, uma das principais
conquistas da filosofia analítica atual consiste em ter mostrado que a habilidade para
manusear o conceito de crença verdadeira é uma condição necessária para ser um usuário da
linguagem e, portanto, para ser um agente racional.
Mas, prossegue o raciocínio pragmatista na tentativa de desfazer a falsa
identificação, disso não se segue em absoluto que deveríamos hipostasiar a verdade e
colocá-la lá no mundo. Afinal, o mundo não fala, somos nós que estamos o tempo todo a
falar por ele. E, sendo assim, o mundo não pode ser verdadeiro ou falso; somente nossas
sentenças o podem. E é claro que, para sabermos se elas são verdadeiras ou falsas, só
poderemos recorrer, uma vez mais, ao conjunto de nossas crenças sobre que dados seriam
relevantes, como analisá-los, com que objetivos criamos tais descrições etc. Ora, isto não é
abdicar dos critérios de racionalidade, mas apenas situá-los para sempre em suas condições
de possibilidade histórico-culturais. Isto é, por fim, tão-somente apresentar o conhecimento
como uma prática contextualmente condicionada e não como exercício que permite o
acesso a alguma realidade não humana.
Seja observado que um tal instrumentalismo nada tem de relativista! No entanto, é
claro que se a pergunta sobre o tópico da verdade for dirigida ao pragmatismo nos seguintes
termos: “Você acredita que há, em princípio, um momento final quando os relógios da
15
investigação hão de necessariamente parar porque descobriu-se, enfim, a forma com que
tudo realmente é e que um tal entendimento nos dirá efetivamente o que somos e o que
devemos, então, fazer conosco?”, a resposta do pragmatista será um sonoro “não”, pois seu
surgimento no cenário filosófico se deve precisamente à rejeição dessa tese. Esperamos ter
conseguido mostrar que, no entanto, estes são precisamente os termos e os pressupostos
com os quais o realista científico acredita estar construindo o único tipo de conhecimento
que julga confiável.
Outro ponto de relevo aí é que as conseqüências de se crer, por um lado, em um tal
“ideal de objetividade” ou, por outro, de se imaginar o conhecimento em bases pragmatistas
se desdobram de maneiras totalmente diversas. Como se expressa Rorty a respeito, os
pragmatistas criam a figura de um intelectual bastante diferente da imagem tradicional.
Sendo assim, os intelectuais em que os pragmatistas procuram se tornar,
(...) não consideram que o propósito do pensamento discursivo seja o de conhecer, em
qualquer sentido que possa ser explicado por noções tais como “realidade”, “essência real”,
“ponto de vista objetivo” e “correspondência da linguagem com a realidade”. Não pensam
que o seu propósito seja o de encontrar um vocabulário que represente algo de forma
correta, um meio transparente, já que (...) [,agora,] “vocabulário final” não significa “o
único que resolve todas as dúvidas” ou o “o único que satisfaz os nossos critérios de caráter
definitivo, adequação ou excelência”. Não pensam que a reflexão seja governada por
critérios. Os critérios, na sua perspectiva, nunca são mais do que os truísmos que
contextualmente definem os termos de um vocabulário final correntemente em uso. (...)
Concordam com Davidson quanto à nossa incapacidade para fugir da nossa linguagem a fim
16
de a comparar com outra coisa, e com Heidegger quanto à contingência e a historicidade
dessa linguagem. (Rorty, R., 1992, p. 106)
Retomaremos esta questão da figura do intelectual que emerge do “ideal de
objetividade” nutrido pelo realista científico e do “ideal de solidariedade” nutrido pelo
pragmatismo. Antes, porém, procuremos entender um outro momento da retórica de Rorty
em demonstrar por que não deveríamos nos sentir premidos por envidarmos um “esforço
consiliente entre as ciências naturais e humanas”. Se bem entendemos a última passagem
aqui citada do texto de Wilson, ele parece afirmar que do enunciado de que a ação dos seres
humanos envolve acontecimentos de ordem abolutamente física (tese inocente e com a qual
qualquer um concordaria), deveria seguir-se, ato contínuo, que somente explicações do tipo
que se desenvolveram nas ciências físicas são legítimas e merecedoras de crédito. Ora, mas
esta conclusão está longe de ser forçosa.
Reiteramos este ponto por conta da freqüência com que este falso argumento é
apresentado para sustentar posturas reducionistas ou eliminativistas: Parece-nos consistir
numa confusão óbvia fazer seguir da idéia trivial de que de toda a ação humana, por mais
complexa que seja, se dá em um mundo material, a outra idéia dela totalmente
desvinculada, a saber, a de que ele só possa ser descrito no vocabulário das leis causais que
regem esse mesmo mundo. A primeira tese é trivial, mas a segunda nunca foi uma
conseqüência lógica daquela! Se não, vejamos:
Ora, por mais genial que seja Picasso, seus quadros não deixam de ser regidos por
leis de composição cromática. No entanto, se quisermos saber algo sobre o impacto de
17
Guernica e sobre a possibilidade desta obra nos ajudar a redescrever a experiência da
guerra, bem pouco nos importará saber a constituição química das tintas com que ele
obteve os tons de cinza ali presentes. O vocabulário e o nível de descrição aos quais se
devem recorrer são inteiramente outros. Já um copista com a intenção clara de reproduzir
com grande exatidão a tela se interessará muito por aquele tipo de descrição. Dizer, então,
que, por conta de Guernica estar submetida às leis usuais do cromatismo, que o historiador
de arte deva se confinar ao vocabulário da química dos pigmentos ou buscar aí seus insights
mais valiosos é de um absurdo risível. No entanto, é exatamente isto que Wilson está a
dizer!
Dos exemplos dados parece se seguir, agora, de forma persuasiva, que toda
descrição vem, enfim, a ser desenvolvida relativamente a algum interesse, conforme nos
lembra Hilary Putnam (1978). A melhor descrição nunca o é em termos absolutos. É
bastante útil, então, imaginarmos que toda descrição funciona como uma ferramenta para
uma determinada tarefa (como nos sugere Rorty), mas Wilson, negligenciando toda esta
conversação, ora nos parece alguém que acredita que a caixa de ferramentas do
conhecimento atual merece ser esvaziada de muito de seu material ora pretende unir seu
conteúdo, no afã de obter um instrumento mais poderoso. Logo, tendo ouvido as
admoestações de Putnam e Rorty a esse respeito, nossa perplexidade pode ser enunciada
assim: Se ninguém pensaria em unir um martelo a um serrote e, muito menos pensaria estar
obtendo um instrumental “mais preciso” com essa excêntrica operação, por que razão a
idéia de promover uma consiliência entre as ciências humanas e naturais soa tão persuasiva
a nós? Não obstante o registro de nossa perplexidade, as razões (ao que parece,
equivocadas) que levam à proposta de tal junção não conseguem se ver “terapeutizadas” e
18
vêm se mostrando tão imperativas que, como dissemos, seguindo o padrão do “retorno do
recalcado”, o espectro da “ciência unificada” volta, mais uma vez, a assombrar-nos!
Richard Rorty, em um artigo, Against Unity, que comenta a obra “Consiliência”, de
Wilson, faz uma observação precisa sobre este ponto. Insiste ele, por este novo detour,
contra a premência da “unificação”, que
nossos vocabulários explicativos e descritivos, com suas lentas histórias evolutivas, são
como os dentes e a cauda lentamente desenvolvidos de um castor: Eles são dispositivos
admiráveis de aperfeiçoamento da posição de nossa espécie. (...) Os vocabulários da física e
da política [, por exemplo,] não precisam ser integrados um ao outro mais do que a cauda de
um castor precisa ser integrada aos seus dentes. Para os filósofos que adotam esse modo
pragmático, biologista, de pensar sobre a relação entre a linguagem e a realidade, não há um
problema da unidade do conhecimento assim com não há um problema da unidade do ser
humano.
Se observarmos atentamente o que Rorty está a dizer nesta esclarecedora passagem,
a qual nos permite ver o pragmatismo como a aplicação das metáforas darwinistas ao
conhecimento, não ficaremos mais preocupados com a presença de um “fosso” entre as
ciências naturais e as Humanidades – o tal “fosso” detectado por Wilson. Não há nenhum
“elo perdido” que unirá o que foi desenvolvido, em um primeiro momento, por caminhos
diferentes. Teremos superado esta preocupação justamente por termos redescrito a forma
como desejamos entender a linguagem e o conhecimento. Teremos sido, insistimos no
termo, “terapeutizados” deste falso problema, como dizia Wittgenstein ser (também
insistimos!) a tarefa da filosofia. Para Rorty, que diz não conseguir entender por que
19
Wilson é tão premido pela questão da consiliência, as coisas são mais simples se entendidas
sob seu prisma pragmatista:
Eu tenho dificuldades em ver por que Wilson crê que esta questão seja tão urgente. (...) As
ciências naturais dizem-nos como as coisas e as pessoas funcionam, e, portanto, capacitamnos a adaptar coisas e pessoas para as nossa necessidades. As Humanidades não nos dizem
como qualquer coisa funciona, mas dão-nos sugestões sobre o que fazer com as coisas e
pessoas (...) e que novos tipos de coisas e pessoas nós deveríamos tentar inventar. (...)
Quando nós sabemos o que nós queremos, mas não sabemos como obtê-lo, nós recorremos à
ajuda das ciências naturais. Nós recorremos às Humanidades e às artes, quando nós não
estamos certos daquilo que deveríamos querer. Esta divisão tradicional do trabalho tem
funcionado muito bem. Portanto, não parece claro por que razão nós necessitamos de uma
consiliência adicional, a qual é o objetivo de Wilson.
Rorty não nos cansa de lembrar que, conforme nossos objetivos, há inúmeras
formas de se descrever coisas e pessoas, e que esta pluralidade não nos deveria aparecer
como um problema. Parece ser, na verdade, o desejo um tanto teimoso, e algo
desarrazoado, de totalidade, nutrido por parte de Wilson, que faz com que ele veja, em
vocabulários que não precisam ser conciliados, uma incompletude desconcertante. Uma vez
mais, lembremos que este sentimento não é compartilhado por qualquer pessoa que tenha
uma visão instrumental da “linguagem”, do “conhecimento” e da “verdade”.
O que me parece como uma divisão do trabalho cultural razoável e necessária, se apresenta
a Wilson como uma fragmentação.
20
Seja observado que, agora, Rorty já anuncia explicitamente sua própria posição
sobre o que julga ser o nonsense do projeto de unificação e o faz calcado no que entende ser
uma “divisão de trabalho” a partir de objetivos radicalmente distintos com que se
comprometem ciências naturais e humanas. Acentuamos que, neste momento, de maneira
semelhante à forma com que nos posicionamos acima e, contrariamente a um primeiro
momento de seu pensamento, Rorty diz efetivamente haver uma diferença entre os dois
campos.
Exposto isto, retomamos o ponto importante levantado acima. Ali, dizíamos, que há
bastante interesse em se observar que os lugares imaginados para o “intelectual” por
Wilson, o objetivista, e por Rorty, o pragmatista, são igualmente diferenciados e que estes
se relacionam diretamente com a forma com que descrevem o conhecimento.
Imaginar o papel do intelectual nas Humanidades à luz da prática das ciências
naturais pode levar a conclusões chocantes. Assim, causa-nos espécie a comparação feita
por Edward Wilson entre a imensa capacidade de intervenção sobre a natureza já alcançada
pelas ciências físicas e o “fracasso” do cientista social em fazer o mesmo com a cultura.
Devidamente ouvida, esta comparação nos remete para a recapitulação do cientista social
como um expert ao qual caberia guiar a cultura por uma série de soluções divisadas por um
tipo específico de sujeito, o sujeito competente (5) – o que coloca a ciência num patamar
hierarquicamente superior dentro da sociedade e delega ao cientista social uma função de
deliberação sobre os problemas da cultura, que não nos parece, em absoluto, pertencer, de
maneira inequívoca, exclusivamente a ele. Estranha noção de cultura; estranho lugar para
os intelectuais. Se não, vejamos:
21
A situação atual das ciências sociais pode ser posta em perspectiva, comparando-as com as
ciências médicas. Ambas foram encarregadas de grandes e prementes problemas. (...)
Espera-se dos cientistas sociais que indiquem como moderar o conflito étnico, converter
países em desenvolvimento em democracias prósperas e otimizar o comércio mundial. (p.
173)
Diz-nos Wilson tais coisas, porque ele encara o fenômeno cultural à semelhança de
um fenômeno natural e acredita que os intelectuais que se debruçam sobre a cultura o
fazem tão-somente movidos por ideais de objetividade. Mas uma cultura não é uma célula,
e seus integrantes tampouco são organelas (possuem “vozes” – no sentido que Mikhail
Bakhtin empresta ao termo – e representações distintas do lugar em que se encontram e do
que querem em função desses lugares distintamente ocupados!) e as estratégias apoiadas
por intelectuais muito dificilmente se assemelham a princípios universais do tipo causa-eefeito. A insistência no uso deste vocabulário cientificista nas descrições do enredo
sociocultural e no papel atribuído ao cientista se deve, é claro, à divinização que Wilson faz
do ofício das ciências naturais. Fetichismo da ciência. Idolatria mesmo. Esta, nos escritos
de Wilson, figura como sinônimo (aparentemente perfeito) de “cultura superior” e é situada
como sendo responsável pela construção da mais perfeita “forma de vida”. Confira-se a
passagem:
A ciência não é uma filosofia nem um sistema de crenças. É uma combinação de operações
mentais que se tornou cada vez mais o hábito dos povos cultos, uma cultura de iluminações
a que se chegou por um golpe afortunado da história que produziu a forma mais eficaz já
concebida de aprender sobre o mundo real. (p. 43)
22
Encontra-se aí uma descrição totalmente reificada da ciência. Ela aparece como um
exercício não-humano, “afortunadamente descoberto” e não inventado por uma cultura,
que consiste meramente em refletir a realidade. O problema com este tipo de descrição é
que, então, a ciência deixa de aparecer como se constituindo a partir de um conjunto de
problemas colocados por motivações sócio-históricas. O saber científico, aí, passa a ser
descrito de uma maneira que não inclui um sujeito indagador contextualmente localizado e
que trabalha com determinadas preocupações e determinado vocabulário justamente em
função deste local cultural. A propósito, perceba-se, nesta passagem, que a presença do
exercício científico, incansavelmente elogiado por Wilson, é o que conferiria, para este
autor, o status de maturidade intelectual a uma cultura. Além de ao antigo projeto de
“unificação da ciência”, retorna-se aqui a uma redução do próprio conceito de razão à sua
dimensão mais técnica e mais meramente operatória.
Que não sejamos mal-entendidos: Quem, em sã consciência, negaria a superioridade
das narrativas científicas no que diz respeito ao poder de previsão e controle dos eventos
naturais? Mas, por outro lado, quem, ilustrado pela simples experiência da vida, poderia
imaginar que todas as narrativas de que nos valemos no quotidiano são movidas por tais
ideais de previsão e controle? E quem, também, proporia a eliminação de reflexões sobre
esta mesma vida quotidiana que se fizessem sob o norte de outros ideais, como aqueles
provindos da literatura? A julgar pelas passagens acima, aparentemente, Wilson o faria.
Mas isto equivale ao absurdo de querermos “ilustrar” um domínio que se faz com
determinados objetivos a partir de um outro que cumpre objetivos inteiramente diversos.
23
Equivale, por exemplo, ao nonsense de querermos criticar as fábulas de Esopo, e até
mesmo de eliminá-las, substituí-las, com base nos resultados obtidos pelos estudos
contemporâneos sobre o comportamento animal. De qualquer forma, o mais urgente
mesmo, neste caso, é lembrar a alguém como Wilson que tem sido o objetivo maior das
Humanidades, não produzir pessoas que dessem as respostas corretas para uma cultura
seguir, como ele imagina seu ideal do intelectual, mas sim alargar o campo do diálogo,
procurando inserir o maior número possível de “vozes”.
Descobrir com que vocabulário final deveríamos nos pôr a falar, para finalmente
podermos divisar daí alguma ética, é novamente apostar no projeto positivista que alia a
tarefa civilizatória à reforma do entendimento e e a reforma deste ao assentimento da
superioridade intelectual da ciência. Esta é a retórica com que Auguste Comte, por
exemplo, criticava às tentativas meramente práticas de reformulação da sociedade
promovidas por seu antigo mestre Saint-Simon. Ou com que, mais recentemente na
história, o behaviorista B. F. Skinner procurou relegar a psicologia folclórica com que nos
entendemos à dimensão das “ficções explicativas”, acusando-a de estar a impedir-nos de ter
uma imagem mais consistente de nós mesmos e resolvermos nossos problemas sociais.
Eram, a propósito, para Skinner, a literalização dessas “ficções explicativas”, as quais, no
seu entender deveriam ser eliminadas, como foram eliminados pela Química e pela Física
os já mencionados “flogístico” e “calórico” dos séculos XVIII e XIX, que nos impedia de
abraçarmos Walden II, a sociedade planejada a partir da análise experimental do
comportamento, telos do homem esclarecido pela ciência e onde viveria, enfim, a “boa
vida”. Nos dois exemplos, assim como em Wilson, é a figura do intelectual, usuário de uma
linguagem ideal (com que legitima a hierarquia que o eleva acima do “homem comum”,
24
dos “outros”, dos “prisioneiros da caverna”), que deve ditar o jogo que doravante se deve
jogar.
Figura platônica, este intelectual perde sentido, como dissemos, no jogo que as
Humanidades querem ajudar a instituir. O projeto utópico de uma sociedade que ganha em
perfectibilidade à medida em que seu idealizador é “aquele que sabe”, o rei-filósofo (ou, no
caso, o rei-cientista), enfim, não encontra lugar na retórica pragmatista que estamos a
defender contra o projeto da Consiliência. De nosso ponto de vista, Wilson é um
descendente direto do tipo de intelectual que figura na Casa de Salomão da Nova Atlântida
de Bacon. A propósito, essa genealogia não seria por ele contestada, se tivermos em conta o
cap. II de sua obra programática.
No entanto, do que foi exposto até agora, em nada nos parece evidente que a figura
desse intelectual deva emergir como conseqüência espontânea de um pensamento que deva
ser corrigido, como parece sugerir o autor aqui criticado. Tampouco nos parece evidente
que o programa da consiliência possa promover o progresso que as Humanidades, com a
sua retórica sempre “plena de meras metáforas”, ainda não obteve. Parece-nos, ademais,
tremendamente problemáticos o emprego do vocábulo “progresso”, na acepção positivista
com que Wilson o faz, e seu desejo de importá-lo para as Humanidades, depois de avaliálas pelo mesmo critério. Por fim, parece-nos risível dizer, como Wilson efetivamente o diz,
ser um mero ato de aquiescência ao óbvio fazer da filosofia uma ancilla da ciência, pronta a
ser dispensada quando esta última se tornar conhecedora de uma forma de lidar com aquilo
que hoje é feito pela disciplina supostamente subalterna (6). Precisamos lembrar o círculo
contraditório, tantas vezes lembrado aos positivistas do Círculo de Viena, com que se
25
autodestroem, essas tentativas de fazer da ciência o único tipo de discurso que faria
sentido?
O projeto de Wilson precisa ser escutado para que saibamos de que posição
exatamente ele enuncia sua perspectiva. A nosso ver, essa posição pode ser caracterizada
como exposta a seguir.
Em um conto muito conhecido, Borges nos fala de um ponto de vista, que, uma vez
ocupado, permite, ao agraciado com a oportunidade, conhecer tudo o que há para ser
conhecido. O Aleph, como é chamado este ponto de vista que providenciaria “a concepção
absoluta da realidade”, no conto do escritor argentino, vez por outra, é apresentado na
filosofia como a única saída à ameaça do relativismo epistemológico. Recentemente, foi
apresentado por Thomas Nagel (1986) como “the view from nowhere” ou como um telos
impessoal para o qual converge o conhecimento e que funciona como um norte na
resolução dos conflitos entre as diferentes narrativas, dando “a última palavra” (2001). Este
telos parece resistir a ser dispensado mesmo por posturas francamente opostas ao realismo
metafísico, como é o caso de da perspectiva de Hilary Putnam (1981). Todo o objetivo
pragmatista reside em tornar o recurso a este telos dispensável, sem que lhe possa ser
imputado o epíteto escarnecedor e filosoficamente indefensável de “relativista”. Por outro
lado, sem dúvida, a inspiração de Edward Wilson é fazer da ciência um tal Aleph,
imaginando para ela o lugar vago da metafísica tradicional.
26
Notas :
1.
Não nos esqueçamos de que os trabalhos de Kuhn e Feyerabend ganham repercussão dentro da atmosfera
da revolução dos costumes, da contestação à Guerra do Vietnã, da Primavera de Praga, dos movimentos
de expressão das minorias e de segmentos oprimidos; enfim, dentro de um contexto onde a palavra de
ordem era estranhar a versão oficial, a naturalidade das narrativas, a inocência dos significados.
2.
É claro que as motivações e as conseqüências da defesa de certas idéias diferem com relação ao contexto
em que estas se inscrevem. Por exemplo, Ronald Giere (1999. p. 14) sugere que “parte do significado da
distinção [entre contexto da descoberta e contexto de justificação] se devia, em Reichenbach, a sua
recusa em crer que as características de uma pessoa propondo uma hipótese científica tivesse algo a ver
com a validade científica da hipótese proposta. Isto se aplica, em particular, se a pessoa no caso é um
judeu. Reichenbach parece ter estabelecido, com isto, uma precondição, para qualquer epistemologia
científica, que exclui a possibilidade de qualquer distinção entre, por exemplo, uma ciência judia e uma
ariana.” Note-se que a defesa de uma distinção radical, aí operada pelos positivistas lógicos, entre, de um
lado, o campo metodológico e, de outro, os campos sociológico e psicológico, conseguiu funcionar, neste
contexto específico, como ferramenta útil e com fins libertários. É, nesse sentido, interessante observar
que o próprio Reichenbach desenvolve estas idéias, entre os anos de 1933 e 1938, na Nova República de
Mustapha Keman, na Universidade de Istambul, onde buscará refúgio, após ter sido demitido da
Universidade de Berlim, juntamente com cinqüenta outros professores alemães, por conta das leis raciais
nazistas, introduzidas em 1933 (Giere, R., op. cit., p.13).
27
3.
Não conhecemos melhor maneira de apontar para o caráter contingente de nossa subjetividade que
lembrar dois exemplos explorados pelo antropólogo interpretativo Clifford Geertz. O primeiro exemplo
diz respeito às diferentes concepções que os povos ocidentais, os navajo e os pokot fazem daquilo que
conhecemos por “hermafroditismo” ou “intersexualidade”. Na descrição que Geertz nos dá da forma com
que os navajos vêem (“cultuam”, seria a palavra certa!) o hermafrodita, longe de ser uma patologia a ser
corrigida ou uma fonte de ansiedades e contínuos problemas, ele seria, por conta da sua completude, o
responsável pelo bom funcionamento e pela própria continuidade do grupo... De forma que leva o nosso
senso comum aos limites do que julgamos ser possível, um homem (ou mulher) navajo sexualmente bemformado, como nos expressaríamos, sente-se como incompleto diante daquele ser mais pleno,
intermediário entre os mundos humano e divino. O segundo é ainda mais impressionante e analisa a
contingência de um conceito cujo conteúdo é tido costumeiramente por auto-evidente: trata-se do
conceito de self. Desta vez, Clifford Geertz relata suas próprias pesquisas sobre as diferentes concepções
de eu entre os javaneses, os balineses e os marroquinos. Sua descoberta mais impressionante, a meu ver,
diz respeito à completa ausência da idéia de uma individualidade entre os balineses. Este grupo
simplesmente não conseguiria entender nossa constructo “personalidade”. Encaixando-se em papéis préfixados, é sua tarefa fazer funcionar uma eterna peça, que é o que ali verdadeiramente importa. A
identificação com tais dramatis personae é em tudo avessa a nossas obsessões atuais por singularidades
diferenciadas.
Wilson não parece ter a menor curiosidade por estes e outros exemplos daquilo que se convencionou
chamar por “construcionismo lingüístico”. Ao invés disso, na sua defesa de uma mente impermeável a
determinações lingüísticas, ele cita os interessantes trabalhos de Brent Berlin e Paul Kay, sobre o caráter
aparentemente não tão contingente das classificações de cores, e de Eleanor Rosch, que acabou por
encontrar evidências empíricas contra a hipótese Whorf-Sapir, no seu estudo com os dani, da Nova Guiné
(cf. Wilson, 1999, cap. VII). Sim, é bastante provável que Eleanor Rosch tenha descoberto algo de muito
interessante sobre a independência do processo de reconhecimento das cores com relação à linguagem
utilizada. Os dani, por exemplo, saem-se tão bem como os americanos nesta tarefa, ainda que não
contem, como estes, com um vasto léxico para se referirem às cores. Em realidade, os dani só possuem
28
duas categorias para cores, a saber, mili (para matizes escuros e frios) e mola (para matizes claros e
quentes). Mas será mesmo que desses resultados triviais que parecem apontar para uma preparação
biológica para o reconhecimento das cores (preparação esta que parece impermeável à variabilidade
lingüística que o whorfiano ou o nominalista, em um primeiro momento, poderiam estar dispostos a
defender) deveria seguir-se, de fato, uma “teoria da natureza humana”? A imensa parte do nosso sistema
de classificação se estende para além destes casos interessantes mas (repetimos) triviais, analisados por
Wilson. A evolução, é claro, pode ter-nos aparelhado para classificar de maneiras fixas determinados
domínios do real, até mesmo bem mais complexos que o domínio das cores, apontado pelo nosso
naturalista. Mais conceitos como “personalidade”, “sexualidade”, “subjetividade” não parecem de grande
valia para entendermos um passado distante de nós ou outras culturas. Do que sabemos da Psicologia
Histórica e da Antroplogia Interpretativa, parecem antes tomar parte em descrições contingentes que
inventamos para dar conta de necessidades igualmente circunstanciais. E é neste sentido que o
pragmatista procura alertar para as tentativas apressadas e negligentes, que, a partir de resultados como
estes, pretendem imaginar uma revolução intelectual que traria de volta o projeto de uma teoria da
natureza humana.
4.
Seja notado que Wilson, então, atribui a própria existência da disciplina da História a um estado que
poderíamos chamar de “ignorância pré-científica”. Assim, como a história natural precedeu, com seu
exercício meramente descritivo, à disciplina científica da Biologia, estamos autorizados a pensar pela
passagem, que Wilson acredita que leis gerais da História vão acabar por ser descobertas à medida que se
rastrearem dados de inúmeras sociedades. Só então, o estágio protocientífico e folclórico da História
cederia a uma verdadeira ciência da evolução do curso humano. Estranho o exercício cientificista de
Wilson culminar com os mais ousados insights idealistas de Hegel! Igualmente estranha é sua concepção
bastante anacrônica de que então é possível fazer previsão em História... Popper já não nos havia
esclarecido em A Miséria do Historicismo, através de um silogismo, que, sendo a transformação do
conhecimento científico imprevisível e que, sendo o processo histórico claramente influenciado pelo
conhecimento científico, estaria vedada a possibilidade de previsão na História. E, quanto à História,
29
existirá mesmo ainda a possibilidade, depois de Michel Foucault, de darmos sentido à idéia de “uma
única narrativa histórica”?
5.
De fato, esta era a função que Durkheim atribuía ao cientista social (cf. Putnam, H., 1992, p. 188 e 223).
O ponto aí é que a sociedade era imaginada como um fato como qualquer outro – “o fato social”. Seguiase desta lógica positivista, então, que se imaginasse um lugar elitista para o cientista social como “aquele
que sabe o que fazer” e, conseqüentemente, “aquele que está autorizado a dizer o que se deve fazer”. Ao
se imaginar, contrariamente, que a sociedade é um campo de contradições que encerra em si um grande
número de vozes, a idéia de uma “solução objetiva” para seus problemas torna-se inútil. Impossibilita-se,
com isso, também que se localize exatamente no cientista a única personagem da cultura que poderia
apresentar aquela solução. Mais democrático, acreditamos, é imaginar os intelectuais de uma comunidade
como figuras que podem propor alternativas e ajudar na orquestração do diálogo. Na verdade, a posição
de Wilson quanto ao ponto é antiga: Supõe que, num mundo ideal, teríamos um “rei-cientista”. Mas isto
só atualiza mesmo o equívoco de se supor que uma pessoa que supostamente conheça bem os
mecanismos de funcionamento da sociedade deva também dizer para onde a sociedade deva se
encaminhar. Ora, trata-se de dois momentos de análise completamente distintos, embora autores como
Wilson façam de tudo para que não se perceba a diferença. A distinção, no entanto, segue sendo gritante:
Alguém pode conhecer muitíssimo bem o funcionamento interno de um barco a vapor, mas isso não quer
dizer que caiba a ele, e não aos passageiros, decidir para onde o barco deva ir.
6.
Questão inquietante: O que levaria Wilson a subescrever Alexander Rosenberg quando este nos diz que
“a filosofia na verdade aborda apenas duas questões: as perguntas que as ciências – físicas, biológicas e
sociais – não conseguem responder e as razões dessa incapacidade” (apud Wilson, op. cit., p.10) ? A
ingenuidade (a indigência intelectual?) de Rosenberg é ainda mais patente quando ele nos diz: “É claro
que pode não haver nenhuma pergunta a que as ciências não consigam responder no final, a longo prazo,
quando todos os fatos forem conhecidos, mas decerto há questões às quais a ciência não consegue
responder ainda”. Trata-se de um caso grave de “as novas roupas do imperador”. Afinal de contas, os
valores que devemos adotar para a construção das vidas pública e privada podem ser destilados do
30
exercício científico? Evidentemente que não. Mas supor uma resposta afirmativa não seria, inclusive, já
uma sintomática inobservância (um esquecimento mesmo!) do aspecto criador da vida humana? E, a
propósito, todo esquecimento não é mesmo um processo ativo? Neste caso, em nome do quê, então, se
esquece aqui?
Referências Bibliográficas:
FEYERABEND, P. Adeus à Razão. Lisboa: Edições 70, 1991.
FEYERABEND, P. Contra o Método, 3a edição. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989.
GEERTZ, C. O Saber Local. Petrópolis: Vozes, 1998.
GIERE, R.N. Explaining Science: A Cognitive Approach. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
GIERE, R.N. Science Without Laws. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
KUHN, T. S. The Structure of Scientific Revolution, 3rd edition. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
NAGEL, T. The View from Nowhere. New York: Oxford University Press, 1986.
NAGEL, T. A Última Palavra. São Paulo: Unesp, 2001.
POPPER, K. A Miséria do Historicismo. São Paulo: Cultrix / EDUSP, 1980.
POPPER, K. Vida é Aprendizagem: Epistemologia Evolutiva e Sociedade Aberta. Lisboa: Edições 70, 2001.
PUTNAM, H. Meaning and the Moral Sciences. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.
PUTNAM, H. Reason, Truth and History. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981.
PUTNAM, H. Renewing Philosophy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
RORTY, R. Filosofia e o Espelho da Natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988.
RORTY, R. Contingência, Ironia e Soliedariedade. Lisboa: Presença, 1992.
RORTY, R. Against Unity. In: The Wilson Quarterly (versão on-line), Winter 1998.
RORTY, R. The Decline of Redemptive Truth and the Rise of a Literary Culture (versão on-line), 2001.
31
WILSON, E. O. Consiliência: A Unidade do Conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 1999.