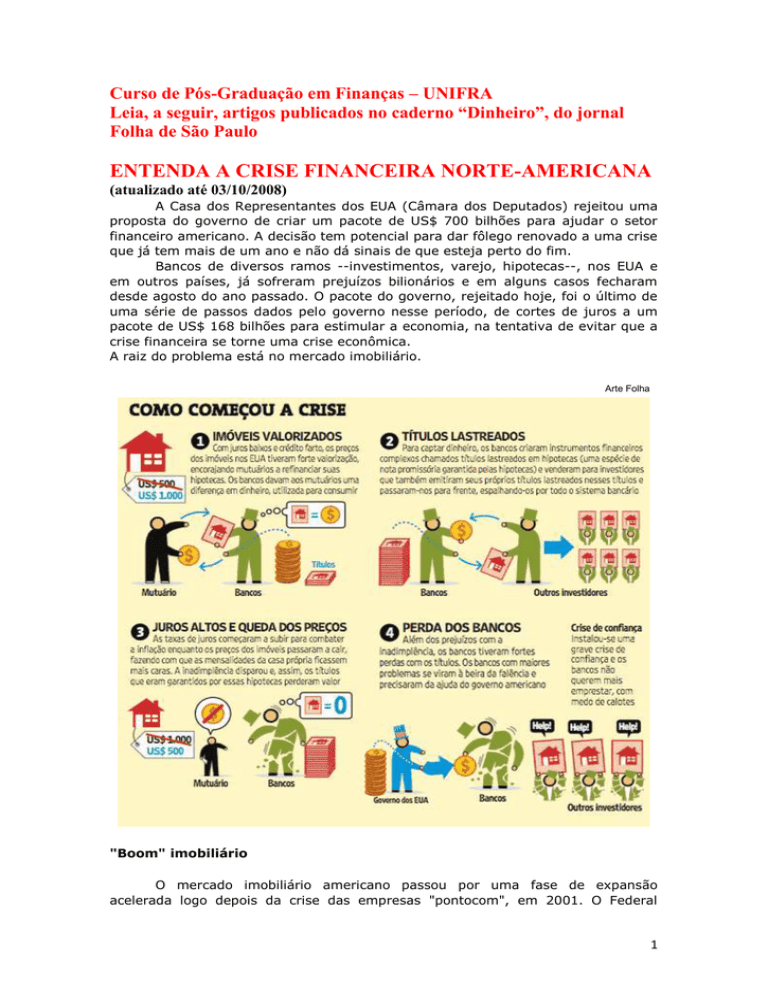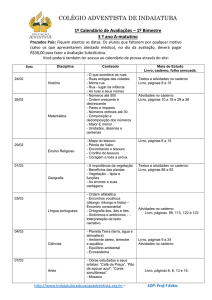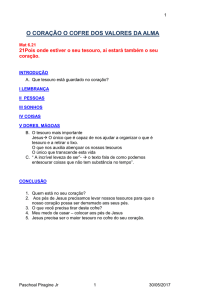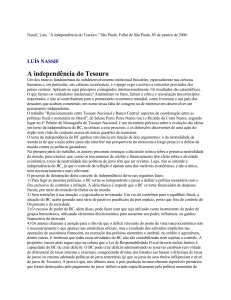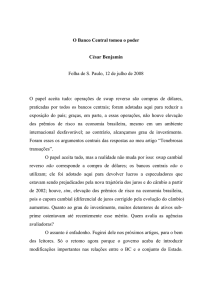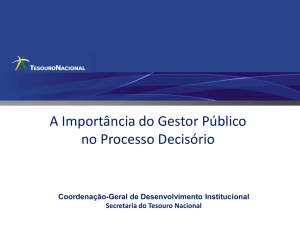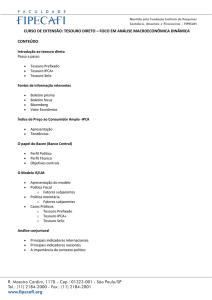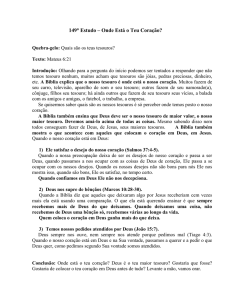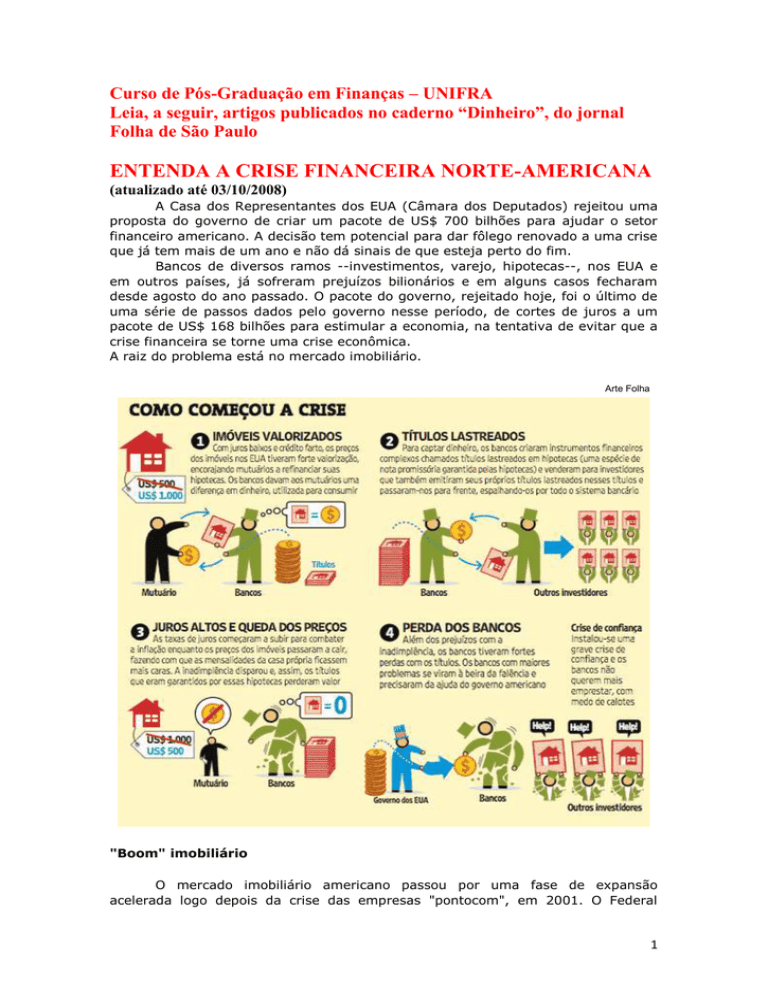
Curso de Pós-Graduação em Finanças – UNIFRA
Leia, a seguir, artigos publicados no caderno “Dinheiro”, do jornal
Folha de São Paulo
ENTENDA A CRISE FINANCEIRA NORTE-AMERICANA
(atualizado até 03/10/2008)
A Casa dos Representantes dos EUA (Câmara dos Deputados) rejeitou uma
proposta do governo de criar um pacote de US$ 700 bilhões para ajudar o setor
financeiro americano. A decisão tem potencial para dar fôlego renovado a uma crise
que já tem mais de um ano e não dá sinais de que esteja perto do fim.
Bancos de diversos ramos --investimentos, varejo, hipotecas--, nos EUA e
em outros países, já sofreram prejuízos bilionários e em alguns casos fecharam
desde agosto do ano passado. O pacote do governo, rejeitado hoje, foi o último de
uma série de passos dados pelo governo nesse período, de cortes de juros a um
pacote de US$ 168 bilhões para estimular a economia, na tentativa de evitar que a
crise financeira se torne uma crise econômica.
A raiz do problema está no mercado imobiliário.
Arte Folha
"Boom" imobiliário
O mercado imobiliário americano passou por uma fase de expansão
acelerada logo depois da crise das empresas "pontocom", em 2001. O Federal
1
Reserve (Fed, o BC americano) passou a reduzir sua taxa de juros, a fim de
baratear empréstimos e financiamentos e encorajar consumidores e empresas a
voltarem a gastar. O setor imobiliário se aproveitou desse momento de juros
baixos: a demanda por imóveis cresceu, atraindo compradores. Em 2003, por
exemplo, os juros do Fed chegaram a cair para 1% ao ano --menor taxa desde o
fim dos anos 50.
Em 2005, o "boom" no mercado imobiliário já estava avançado; comprar
uma casa (ou mais de uma) tornou-se um bom negócio, não só para quem queria
adquirir a casa própria, mas também para quem procurava em que investir.
Também cresceu a procura por novas hipotecas, a fim de usar o dinheiro do
financiamento para quitar dívidas e consumir.
As companhias hipotecárias descobriram nessa época um nicho ainda a ser
explorado no mercado: o de clientes do segmento "subprime", caracterizados, de
modo geral, pela baixa renda, por vezes com histórico de inadimplência e com
dificuldade de comprovar renda. O segmento "subprime", assim caracterizado,
representa um risco maior de inadimplência que os de outras categorias de crédito.
mas justamente por ser de maior risco, as taxas de retorno são bem mais altas.
A promessa de retornos altos atraiu gestores de fundos e bancos, que
compram esses títulos "subprime" das companhias hipotecárias e permitem que
uma nova quantia em dinheiro seja emprestada, antes mesmo do primeiro
empréstimo ser pago. Um outro gestor, interessado no alto retorno envolvido com
esse tipo de papel, pode comprar o título adquirido pelo primeiro, e assim por
diante, gerando uma cadeia de venda de títulos.
Porém, se a ponta (o tomador) não consegue pagar sua dívida inicial, ele dá
início a um ciclo de não-recebimento por parte dos compradores dos títulos. O
resultado: todo o mercado passa a ter medo de emprestar e comprar os
"subprime", o que termina por gerar uma crise de liquidez (retração de crédito).
Após atingir um pico em 2006, os preços dos imóveis, no entanto, passaram
a cair: os juros do Fed, que vinham subindo desde 2004, encareceram o crédito e
afastaram compradores; com isso, a oferta começou a superar a demanda e, desde
então, o que se viu foi uma espiral descendente no valor dos imóveis.
Com os juros altos, a inadimplência aumentou e o temor de novos calotes fez o
crédito sofrer uma desaceleração expressiva no país como um todo. Sem oferta
suficiente de crédito, a economia dos EUA desaqueceu. Com menos liquidez
(dinheiro disponível), menos se compra, menos as empresas lucram e menos
pessoas são contratadas.
No mundo da globalização financeira, créditos gerados nos EUA podem ser
convertidos em ativos que vão render juros para investidores na Europa e outras
partes do mundo. Por isso o pessimismo influencia os mercados globais.
Primeiros efeitos
Esse era o cenário quando o o BNP Paribas Investment Partners --divisão do
banco francês BNP Paribas-- congelou, em agosto do ano passado, cerca de 2
bilhões de euros dos fundos Parvest Dynamic ABS, o BNP Paribas ABS Euribor e o
BNP Paribas ABS Eonia. A alegação do banco era de preocupações sobre o crédito
"subprime" nos EUA.
Diante dessa medida, o mercado imobiliário reagiu com pânico. Gigantes do
setor hipotecário, como a American Home Mortgage (AHM), uma das 10 maiores
empresa do setor de crédito imobiliário e hipotecas dos EUA, pediu concordata. A
Countrywide Financial, outra gigante do setor, teve de ser comprada pelo Bank of
America. Citigroup, UBS, Bear Stearns e outros grupos financeiros de escala global
perderam bilhões com os papéis ligados a hipotecas "subprime".
2
Um ano depois
A crise, longe de perder fôlego, teve suas forças renovadas desde o início
deste mês: as gigantes hipotecárias americanas Fannie Mae e Freddie Mac deram
sinais de que poderiam quebrar. Com quase a metade dos US$ 12 trilhões em
empréstimos para a habitação nos EUA em seus registros, o Departamento do
Tesouro interveio para evitar o pior: anunciou uma ajuda de até US$ 200 bilhões.
O Lehman Brothers, no entanto, foi deixado à própria sorte: afetado pelas
perdas com a crise dos "subprime", o banco viu malograrem tentativas de
encontrar um comprador e de levantar fundos junto a outras instituições privadas
para tocar suas operações financeiras. Mesmo o governo negou um empréstimo. No
último dia 15, a solução encontrada pelo banco foi pedir concordata.
Ao fim do Lehman se seguiram a venda do Merrill Lynch ao Bank of America;
a ajuda de US$ 85 bilhões à seguradora AIG, também sob risco de quebrar por
falta de fontes de captação de empréstimos a quebra do banco do segmento de
empréstimos em poupança ("savings & loans") Washington Mutual (WaMu) --no
que, segundo analistas, foi a maior falência de um banco nos Estados Unidos--; e,
hoje, foi anunciada a venda do Wachovia ao Citigroup.
A venda ao Citigroup foi feita com assistência da FDIC (Corporação Federal
de Seguro de Depósito, na sigla em inglês, órgão do governo que garante
operações do setor bancário americano), que irá absorver as perdas do Wachovia
acima de US$ 42 bilhões. Além disso o órgão do governo receberá US$ 12 bilhões
em ações e garantias do Citigroup.
Os problemas do Wachovia têm boa parte de sua origem na aquisição da
companhia hipotecária Golden West Financial em 2006, por cerca de US$ 25
bilhões, quando o mercado imobiliário ainda estava em um momento de euforia.
Com a compra, o Wachovia assumiu US$ 122 bilhões em hipotecas do tipo 'Pick-APayment', na qual a Golden West era especialista. Nessa modalidade, os mutuários
tinham permissão para deixar de fazer alguns pagamentos.
Combate
O pacote de estímulo aprovado em fevereiro surtiu algum efeito, com o
envio de cheques de restituições aos contribuintes. O dinheiro extra favoreceu os
gastos dos consumidores entre abril e julho, o que se refletiu nos dados do PIB
(Produto Interno Bruto): no segundo trimestre, a economia cresceu 2,8%
(ligeiramente menor que os 3,3% em um cálculo prévio). Analistas dizem, no
entanto, que, sem o benefício do dinheiro extra, nos próximos trimestres o
desempenho econômico americano deverá ser inferior.
O pacote rejeitado, de US$ 700 bilhões, foi outra iniciativa para evitar que a
crise financeira contamine a economia. O secretário do Tesouro dos EUA, Henry
Paulson, e a Casa Branca, manifestaram desapontamento com a rejeição. Paulson
disse que é preciso "chegar a um texto que todos possam aprovar" e de "um plano
que funcione, o mais rápido possível".
Já o porta-voz da Casa Branca Tony Fratto reconheceu que "não há dúvidas
de que o país está enfrentando uma crise difícil". Horas antes, o presidente dos
EUA, George W. Bush, pediu mais uma vez a aprovação do pacote. "Votar essa lei é
votar na prevenção de danos econômicos a vocês e às suas comunidades", afirmou.
Bush ainda havia afirmado que, apesar do pacote de ajuda, a economia americana
ainda deverá sentir o impacto da crise "por algum tempo". "No longo prazo, os EUA
vão superar os desafios e continuar a ser a maior economia do mundo", afirmou.
(29/09/2009
3
No futuro, Wall Street terá papel menor (17/09/2008)
Analistas e banqueiros vêem fim de "superbolha" de crédito que durou 30 anos e
da "era dourada" do setor financeiro
Crise atual deve reduzir número de bancos de investimento, que precisarão de
base maior de capital para operar
LOUISE STORY
EDMUND L. ANDREWS
DO "NEW YORK TIMES"
A velha Wall Street está abrindo caminho a uma nova.
Enquanto reacomodações tectônicas no setor financeiro americano abalam os mercados
mundiais, muitos especialistas prevêem que os eventos das 72 horas anteriores
prenunciavam um período de dolorosas mudanças em Wall Street.
As previsões são desanimadoras. Os bancos de investimento serão menores. Seus
lucros, mais magros. Os empregos no setor financeiro escassearão. E a dimensão
desproporcional que Wall Street veio a assumir na economia do país encolherá.
Esse é o caso extremo. Mas enquanto os investidores tentavam compreender a queda
abrupta de duas das mais poderosas empresas de Wall Street -o Lehman Brothers, que
entrou em colapso, e o Merrill Lynch, que correu a fechar um acordo de fusão com o
Bank of America-, até mesmo os otimistas diziam que o futuro imediato seria difícil.
Henry Paulson, o secretário do Tesouro, e o Federal Reserve (Fed, o banco central dos
Estados Unidos) estão preparando o terreno para que os poucos sobreviventes vigorosos
liderem a recuperação do setor, mas permitirão que as empresas mais fracas desabem ou
sejam engolidas por rivais. "Tivemos uma era dourada para os serviços financeiros e
bancários", disse Kenneth Lewis, presidente-executivo do Bank of America. "As coisas
serão mais difíceis agora. Haverá menos empresas, e teremos de ser melhores no que
fazemos".
Há um debate acalorado sobre o que o futuro reserva a Wall Street agora que apenas
dois dos grandes bancos de investimento dos EUA, Goldman Sachs e Morgan Stanley,
se mantêm independentes. Embora Wall Street já tenha passado por momentos difíceis
no passado e saído deles ainda maior e mais forte, há quem questione a capacidade do
setor para se recuperar rapidamente, depois de utilizar altos níveis de alavancagem, ou
dinheiro emprestado, para apostar de maneira exagerada em investimentos de risco.
Esses investimentos se provaram desastrosos. Em todo o mundo, companhias do setor
financeiro reportam mais de US$ 500 bilhões em provisões para perdas e prejuízos
associados à crise de crédito, e alguns especialistas acreditam que esse total possa passar
de US$ 1 trilhão.
Decisões equivocadas no mercado de hipotecas custaram à Merrill Lynch, corretora
cujo nome é sinônimo de Wall Street para muitas pessoas comuns, mais de US$ 45
bilhões em prejuízo no ano passado. A venda do grupo pode representar mais um passo
na direção de uma consolidação mais ampla.
"Em nosso negócio, estamos todos condicionados a ciclos e crises, e também estamos
condicionados a recuperações relativamente rápidas dos mercados, porque a crise pode
ser identificada e mensurada", disse Donald Marron, presidente-executivo do Lightyear
4
Capital.
"O que é diferente desta vez é que não se pode fazer qualquer das duas coisas."
A união entre o Bank of America e o Merrill Lynch em certo sentido representa um
recuo ao passado. Durante a Depressão, o Congresso separou os bancos comerciais, que
aceitam depósitos e fazem empréstimos, dos bancos de investimento, que subscrevem
emissões e negociam títulos.
Os bancos de investimento tinham autorização para operar com menos fiscalização,
enquanto os bancos comerciais eram mais acompanhados pelas autoridades.
Mas, depois que o Congresso revogou as leis da era da Depressão, em 1999, bancos
comerciais começaram a invadir o território de Wall Street. E à medida que os novos
concorrentes geravam uma redução nas margens de lucros, os bancos de investimento
começaram a usar mais de seu capital para negociar títulos, e a desenvolver mais
derivativos financeiros para reforçar os lucros.
Agora, executivos como John Thain, presidente-executivo do Merrill Lynch e exexecutivo do Goldman Sachs, dizem que os bancos de investimento precisarão de bases
de depósitos vultosas a fim de escorar seu capital em momentos de crise.
"No futuro, o tamanho importará mais e mais", disse Thain.
Paulson disse a executivos de Wall Street que não está satisfeito com a redução no
número de bancos de investimento, ainda que a empresa que ele presidia, o Goldman
Sachs, seja um dos dois grandes que podem se beneficiar da reacomodação no setor.
Paulson afirmou que uma maior consolidação em Wall Street poderia elevar o grau de
risco no sistema financeiro, porque os riscos estarão concentrados em um número
menor de empresas. Mas funcionários do Tesouro crêem que esse risco ainda assim
represente o mal menor, caso a alternativa seja intervir para impedir o colapso de
empresas em crise.
Enquanto isso, o Federal Reserve vem expandindo seus canais extra-oficiais de
financiamento para aquilo que, esperam seus dirigentes, seja uma reacomodação ordeira
de Wall Street. Mas o Fed e, em última análise, os contribuintes poderiam arcar com o
custo.
O que parece estar claro para quase todos em Wall Street é que a era de lucros
operacionais imensos e de transações bancadas por endividamento elevado dos bancos é
coisa do passado, ao menos por ora. Isso vai restringir os lucros de todo o setor por
algum tempo. No exato momento em que os americanos encontram dificuldades para
reformar suas casas ou comprar um carro novo, os maiores protagonistas do mercado de
Wall Street se vêem forçados a conter as somas que captam de empréstimo.
Wall Street sempre usou dinheiro alheio para reforçar seus lucros, mas nos últimos anos
o uso de dinheiro emprestado cresceu de maneira explosiva. Os instrumentos do
mercado de crédito do setor financeiro cresceram em mais de 150% nos últimos dez
anos e atingiram o total de US$ 15 trilhões no ano passado, de acordo com a
Economy.com, do grupo Moody's, crescendo a um ritmo duas vezes mais forte que o da
economia mais ampla.
Em seu pico, no ano passado, os bancos de investimento tomaram de empréstimo em
média US$ 32 para cada dólar que detinham em ativos, de acordo com pesquisas da
Ladenburg Thalmann. Os empréstimos ajudaram o setor a registrar lucros recordes,
contratar mais pessoal e pagar bonificações espantosas. E reforçou as ações financeiras,
fazendo delas o mais forte segmento no índice S&P 500 de 2001 até o segundo trimestre
deste ano.
"Trata-se de uma bolha nos serviços financeiros que se provou bastante semelhante a
todas as demais bolhas", disse Olivier Sarkozy, diretor de investimento em serviços
financeiros do Carlyle Group, uma empresa de capital privado.
5
As empresas de Wall Street já estão reduzindo seu nível de endividamento, e as
autoridades regulatórias devem criar novas regras quanto a endividamento, liquidez e
níveis de capitalização. As novas regras, caso sejam severas, podem forçar Goldman
Sachs e Morgan Stanley a fusões com bancos que contem com uma base de depósitos, o
que representa uma fonte firme de capital e uma proteção contra colapsos.
Os veteranos de Wall Street estão divididos quanto às dimensões dos problemas do
setor. Alguns apontam que Wall Street tende a passar por uma desaceleração ou crise
aberta a cada quatro ou cinco anos, e que em geral se recupera rapidamente. Mas outros
argumentam que aquilo que está acontecendo agora marca o final de uma "superbolha"
de crédito que durou 30 anos e afetou o setor financeiro tanto quanto aos consumidores.
Qualquer que venha a ser o caso, o setor financeiro parece conformado com a idéia de
que os salários e os lucros serão mais baixos para todos. "Já que não podem tomar
dinheiro emprestado, terão de promover cortes", disse Peter Solomon, presidente do
banco de investimento independente que porta seu nome. "E esses cortes envolverão
demissões".
ARTIGO
O fim das finanças pouco regulamentadas (17/09/2008)
MARTIN WOLF
DO "FINANCIAL TIMES"
SÃO TEMPOS dramáticos. Na segunda-feira desta semana, três dos principais bancos
de investimentos de Wall Street -Bear Stearns, Lehman e Merrill Lynch- tinham
desaparecido como entidades independentes. O grupo de seguros AIG está em sérias
dificuldades. O que era, até recentemente, o bravo e novo sistema financeiro dos EUA
está se fundindo diante de nossos olhos. O que deu errado? O pior já passou? Quais são
as lições para as instituições financeiras? Quais são as lições para os governos? Aqui
estão minhas respostas atuais.
O que deu errado? A resposta curta é: Hyman Minsky, da obra-prima "Stabilizing an
Unstable Economy" [Estabilizando uma Economia Instável], tinha razão. Um longo
período de crescimento rápido, baixa inflação, baixas taxas de juros e estabilidade
macroeconômica gerou complacência e aumentou a disposição a assumir riscos. A
estabilidade levou à instabilidade.
A securitização inovadora, o financiamento fora dos balanços foram uma grande parte
da história. Como Minsky advertiu, a fé indevida em mercados desregulamentados se
revelou uma armadilha. É o progresso indevido desfrutado pelos EUA e pelos países da
Europa na última década.
O pior já passou? Certamente não. Reverter excessos de tal escala envolve quatro
processos gigantescos: a queda dos preços inflados dos ativos a um nível sustentável; a
desalavancagem do setor privado; o reconhecimento dos prejuízos resultantes para o
setor financeiro; e a recapitalização do sistema financeiro. Para piorar tudo isso, haverá
o colapso da demanda do setor privado, conforme o crédito encolhe e a riqueza diminui.
Nenhum desses processos não está nem sequer perto de terminado. Alguns deles mal
começaram. Em particular, os preços das propriedades continuam caindo, mesmo nos
EUA. De maneira semelhante, o ajuste na economia real, especialmente os inevitáveis
aumentos dos índices de poupança familiar nos EUA e no Reino Unido, estão em uma
fase incipiente.
6
Como os resultados são incertos, o medo é generalizado.
A maior questão é se haverá necessidade de resgates pilotados pelo governo dos
sistemas financeiros descapitalizados.
Isso está parecendo cada vez mais provável hoje. No mundo atual, os governos
socorrem essas economias abaladas de quatro maneiras: oferecem liquidez generosa de
última hora, via bancos centrais; assumem enormes déficits fiscais, para compensar a
passagem do setor privado para superávit financeiro; substituem a dívida pública por
dívida privada, para recapitalizar os sistemas financeiros descapitalizados (muitas vezes
depois de uma nacionalização); e podem adotar uma erosão inflacionária no valor da
dívida privada (e pública). Tudo isso é provável hoje, incluindo, infelizmente, a última
Quais são, então, as lições para as instituições financeiras?
As portas do estábulo estão sendo fechadas depois que os cavalos fugiram. O Instituto
para Finanças Internacionais, por exemplo, produziu um excelente relatório sobre as
coisas que a indústria financeira deve fazer (ou deveria ter feito).
Esse relatório se concentra, adequadamente, na administração de riscos (que foi um
desastre), na compensação (que foi grotescamente irresponsável), no modelo de originar
e distribuir (que estava cheio de irresponsabilidade e fraude) e assim por diante.
Sem dúvida as pessoas escaldadas por esta crise vão levar a sério esses conselhos, por
algum tempo. Mas daqui a alguns anos -20, se tivermos sorte, menos de 10, se os
estragos forem contidos pelas autoridades- serão águas passadas. Nos sistemas
financeiros desregulamentados as crises são inevitáveis, como terremotos em uma área
de falha. Só o momento é incerto.
Quais, afinal, são as implicações para os governos hoje? As perguntas são duas: como
reestruturar o regulamento para o longo prazo? E quanto de suas ferramentas para crises
devem usar agora?
Meu colega John Kay diz que a regulamentação deve ser restrita. Seu argumento se
baseia em duas propostas: primeiro, o sistema de pagamentos é a principal função de
utilidade financeira; e, segundo, os reguladores não podem prever com sucesso as
decisões de enormes instituições dirigidas por pessoas mais bem pagas e mais
motivadas que eles próprios.
Kay afirma que os governos nem sequer deveriam fingir que podem estabilizar o
sistema financeiro. Em vez disso, precisam tentar "isolar a economia real das
conseqüências da instabilidade financeira". O último, ele sugere, pode ser obtido
garantindo os pequenos depósitos, criando um regime especial de resoluções para os
bancos e tornando o esquema de seguro de depósitos um credor preferido.
Acho a posição de Kay ao mesmo tempo atraente e irreal.
Um motivo importante para essa última opinião é que os governos definem
adequadamente a provisão para intermediação financeira e seguro como funções de
utilidade essenciais na economia moderna. Outra é que é impossível proteger a
economia real de uma ruptura do sistema de crédito. Por isso os governos não podem
prometer com credibilidade lavar as mãos em um colapso financeiro. Essa é a lição de
pelo menos meio século de história.
Uma maior regulamentação é inevitável, infelizmente, mesmo que condenada a ser
imperfeita. Dois passos devem ser dados. Um é procurar regras simples para melhorar a
operação do sistema como um todo, sendo óbvia a exigência de capitais contracíclicos.
O outro passo, muito mais polêmico, é uma mudança na psicologia da supervisão que se
afaste da tese de que as instituições sabem o que estão fazendo. Em particular, deve-se
dar muito mais atenção ao comportamento que parece racional para cada instituição,
mas não pode ser racional se todas participarem dele ao mesmo tempo. Por exemplo,
financiar bolhas de preços da habitação com empréstimos equivalentes a 100% do valor
7
mal avaliado, porque os preços sempre sobem.
Hoje, porém, as autoridades também devem se perguntar se o que elas estão fazendo
tornará o sistema mais seguro quando a crise passar. Por esses padrões, a decisão de não
salvar o Lehman pareceu certa. Mas também foi arriscada, porque temos de superar a
crise. Esperemos que a decisão seja uma parte da solução, e não um agravamento. Eu
não apostaria nesse resultado benigno.
PAULO NOGUEIRA BATISTA JR.
Crepúsculo dos ídolos
(18/09/2008)
CARO LEITOR , estou perplexo.
Não sei por onde começar. O desastre financeiro aqui nos EUA é de proporções
impressionantes. Nunca vi nada igual em minha vida. E olhe, leitor, posso lhe assegurar
que já vi e vivi muita coisa: a crise da dívida externa dos anos 80, as crises cambiais da
década de 90, entre muitos outros episódios.
Mas a atual crise é muito diferente desses episódios. Ela tem como epicentro o sistema
financeiro dos EUA -o maior, o mais sofisticado e, até recentemente, o mais respeitado
do mundo. Na década de 90, as crises tinham origem na periferia da economia mundial,
em lugares como México, Tailândia ou Rússia. Agora, a maior economia do mundo é o
palco de acontecimentos tenebrosos.
A confiança nos EUA e, em especial, nas suas instituições financeiras foi
profundamente abalada. Depois do que aconteceu com Bear Stearns, Fannie Mae,
Freddie Mac, Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG -todas elas instituições de tradição
e credibilidade-, ninguém acredita mais em ninguém.
A tempestade financeira parece não ter fim. Os preços dos imóveis continuam caindo. O
sistema financeiro ainda tem muitas bandas podres, não só nos EUA como também na
Europa Ocidental. Outras instituições de porte e renome devem falir ou precisar de
socorro oficial.
Há uma certa ironia na situação atual. Um governo comprometido com o livre mercado,
avesso à regulação financeira e à participação do Estado na economia, está sendo
forçado a praticar uma das maiores intervenções da história. Na prática, grande parte do
sistema financeiro está sendo nacionalizada.
Aliás, a aversão à regulação do sistema financeiro foi um dos fatores que contribuíram
para o acúmulo de graves distorções e vulnerabilidades. É provável que um dos
resultados da crise venha a ser o fortalecimento da regulação e a supervisão não apenas
dos bancos, mas de um conjunto maior de agentes financeiros. Após a crise, o sistema
financeiro será provavelmente menor e menos livre do que foi até agora.
O Tesouro e o BC americanos enfrentam um dilema que é clássico, mas que raramente
se apresenta de forma tão aguda. Por um lado, o governo precisa socorrer as instituições
de grande porte para fazer face ao chamado risco sistêmico, isto é, o risco de que o
colapso de uma grande firma leve a uma destrutiva reação em cadeia dentro do sistema
financeiro. Por outro, essas intervenções costumam ter um custo elevado para as contas
públicas e, em última análise, para o contribuinte.
Além disso, elas podem envolver um "risco moral", isto é, solapar a disciplina no
mercado e estimular comportamentos arriscados.
Em situações de extrema instabilidade, como a atual, o risco sistêmico tende a ganhar
precedência em relação ao custo fiscal e ao "risco moral". Porém, no fim de semana
passado, o governo americano tomou uma decisão muito arriscada: resolveu permitir o
8
colapso do Lehman Brothers, um dos maiores e mais tradicionais bancos de
investimento dos EUA. Alguns afoitos se aventuraram a celebrar a vitória das
preocupações com o "risco moral".
Bem. A hegemonia do "risco moral" não durou 48 horas. O colapso do Lehman
desencadeou um pandemônio nos mercados. No final da terça-feira, o Fed teve que
anunciar uma intervenção muito maior do que teria sido a do Lehman: US$ 85 bilhões
para salvar uma das maiores seguradoras do mundo -a AIG. Não obstante, os mercados
ainda estão extremamente nervosos.
A crise continua.
PAULO NOGUEIRA BATISTA JR., 53, escreve às quintas-feiras nesta coluna. Diretor-executivo no
FMI, representa um grupo de nove países (Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Haiti, Panamá, República
Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago).
VINICIUS TORRES FREIRE
Choque, pavor e dólar no colchão
(18/09/2008)
INVESTIDORES grandes do mundo inteiro guardavam ontem dinheiro no colchão.
Zilhões de dólares foram investidos em papéis que não rendem nada -na verdade, se
perde dinheiro, se descontada a inflação. Os investidores compraram em massa títulos
do Tesouro americano de curto prazo (menos de um ano). Quanto maior a procura,
menor o rendimento de tais papéis. O título de três meses, na prática, não rendia nada
ontem. Não se via coisa assim desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é "choque e
pavor", como foi apelidada a estratégia americana na invasão do Iraque.
Trata-se do terceiro dia de congelamento dos mercados de crédito do mundo rico. Ou
algo assim como "o dia em que a Terra parou" no mundo das finanças. Bancos não
emprestam dinheiro aos outros. Isso é pavor de que o banco com quem se faz negócios
hoje esteja morto amanhã. Para quem tem dinheiro grosso, é melhor estacioná-lo no
Tesouro com rendimento abaixo de zero do que arriscá-lo na praça.
As ações de bancos americanos de investimento apanharam muito. O custo de fazer
seguro de crédito oferecido a tais instituições foi à Lua -isso significa que tais bancos
vão pagar muito caro para obter dinheiro e cobrir perdas, se conseguirem fazê-lo. Como
muitos não o conseguirão, os governos dos EUA e do Reino Unido simplesmente dão
um jeito de obrigar a venda de tais instituições. Nos EUA, por ora, é o caso do
Washington Mutual, banco de poupança que vai a leilão; no Reino Unido, do HBOS, a
maior financiadora de hipotecas. O Morgan Stan- ley, banco de investimento, negocia
fusão com o Wachovia. Seria o quarto dos cinco irmãos a desaparecer (depois de Bear,
Lehman e Merrill Lynch; sobra só o Goldman Sachs).
Todo esse choque extra é efeito da quebra do Lehman Brothers e da estatização da
maior seguradora dos EUA, a AIG, desastres que deixaram as contrapartes de tais
companhias em maus lençóis, com vários tipos de papéis micados na mão. Em menor
escala, o medo deriva do fato de um fundo de investimentos de varejo ter suspendido os
saques de seus clientes depois de anunciar perdas com a quebra do Lehman. Teme-se
que investidores comuns assustados corram para sacar o dinheiro de outros fundos ou de
bancos a fim de guardá-lo num colchão de fato.
A venda em liquidação é ao menos uma saída parcial para a crise. Mas resta o problema
dos trilhões de papéis em putrefação na praça (imobiliários, derivativos de crédito), pois
o mercado imobiliário continua a afundar. Instituições financeiras e empresas com os
9
cofres cheios de tais papéis não têm onde tomar dinheiro ou vão pagar muito caro.
Assim, a crise continua. Ou a coisa se resolve em quebra catastrófica, em lentíssima
digestão (anos e anos), ou o governo compra toda a papelada podre (o Tesouro dos
EUA anunciou que vai fazer dívida extra a fim de financiar o Fed). É o que sugeriram
ontem Paul Volcker e Nicholas Brady, literalmente. Volcker foi o banqueiro central que
levou os juros americanos ao céu para dar cabo da inflação na virada dos anos 70 para
os 80. Brady foi o secretário do Tesouro que controlou a renegociação da dívida
caloteada da América Latina, entre os anos 80 e 90. Eles entendem de desastres globais.
Falha "geológica" expõe sistema frágil (16/09/2008)
Abalo sísmico no mercado financeiro revela como o setor construi inovações e se
expandiu em bases inconsistentes
Operações da banca privada sem fiscalização oficial ruem e dificultam avaliação
exata das perdas, necessária para controlar colapso
GILLIAN TETT
DO "FINANCIAL TIMES"
Nesta década, o sistema financeiro ocidental parece uma cidade do Terceiro Mundo,
construída sobre uma falha geológica e crescendo em ritmo acelerado. Em teoria, seus
bem remunerados habitantes sempre souberam que um grande terremoto era possível e
chegaram até ocasionalmente a olhar através da lama para verificar as fundações dos
edifícios.
Mas a maior parte dos financistas estava tão ocupada com a expansão de seus negócios
que essas verificações de segurança em geral foram perfunctórias. E as pessoas pagas
para monitorar as fundações -as autoridades regulatórias- encontraram dificuldades para
realizar a tarefa em meio à neblina que o frenesi de construção e inovação do setor fazia
levantar.
Agora, porém, o terremoto chegou, e com uma violência que poucos esperavam. E à
medida que nomes como o do Lehman Brothers desabam numa nuvem de poeira, tornase chocantemente óbvio até que ponto eram frágeis algumas das fundações das finanças
modernas, tendo em conta as vastas atividades que sustentavam.
Em retrospecto, por exemplo, hoje parece loucura que as autoridades tenham um dia
permitido a uma instituição como o Lehman operar nos últimos anos com nível de
alavancagem de 35 vezes ou mais seu capital. Afinal, com tamanhas dívidas empilhadas
numa base minúscula de capital, não é necessária uma grande deterioração nos preços
dos ativos para causar pânico.
Mas ficou também dolorosamente evidente que a infra-estrutura logística que sustenta o
moderno sistema financeiro é preocupantemente instável em parte porque foi montada
ao improviso, por diversos protagonistas do setor privado.
Tomem por exemplo o mercado de CDS ("credit default swaps"), que movimenta US$
62 bilhões. Grupos como a ISDA (Associação Internacional de Swaps e Derivativos)
vêm trabalhando incansavelmente nos últimos anos para criar contratos legais que
estipulem o que acontece quando a contraparte num contrato de CDS quebra. E nas
últimas 48 horas a ISDA vem trabalhando com o Fed de Nova York a fim de
implementar esses procedimentos no caso do Lehman.
Mas ainda não está claro, e isso é muito grave, se essas medidas bastarão para
compensar o pânico. O mercado de derivativos se baseia em contratos privados e
bilaterais que podem variar em termos de detalhes. Muitos bancos não têm recursos para
10
enfrentar as dificuldades logísticas da liquidação de uma montanha de transações.
Na melhor das hipóteses, isso significa que o mundo do crédito poderia agora enfrentar
semanas de incerteza; na pior, alguns mercados poderiam se congelar, criando reações
em cadeia e tornando ainda mais difícil estabelecer o valor dos ativos de crédito
problemáticos, no Lehman e outros.
Não surpreende que siga existindo incerteza quanto ao escopo exato dos ativos tóxicos
do Lehman (as estimativas vão de US$ 40 bilhões a US$ 80 bilhões). Nem que as
autoridades regulatórias agora lamentem seu fracasso em reforçar as fundações do setor
de derivativos negociados privadamente.
É justo apontar que os bancos haviam criado planos, recentemente, para enxugar os
contratos CDS e colocar essas atividades em uma Bolsa regulamentada, em lugar de
depender de transações privadas bilaterais, sem fiscalização oficial. Mas essas reformas
sensatas não se materializaram ainda, e já se tornaram necessárias, o que explica a
corrosiva sensação de incerteza.
A boa notícia, claro, é que os acontecimentos estão acelerando o processo de reforma e
forçando bancos e corretoras a considerar essas questões seriamente. Caso o sistema de
derivativos consiga cambalear até a semana que vem sem congelar, no futuro ele
parecerá mais confiável.
Ainda mais importante, as quebras e as fusões estão removendo parte da capacidade
excedente e da alavancagem que vinham prejudicando o sistema financeiro. Essa é uma
precondição essencial para a recuperação. De fato, existe uma boa chance de que,
quando os historiadores narrarem a história, retratem a implosão do Lehman como o
ponto mais baixo do grande choque do crédito em 2007/8.
No entanto, antes que uma verdadeira recuperação possa começar, há ainda um
desdobramento necessário: os investidores têm de começar a crer que preços genuínos
de liquidação surgiram para os ativos tóxicos que residem nas carteiras do Lehman e de
outros.
E, embora os acontecimento possam acelerar essa limpeza, o momento crucial ainda não
chegou em larga escala. Restam muita incerteza e opacidade.
Aguardem novos choques. Talvez ainda precisemos de muitos meses antes que os
destroços de uma década de exageros financeiros sejam removidos.
ANÁLISE
Versão pós-moderna de corrida aos bancos (16/09/2008)
PAUL KRUGMAN
DO "NEW YORK TIMES"
O sistema financeiro dos EUA entrará em colapso nos próximos dias? Não creio, mas
estou longe da certeza.
Para compreender o problema, é preciso saber que o velho mundo dos bancos, no qual
instituições abrigadas em grandes edifícios de mármore aceitavam depósitos e
emprestavam dinheiro a clientes de longo prazo, em larga medida desapareceu,
substituído por aquilo que costuma ser designado como "o sistema bancário paralelo".
Os bancos que operavam contas-correntes, aqueles dos edifícios de mármore, hoje
desempenham papel menor em canalizar fundos dos poupadores aos interessados em
empréstimos; a maior parte dos negócios são executados em complexas transações
organizadas por instituições "não depositárias", como o Bear Stearns e o Lehman
11
Brothers.
O novo sistema deveria fazer um trabalho melhor em distribuir e reduzir riscos. Mas,
depois da crise da habitação e da resultante crise hipotecária, parece aparente que o
risco não foi exatamente reduzido, mas ocultado: número demasiado de investidores não
fazia idéia de sua exposição.
E, à medida que as incógnitas não conhecidas se tornam incógnitas conhecidas, o
sistema vem começando a sofrer versões pós-modernas de uma corrida aos bancos. Elas
não se assemelham às versões passadas: com poucas exceções, não estamos falando
sobre multidões de investidores perturbados batendo nas portas cerradas dos bancos.
Em lugar disso, falamos de apertões frenéticos nos mouses e telefonemas igualmente
urgentes, à medida que os protagonistas dos mercados financeiros retiram suas linhas de
crédito e tentam desmontar os riscos gerados por suas contrapartes em transações. Mas
os efeitos econômicos -o congelamento do crédito, a espiral de queda nos valores dos
ativos- são os mesmos das grandes corridas aos bancos nos anos 1930.
E eis a questão: as defesas instaladas para impedir que essas corridas aos bancos
retornassem, basicamente garantias federais aos saldos de contas-correntes e acesso a
linhas de crédito no Fed (o BC dos EUA), só protegem os sujeitos nos edifícios de
mármore, que não ocupam posição central na atual crise. Isso cria uma verdadeira
possibilidade de que 2008 venha a ser 1931 revivido.
É fato que as autoridades estão conscientes dos riscos -antes de assumir a
responsabilidade por salvar o mundo, Ben Benanke, do Fed, era um dos principais
especialistas sobre a Grande Depressão. Assim, ao longo de 2007, o Fed e o Tesouro
orquestraram planos de resgate improvisados. Linhas especiais de crédito com
acrônimos impronunciáveis foram oferecidas a instituições não depositárias. O Fed e o
Tesouro intermediaram um acordo que protegeu as contrapartes do Bear Stearns -as
instituições que representavam as pontas opostas de suas transações-, mas não os
acionistas do banco.
E, na semana passada, o Tesouro tomou o controle da Freddie Mac e Fannie Mae, as
grandes do crédito hipotecário.
Mas as conseqüências desses resgates estão enervando as autoridades. Para começar,
elas estão assumindo riscos pesados com o dinheiro dos contribuintes. Por exemplo,
hoje boa parte da carteira do Fed está amarrada a empréstimos lastreados por cauções
dúbias. Além disso, os funcionários do governo também estão preocupados com a
possibilidade de que seus esforços de resgate encorajem comportamento ainda mais
arriscado no futuro.
A verdadeira resposta ao problema seria, evidentemente, agir preventivamente antes que
tivéssemos chegado a esse ponto. Mesmo deixando de lado a óbvia necessidade de
regulamentar o sistema bancário paralelo caso instituições precisem ser resgatadas como
se fossem bancos, por que fomos apanhados tão despreparados? Quando o Bear Stearns
quebrou, muita gente comentou a necessidade de um mecanismo de "liquidação ordeira"
para os bancos de investimento em colapso. Bem, já faz seis meses. Onde está o
mecanismo? Por isso estamos aqui, com o secretário do Tesouro, Henry Paulson,
aparentemente disposto a acreditar que jogar roleta-russa com o sistema financeiro dos
EUA era sua melhor opção.
Uma longa sombra (23/09/2008)
O fato de nada de tão ruim quanto a Depressão ter acontecido até hoje é notável
12
NIALL FERGUSON
DO "FINANCIAL TIMES"
ALAN GREENSPAN , o mestre dos momentos oportunos, na semana passada
descreveu a atual crise financeira como "algo que provavelmente acontece apenas uma
vez por século". A Grande Depressão começou menos de 80 anos atrás, mas o fato é
que estamos em um século diferente. Não importa que essa seja ou não a pior crise que
o mundo enfrentará daqui até 2099, o fato de que nada tão ruim quanto a Depressão
tenha acontecido entre os anos 1930 e o presente é em si notável. Foi Hyman Minsky,
um dos primeiros economistas de sua geração a pensar seriamente sobre crises
financeiras, que observou em 1982 que o mais significativo evento econômico desde a
Segunda Guerra Mundial (1939-45) "é algo que não aconteceu: não houve uma
depressão profunda e duradoura". Será que é isso está começando agora? Se for o caso,
não admira que os luminares de Wall Street tenham sido apanhados tão desprevenidos.
Afinal, a carreira média de um presidente-executivo de banco dura pouco mais de 25
anos. E entre 1983 e 2007, não aconteceu coisa alguma que pudesse preparar os atuais
mestres do universo para o que estamos vivendo. Nem de longe. Um boletim publicado
pelo fundo de hedge Bridgewater definiu a situação de maneira crua: "Com as taxas de
juros a caminho do zero, os intermediários financeiros quebrados e a desalavancagem a
meio curso, parece que estamos a caminho de um novo domínio no qual as ferramentas
monetárias tradicionais não funcionam". O domínio em questão provavelmente terá
"uma dinâmica ao modo dos anos 30". Os acontecimentos deste mês certamente tiveram
um ar de anos 1930. A nacionalização das instituições de crédito hipotecário, a quebra
do Lehman Brothers, a tomada de controle do Merrill Lynch pelo Bank of America e o
resgate do governo à AIG, a maior seguradora do país: qualquer um desses episódios,
isolado, teria constituído uma grande crise financeira nos anos 1980 e 1990. Na semana
passada, quando perguntaram a Ken Lewis, presidente do Bank of America, quantos dos
8.500 bancos americanos ele acreditava que sobreviveriam à compressão de crédito, ele
respondeu: "cerca de metade". A falência de mais de 4.000 bancos certamente
representaria uma Depressão 2.0 (ainda que, a bem da verdade, o número total de
bancos estaduais e nacionais a desaparecer nos EUA entre 1928 e 1933 tenha chegado a
11 mil). Exceto pelo fato de que não estamos vivendo uma depressão clara, pelo menos
não ainda. Para começar, o governo federal é imensamente maior do que era quando a
Grande Depressão começou. E tem injetado dinheiro na economia de uma maneira que
causaria horror ao presidente Herbert Hoover e receberia aplausos de John Maynard
Keynes. O déficit do Orçamento federal ficará pouco abaixo de US$ 490 bilhões no ano
fiscal de 2009. Exatamente: meio trilhão de dólares em novas dívidas. Do começo ao
fim, enquanto isso, o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) vem tentando fazer
exatamente o oposto do que fez durante a Depressão: está combatendo a compressão de
crédito por meio de cortes de juros e injeções dirigidas de liquidez no sistema, e
estendeu aos bancos de investimento linhas de crédito que no passado estavam
reservadas aos bancos comerciais, enquanto relaxa suas regras quanto a cauções. Além
de tudo, Hank Paulson, secretário do Tesouro, na sexta-feira anunciou a criação de uma
instituição que usaria dinheiro dos contribuintes para adquirir ativos lastreados por
títulos hipotecários problemáticos das instituições financeiras. De acordo com Paulson,
o plano poderia envolver até US$ 700 bilhões em dispêndios governamentais
adicionais. Outros, como Ken Rogoff, economista da Universidade Harvard, estimaram
o custo como mais próximo de US$ 1 trilhão. Essa última medida deve mais aos anos
1980 do que aos anos 1930. O modelo é a Resolution Trust Corporation, criada em 1989
para adquirir maus empréstimos de instituições insolventes de poupança e empréstimos,
13
as instituições locais de crédito hipotecários que foram o cerne da última grande crise do
mercado imobiliário dos EUA. O custo final da crise do setor de poupança e
empréstimos, que durou de 1986 a 1995, foi de US$ 153 bilhões, ou cerca de 3% do
PIB de 1989. Os contribuintes arcaram com US$ 124 bilhões do prejuízo. Dado o
volume e a complexidade muito maiores dos ativos problemáticos atuais, e a dificuldade
muito maior em determinar seu valor, a conta da nova RTC deve ser muito mais alta,
talvez atingindo 7% do PIB. Taxas de juros baixas e investimento de dinheiro público
gerado por elevação do déficit orçamentário foram as técnicas recomendadas por
Keynes e outros estudiosos dos anos 1930 como soluções para o problema da
Depressão. Essas técnicas sofreram usos e abusos imensos nos anos 1960 e 1970,
quando não houve depressão, e o resultado final foi uma inflação desastrosa. Será que
essas técnicas funcionarão agora? Até o momento, conseguiram promover o que seria
possível chamar de uma Grande Repressão. Na verdade reprimiram, mas não curaram, a
depressão. A questão é determinar, como sugeririam certas teorias psicológicas, se
repressão é uma estratégia sustentável ou se, em dado ponto, o paciente terá de deixar
de negar os fatos, se curvar à realidade e admitir a verdade terrível. As autoridades terão
sucesso em manter a depressão reprimida? Entre as razões pelas quais podem fracassar,
a política talvez tenha posição preponderante. E consola pouco pensar que o mundo não
precisará
passar
de
novo
por
isso
antes
do
próximo
século.
O historiador britânico NIALL FERGUSON é professor em Harvard. Seu novo livro, "The Ascent of
Money: A Financial History of the World" [A Ascensão do Dinheiro: História Financeira do Mundo], sai
pela Penguin no fim de outubro
Dinheiro por lixo (23/09/2008)
Se o plano do governo Bush for aprovado como está, teremos muito a lamentar
PAUL KRUGMAN
DO "NEW YORK TIMES"
ALGUNS CÉTICOS estão classificando o plano de US$ 700 bilhões que o
secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, propôs para resgatar o sistema
financeiros americano de "dinheiro por lixo". Outros chamam o pacote de "Lei de
Autorização do Uso de Força Financeira", parodiando a "Lei de Autorização de Uso da
Força Militar", o infame projeto que deu luz verde ao governo Bush para a invasão do
Iraque. As duas ironias são justas. Todos concordam em que é preciso fazer alguma
coisa grande. Mas Paulson está exigindo para ele mesmo e para seu sucessor poderes
extraordinários quanto a usar o dinheiro dos contribuintes em apoio a um plano que, no
meu entender, não faz sentido. Há quem diga que deveríamos simplesmente confiar em
14
Paulson, porque ele é um cara inteligente que sabe o que está fazendo. Mas isso é
apenas parcialmente verdade: ele é mesmo um cara inteligente, mas o que, exatamente,
na experiência dos últimos 18 meses -período em que Paulson repetidamente declarou
que a crise financeira estava "sob controle" e ofereceu uma série de soluções frustradasjustifica a crença de que ele sabe o que está fazendo? Paulson está agindo de improviso,
como todos nós. Assim, vamos tentar refletir sobre o assunto por nossa conta. Tenho
uma visão em quatro passos sobre a crise financeira. 1. O estouro da bolha da habitação
levou a uma alta nas inadimplências e na execução de hipotecas, o que por sua vez
resultou em queda nos preços dos títulos lastreados por hipotecas -ativos cujo valor
deriva em última análise dos pagamentos de hipotecas. 2. Esses prejuízos financeiros
deixaram muitas instituições financeiras com falta de capital -uma escassez de ativos em
comparação com suas dívidas. O problema é especialmente severo porque todo mundo
assumiu dívidas pesadas durante os anos da bolha. 3. Porque as instituições financeiras
apresentam capital insuficiente com relação à sua dívida, elas não vêm podendo ou
querendo oferecer o crédito de que a economia necessita. 4. As instituições financeiras
vêm tentando pagar suas dívidas por meio da venda de ativos, incluindo aqueles títulos
lastreados por hipotecas, mas isso vem forçando uma queda nos preços dos ativos e
agrava ainda mais sua posição financeira. O círculo vicioso que temos é conhecido
como "paradoxo da desalavancagem". O plano de Paulson dispõe que o governo adquira
até US$ 700 bilhões em ativos problemáticos, principalmente títulos lastreados por
hipotecas. Como isso resolveria a crise? Bem, a medida poderia -vejam bem, poderiadeter o círculo vicioso da desalavancagem, o passo quatro de minha descrição sumária.
Mas nem isso fica claro: os preços de muitos ativos, não só aqueles que o Tesouro
propõe adquirir, estão sob pressão. E mesmo que o círculo vicioso seja limitado, o
sistema financeiro ainda continuará paralisado por capital insuficiente. Ou melhor,
ficará paralisado por capitalização insuficiente a não ser que o governo federal pague
um ágio absurdo pelos ativos que adquirir -o que daria às companhias financeiras, seus
acionistas e dirigentes- um imenso lucro extraordinário à custa do contribuinte. Eu
cheguei a dizer que o plano não me satisfaz? A lógica da crise parece requerer
intervenção não no passo 4, mas no passo 2: o sistema financeiro necessita de mais
capital. E, se o governo vai fornecer capital a companhias financeiras, deveria receber
aquilo a que as pessoas que fornecem capital têm direito: uma participação acionária, de
modo que todos os ganhos, caso o plano de resgate funcione, não beneficiem aqueles
que causaram a confusão, para começar. Foi isso que aconteceu na crise das instituições
de poupança e empréstimo, no final dos anos 1990: as autoridades federais tomaram o
controle dos bancos problemáticos, não apenas de seus ativos. Também foi isso o que
aconteceu com a Fannie Mae e a Freddie Mac. (E, aliás, aquele resgate cumpriu a
missão pretendida. As taxas de juros hipotecários caíram acentuadamente desde que o
governo federal tomou o controle das instituições.) Mas Paulson insiste em que deseja
um plano "limpo". "Limpo", no contexto, quer dizer um resgate financiado pelo
contribuinte, mas sem precondições -os resgatados não precisarão retribuir. Por que isso
seria vantagem? Acrescentemos a isso que Paulson também exige autoridade ditatorial e
imunidade contra revisões "por qualquer tribunal judicial ou agência administrativa", e
eis uma proposta inaceitável. Estou ciente de que o Congresso está sob imensa pressão
para aprovar o plano de Paulson nos próximos dias, com no máximo algumas poucas
modificações que o tornem menos ruim. Basicamente, depois de passar um ano e meio
dizendo a todo mundo que as coisas estavam sob controle, o governo Bush agora afirma
que o céu está caindo e que, para salvar o mundo, temos de fazer exatamente o que eles
estão dizendo, e já! Mas eu aconselharia o Congresso a parar um minuto, respirar fundo
e tentar redefinir seriamente a estrutura do plano, para que ele trate dos problemas reais.
15
O Legislativo não deveria se curvar à pressão -caso o plano seja aprovado em forma
semelhante à atual, teremos todos muito a lamentar, em um futuro não muito distante.
ENTREVISTA - EDUARDO GIANNETTI (29/09/2008)
Mundo financeiro passa da embriaguez à ressaca
moral
Economista aponta "colapso da confiança" e prevê período de forte
regulamentação
O economista Eduardo Giannetti vê uma ressaca moral nos mercados, que segue a
embriaguez que estimulou a tomada de risco sem precedentes pelos investidores. Diz
que há um problema ético na "arrumação da casa" porque a euforia trouxe lucros
privados para poucos, mas a conta será socializada para todos. Ele não acredita que,
mais pobres, as pessoas fiquem menos felizes e afirma que a "angústia" maior é não
saber o tamanho dos prejuízos e das privações que virão.
TONI SCIARRETTA
DA REPORTAGEM LOCAL
Giannetti diz que o mundo financeiro ganhou uma "musculatura irreal" na economia e
passa hoje por um "colapso da confiança". Ele prevê um período de forte
regulamentação, até que, mais uma vez, a criatividade do mercado crie novos produtos,
que traga riscos maiores e desconhecidos. Leia trechos de entrevista.
FOLHA - Os bancos perderam a confiança e pararam de emprestar entre si. A
confiança é muito tênue?
EDUARDO GIANNETTI - Todo o sistema financeiro do mundo hoje está baseado em
crenças e confiança. A nota de real que eu e você temos no bolso não passa de uma
promessa sem lastro. Se a gente perder a confiança nesse papel, ele desaparece. Tudo
está baseado em crenças, promessas e expectativas. A confiança custa para ser
construída, mas é muito rápida de ser destruída, principalmente quando se vê o colapso
sucessivo de bancos.
FOLHA - Os bancos e os investidores tinham consciência dos riscos que estavam
correndo?
GIANNETTI - Às vezes, você está em uma situação perigosa sem saber o risco que
está correndo. No momento em que as pessoas se tornam cientes, elas entram em
pânico. Avicena [filósofo islâmico], lá no século 11, já descreveu essa experiência.
Disse que o homem não sente dificuldade em caminhar por uma tábua enquanto acredita
que ela está apoiada no chão, mas vacila e depois despenca ao se dar conta de que
estava suspensa sobre um abismo.
FOLHA - Como o mundo sai tão rápido do excesso de segurança para uma crise de
confiança?
GIANNETTI - O que aconteceu no mundo foi um coquetel muito perigoso. Tivemos
16
um período muito longo de juros baixos, uma expansão enorme da liquidez, um
crescimento econômico sem pressão inflacionária, uma criatividade espantosa para
inventar novos produtos financeiros, e a tecnologia da informação acelerou o ritmo de
acontecimento das coisas. Com a desregulamentação do mercado, gerou uma situação
de complexidade e de interdependência que ninguém compreende bem sua dinâmica.
FOLHA - As pessoas se iludiram?
GIANNETTI - Quando tudo está indo bem, o apetite pelo risco aumenta. As pessoas
vão ficando mais confiantes e fazendo apostas maiores. Tinha uma falácia de que esses
novos produtos financeiros permitiam precificar e distribuir melhor o risco no sistema coisa que se mostrou complemente furada; era exatamente o contrário. Quando se
começa a ter os indícios de que a rentabilidade não ocorrerá e surge um problema como
foi no mercado de crédito de alto risco nos EUA, você tem uma percepção de que foi
longe demais, que as perdas vão ocorrer e serão grandes. Aí a psicologia gira na direção
contrária e acontece uma terrível aversão ao risco. Você vê risco em tudo.
FOLHA - O modelo de banco de investimento está condenado?
GIANNETTI - O Goldman Sachs tinha US$ 25 aplicados para cada US$ 1 de caixa.
Houve uma hipertrofia das finanças. No início da década de 80, o lucro dos bancos
representava 10% do lucro total da economia americana. Agora, é 40%. É muito difícil
imaginar que haja valor criado por traz dessa lucratividade. É uma coisa artificial. É
muita gente tentando ganhar manipulando dinheiro.
FOLHA - Mas isso estourou...
GIANNETTI - Sim, foi algo que resultou de um certo delírio coletivo, ganhou vida
própria e se abateu sobre as pessoas. Não é novidade. Desde a febre das tulipas, no
século 16, vem se repetindo indefinidamente. O que muda agora é o grau de
complexidade e de interdependência.
FOLHA - O que vem depois? Um período de forte regulação?
GIANNETTI - Sim. O [Henry] Paulson [secretário do Tesouro] foi chamado para fazer
um movimento de liberalização. Ele está implementando uma das ações mais
intervencionistas do Estado. Não é a primeira vez, o Nixon chamou os economistas de
Chicago, Milton Friedman entre eles. Quando a coisa apertou, implantou um controle de
preços e salários. E ainda declarou: Somos todos keynesianos agora.
FOLHA - Por que a maioria dos economistas errou suas previsões?
GIANNETTI - No momento de incertezas, o espectro dos prognósticos se expande. A
dispersão de previsões e de opiniões se torna muito maior do que no período de
normalidade, em que as previsões convergem. Como trabalhar isso? Há dois limites: o
otimista e o pessimista. Nós estamos vivendo uma coisa parecida com 2001, no estouro
da bolha da internet, que foi a menor recessão nos EUA. Foi [em forma de] um "V". A
coisa caiu, teve uma certa vertigem e depois voltou. No limite de pessimismo, vem o
"L". Cai e se arrasta, como na Depressão de 1929 e na recessão no Japão, nos anos 90.
O cenário intermediário é o "U", que não é tão simples como foi em 2001, mas não é tão
crônico quanto o "L".
FOLHA - E qual o cenário desta vez?
GIANNETTI - Estamos passando por algo bem mais sério que o "V", mas também
duvido que se transforme num "L". Nos anos 30, no momento em que deveria expandir
17
a liquidez, o Fed contraiu e gerou uma forte desconfiança que levou a uma depressão
crônica. No Japão, duas coisas aconteceram que não tendem a se repetir. Primeiro, a
política monetária ficou impotente porque houve deflação. O cidadão guardava o
dinheiro debaixo do colchão e, quando ia gastar, valia mais porque os preços caíram. E
o governo, em conluio com os bancos, em vez de explicitar as perdas, jogou para baixo
do tapete. Em vez da dor curta e aguda, preferiram uma dor crônica suave, mas que se
arrastou por anos. Nesse aspecto, os americanos são corajosos. Quando quebram, fazem
dispensas, tomam medida drástica e limpam rapidamente o passado. É uma cultura
quase filosófica dos americanos com o desassombro do recomeço, que não tem na
cultura oriental.
FOLHA - Essa crise ameaça a hegemonia americana?
GIANNETTI - Tem muita gente torcendo para isso. Não vejo os EUA em processo de
declínio, mas o mundo é dinâmico e está mudando. Os EUA continuam sendo a maior
economia do mundo e a força mais inovadora em termos de patentes, tecnologia e
criatividade.
FOLHA - O mundo sai pobre dessa crise. As pessoas estão mais tristes?
GIANNETTI - Não acho. A gente se desfaz de muitas ilusões. Havia quase uma
embriaguez de enriquecimento sem trabalho. E isso tira muitos talentos para a
especulação. Uma coisa é a crise financeira e outra são as seqüelas no mundo real:
desemprego, fome, pobreza. O tamanho das seqüelas dessa crise ainda está em aberto.
Nessas horas, ajuda muito pensar no pior cenário. Pode ser que tenhamos uma recessão
de dois ou três anos. E daí? Será que o mundo não estava precisando de uma pausa para
respirar? Será que não vivemos um frenesi de consumo de recursos naturais e não
podemos ter uma trégua para repensar um pouco o lugar do econômico na vida humana?
Será que faz tanto sentido concentrar tanto da nossa atenção no sucesso financeiro? Será
que não está na hora de isso ocupar um segundo plano?
FOLHA - É justo o socorro aos bancos com dinheiro do contribuinte?
GIANNETTI - Quando os banqueiros estavam ganhando bilhões de dólares, tudo era
privado e particular. No momento em que esses banqueiros e esses grandes aplicadores
perdem bilhões, vem o governo e socializa jogando a conta para as gerações futuras.
Tem alguma coisa profundamente errada do ponto de vista ético nesse sistema. É uma
assimetria inaceitável de tratamento de ganhos e perdas.
FOLHA - O Brasil soube aproveitar essa euforia no mundo financeiro?
GIANNETTI - O país fez um ajuste muito importante e isso deu uma condição robusta
para assimilar o impacto dessa crise. O Brasil tinha um quadro de hipersensibilidade ao
mercado internacional. Bastava uma gripe lá fora para virar uma pneumonia aqui. Desta
vez, a casa estava arrumada.
ARTIGO
Agora, risco maior é de depressão global
(30/09/2008)
LUIZ GONZAGA BELLUZZO
COLUNISTA DA FOLHA
O Congresso norte-americano rejeitou o pacote de estabilização dos mercados que havia
18
sido proposto pelo Tesouro dos Estados Unidos. Essa decisão -que, espero, seja
reconsiderada- atesta a supremacia do preconceito e da baboseira ideológica sobre a
crítica realista e bem informada.
A peculiaridade das economias contemporâneas -onde a finança direta e securitizada é
predominante- é a alta sensibilidade dos preços dos ativos às flutuações da liquidez. Os
mecanismos de transmissão são rápidos, variados e muito poderosos.
Em primeiro lugar, a desregulamentação e a liberalização facilitaram o surgimento de
bancos-sombra na formação de posições longas nos mercados de capitais, financiadas
com recursos capturados nos mercados monetários. Isso permitiu os atuais níveis de
alavancagem dos "dealers" e "brokers", bem como dos fundos de hedge e outros
intermediários.
Quando os agentes foram surpreendidos por movimentos adversos dos preços e suas
perdas os obrigaram a liquidar posições para cobertura de margem, tanto o risco de
mercado como o risco de liquidez se ampliaram rapidamente.
A queda muito abrupta e profunda dos preços afugenta os financiadores desses ativos,
inviabilizando seus mercados. Na ausência de um socorro tempestivo do emprestador de
última instância, a propagação do pânico pode levar à ruptura do sistema de pagamentos
e à corrida bancária.
O "Financial Times" informa que o republicano Gresham Barret, da Carolina do Sul,
disse: "Meu temor é o governo mudar para sempre a América do livre mercado. Votarei
contra o pacote [proposto pelo Tesouro] porque acredito intensamente nos princípios do
livre mercado e na liberdade".
Barret não sabe, mas suas crenças ajudaram a conduzir a economia norte-americana (e
seus desdobramentos globais) em direção à crise financeira que ora a aflige e ao resto
do mundo.
Os praticantes das formidáveis inovações destrutivas -"os gatos gordos de Wall Street"não teriam prosperado em suas ousadias se à retaguarda não estivessem de prontidão os
fanáticos do livre mercado. O fervor livre-mercadista, ademais, encontrou alento nas
teorias dos sacerdotes dos mercados eficientes, os economistas acadêmicos (e outros
nem tanto) incumbidos de dar respeitabilidade científica a hipóteses improváveis.
Em minha modesta opinião, a aprovação do pacote de socorro -pela proposta do
Tesouro, US$ 700 bilhões seriam usados para a compra de títulos de má qualidade de
instituições financeiras norte-americanas-, tal como havia sido acertado no final de
semana entre as lideranças dos dois principais partidos políticos, não teria força para
reverter a curto prazo a quase paralisia dos mercados monetários.
Os "spreads" entre as taxas cobradas no interbancário e os títulos do Tesouro alcançam
níveis assustadores. Nessas condições, a aprovação do pacote de socorro tampouco seria
eficaz para desobstruir imediatamente os canais do crédito, bloqueados pela
desconfiança e pelo medo.
Ainda assim, um mínimo de sensatez recomendaria aprovar o pacote de estabilização,
com suas deficiências e limitações. Os devaneios ideológicos que negaram sua
aprovação podem levar a economia global não mais à recessão, já contratada, mas à
beira de uma depressão, com as funestas conseqüências para os que estão na base da
pirâmide social.
Então, será tarde para descobrir que não se trata de punir os culpados, mas de poupar os
inocentes.
LUIZ GONZAGA BELLUZZO , 65, é professor titular de Economia da Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas). Foi chefe da Secretaria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério da
19
Fazenda (governo Sarney) e secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (governo
Quércia).
ARTIGO
Reservas elevadas reduzirão impacto
(30/09/2008)
ALEXANDRE SCHWARTSMAN
COLUNISTA DA FOLHA
Inesperadamente, a Câmara norte-americana rejeitou a proposta de resgate dos bancos
após líderes partidários terem concordado com um projeto que, mesmo bastante
diferente do esboçado pelo secretário do Tesouro, mantinha o desenho básico de
adquirir dos bancos US$ 700 bilhões de papéis lastreados em hipotecas. Não haverá,
portanto, até segunda ordem, o resgate dos bancos, que terão de carregar no seus
balanços esses títulos, cujo valor permanece uma incógnita.
Isso representa duro golpe para o setor bancário. Se há dúvidas sobre o valor desses
papéis, sem a troca deles por títulos públicos essa desconfiança apenas aumentará,
levando a uma queda adicional do seu valor de mercado. O problema, porém, é que essa
queda se manifestará de forma desproporcional sobre o crédito e o crescimento.
Com efeito, cada dólar de redução de valor de mercado desses papéis implica um dólar
a menos de capital do sistema bancário, com duas possíveis conseqüências. A menos
grave, mas praticamente certa na ausência do programa de resgate, seria a redução
significativa do volume de crédito. Como bancos tipicamente têm um volume de
empréstimos equivalente a um múltiplo do seu capital, esse mesmo dólar de capital a
menos vira um valor bem maior em termos de redução do crédito, reduzindo a demanda
doméstica norte-americana.
A mais grave, ainda que menos provável, seria o aprofundamento da onda de quebras de
instituições financeiras. De fato, a depender do montante de perda de valor dos papéis
lastreados em hipotecas, as perdas do banco podem superar o seu capital, o que
configura um problema de insolvência. Dada a profunda integração entre bancos,
falamos da possibilidade de uma crise de grandes proporções, com efeitos ainda mais
severos e duradouros sobre o nível de atividade.
De qualquer forma, portanto, vivemos a iminência de uma forte queda adicional do
crescimento americano, cujas conseqüências não podem ser ignoradas. Especificamente
no caso brasileiro, se é verdade que apenas pouco mais de 2% do PIB estão diretamente
expostos (via exportações) à economia americana, há outros canais pelos quais o país
pode sofrer impactos negativos.
O primeiro viria pela queda no preço de commodities na esteira da desaceleração
mundial.A elevação no preço desses bens implicou aumento no preço dos bens
exportados pelo Brasil relativamente àqueles que importamos. Isso tem permitido
aumentar as importações mais do que poderíamos em circunstâncias normais, e,
portanto, possibilita que a demanda doméstica cresça bem à frente do PIB. Sem, porém,
o auxílio das commodities, isso não poderia ser mantido, implicando significativa
depreciação do real combinada com aperto monetário para trazer o crescimento da
demanda doméstica a níveis inferiores aos do crescimento do PIB.
Por outro lado, é difícil imaginar que uma forte redução do crescimento mundial não
resulte também em redução do fluxo de capitais para as economias emergentes, Brasil
entre elas, levando à depreciação adicional do câmbio e à necessidade de conter ainda
mais a demanda.
20
Isso dito, se as conseqüências da crise serão negativas, é também importante notar que o
Brasil dispõe, hoje, de instrumentos que permitem, ao menos, mitigar esses efeitos.
Destaco em particular o volume de reservas que, à taxa de câmbio atual, reduziria a
relação dívida-PIB em 2,5%. Em outras palavras, a solvência do país, ao contrário de
outros episódios, não será questionada, fator que deve impor limites aos efeitos da crise
sobre o Brasil.
ALEXANDRE SCHWARTSMAN , 45, é economista-chefe para América Latina do Banco Santander,
doutor em Economia pela Universidade da Califórnia (Berkeley) e ex-diretor de Assuntos Internacionais
do Banco Central.
ARTIGO
Não intervir não é opção (01/10/2008)
FERNANDO CARDIM
ESPECIAL PARA A FOLHA
O PLANO Paulson naufragou na percepção generalizada do público americano de que
se tratava de uma tábua de salvação para banqueiros, um dos grupos sociais menos
apreciados pela sociedade em geral.
Em relação ao texto originalmente proposto, essa percepção não estava muito longe da
realidade. O Plano Paulson realmente aliviaria a situação presente das instituições
financeiras, adquirindo seus ativos desvalorizados, sem praticamente exigir nada em
troca.
Não havia qualquer restrição, por exemplo, à fixação de preços desses ativos muito
superiores aos de mercado. Na realidade, preços superiores aos de mercado seriam
quase obrigatórios, porque o valor que o mercado reconhece atualmente nesses ativos é
exatamente o que está ameaçando a solvência de tantas instituições financeiras.
Mas, uma vez que essas instituições vendessem o produto de seus erros à sociedade
como um todo, representada pelo governo, o que fariam com essas receitas seria de seu
inteiro arbítrio, sendo possível realmente, como temeram os cidadãos americanos e seus
representantes no Congresso, que se transformassem em fontes de pagamentos a
executivos acostumados a apropriar-se dos ganhos do setor financeiro.
Mas o plano era também ineficiente. A preocupação das autoridades é a de que
instituições financeiras descapitalizadas não se dispõem a ofertar o crédito de que a
economia necessita para funcionar. Empresas necessitam de capital de giro,
consumidores necessitam de crédito, compradores de imóveis precisam de empréstimos
hipotecários, etc. Essas necessidades não têm como ser satisfeitas por bancos cujo
capital encolheu drasticamente, até mesmo porque a regulação financeira vigente, os
acordos da Basiléia, não o permite. O Plano Paulson não atacava o problema da
descapitalização.
Seu objetivo era colocar um piso sob o preço dos ativos de crédito no balanço das
instituições financeiras, cuja queda contínua a cada dia ameaçava mais instituições. Em
outras palavras, o Plano Paulson era um plano para deter a queda, não para levantar de
novo o sistema financeiro.
Das duas limitações, foi sem dúvida a primeira que matou a iniciativa na primeira
votação na Câmara dos Deputados na segunda feira. O problema da capitalização
envolve sutilezas que podem ter escapado à percepção de políticos e seus eleitores. Já o
21
favorecimento de banqueiros e executivos financeiros às custas do contribuinte era algo
visível e palpável. Por outro lado, os custos da inação não foram devidamente
esclarecidos.
A ameaça do juízo final tem sido feita nos últimos anos tantas vezes em tantos
contextos (na justificação da invasão do Iraque, por exemplo), que aparentemente
perdeu sua efetividade. De qualquer modo, é muito mais fácil assustar a sociedade com
a imagem de armas de destruição em massa do que da crise sistêmica, cujos contornos
mesmo os especialistas em depressões têm dificuldade em delinear no presente.
Comparações com a grande depressão da década de 1930 comovem, na verdade, a
muito poucos.
Não nos enganemos. Se as lideranças políticas americanas não se mostraram capazes de
impressionar os eleitores que pressionaram seus representantes a rejeitar o Plano
Paulson, mesmo depois de este ter sido modificado para atenuar seus elementos mais
regressivos, é preciso tentar de novo, e rapidamente. O sistema financeiro americano dá
sinais de ter entrado na fase inicial da crise sistêmica, com o contágio de um número
crescente de instituições financeiras. Esse contágio também está se dando agora com
instituições européias.
É uma situação de extremo risco e a opção de permitir ao mercado encontrar seu
equilíbrio por si mesmo só existe nos delírios dos que aceitam a chamada hipótese dos
mercados eficientes. Intervir em escala sistêmica deixou de ser uma escolha.
FERNANDO CARDIM é professor titular do Instituto de Economia da UFRJ (Universidade Federal do
Rio de Janeiro)
ARTIGO
Decisão do Congresso foi tão compreensível quanto
errada (01/10/2008)
As finanças são uma rede de intermediação que conecta os agentes econômicos uns
aos outros; sem ela, economia moderna alguma é capaz de sobreviver
MARTIN WOLF
DO "FINANCIAL TIMES"
FAZ POUCO menos de 70 anos que a Grande Depressão começou. A julgar pela
rejeição do plano do secretário do Tesouro Hank Paulson, parece que o Congresso dos
EUA crê que tenha chegado a hora de nova depressão.
Aquela crise econômica talvez tenha sido a pior catástrofe do século 20; entre outras
coisas, responde pelos eventos que conduziram à Segunda Guerra, com destaque para a
ascensão de Hitler. E nós só podemos imaginar os horrores que uma depressão traria
agora. Afirmações como essa talvez pareçam exagero. E espero que os maus presságios
não se confirmem. No entanto, um desfecho calamitoso deixou de ser impossível, não
porque a depressão seja inevitável, longe disso, mas porque é necessário agir para que
ela não aconteça.
Estamos assistindo à desintegração do sistema financeiro.
As finanças são uma rede de intermediação que conecta os agentes econômicos uns aos
outros, no espaço e no tempo.
22
Sem ela, economia moderna alguma pode sobreviver. Mas isso está sob ameaça, agora,
dado o colapso da confiança e a fuga para a segurança. Podemos conduzir esse processo
de forma mais eficiente. Mas por que o faríamos?
Mesmo antes que o Congresso rejeitasse o plano, o "spread" entre a taxa Libor (taxa de
juros interbancária, referência dos mercados) e as taxas oficiais de juros havia superado
os 200 pontos básicos. Antes do início da crise, em agosto de 2007, esse "spread" era
desprezível. E isso não é tudo: na segunda-feira, o rendimento das notas de curto prazo
do Tesouro dos Estados Unidos estava abaixo de 1%; e os "spreads" de crédito para os
títulos de maior risco estavam se alargando rapidamente. O índice amplo da Bolsa de
Nova York S&P 500 também despencou, em 8,8% na segunda-feira, seu pior dia desde
o 19 de outubro de 1987. Nada poderia demonstrar melhor o quanto é absurda a crença
de que é possível punir o mercado financeiro sem prejudicar a economia mais ampla. As
duas coisas estão conectadas, como deveriam estar.
Se o sistema financeiro deixar de funcionar devidamente e diversas instituições
financeiras entrarem em colapso, todo mundo sairá prejudicado, e empresas e
domicílios passarão por escassez ainda maior de crédito. O que está acontecendo no
momento é uma espiral de queda gerada pelo pânico, na qual instituições financeiras
desprovidas de liquidez despejam ativos a qualquer preço, enfraquecendo a si mesmas e
a outras empresas, especialmente agora que os balanços contabilizam os ativos por seu
valor de mercado. Isso solapa a capacidade de conceder empréstimos e prejudica os
preços dos ativos, e ainda mais a economia, o que representa novo abalo para os ativos.
O que temos, portanto, é a "revulsão" -o estágio final de uma bolha, no qual, de acordo
com os argumentos do economista Hyman Minsky, os investidores estão tão apavorados
que não conseguem mais se forçar a participar do mercado.
Infelizmente, entre os investidores em pânico do mercado atual estão os bancos. Eles
desejam evitar até mesmo empréstimos entre si. O passivo bruto do setor financeiro
americano disparou de só 21% do PIB em 1980 para 116% em 2007. Parte imensa
desses passivos gigantescos representa posições que instituições financeiras detêm em
outras instituições. Caso não surja crédito, haverá um colapso. É por isso que o setor de
bancos de investimentos desapareceu em apenas algumas semanas.
Diante de um pano de fundo tão negativo, de que maneira devemos interpretar a
rejeição da Câmara dos EUA ao plano? Como uma decisão tanto compreensível quanto
errada.
É compreensível porque o uso do dinheiro dos contribuintes para adquirir os títulos
tóxicos lastreados por hipotecas junto aos tolos cobiçosos que criaram a crise é difícil de
tolerar. Também é compreensível e louvável que os republicanos hostis ao "socialismo"
não queiram resgatar os ricos nada merecedores dessa ajuda, ao menos não antes de
uma eleição. Outro motivo é que o plano não convence. Foi criado para tratar da falta de
liquidez, e a crise representa um problema de insolvência, à medida que caem os preços
das casas e a economia perde força.
Mas a rejeição é um erro grave porque o desastre resultante prejudicará os fracos e
destruirá a legitimidade da economia de mercado. A decisão na verdade servirá para
convencer a todos de que os EUA estão optando pela inação. Em um momento de
tamanha fragilidade, quando o seguro oferecido pelo governo é realmente indispensável,
a pior mensagem possível está sendo transmitida. É lastimável que Paulson não tenha
escolhido outro plano. É lastimável, igualmente, que um antigo titã de Wall Street seja o
encarregado de resgatá-la. Mas ainda assim rejeitar o plano é um erro. É preciso usá-lo
como base para fazer o necessário.
O que acontece agora? O primeiro esforço deve ser encontrar um plano que o Congresso
aprove. É perfeitamente possível desenvolver idéias que protejam melhor os
23
contribuintes, insistindo em plena restituição depois que as empresas socorridas
recuperarem a saúde.
Segundo, parece provável que instituições financeiras significativas tenham dificuldades
para se financiar nos próximos dias, à medida que suas ações caem e devido ao
congelamento no crédito interbancário. Os bancos centrais precisam realizar todos os
esforços imagináveis e alguns inimagináveis para garantir a liquidez. O Fed pode se ver
forçado a resgatar outros bancos. Lamentável, mas necessário.
Terceiro, os europeus precisam reconhecer que estão no mesmo barco. Até mesmo um
pequeno corte nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu e pelo Banco da Inglaterra
poderia ser um sinal útil.
Nada do que está acontecendo é facilmente palatável. O surgimento de mastodontes
financeiros ainda maiores e mais complexos -grandes demais para falir- é prenúncio de
futuras crises. Mas embora seja preciso medir as implicações de longo prazo da
resolução da crise, é necessário resolvê-la.
Franklin Delano Roosevelt tornou famosa a idéia de que "a única coisa que devemos
temer é o medo". Quando a confiança despenca, a economia de mercado não é capaz de
funcionar.
Agora, é preciso restaurá-la.
O problema não é falta de conhecimento sobre como fazê-lo: sabemos como
recapitalizar e reestruturar sistemas financeiros. O problema é falta de vontade política.
O governo precisa começar a demonstrar que está no controle. No final de um governo
americano fracassado, talvez seja demais esperar por isso. Winston Churchill declarou
que "os EUA invariavelmente fazem a coisa certa depois de esgotarem todas as demais
alternativas". As alternativas se esgotaram. É hora de os políticos fazerem a coisa certa.
ALEXANDRE SCHWARTSMAN
O fim do que nunca foi
(01/10/2008)
"QUANDO o governo pede que paguem pelos erros de Wall Street, não parece justo",
disse o presidente dos EUA, George W. Bush, enquanto pedia nada menos do que isso.
Se reconhece a injustiça, por que, então, seu governo, como tantos outros, enfrenta o
custo econômico e político de se envolver numa operação complexa, quando poderia
anunciar que se trata de problema privado, que caberia ao setor privado resolver? A
resposta é, até certo ponto, simples: o governo americano (mas não, aparentemente, o
Congresso) acredita que o custo do resgate é inferior ao da alternativa. O plano
envolveria a troca de US$ 700 bilhões de títulos públicos por papéis lastreados em
hipotecas pertencentes aos bancos.
Caso esses últimos valham zero (hipótese extrema, mas que ajuda a simplificar o
raciocínio), o custo do resgate seria exatamente de US$ 700 bilhões, ou cerca de 5% do
PIB.
Já o custo de não fazer nada (ainda sob a hipótese de valor zero) seria uma redução
adicional de US$ 700 bilhões no capital dos bancos. Bancos, porém, ofertam crédito
como um múltiplo de seu patrimônio (a famosa "alavancagem") e, portanto, a redução
de crédito seria um múltiplo de US$ 700 bilhões. Supondo (conservadoramente) uma
alavancagem de dez vezes, falamos de uma contração de US$ 7 trilhões, algo como
50% do PIB. Não é preciso muito para concluir que os EUA podem passar por uma
recessão bíblica, mesmo se os bancos sobrevivessem para contar a história.
24
Assim, justa ou injustamente, quando a situação chega aonde chegou, a verdade é que o
governo deixa de ter opções: ou resgata o sistema financeiro ou vive uma crise ainda
maior. Obviamente, sabendo disso, bancos têm incentivos para se engajar em operações
arriscadas: caso as apostas funcionem, ficam com os ganhos; caso percam, sabem que
ao menos parte dos prejuízos será paga pela sociedade.
Essas circunstâncias envolvem temas complexos do ponto de vista teórico. Não apenas
o governo não consegue se comprometer com uma promessa de não salvar os bancos
como, por esse motivo, gera incentivos errados em termos de atitudes com relação à
tomada de risco. Por esse motivo, a única alternativa que sobra ao poder público é não
permitir que a situação chegue a esse ponto e os instrumentos para isso são regulação e
fiscalização, lição que há muito se sabe, mas que parece ter sido solenemente ignorada
no caso.
A crise que observamos hoje, portanto, tem origens mais prosaicas do que certos
analistas parecem crer.
Não resulta das "contradições inerentes ao capitalismo" nem implica o fim do credo
liberal. Resultou, sim, de uma regulação inadequada (que, por exemplo, admitiu que
bancos mantivessem estruturas fora do seu balanço, além do alcance dos órgãos
reguladores e fiscalizadores) e de fiscalização frouxa, aparente na queda dos padrões de
análise de crédito, permitindo que famílias tomassem crédito além de sua capacitação.
Não por acaso, onde regulação e fiscalização foram mais adequadas, os efeitos da crise
têm sido menores. Por fim, não é verdade que a inevitável mudança de
regulação/fiscalização que iremos testemunhar marque o fim do "laissez-faire", pela
simples razão de que há muito não existe "laissez-faire" no sistema financeiro. Devido a
problemas como os mencionados acima, não há sistema financeiro no mundo que não
seja regulado. A questão não é, pois, saber se devemos regular o sistema financeiro, mas
sim como desenhar a regulação para equilibrar os benefícios da expansão de crédito e os
riscos que esta acarreta.
ALEXANDRE SCHWARTSMAN, 45, é economista-chefe para América Latina do Banco Santander,
doutor em Economia pela Universidade da Califórnia (Berkeley) e ex-diretor de Assuntos Internacionais
do Banco Central. Internet: http://www.maovisivel.blogspot.com/
Senado dos EUA expande e aprova pacote (02/10/2008)
Por 74 votos a 25, Casa aprova plano de até US$ 850 bi, com US$ 150 bi adicionais
em cortes de tributos para ampliar apoio
Governo muda o tom de defesa, ao dizer que o que está em jogo é o crédito para a
classe média; Câmara deve votar plano até amanhã
SÉRGIO DÁVILA
DE WASHINGTON
Por 74 votos a favor e 25 contra, o Senado norte-americano aprovou ontem à noite com
folga o pacote de resgate do mercado financeiro proposto pelo governo norteamericano, o maior da história do país. Com as mudanças acrescentadas pelos políticos
para ajudar que a medida passasse, o total previsto do plano pula dos US$ 700 bilhões
originalmente pedidos para US$ 850 bilhões.
Agora, deve ir à Câmara dos Representantes (deputados federais), onde será votado
25
amanhã. A aprovação no Senado melhorou as perspectivas de passagem do projeto por
essa Casa, que o rejeitou na segunda-feira, derrubando o mercado mundial. Se todos os
que foram a favor então mantiverem sua opinião na sexta, o governo precisa virar a
posição de apenas 12 congressistas.
Se aprovada, vai para sanção do presidente George W. Bush e vira lei. Se modificada,
terá de passar por uma comissão bipartidária das duas Casas. Se rejeitada, o processo é
reiniciado ou mesmo interrompido. "Essa não é uma lei para a Baixa Manhattan, mas
para todo o país", disse o líder democrata do Senado, Harry Reid, ao anunciar a
passagem, referindo-se à localização de Wall Street. A frase seria repetida com variação
pelo líder republicano, Mitch McConnell.
Ambos os candidatos majoritários à sucessão de Bush, o democrata Barack Obama e o
republicano John McCain, voltaram a Washington apenas para participar da sessão e
votar a favor. "Não podemos correr o risco de ver as economias dos EUA e do mundo
caírem num buraco profundo", disse Obama. A única ausência entre os cem senadores
foi de Ted Kennedy, que passa por tratamento por um câncer.
Bush saudou o resultado: "Com as melhorias que o Senado fez, acredito que membros
de ambos os partidos da Câmara possam apoiar a medida". A votação é parte da
manobra política do governo Bush e líderes dos dois partidos majoritários para
aumentar a pressão sobre a Câmara. Para tanto, foram incluídos dois itens que
agradariam a republicanos conservadores e democratas progressistas, principais
opositores.
Um deles é um corte generalizado nos impostos da classe média, de pequenos
empresários e de famílias vítimas de acidentes naturais, num total de mais de 25
milhões de beneficiados, a um custo adicional de US$ 150 bilhões na próxima década
para o pacote. Nessa soma, entram ainda incentivos fiscais a empresas que investirem
em energia alternativa e em pesquisa e desenvolvimento.
O outro é o aumento da garantia federal de depósitos bancários individuais dos atuais
US$ 100 mil para US$ 250 mil -e a derrubada do limite de empréstimo que o FDIC,
órgão que garante as operações do setor bancário nos EUA, pode pedir ao Tesouro para
garantir esses depósitos.
O objetivo é acalmar o cliente e evitar não só uma corrida aos caixas como a
transferência de depósitos de pequenas instituições para grandes, o que acabaria por
quebrar as primeiras. Era ponto de honra da poderosa associação de pequenos e médios
bancos, de grande influência sobre republicanos.
As alterações se somam às feitas antes do envio à Câmara, no domingo, que incluíram
parcelamento da liberação do dinheiro, limites de pagamento a executivos das empresas
que forem auxiliadas pelo governo, possibilidade de participação nessas empresas por
meio de ações e a criação de órgão subordinado ao Congresso que vigiará as ações do
Tesouro.
O plano original pulou de 2,5 páginas para 110 na Câmara e as 451 de ontem no Senado
-o salto entre as Casas se deve também ao fato de a medida ter sido incluída como
emenda de uma legislação sobre direitos de aposentados já votada pela Câmara, como
maneira de atravessar a burocracia.
O governo passou o dia inteiro em negociações com o Congresso, que viu o vento da
pressão popular mudar de lado, de ostensivamente contra a aprovação para parcialmente
favorável à medida (leia texto ao lado). Foi auxiliado na pressão por entidades
empresariais e de comércio e lobistas. À tarde, pela sexta vez em seis dias, Bush voltou
ao assunto.
"É importante fazer o crédito voltar a circular para que pequenos negócios em nossas
comunidades possam financiar suas operações", disse, "para que pequenas
26
municipalidades tenham dinheiro para cuidar da necessidade de seus cidadãos e para
que Estados respondam suas necessidades."
A Casa Branca mudou o tom de defesa de seu plano, que prevê a maior intervenção
federal no mercado financeiro da história do país. Segundo a nova retórica oficial, em
jogo agora não estão mais as instituições financeiras de Wall Street, mas o crédito para
o norte-americano médio, os pequenos empresários -a classe média.
A guinada veio depois da derrota de segunda-feira, em que tanto os líderes republicanos
quanto os democratas não anteciparam o peso que a rejeição popular ao pacote teria na
decisão do baixo clero da Câmara dos Representantes. A totalidade das cadeiras dessa
Casa está em jogo nas eleições de 4 de novembro, ante apenas um terço das do Senado.
Crise varre meio trilhão da Bolsa em 2008
(02/10/2008)
Estudo da Economática mostra redução de R$ 513 bi no valor de 326 empresas;
Petrobras e Vale perdem R$ 85 bi cada uma
Para analistas, preços refletem perspectiva menor de lucro, menos dinheiro
disponível e aumento das incertezas nas economia
TONI SCIARRETTA
DA REPORTAGEM LOCAL
A crise nos mercados já levou R$ 513 bilhões em valor de mercado das empresas
brasileiras na Bolsa em 2008, segundo estudo da consultoria Economática. Só a Vale e a
Petrobras encolheram R$ 85 bilhões cada uma na Bolsa neste ano.
O estudo mostra ainda que o setor financeiro, que está no epicentro da crise global,
perdeu R$ 95,8 bilhões em valor de mercado. Na pesquisa, a Economática avaliou os
valores das ações de 326 empresas abertas.
Considerado um "retrato momentâneo do preço" de uma empresa caso fosse vendida, o
valor de mercado resulta basicamente de duas forças que têm a ver com a expectativa de
lucros futuros e com o quanto alguém está disposto a pagar por ela. Segundo Fernando
Exel, presidente da Economática, a crise deu um golpe nesses dois vetores: diminui a
expectativa de lucros e reduziu o dinheiro disponível do investidor. "O lucro das
empresas vai cair porque espera-se um desaquecimento geral. E esse futuro mais magro
aparece nas ações."
Para Armando Castelar, economista da Gávea Investimentos, a crise de crédito retirou
um "combustível importante" para mover os preços na economia. A isso, afirmou
Castelar, somou-se uma incerteza sobre o que de fato vai acontecer com a economia, o
que aumenta uma espécie de "taxa de desconto" em que os lucros futuros das empresas
são trazidos hoje a valor presente. "Com maior incerteza, a taxa de desconto desse lucro
futuro também aumentou. As ações estão refletindo essas duas coisas: perspectivas
negativas de lucro e a incerteza que significa descontar mais desse futuro", disse.
Para Álvaro Bandeira, presidente nacional da Apimec (Associação dos Analistas), as
empresas brasileiras valem menos na Bolsa porque a conjuntura mudou para pior desde
o ano passado. "Perdeu mesmo. Não estamos discutindo se esse é o valor real da
companhia ou não. Esse é o valor que o mercado paga hoje. A gente pode discutir se a
Petrobras vale mesmo R$ 344 bilhões, que o mercado está precificando, ou se tem um
valor econômico que pode ser o dobro. Empiricamente, só com as novas reservas
provadas [de petróleo] neste ano, a empresa vale mais. O mercado perde parâmetros
nesses momentos."
27
Professor de contabilidade da Fipecafi, Alexandre Assaf Neto afirma que a crise
provocou um "descolamento" ainda maior entre os valores econômicos -que representa
o quanto a empresa gera de riqueza- e o de mercado das empresas.
Assaf lembra que esse descolamento sempre foi maior no Brasil porque a maioria das
empresas não têm suas ações completamente pulverizadas, como nos EUA. Essa
distorção faz o mercado embutir um desconto pelo prêmio de controle, que é a
capacidade de o acionista interferir na gestão estratégica da empresa. Como exemplo,
cita o caso da GM, que tem 94% de suas ações no mercado, e os papéis são muito
negociados. "Quando o capital é mais diluído e o volume de negociação das ações é
maior, esses valores tendem a se aproximar", disse.
Ricardo Martins, analista da Planner, não vê com alarde a perda de valor na Bolsa e
lembra que, em 2007, os coordenadores dos IPOs [aberturas de capital] exploraram
condições opostas de mercado para vender as ações pelo maior valor possível. "O
mercado aceitou sem critério preços irreais. Hoje, a história é diferente."
ARTIGO
Como recapitalizar o sistema bancário
(02/10/2008)
GEORGE SOROS
ESPECIAL PARA O "FINANCIAL TIMES"
A LEGISLAÇÃO de emergência em estudo pelo Congresso dos EUA foi mal calculada
ou, para ser mais preciso, não foi calculada. E quando o Congresso tentou aperfeiçoar o
que o Tesouro havia solicitado originalmente, emergiu um plano combinado que
consiste do Programa de Alívio a Ativos Problemáticos (Tarp, na sigla em inglês) que o
Tesouro solicitou e de um programa bastante diferente de infusão de capital sob o qual o
governo investiria em e estabilizaria bancos enfraquecidos, e sairia lucrando quando a
economia vier a melhorar. A abordagem de infusão de capital custará menos aos
contribuintes nos anos futuros e poderá até dar lucro a eles.
Duas semanas atrás, o Tesouro não tinha um plano preparado -é por isso que teve de
solicitar total liberdade quanto ao desembolso dos recursos.
Mas a idéia geral era a de propiciar alívio ao sistema bancário ao assumir os títulos
tóxicos dos bancos e estacioná-los em um fundo controlado pelo governo, de modo a
que não fossem despejados no mercado a preços cada vez menores.
Com o valor de seus investimentos estabilizado, os bancos poderiam, então, levantar
capital acionário.
A idéia estava repleta de dificuldades. Os títulos tóxicos não são homogêneos, e, em
qualquer processo de leilão, os vendedores certamente transferirão ao governo os piores
deles.
Além disso, o esquema trata só de metade do problema subjacente à indisponibilidade
de crédito. Pouco faz para permitir que os proprietários de casas cumpram suas
obrigações hipotecárias e pouco faz para resolver o problema da execução de hipotecas.
Com os preços das casas ainda em queda, caso o governo estabeleça preços elevados
aos títulos lastreados por hipotecas, os contribuintes poderiam sair perdendo; mas, se o
governo não pagar mais do que os papéis valem, o sistema bancário não teria sua
situação muito aliviada e não conseguiria atrair capital privado.
Um esquema que beneficie o mundo financeiro tão pesadamente, em detrimento da
economia mais ampla, seria inaceitável politicamente. Os democratas, que detêm a
maioria no Legislativo, alteraram os termos, de modo a punir as instituições financeiras
28
que se beneficiem do plano. Os republicanos decidiram que não poderiam ficar para trás
e impuseram o requisito de que os títulos oferecidos em leilão deveriam ser cobertos por
seguros cujos prêmios seriam pagos pela empresa oferecedora. O pacote de resgate, em
sua forma atual, constitui um amálgama de múltiplas abordagens. E existe risco real de
que o programa de aquisição de ativos não venha a ser empregado plenamente devido às
condições onerosas que foram impostas.
Mesmo assim, um pacote de resgate era desesperadamente necessário e, a despeito de
suas deficiências, poderia alterar o curso dos acontecimentos. Ainda em 22 de setembro,
o secretário do Tesouro, Henry Paulson, expressava a esperança de evitar o uso de
dinheiro dos contribuintes; por isso permitiu a quebra do Lehman Brothers. O Tarp
estabelece o princípio de que fundos públicos são necessários e, se o programa atual não
funcionar, outros programas serão instituídos.
Já que o Tarp foi mal calculado, seria previsível que causasse resposta negativa da parte
dos credores dos EUA. Eles o veriam como tentativa de liquidar a dívida por inflação. O
dólar deve sofrer pressão renovada, e o governo terá de pagar mais para colocar seus
títulos de dívida, especialmente os de longo prazo. Essas conseqüências adversas
poderiam ser mitigadas por um uso mais efetivo do dinheiro dos contribuintes.
Em lugar de apenas adquirir ativos problemáticos, o grosso do dinheiro deveria ser
usado para recapitalizar o sistema bancário. Fundos injetados em nível de capital têm
mais efeito do que fundos usados para equilibrar balanços por um fator mínimo de 12 -o
que equivaleria, em termos práticos, a fornecer ao governo US$ 8,4 trilhões para
reativar o fluxo de crédito. Na verdade, o efeito seria ainda maior porque a injeção de
fundos do governo também atrairia capital privado. O resultado seria maior recuperação
econômica e chance de lucro aos contribuintes.
Eis como o sistema poderia funcionar. O secretário do Tesouro dependeria de auditores
bancários em lugar de delegar a implementação do Tarp às empresas de Wall Street. Os
auditores bancários estabeleceriam as necessidades de capital acionário adicional para
cada banco, a fim de que atingissem capitalização adequada nos termos das atuais
normas de capitalização. Caso os administradores dos bancos não sejam capazes de
levantar o dinheiro requerido junto ao setor privado, poderiam recorrer ao Tarp.
O Tarp investiria em ações preferenciais com prioridade de remuneração. As ações
preferenciais ofereceriam juros baixos (digamos, 5%), para que os bancos mantivessem
o interesse em continuar emprestando. Os acionistas anteriores, no entanto, pagariam
um preço pesado, porque suas posições seriam diluídas pelas novas ações preferenciais
prioritárias. Mas eles teriam o direito de subscrever novas ações emitidas nos termos do
Tarp. Esses direitos seriam negociáveis, e o secretário do Tesouro seria instruído a
estabelecer termos de modo a que os direitos possam ter valor positivo.
Investidores privados como eu provavelmente correriam para aproveitar a oportunidade.
Os bancos recapitalizados teriam autorização para elevar seu endividamento e por isso
retomariam os empréstimos.
Limites ao endividamento bancário seriam impostos posteriormente, depois que a
economia se tiver recuperado. Caso o dinheiro fosse usado dessa maneira, a
recapitalização do sistema bancário poderia ser conduzida com menos de US$ 500
bilhões em verbas públicas.
Uma legislação de emergência revisada também deveria oferecer mais ajuda aos
proprietários de casas. O projeto requereria que o Tesouro desse financiamento barato a
títulos hipotecários cujos termos tenham sido renegociados, com base no custo de
captação do Tesouro. As companhias de serviços hipotecários poderiam ser proibidas de
cobrar honorários pela execução de hipotecas, mas seria de esperar que os detentores de
títulos oferecessem incentivos à renegociação, como a Freddie Mac e a Fannie Mae já
29
vêm fazendo.
Os bancos considerados insolventes não seriam elegíveis para recapitalização. A FDIC
(agência federal que oferece seguro aos depósitos bancários) tomaria o controle dessas
empresas e seria recapitalizada com US$ 200 bilhões, como medida de emergência, e
removeria o limite de US$ 100 mil aos depósitos que garante. Essa revisão na lei seria
mais equânime, teria mais chance de sucesso e custaria menos aos acionistas no longo
prazo.
GEORGE SOROS é presidente do conselho da Soros Fund Management
ARTIGO
O fim de uma era?
(02/10/2008)
RICARDO CARNEIRO
ESPECIAL PARA A FOLHA
HÁ CERCA de 30 anos, em outubro de 1979, a guinada radical da política monetária
americana, comandada por Paul Volcker, marcou o início da reafirmação econômica
americana no plano internacional, e uma nova forma de operação do capitalismo,
constituindo um marco simbólico do início da globalização. Aos que estão
presenciando, há um ano, os fatos dramáticos nos mercados financeiros, cabe perguntar
se um deles ou o seu conjunto marca o fim de uma era.
A resposta à pergunta não é trivial e, a rigor, talvez não possa ser dada de imediato.
Trata-se menos de impossibilidade determinada pela contemporaneidade dos fatos e
mais pelo caráter múltiplo das saídas que se colocarão aos eventos do último ano. Dito
de outra forma, não há, no desenrolar da crise financeira recente, soluções indisputáveis.
A natureza do sistema que se porá no seu lugar será produto da correlação de forças
políticas e, por que não dizer, da capacidade dos setores progressistas da sociedade, em
particular da americana, de regular as finanças.
A recusa inicial do socorro ao sistema financeiro por parte da Câmara dos Deputados
constitui uma ilustração da natureza das alternativas em questão. Para analisar os
interesses em jogo, é necessário destacar o caráter indispensável dessa ajuda, o que,
porém, em nada elucida a forma específica que deve assumir o pacote.
É forçoso reconhecer que a intervenção do Estado nos mercados é crucial para deter a
exacerbação das perdas. Mas é indispensável reconhecer as implicações da forma do
auxílio no que tange à distribuição das perdas já ocorridas.
Como arbitrá-las?
O governo de George W. Bush fez a sua proposta, pela qual o Tesouro americano
transferiria para um fundo a quantia de US$ 700 bilhões, a serem utilizados na compra
de títulos de pior qualidade das instituições financeiras, estancando suas perdas e
evitando a contaminação de outros títulos e agentes.
Várias críticas têm sido endereçadas à proposta, muitas delas com um nítido sabor
moral, ou mesmo fundamentalista, como é o caso daqueles que acreditam que o Estado
jamais deveria interferir nos mercados.
Defeitos
Contudo, é preciso reconhecer que a proposta Bush-Paulson tem vários defeitos.
30
Por estar centrada exclusivamente na compra de ativos podres, ela pode não ser
suficiente para deter o aprofundamento das perdas, exigindo mais recursos, sempre
demandados com a urgência da iminência da catástrofe.
Por sua vez, se bastar, ela poderá não resolver a questão crucial da retomada dos
financiamentos à economia em razão da excessiva descapitalização das instituições
financeiras, além de jogar toda a conta exclusivamente nas costas do Tesouro
americano.
Com base nas objeções anteriores, economistas americanos têm insistido na alternativa
de conceder a ajuda com outro formato, qual seja, a da capitalização das instituições em
dificuldades.
O Tesouro dos Estados Unidos aportaria os recursos na forma de capital, e viraria, ao
menos temporariamente, sócio das mesmas. A injeção de capital, na magnitude
proposta, elevaria o nível de confiança do sistema, permitindo mesmo a retomada de
financiamentos.
Além disso, reforçaria o poder do Tesouro na arbitragem das perdas, por torná-lo ator
essencial na administração dos ativos e passivos das instituições.
As opções discutidas acima podem parecer excessivamente técnicas e irrelevantes, mas
não são. Da sua escolha, somada a outras tantas que se porão no futuro imediato,
emergirá um novo formato das finanças. Só a partir daí poder-se-á responder a questão
da emergência de uma nova era.
RICARDO CARNEIRO é professor titular do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de
Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp
ENTREVISTA JAMES GALBRAITH
Esse plano não evita recessão nos EUA
(03/10/2008)
Para economista, socorro só empurra problema para o próximo presidente
Para ele, "o que acontece aqui não é socialismo, mas um ato de tentar salvar um
grupo de pessoas culpado de atos muito prejudiciais"
DE WASHINGTON
O pai escreveu sobre a era da incerteza, o filho a vive -e não gosta do que vê. O
economista progressista James Galbraith, 56, acha que os EUA estão a meio caminho da
recessão, que o Plano Paulson serve para salvar o que ele chama de "Estado predatório"
(título de seu livro mais recente) e que empurra o problema com a barriga. Foi o que o
professor da Universidade do Texas e diretor da associação Economistas para Paz e
Segurança disse à Folha ontem, emendando uma frase atribuída a seu pai, o
keynesianista John Kenneth Galbraith (1908-2006): "Nos EUA, a única forma aceitável
de socialismo é o socialismo para os ricos"
(SÉRGIO DÁVILA)
.
31
FOLHA - O sr. já disse que a possibilidade de uma nova Depressão nos EUA é muito
mais onda da mídia do que risco real. E quanto a recessão?
JAMES GALBRAITH - Recessão é certamente uma possibilidade clara. Na verdade
acho que já estamos no meio do caminho.
FOLHA - É inevitável? O plano não ajuda a diminuir essa possibilidade?
GALBRAITH - Infelizmente, esse plano não faz nada para evitar uma recessão. O que
eles estão tentando fazer é ajudar algumas instituições financeiras que se meteram num
problema enorme, e estão fazendo isso de uma maneira extremamente ineficiente. O que
farão é empurrar o problema com a barriga até que haja um governo competente para
lidar com ele, em janeiro.
FOLHA - Então, o sr. não acha que esse é o plano coreto?
GALBRAITH - Se eu o tivesse feito, seria muito diferente. O pacote pode ser melhor do
que não fazer nada, no sentido de que colocar dinheiro é melhor do que não colocar,
mas só. A base do plano é comprar ativos do sistema financeiro, e isso é uma maneira
ineficiente de lidar com o problema da falta de capital das instituições financeiras dos
EUA.
FOLHA - Qual seria a maneira eficiente, na sua opinião?
GALBRAITH - O Plano B ideal seria fazer o que a Escandinávia fez no final dos anos
1990, que é basicamente garantir todos os depósitos no sistema bancário e comprar
ações preferenciais dos bancos, recapitalizando as instituições financeiras.
Especificamente: Comprar títulos podres pelo valor de mercado, não acima, como o Fed
quer fazer agora, e os colocar numa nova corporação, independente. E então criar uma
outra corporação de financiamento imobiliário para lidar com o problema das hipotecas
inadimplentes.
FOLHA - O que acha dos acréscimos do Senado?
GALBRAITH - O corte de impostos é uma idéia péssima, o aumento dos depósitos
garantidos é o.k., mas eles deveriam ter ido além e aumentado a independência do órgão
garantidor (Fdic), dando completo domínio nas decisões sobre que limite colocarão nos
depósitos garantidos. Não deveriam ter limitado a US$ 250 mil, porque pode não ser o
suficiente.
FOLHA - O sr. mencionou que o problema ficará com o próximo governo. Quem
espera que seja o presidente?
GALBRAITH - O senador Obama, porque o senador McCain está intimamente
associado a todos os arquitetos desse desastre. Um governo McCain insistiria nas
políticas atuais e aprofundaria o problema. Henry Paulson é um homem de negócios
competente, mas falta a ele a experiência com governo que é requerida para que seja
feito um trabalho competente. Além disso, ele sofre constantemente de um conflito de
interesses potencial, o que vem destruindo completamente a credibilidade do Tesouro
no processo.
FOLHA - Sobre o secretário do Tesouro, ele tem sido chamado de "socialista" no
Congresso, pelo tamanho inédito e histórico da intervenção federal que propõe. Não
sei sua posição sobre comentar frases de seu pai, mas uma das atribuídas a ele diz:
"Nos EUA, a única forma aceitável de socialismo é o socialismo para os ricos". É
este o caso?
32
GALBRAITH - Primeiro, eu não tenho certeza de que meu pai disse isso. Pode muito
bem ter dito. Mas eu prefiro usar a frase que usei no título do meu livro mais recente:
"Estado Predatório". O que acontece aqui não é socialismo, mas um ato de tentar salvar
um grupo de pessoas culpado de atos extremamente prejudiciais. O Plano Paulson é
claramente pensado para evitar que eles sejam chamados à responsabilidade. Também
não corrige os problemas causados por aquele grupo de pessoas.
ENTREVISTA CLAUDIO HADDAD
Regulação no mercado pode "errar na mão" (03/10/2008)
Ex-diretor do BC aponta risco de excesso na regulamentação após crise
Para economista, tomar risco faz parte do jogo e permitiu desenvolvimento;
contrapartidas são as crises financeiras cíclicas
DA REPORTAGEM LOCAL
Ex-sócio do Garantia, banco que ajudou a moldar o mercado brasileiro, o economista
Claudio Haddad afirma que, após o pânico nos mercados, virá a crise na economia
"real", uma tendência intervencionista de regulação que "pode errar na mão" e a
recuperação. Ex-diretor do BC e diretor-presidente do Ibmec-SP, Haddad não vê uma
crise no capitalismo financeiro, mas um acidente que ocorre de tempos em tempos. "Se
não fosse a disposição de tomar risco, não haveria desenvolvimento." (TONI
SCIARRETTA)
FOLHA - Como conviver com a atual instabilidade nos mercados?
CLAUDIO HADDAD - Temos que esperar passar a tempestade e depois procurar novas
oportunidades. Chega um ponto em que começa a ficar atraente de novo. Agora, só vai
poder ver o que ficou atraente quando passar a tormenta. Com essa tempestade -e com a
visibilidade zero-, o melhor é ficar debaixo de uma marquise e se proteger.
FOLHA - Qual o sinal de que a tormenta está passando?
HADDAD - Quando o ritmo se reduzir e [a Bolsa] passar a cair mais devagar. O
problema agora é resolver esse sufoco do sistema financeiro e torcer para que essa
desalavancagem se dê com um mínimo de perturbação. Que [a recuperação] vai
acontecer, vai. Tem muitos fatores que continuam impulsionando o crescimento.
FOLHA - O que sucede o pânico?
HADDAD - Vem a crise na economia real e tem também a regulação. Haverá uma
tendência de colocar regras para não deixar essas coisas acontecerem de novo. E que
pode errar a mão e ser excessiva. Crises periodicamente acontecem. É bom não achar
que somos superpoderosos, inteligentes e controladores para evitar que novas crises
aconteçam. O negócio é aprender sempre, minimizar os efeitos e colocar incentivos para
sair o mais rápido possível das futuras crises. Mas muita coisa tem de ser revista.
FOLHA - Ruiu o modelo de banco de investimento e do capitalismo financeiro que
temos hoje?
33
HADDAD - Não, mas haverá uma volta para o básico do mercado. Certamente, vai
haver menos exageros. Uma coisa é entender o que se faz, no que aplica, e muita gente
não entendia. E terá de ter mais transparência. Sobre o capitalismo, ninguém descobriu
um sistema melhor. Pode ter muitos defeitos -e tem-, mas o problema é que os outros
são piores. Não há nada de alternativo com um mínimo de eficiência.
FOLHA - Risco é sempre ruim?
HADDAD - Não, porque é assim que o mundo anda. Se as pessoas não assumissem
nada, ainda estaríamos na Idade Média. Se não fosse o engenho humano, a disposição
de tomar risco, a livre iniciativa, não haveria desenvolvimento. A contrapartida é que
alguns erros são cometidos, você tem recessões e crises. A única coisa que a gente sabe
é que a próxima crise será diferente desta e das outras.
FOLHA - A decepção do pequeno investidor vai prejudicar o mercado?
HADDAD - A gente vai pagar um preço alto. Uma das coisas extraordinárias que
aconteceram no Brasil nos últimos anos foi o ressurgimento do mercado de capitais, que
é ótimo para a formação de capital e de novas empresas. Muitos investidores que
entraram vão ficar traumatizados e talvez se afastem.
FOLHA - O que o país pode fazer?
HADDAD - É importante cuidar da política fiscal, que necessita de muitos ajustes. Os
gastos crescem acima do PIB.
FOLHA - Não é difícil pedir corte nos gastos aqui, quando os EUA despejam
dinheiro nos mercados?
HADDAD - Mas o governo não gosta de inflação, não quer crise financeira e quer uma
taxa de juros baixa para favorecer o crescimento. Se colocar tudo isso na equação, o
governo pode concluir que, seguindo uma política fiscal mais conservadora, pode
precisar de uma política monetária menos contracionista, que teria efeitos benéficos
para todo mundo. E aí o cacife político aumentaria com a política fiscal conservadora.
FOLHA - Qual o papel do BC, do BNDES e do governo durante a crise?
HADDAD - Aumentar a oferta de crédito na época em que o BC está perseguindo uma
política monetária contracionista não parece uma boa opção. Claro que se pode ter
bolsões. E reduzir o compulsório me parece adequado. Mesmo que o problema seja
aumentar a oferta de crédito, a pergunta é: a que taxas? Por que tem de ser subsidiado?
O subsídio favorece poucos com custo para muitos.
34