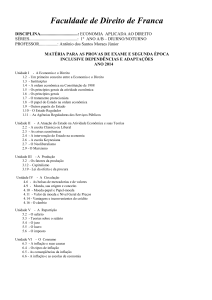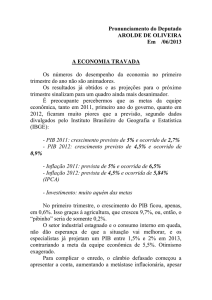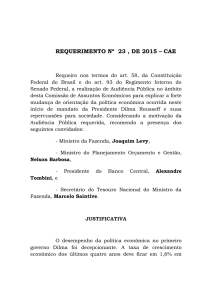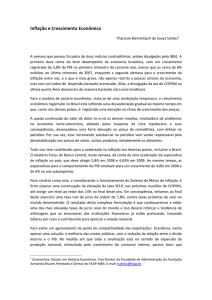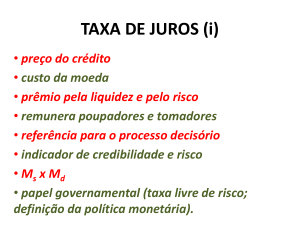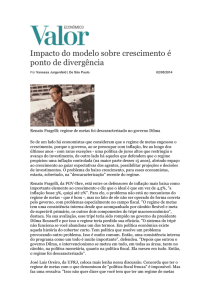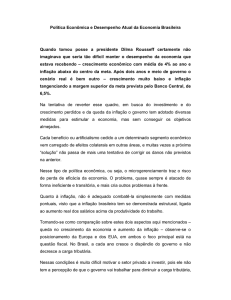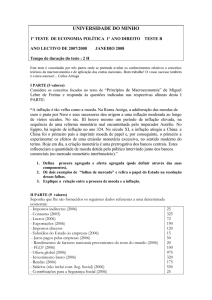Pensamento do Dia
Economistas analisam a Economia, o Brasil
e o mundo,
mundo, na mídia diária 28 04 2011
2011
------------------------------------------------------------------Correio Braziliense - 28/04/2011
O pensamento econômico pós-crise
Armando Castelar
Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV) e professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Muito se discute hoje em dia se a crise causará uma revisão do pensamento econômico
mundial, em especial daquele mais alinhado ao Consenso de Washington, até então
dominante nas prescrições das organizações multilaterais. Há questionamentos em três
áreas: regulação financeira; a atuação do Banco Central (BC); e a política fiscal e o papel
do Estado na economia.
A crise trouxe duas lições principais sobre a regulação financeira. Primeiro, que ter
instituições financeiras individualmente sólidas não garante que o sistema como um todo
também o seja. Por exemplo, se um banco mantém papéis líquidos de empresas com
classificação de risco AAA em tesouraria, ele está sendo prudente: se tiver problemas de
liquidez, será fácil vender esses títulos com pequenas perdas. Porém, se todos os bancos
precisarem vender os mesmos títulos ao mesmo tempo, os preços despencarão, gerando
perdas significativas, que podem colocar a solvência do sistema financeiro em cheque.
Problemas semelhantes decorrem do uso universal dos mesmos modelos de risco, ou de
o risco de crédito parecer mais baixo na fase ascendente do ciclo, quando os ativos se
valorizam e as garantias parecem mais seguras, reforçando a disposição dos bancos
emprestarem; ou ainda em função das inter-relações criadas pelas operações com
derivativos.
Segundo, os incentivos a assumir riscos se revelaram mais fortes do que imaginado.
Antes se acreditava que os acionistas bloqueariam estratégias muito arriscadas que os
gestores quisessem assumir, para proteger seu capital. O que se viu, porém, foi os
próprios acionistas pressionarem em favor de investimentos mais arriscados, para
aumentar seu retorno (ou assim imaginavam). O sistema de bônus se mostrou
igualmente perverso, levando a uma cultura de ganhos no curto prazo e pouco caso com
os riscos envolvidos. O caso do Bear Stearns, em que os funcionários tinham um terço
das ações, mostra que isso não impediu riscos tão grandes que quebraram uma das mais
tradicionais instituições de Wall Street.
Claramente nessa área, o pensamento econômico pós-crise é bem diferente,
prevalecendo a visão de que os limites à tomada de risco precisam ser muito mais
estreitos. Da mesma forma, há uma grande preocupação em garantir mais
transparência, para o regulador poder acompanhar melhor o que se passa. Por fim, há a
percepção de que à supervisão de cada instituição devem somar-se medidas para
garantir a saúde de todo o sistema, o que se convencionou chamar de regulação
macroprudencial.
Em parte associado a esse último ponto se discute também o papel do BC. Em especial,
há a visão de que a bolha imobiliária foi fomentada por um foco excessivo na inflação de
bens e serviços e que com isso os juros ficaram muito baixos por tempo demais. Essa
discussão precede a crise e os que discordam dessa visão argumentam que é difícil para
o BC saber quando há uma bolha e que o custo de desinflá-la é muito alto. Por exemplo,
os imóveis no Rio de Janeiro, grosso modo, dobraram de preço em dois anos: isso é uma
bolha?
Outro tema diz respeito ao uso de instrumentos quantitativos de política monetária. O
afrouxamento creditício, usado com especial intensidade pelo BC americano, foi uma
novidade que ganhou importância por a taxa básica de juros já estar em zero. Na ponta
oposta, países emergentes com economias aquecidas e inflação em alta têm recorrido a
mais compulsórios e outras medidas de alargamento do spread bancário para tentar
segurar os preços sem atrair grandes volumes de capital externo. Claramente, são
instrumentos de qualidade inferior aos juros e cujo uso deve ser descontinuado quando a
economia mundial se normalizar.
A crise levou a um aumento do ativismo fiscal, na tentativa de compensar com a
demanda pública a contração no consumo e investimento privados, num quadro em que
a política monetária já chegara ao limite. Isso foi visto como uma ressurreição das ideias
keynesianas, o que não faz sentido: esses instrumentos estão aí há tempos — o Japão,
por exemplo, os usa há duas décadas — e a novidade foi a intensidade com que se teve
de recorrer a eles.
Mais equivocado ainda parece ser acreditar que a crise levará a uma revisão sobre qual
deve ser o papel do Estado, fora o que concerne à regulação financeira e à preocupação
do BC com as bolhas. Pelo contrário, com o aumento da dívida pública nos países ricos,
medidas para transferir atividades, comerciais e não comerciais, para o setor privado vão
ganhar espaço nas políticas públicas, como já está acontecendo na Inglaterra.
-------------------------------------Valor Econômico - 28/04/2011
A interrupção do voo exige ousadia
Carlos Lessa
O aumento dos custos de energia fóssil, de matérias-primas minerais e agrícolas e de
alimentos se propaga pelo sistema produtivo mundial e produz, em um mundo de
globalização financeiras e hegemonia do câmbio flutuante, ressurgências e ativações
inflacionárias. As respostas nacionais podem se desdobrar das crises institucionais, com
movimentos políticos importantes, até a inação. Porém, quase sempre, o temor da
inflação inspira políticas contracionistas. Apesar de o desemprego alto persistir na
economia americana, a inflação começou a subir. O presidente Obama falou de redução
de déficits ao longo da próxima década.
Parece que os Estados Unidos necessitam gerar uma redução do gasto potencial de US$
4 trilhões. Essa é a projeção para que a dívida pública americana não supere o Produto
Interno Bruto (PIB). A situação é tão delicada que o Fundo Monetário Internacional (FMI)
diz que os Estados Unidos estão perdendo credibilidade. Em sua imensa maioria, as
reservas internacionais que lastreiam os bancos centrais são formadas por títulos do
tesouro americano. O Banco Central brasileiro está todo nesse papel.
O Banco Central Europeu (BCE) prioriza o combate à inflação, que dá sinais de
ressurgência na Europa. No Velho Mundo, a situação de crise aberta de sua parte
meridional convive com a inflação e cortes nos gastos dos países prósperos (Alemanha e
França). É possível que a cadeia Grécia-Portugal-Islândia progrida como dominó. A
Espanha já prepara um "Proer gigantesco" para 13 bancos. A China está preocupada com
a inflação interna do último trimestre, de 5,4%, e falou em reduzir seu crescimento dos
10,3% de 2010 para 9,0% em 2011.
A crise mundial que a presidente Dilma não debateu, quando candidata no segundo
turno, com o candidato Serra, é um fato devastador para as perspectivas para o Brasil. É
hora de dissolver qualquer ilusão com sustentação de um crescimento de 5% em 2011.
Na melhor das hipóteses, ficará um pouco acima de 3%. A inflação brasileira reativou-se
está próxima do limite superior admitido pelo BC. A presidente Dilma, que, quando
candidata, afirmou que não teríamos ajuste fiscal, fez, na abertura de seu mandato, a
proposta de um grande corte fiscal, a suspensão de novos concursos públicos e a
paralisação de contratação de qualquer brasileiro já concursado. Foi inteiramente
convencida pelo BC e declarou, enfaticamente, que não teria "complacência com a
inflação".
Lendo nas entrelinhas do que é dito pelo BC, verifica-se que já deslocou para 2012 a
meta central de inflação de 4,5% ao ano. Isso significa que a mediocridade persistirá. Por
outro lado, na queda de braço com a taxa de câmbio, continua a valorização crescente do
real, que atingiu a taxa de R$ 1,54 por dólar. O BC continua comprando dólares
excedentes, tendo neste ano adquirido quase US$ 30 bilhões. Obviamente, nossas
reservas crescem e são aplicadas em títulos do tesouro americano. Em consequência,
cresce a fatura que o BC apresentará ao Tesouro Nacional, por conta da perda brutal
entre dinheiro nacional captado à taxa Selic e o rendimento do título do tesouro
americano.
Com o neologismo de "macroprovidências", o BC está freando a venda a prazo. O leitor
deve saber que o endividamento familiar maciço tornou possível fazer crescer nossa frota
de autos, a 9% ao ano, de 1998 para cá. No caso das motos, foram 400%. Evidente que
o não investimento em infraestrutura urbana desqualifica o viver na metrópole e na
cidade média mas, ao invés de pensar em metrô, o governo insiste no trem bala, porém
também há cortes no programa Minha Casa, Minha Vida.
Tivemos a visita de Barack Obama, quando a sutileza impôs a revista de ministros de
Estado brasileiros. De volta aos Estados Unidos, Obama disse que fará um plano para
reduzir em um terço o consumo de petróleo dos Estados Unidos até o fim desta década,
e que quer o Canadá, a Venezuela e o pré-sal brasileiro. O quintal substituirá o Oriente
Médio.
A diplomacia brasileira foi à China e colheu como vitória a perspectiva de um imenso
investimento de US$ 12 bilhões para produzir componentes eletrônicos - promessa de
um empresário de Formosa. A China continental sinalizou que procuraria adquirir alguns
bens mais sofisticados. Enquanto isso, as importações de têxteis cobriram 47% do
consumo brasileiro nos últimos 12 meses, enfraquecendo o setor. Não vi nenhuma
menção a fornecimento preferencial ao Brasil de coque metalúrgico.
Continuaremos vendendo minério de ferro e importando aço chinês. A China não
cumprirá o que havia sido pactuado com a Embraer, anos atrás. Não comprará o EB-145,
pois já estão produzindo um equivalente totalmente chinês; em troca, a Embraer ficaria
com o fornecimento de outros modelos - que serão, igualmente, clonados.
A vocação de República Velha está na plenitude. O ministro Mercadante estimou que a
tonelada exportada média brasileira vale US$ 163 e a importada vale US$ 3 mil. Com
cortes na infraestrutura e a atrofia dos programas de ciência e tecnologia, confirmaremos
a vocação.
A presidente Dilma tem que se esforçar para bloquear a ressurgência inflacionária. Afinal,
a estabilidade nos custou três décadas de estagnação do crescimento. Concordo com sua
prioridade, porém me pergunto por que não ousa, em um mundo em crise. Uma
miniousadia seria aplicar imposto aos produtos exportáveis que estejam causando perdas
no poder de compra popular. O imposto reduziria os preços no mercado interno. Outra
miniousadia seria acabar com o painel de indexações que dá sobrevida e realimentação à
inflação passada. Outra, ainda, seria abrir a discussão sobre o controle real de entradas
de capital do exterior. Para esse tema, poderia, inclusive, convocar uma reunião dos
Brics e dos irmãos sul-americanos. Afinal, quem fala de perda de credibilidade dos
Estados Unidos é o FMI.
Carlos Francisco Theodoro Machado Ribeiro de Lessa é professor emérito de
economia brasileira e ex-reitor da UFRJ. Foi presidente do BNDES.
--------------------------------------O Estado de S. Paulo - 28/04/2011
Taxa de juros e carga tributária
Clóvis Panzarini
A percepção de que a carga tributária brasileira é estratosférica - cerca de 35% do
Produto Interno Bruto (PIB) - decorre da desproporcionalidade entre a sua magnitude e o
retorno à sociedade na forma de serviços públicos: o contribuinte paga muito imposto e
tem pífia contrapartida na forma de educação, saúde, segurança pública, etc. A Suécia,
por exemplo, tem carga tributária equivalente a 50% do PIB, mas seus cidadãos se
sentem confortáveis com o peso dos impostos pois recebem contrapartida do governo.
O maior problema fiscal do Brasil é a qualidade do gasto. É de relevar, por exemplo, que
quase um quinto (17%) de toda essa dinheirama arrecadada equivale às despesas do
governo com o pagamento de juros, cujo retorno é zero para o contribuinte. Num
condomínio, essa parcela da arrecadação seria contabilizada como "chamada extra" para
pagamento de déficits pretéritos. Neste ano, os gastos com juros do setor público devem
atingir cerca de R$ 230 bilhões, o equivalente a 5,6% do PIB, quase 15 vezes o que o
governo deve gastar com o Programa Bolsa-Família e mais de seis vezes o valor dos
investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). De outro lado, a meta
de superávit primário - a "poupança" que o governo espera obter neste ano para pagar
os juros da dívida - é de R$ 118 bilhões, pouco mais da metade dos juros primários que
deverão ser pagos no ano. Isso significa que a outra metade será honrada com novas
emissões de títulos, que gerarão despesas adicionais com juros.
Só esse adicional de juros com os novos "papagaios" equivalerá no ano que vem a algo
parecido com o gasto total com o Bolsa-Família. Cada vez que o Comitê de Política
Monetária, o Copom, aumenta a taxa Selic, que corrige 35% da dívida interna em títulos
do Tesouro, a necessidade de recursos para pagamento de juros aumenta. Em 2011, os
juros básicos já subiram um ponto porcentual e devem aumentar ainda mais. O governo
eleva a taxa de juros para conter a inflação, mas esse amargo remédio monetarista tem
dois efeitos colaterais: aumenta as suas próprias despesas financeiras e atrai dólares
para o mercado brasileiro, valorizando ainda mais o real, para desespero do setor
produtivo, que perde competitividade para os produtores do resto do mundo, tanto no
mercado internacional quanto no doméstico.
Além da elevação dos juros, a inflação ascendente também aumenta os gastos
financeiros do setor público, pois cerca de 30% dos títulos da sua dívida são indexados a
índices de preços. Esse fabuloso gasto com juros ocorre porque a dívida pública é muito
elevada, embora sua trajetória seja cadente em relação ao PIB.
Também o processo de acumulação de reservas internacionais, hoje acima de US$ 300
bilhões, ainda que seja importante fator de confiança na capacidade de solvência do País
perante o resto do mundo (graças a essas reservas o Brasil passou quase incólume pela
crise econômica mundial de 2008), impõe um custo financeiro enorme ao Tesouro - vale
dizer, a todos nós, contribuintes. O governo toma dinheiro emprestado a 11,75% ao ano
para comprar dólares que rendem próximo de 0% ao ano. Quanto mais alta a taxa de
juros, maior o custo financeiro das reservas em dólares. O Tesouro também empresta
dinheiro ao BNDES à taxa de 6% ao ano, enquanto seus débitos, vinculados à taxa Selic,
custam quase 12% ao ano. A diferença, obviamente, quem paga é o contribuinte.
Revolta, pois, o esbanjamento de dinheiro público cotidianamente noticiado, praticado
por um governo que não consegue pagar sequer os juros de sua dívida, que devoram
17% da carga tributária. Um pouco de austeridade no gasto público permitiria mitigar
essa "chamada extra". Quando o contribuinte-eleitor se conscientizar de que é de seu
bolso que sai cada centavo que o governo gasta, certamente será mais criterioso na hora
de votar
----------------------------------------O Estado de S. Paulo - 28/04/2011
Armas de destruição em massa
José Serra
Armas e drogas continuam entrando em grande quantidade pelas fronteiras do Brasil. A
cocaína transformada em crack e no oxi, um novo produto, torna-se, na verdade, mais
destrutiva que armas de fogo. São centenas de milhares de vítimas, ou milhões, se
pensarmos nas famílias afetadas. Uma catástrofe humanitária pior do que muitas
guerras. O Estado brasileiro está despreparado para enfrentar essa ameaça e socorrer
suas vítimas. Não faz o que deveria fazer: combater duramente a entrada das drogas no
Brasil, enfrentar o tráfico, promover campanhas educacionais e recuperar os
dependentes químicos.
Um médico amigo me explicou o que torna o crack mais perigoso do que a cocaína. Uma
pedra é barata, cerca de R$ 5. Assim, é fácil começar a usá-la. Mas muito difícil parar.
Inalada como fumaça, ela é absorvida por milhares de alvéolos nos pulmões e entra na
corrente sanguínea numa quantidade e numa velocidade muito maiores do que a droga
cheirada ou injetada. O prazer devastador que proporciona é imediato e dura pouco. Em
menos de 30 minutos o usuário precisa de outra dose, e mais outra... Torna-se incapaz
de qualquer atividade desligada do consumo da droga. Perde emprego, renda, bens,
laços familiares, freios morais, numa espiral que muitas vezes só acaba na sua morte.
O oxi é outro derivado da cocaína, parecido com o crack na apresentação e na forma de
consumo, mas ainda mais barato e mais letal. Reportagens do jornal O Globo mostraram
seus efeitos devastadores sobre os usuários pelas ruas de Rio Branco, capital do Acre:
perda de sono e apetite, tremores e agitação constantes, violência, crises de vômito e
diarreia, emagrecimento, perda de dentes, lesões nos rins, nos pulmões e no fígado. As
vítimas são jovens na maioria, até crianças. Morre-se em menos de dois anos.
Os profissionais de saúde que atendem os usuários de drogas trabalham em condições
precárias. A recuperação, penosa em qualquer circunstância, fica ainda mais difícil no
quadro de deficiências de gestão da saúde pública brasileira. O Sistema Único de Saúde
(SUS) tem cerca de 250 Centros de Atenção Psicossocial voltados para dependentes de
álcool e drogas. São poucos e sem estrutura adequada para as necessidades específicas
dos usuários de crack e oxi. Eles poderiam ser mais bem atendidos em pequenas clínicas
terapêuticas e unidades de desintoxicação. Mas estas, na concepção dominante no
Ministério da Saúde, padecem de um defeito: não são estatais. Nem sequer iniciativas
inovadoras dos governos do Rio Grande do Sul e de São Paulo, por exemplo, tiveram
apoio do SUS.
Travado pela ideologia e incapaz de usar melhor os recursos insuficientes que destinou à
saúde, o governo Lula apelou para a pirotecnia. Depois de anos ignorando o
agravamento do problema, lançou dois planos contra o crack, em 2009 e 2010, às
vésperas da eleição e no estilo de sempre: colagens de ações desarticuladas, sem
instrumentos novos nem recursos adicionais, pouco ou nada implantado efetivamente.
O atendimento da rede pública de saúde é precário e tende a piorar com a disseminação
do oxi. A nova droga chegou primeiro ao Acre, próximo dos maiores produtores de
cocaína - Bolívia, Peru e Colômbia -, mas, a exemplo do crack, está se espalhando
rapidamente pelo Brasil.
As fronteiras brasileiras são das mais desguarnecidas do mundo. Para cuidar dos 15,7 mil
km das fronteiras terrestres - 8 mil somente com aqueles três países - temos apenas
1.600 homens do Exército. Ações efetivas de controle diminuiriam a escala e os lucros do
narcotráfico, ao aumentar o custo final da droga e, assim, conter a difusão do seu uso.
Mas as notícias dessa área não são melhores que as da saúde.
O novo governo prometeu intensificar a repressão ao contrabando de armas e drogas,
mas, em vez disso, cortou o orçamento da Polícia Federal, diminuindo sua presença nas
fronteiras. Enquanto faltam efetivos e até combustível para as viaturas da polícia em
terra, o projeto do avião não tripulado de monitoramento, que rendeu manchetes em
2010, também foi atingido pelo corte orçamentário em 2011.
A redução do contrabando de armas e drogas exige ações efetivas dos dois lados das
fronteiras. Porta-vozes do governo e do PT reagiram duramente à cobrança de gestões
diplomáticas enérgicas nesse sentido, como se fosse preconceito contra a Bolívia, cujo
plantio de coca cresceu 112% na década passada. Imaginaram, talvez, que se estivesse
criticando subliminarmente o presidente Lula, que, junto com Evo Morales, posou para
fotos com um colar de folhas de coca. Mas o fato é que o governo brasileiro se deixou
levar pelas alianças externas do PT e não usou seu poder de pressão diplomática para
inibir o tráfico vindo de países vizinhos, apesar dos presentes vultosos aos seus
governos: à Bolívia, de onde vem perto de 60% do contrabando de cocaína,
financiamentos do BNDES e um pedaço do patrimônio da Petrobrás, além de preços mais
altos do gás; ao Paraguai, principal foco de contrabando de armas, US$ 3 bilhões por
conta de Itaipu. Não devia ter havido uma troca? "O Brasil ajuda vocês e vocês se
ajudam e ao povo brasileiro, combatendo o crime dentro de seus países".
No começo deste ano, o Itamaraty assinou um acordo de cooperação com a Bolívia para
o combate ao contrabando de cocaína, começando a reconhecer o problema. Ações
efetivas? O ministro da Justiça anunciou que compartilhará com os bolivianos as
informações obtidas pelo avião não tripulado, por enquanto uma fantasia!
Em suma, faltam ações maiúsculas na diplomacia, na segurança pública e na saúde.
Falta uma Guarda Nacional ou pelo menos um ramo fardado da Política Federal para se
ocupar de fronteiras, focalizado no combate ao contrabando de armas e de drogas.
Enquanto o governo brasileiro continuar oscilando entre a inércia e a pirotecnia, o custo
para o País será exorbitante em matéria de vidas de muitos e de insegurança para todos.
-------------------------------------Valor Econômico - 28/04/2011
Arrogância e autoridade
Simon Johnson
É cada vez mais comum ouvir proeminentes autoridades de bancos centrais dos Estados
Unidos e Europa proclamarem o seguinte veredicto sobre a crise de 2008-2010: “Nos
saímos bem”. Avaliam que as várias ações governamentais para sustentar o sistema
financeiro ajudaram a estabilizar a situação. De fato, o que poderia sair errado quando as
compras de ativos pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), na
verdade, criaram dinheiro (que, então, foi entregue ao Tesouro dos EUA)?
Falar sobre a questão nesses termos é, na melhor hipótese, iludir-se. Na pior, cria uma
imagem de arrogância que apenas serve para corroer a credibilidade na qual a
autoridade dos bancos centrais se baseia.
O custo real da crise não é medido pelo relatório de perdas e lucros de qualquer banco
central — ou pelo programa governamental de recuperação de ativos problemáticos
(Tarp, na sigla em inglês), organizado pelo Departamento do Tesouro dos EUA, ter
lucrado ou não com suas várias atividades.
O custo são 8 milhões de empregos só nos EUA, uma importante diferença com outras
recessões pós-1945. O custo também é o aumento da dívida líquida do governo federal
em mãos do setor privado — o indicador mais preciso do verdadeiro endividamento do
governo.
O motivo real pelo qual se vê uma crise fiscal os EUA hoje — ao lado do corte de gastos
que afetará muitas pessoas ainda mais — é simples: os bancos explodiram à custa da
população americana, com implicações negativas globais. A maior parte do
endividamento público nos EUA e em outros países se deve à perda de arrecadação
tributária que acompanha recessões profundas. (E os cortes de impostos para os mais
ricos promovidos pelo governo Bush, a cobertura do Medicare sem fundos e as guerras
financiadas por dívidas no Afeganistão e Iraque enfraqueceram duramente a perspectiva
fiscal de longo prazo.) Por fim, o custo da crise são milhões de casas perdidas e vidas
prejudicadas, para sempre.
Quando as pessoas no alto dessas instituições insistem em dizer que a resposta à crise
deu certo e que tudo está bem, mesmo quando os gigantes financeiros que provocaram a
crise se arrastam pesadamente à frente, sua credibilidade, inevitavelmente, sofre.
Em termos mais gerais, como disse Dennis Lockhart, presidente do Fed regional de
Atlanta, não devemos operar um sistema baseado no princípio dos “lucros privados,
prejuízos públicos”.
Os lucros privados podem ser medidos mais diretamente na forma da remuneração dos
executivos. Entre 2000 e 2008, as pessoas no comando das 14 principais instituições
financeiras receberam em dinheiro (salário, bonificações e valor das ações vendidas) em
torno a US$ 2,6 bilhões.
Dessa quantia, cerca de US$ 2 bilhões foram recebidos pelas cinco pessoas mais bem
pagas, que também foram peças centrais na criação das estruturas de ativos de alto
risco que levaram o sistema à beira do abismo: Sandy Weil (desenvolveu o Citigroup,
que implodiu logo depois de sua saída); Hank Paulson (que expandiu imensamente o
Goldman Sachs, fez lobby para permitir mais alavancagem nos bancos de investimento
e, depois, se mudou para o Tesouro dos EUA e ajudou a salvá-los); Angelo Mozilo
(desenvolveu o Countrywide, peça central na concessão irresponsável de hipotecas);
Dick Fuld (comandou o Lehman Brothers até levá-lo ao chão); e Jimmy Cayune
(comandou o Bear Stearns até levá-lo ao chão).
Os prejuízos públicos, em comparação, são gigantescos: cerca de US$ 6 trilhões, se nos
limitarmos apenas ao aumento nas dívidas do governo federal. E os executivos dos
principais bancos ainda insistem que deveria lhes ser permitido administrar empresas de
alta alavancagem global, sendo pagos com base no retorno sobre o patrimônio — sem
ajustes para qualquer risco.
As principais mentes financeiras independentes do mundo avaliaram minuciosamente
esses planos e concluíram que deixam muito a desejar (para mais detalhes, vejam o site
de Anat Admati, da Graduate School of Business, de Stanford). Em sua opinião, os
grandes bancos deveriam ser muito mais financiados com patrimônio — talvez até 30%
de sua capitalização. Mas os banqueiros rejeitam essa abordagem (porque reduziria sua
remuneração), assim como as autoridades dos bancos centrais (porque são altamente
persuadidas pelo protesto dos banqueiros).
Há muitas vantagens em ter um banco central independente comandado por profissionais
que podem ficar à distância dos políticos. Mas quando as pessoas no alto dessas
instituições insistem em dizer que a resposta à crise deu certo e que tudo está bem,
mesmo quando os gigantes financeiros que provocaram a crise se arrastam pesadamente
à frente, sua credibilidade, inevitavelmente, sofre.
Isso deveria preocupar as autoridades de bancos centrais, porque sua credibilidade,
basicamente, é tudo o que têm. A constituição dos EUA, afinal, não garante a
independência do Fed. O Congresso criou o Fed, o que significa que pode desfazê-lo. Ao
desconsiderar os danos que megabancos altamente alavancados podem provocar, o mito
da “crise boa” torna a pressão política sobre os bancos centrais ainda mais provável.
Simon Johnson foi economista-chefe do FMI e é cofundador de importante blog
de economia (http:// BaselineScenario.com), professor da MIT Sloan, membro
sênior do Instituto Peterson para Economia Internacional. Copyright: Project
Syndicate,
2011.
Podcast
no
link:
http://media.blubrry.com/ps/media.libsyn.com/media/ps/johnson19.mp3
www.project-syndicate.org
---------------------------------------
Correio Braziliense - 28/04/2011
O feito desfeito
Antônio Machado
Fluxo de crédito cresce forte, com o ingresso de dólar dando gás à banca e à
apreciação do real
O ritmo de crescimento do crédito começa a dar sinal de reversão, o primeiro desde
dezembro, quando a capacidade de empréstimos dos bancos foi limitada pelo Banco
Central sob o enfoque das “medidas macroprudenciais”, mas essa tendência ainda não
está consolidada.
Em termos de concessão de crédito, que é a medida relevante para influenciar o nível do
consumo na economia, não houve o refluxo dimensionado pela política monetária como
necessário para a quebra do ímpeto da inflação, agindo também como um substituto
parcial de um arrocho mais severo pela taxa básica de juros, a Selic.
O estoque de crédito cresceu 0,8% em março sobre fevereiro, o que fez reduzir de
46,5% para 46,4% o volume de financiamentos totais como proporção do Produto
Interno Bruto (PIB). Por essa medida, as ações de controle do multiplicador do crédito
estão indo bem. O BC elevou em dezembro a retenção forçada de depósitos bancários e
dos requerimentos de capital no financiamento pessoal e de veículos.
O fluxo de novos financiamentos em março, contudo, cresceu 2,4%, uma alta que se
compara com os avanços, mês sobre mês, de 0,3% em fevereiro e de 0,8% em janeiro.
Em termos anualizados, a taxa de crescimento das novas concessões de março equivale
a 33% — muito acima do ritmo considerado sustentável pelo BC, da ordem de 10% a
15%. E também distante da expansão registrada em 2010, 20,6%.
É possível que a reversão desejada pelo governo esteja começando apenas este mês.
Uma prévia do BC cobrindo os primeiros 12 dias de abril indica que a média diária do
fluxo de crédito pessoal recuou 5,4% sobre março. Para empresas, a queda foi maior:
8% na margem.
Tais indicadores devem ser vistos com cautela. A banca pública continua com o pé no
acelerador, acirrando a competição entre os bancos. Além disso, não se desdenha a
inventividade do sistema financeiro para atender a grande demanda das pessoas por
crédito.
O economista Sidney Moura Nehme, da corretora NGO, especializada em câmbio, chama
a atenção para um dado intrigante: o ingresso de US$ 31 bilhões de empréstimos de
curto prazo tomados no exterior por bancos e empresas depois das tais medidas
prudenciais adotadas pelo BC. “Por isso, o crédito e o consumo continuam aquecidos,
pouco respondendo à elevação das taxas de juros”, Nehme avalia.
Mercado sem amadores
É possível que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) de 6% sobre tais ingressos
tenha fechado esse vazamento das restrições do multiplicador do crédito. Mas a dinâmica
do mercado de câmbio, como Nehme argumenta há anos, não é para amadores. Tudo se
passa, por exemplo, como se a Fazenda quisesse apreciar o real. É à vera?
Vejamos. O fluxo de ingressos financeiros em abril, até o dia 18, segundo o BC, foi
negativo em US$ 440 milhões. O saldo líquido do fluxo comercial, de US$ 573 milhões,
salvou o resultado cambial do mês até aquela data de corte, deixando US$ 133 milhões
no caixa.
Ainda assim, diz Nehme, o BC comprou no mercado à vista US$ 5,35 bilhões, mais US$
440 milhões a termo e já liquidados, elevando o total da chamada posição “vendida” dos
bancos a US$ 14,5 bilhões.
Quem fica “vendido”
Posição vendida é o jargão que identifica a aposta na valorização do real. A coisa
funciona assim: os bancos recorrem a suas linhas de crédito lá fora para internar os
dólares captados a custo muito baixo e reaplicá-los no país. Como a variação cambial é o
segundo item de custo dessas operações, diz Nehme, a banca busca apreciar o real para
comprá-lo na data da liquidação futura dos contratos a preço menor que o vigente na
entrada das divisas. É ganho certo.
“Como já expusemos várias vezes, ‘comprar mais’ ou ‘comprar tudo que puder’ em
determinadas situações não determina a valorização do dólar, mas, sim, a sua
desvalorização”, diz Nehme, cujas notas técnicas têm leitores na Fazenda há muito
tempo.
Mistérios da receita
Por tal ótica, a banca, via mercado futuro de moedas, influencia a taxa cambial. E a faz,
diz ele, induzida pelo BC. É assim desde o governo passado, tornando o câmbio linha
auxiliar da Selic. “Não venham com o argumento de que o dólar cai no mundo todo”,
provoca. “Aqui cai mais e, comprovadamente, não por causa do fluxo cambial. Afinal, o
fluxo está quase negativo e o real segue se apreciando.”
A política anti-inflacionária tocada pela receita segundo a qual não se sacrifica o
crescimento e o emprego leva a mistérios como o câmbio valorizado contraditando a
intenção do governo e o crédito, a velocidade prudencial determinada pelo BC. Tais
coisas têm ônus. A indústria está ficando pelo caminho. O que mais, logo se verá.
Fato, causa e efeito
Se o controle da inflação é a prioridade, ao BC, diz Nehme, resta elevar a retenção de
depósitos da banca até neutralizar a liquidez reposta com o ingresso de US$ 31 bilhões
em empréstimos de curto prazo. E, se o fizer, a receita da desinflação com crescimento
sob orientação da presidente Dilma Rousseff poderá desandar.
É possível conciliar as duas coisas. Depende do ritmo de expansão econômica que ela
esteja disposta a tolerar. Fato é que, com câmbio flexível, segundo o professor Rubens
Cisne, da FGV, maiores gastos fiscais, mesmo cobertos por impostos, requerem a
contrapartida de mais importações para que a inflação não aumente. Em tal cenário, juro
alto e moeda forte não são as causas, mas efeitos desse fato.
----------------------------------------
Folha de S.Paulo - 28/04/2011
O plano Dilma, uma obra aberta
Vinicius Torres Freire
AOS QUATRO meses de idade, Dilma Rousseff tem um programa em gestação. Embora
esse plano de governo ainda seja uma "work in progress", uma obra aberta, inacabada e
em desenvolvimento, vai parindo algumas decisões e até colhendo alguns resultados incertos, porém.
Nesta semana, o governo enfim decidiu privatizar a administração de parte de alguns
aeroportos. Ainda assim, o governo o fez com relutância e na undécima hora.
As concessões são limitadas, o governo desgostou da proposta de empreiteiras de fazer
um aeroporto novinho em São Paulo e, enfim, está longe de ter um plano geral e
organizado de concessões. No mais, imagina-se que o governo tomou a atitude de
privatizar parte do serviço premido pelo prazo da Copa de 2014.
Enfim, é mais um governo petista a admitir que a concessão de serviços a empresas
privadas pode ser uma boa solução, tal como se fez na privatização de parte das
rodovias federais. Em 2007, depois de muita onda e "operação tapa-buraco", o governo
Lula concedeu a operação de sete trechos de rodovias.
Mas parou por aí. As estradas federais continuam horrendas. Não apareceu nenhum
plano organizado e geral para conceder estradas num pacote de rodovias mais ou menos
lucrativas (sem isso, as empresas ficam com o filé e largam o osso da buraqueira
longínqua para o Estado cuidar). Com os aeroportos, por ora a solução é a mesma.
Parcial e precária: um plano amplo daria um horizonte de planejamento para empresas e
para investidores.
Também nesta semana o governo apresentou um plano da encantada e quimérica (desde
FHC) reforma tributária. É uma proposta modesta, portanto factível. Nem poderia ser de
outro modo. Em ano de contenção de gastos, não há como fazer reforma grande, pois a
União, o governo federal, é que tem de bancar as perdas de arrecadação que resultariam
de uma reforma plausível.
O governo propôs dar cabo da farra criminosa de isenção de ICMS que Estados dão a
importadores e a algumas empresas ("guerra fiscal"), baixar na prática impostos de
exportadores, reduzir impostos de pequenas empresas e reduzir impostos sobre a folha
de salários (embora aumentando outros tributos, pois não haverá tão cedo dinheiro para
bancar a desoneração).
Reforma mesmo haverá quando o governo dispuser de alguma folga fiscal. Isto é,
quando não precisar fazer mágicas e milagres a fim de conter seu deficit. Mas, para
tanto, seria preciso um cronograma de contenção de gastos até o final do governo Dilma.
Mas isso não temos.
Por falar em cronograma de contenção de gastos, tal iniciativa ajudaria no controle da
inflação, coisa que ainda não sabemos se temos. A grande mudança do governo Dilma,
por ora, deu-se na política econômica. O governo quer baixar a inflação com redução
administrativa da oferta de crédito ("medidas macroprudenciais"), recorrendo menos a
juros, e com controle de gastos do governo quase na boca do caixa.
As "macroprudenciais" estão segurando, de fato, a oferta de financiamentos, como se viu
ontem no balanço do Banco Central sobre o crédito em março e início de abril.
O programa de Dilma por ora parece uma colagem de soluções "ad hoc", uns remendos
mais ou menos oportunos ou pensados. Pode até virar um programa de fato.
-------------------------------------Valor Econômico - 28/04/2011
Despesa pública cresce em ritmo menor que
PIB
Ribamar Oliveira
Uma promissora notícia na área fiscal merece ser destacada. Pela primeira vez em vários
anos, as despesas da União estão crescendo em ritmo menor do que o Produto Interno
Bruto (PIB). De janeiro a março deste ano, de acordo com os dados divulgados pela
Secretaria do Tesouro Nacional esta semana, os gastos federais encolheram como
proporção do PIB. Ou seja, comparados ao tamanho da economia, eles ficaram menores.
As despesas da União, realizadas no primeiro trimestre deste ano, ficaram 4,4%
menores, como proporção do PIB, do que em igual período do ano passado ver tabela
abaixo). Essa queda resultou, principalmente, da menor expansão dos gastos com
benefícios previdenciários e com o pagamento do funcionalismo ativo e inativo. De
janeiro a março, em relação a igual período de 2010, as despesas com benefícios
contraíram 6,2% (em comparação ao PIB) e os gastos com pessoal, 7,5%.
Quase todos os itens da despesa pública apresentaram, nos três primeiros meses deste
ano, expansão inferior ao crescimento nominal do PIB - até mesmo os investimentos.
Uma das exceções - e esse é o dado negativo apresentado pelo Tesouro Nacional - foram
os gastos com o custeio da máquina pública, que continuam crescendo em ritmo mais
rápido do que o PIB.
De janeiro a março, as despesas com custeio (que abrangem os gastos com viagens,
diárias, material de escritório, aluguel, água, luz, telefone etc) aumentaram 2,9% acima
do crescimento nominal do produto. Ou seja, o governo federal gastou muito mais
(sempre como proporção do PIB) com esses itens do que em igual período do ano
passado. Os investimentos públicos, por sua vez, aumentaram 2,5% menos do que o
crescimento da economia.
Mais gastos com custeio e menos com os investimentos é o oposto do que o governo
prometeu fazer este ano. O período observado, no entanto, ainda é muito curto, pois o
corte de R$ 50 bilhões nas despesas foi anunciado pelo governo somente em meados de
fevereiro. Portanto, é cedo para dizer se o padrão registrado nos três primeiros meses
(menos investimentos e mais gastos de custeio) será a tônica dos gastos em 2011.
Mas essa questão não deve obscurecer um fenômeno importante: o expressivo aumento
do superávit primário do governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central) nos três
primeiros meses não resultou apenas do exuberante crescimento das receitas da União,
como em anos anteriores. Houve também um expressivo controle das despesas. De
janeiro a março, o superávit ficou em R$ 25,5 bilhões, mais do que o governo havia
programado para o primeiro quadrimestre (R$ 22,9 bilhões).
As receitas da União (Tesouro Nacional e Previdência Social), no mesmo período,
apresentaram um crescimento nominal de 19,5% em relação ao primeiro trimestre do
ano passado, enquanto as despesas totais cresceram somente 7,1% nominais. Ou seja,
as despesas praticamente se mantiveram estáveis, com um pequeno crescimento real
(acima da inflação). Enquanto a arrecadação líquida da União (deduzida as transferências
para Estados e municípios) aumentou R$ 28,37 bilhões no período, a despesa total
(Tesouro e Previdência) expandiu R$ 10,8 bilhões.
Os dados divulgados pelo Tesouro Nacional mostram que o padrão fiscal brasileiro no
início deste ano voltou ao que era antes da crise de 2008, quando o setor público
cumpriu as "metas fiscais cheias", sem desconto dos investimentos do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) e sem a chamada "contabilidade criativa", usada no
ano passado, quando o governo vendeu petróleo do pré-sal para a Petrobras para
conseguir fechar as suas contas próximo da meta estipulada.
Amanhã, o BC vai divulgar o superávit primário de todo o setor público (União, Estados e
municípios) em março, que ficará acima de R$ 12 bilhões, como informou o Valor na
semana passada. Com esse resultado, o superávit do primeiro trimestre ficará entre R$
38 bilhões e R$ 40 bilhões, o que representa um terço da meta fixada para este ano (de
R$ 117,89 bilhões).
Esse desempenho indica que a política fiscal poderá dar uma ajuda considerável ao
controle da inflação, desde que a trajetória do primeiro trimestre seja mantida durante o
restante do ano. O ideal seria que o governo corrigisse o padrão do gasto, com a redução
do custeio e o aumento dos investimentos.
Ribamar Oliveira é repórter especial em Brasília e escreve às quintas-feiras
-------------------------------------O Estado de S. Paulo - 28/04/2011
À espera da decolagem
Celso Ming
Ao determinar a realização de concessões ao setor privado para ampliação e reforma dos
maiores aeroportos do Brasil, a presidente Dilma Rousseff quebrou um paradigma.
A Infraero, estatal encarregada até aqui de construir, manter e ampliar os aeroportos,
não deixará de administrar os 67 terminais sob sua responsabilidade. A ideia, anunciada
terça-feira pelo ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, é promover licitações para
construção de terminais ou ampliação de instalações aeroportuárias mediante outorga
(pagamento ao governo). Trata-se de um modelo híbrido, em que a administração dos
aeroportos será partilhada com a Infraero, em condições ainda não esclarecidas. Num
setor tão sensível, já se pode imaginar a quantidade de conflitos que podem aparecer a
partir desse modelo escolhido. Mas o primeiro passo em direção à racionalidade
administrativa parece ter sido dado.
Por motivos que inicialmente tiveram uma roupagem ideológica, o governo PT sempre foi
radicalmente contra privatizações, seja de empresas estatais, seja de serviços até agora
preponderantemente atendidos pelo setor público. E é nesse sentido que o paradigma
anterior, avesso a "privatarias", foi quebrado, talvez irremediavelmente.
Não deve ter sido o alto risco de constrangimento em consequência dos atrasos
inexoráveis dos projetos de ampliação dos aeroportos ante os cronogramas da Copa do
Mundo (2014) e da Olimpíada (2016) que levou o governo Dilma a dar esse passo.
O maior constrangimento é fiscal. O Tesouro é uma laranja espremida da qual não se
pode tirar mais recursos. E alguma solução nova foi preciso encontrar. E foi essa aí:
recorrer aos velhos préstimos da iniciativa privada. Veio tarde porque, sob forte pressão
do calendário, as concessionárias passam a ter maior poder de barganha. E isso não
costuma ser muito bom para o interesse público.
A primeira crítica é a que foi enunciada anteriormente. Não parece uma boa ideia dividir
o mesmo terreiro por dois galos. Se não houver regras claras de jogo, os conflitos de
interesses tendem a aparecer e podem criar problemas graves. E é preciso ver até que
ponto o setor privado vai se interessar em despejar dinheiro num projeto em paredemeia com um vizinho complicado.
Mas essa é, até agora, a cara do governo Dilma: são as soluções meia-boca de quem não
pode manter as respostas anteriores, mas também não assume de uma vez as novas e,
assim, se comporta como o motorista vacilante que não fica nem na faixa da esquerda
nem na da direita da pista e inferniza o trânsito.
A segunda crítica é mais uma advertência. O apagão dos aeroportos não é o único que
paralisa o País. Quase todo o setor de infraestrutura está superado e vai sufocando o
crescimento econômico. Além dos aeroportos, portos, estradas, ferrovias, comunicações,
transportes públicos - é toda a rede de instalações ultrapassadas que encalacra o futuro
e permanece à espera de soluções.
E não são apenas a falta de recursos e os problemas com licenciamento ambiental que
paralisam os projetos de desenvolvimento. É principalmente a falta de políticas claras
sobre como fazer. A solução forçada talvez tenha mostrado o caminho.
CONFIRA
Está difícil ver a desaceleração da evolução do crédito na qual o Banco Central parece
acreditar. Depois de tantas medidas prudenciais para segurar a expansão do crédito, o
resultado parece baixo. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, não quer
avanço superior a 15% em 12 meses. E ele está acima de 20%.
No news
Nenhuma novidade na tão esperada entrevista de Ben Bernanke, o presidente do Federal
Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos). Continua a política monetária frouxa:
dinheiro farto e juro baixo.
--------------------------------------------
ECONOMIA E OUTRAS NOTÍCIAS
O Globo - 28/04/2011
Ministro diz que INSS vai cortar pensões
O ministro Garibaldi Alves Filho confirmou que pretende mudar o critério de concessão de
pensões por morte, como antecipou O GLOBO em março. A mudança abrangeria também
a previdência do setor público, mas sem retroagir. Hoje, uma mulher jovem pode
receber, pelo resto da vida, pensão pela morte do marido, mesmo após casamento
recente, o que é visto pelo INSS como distorção.
Pensões do INSS por morte devem mudar
Para ministro da Previdência, há "frouxidão total" no controle dos benefícios;
cortes podem atingir também setor público
Eliane Oliveira
BRASÍLIA. O ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, confirmou ontem que o
governo pretende fazer ajustes para acabar com irregularidades no pagamento de
pensão por morte. Ele revelou que as ações não se limitarão ao INSS, atingindo também
o sistema previdenciário do setor público. A informação sobre mudanças no pagamento
de benefícios a viúvas foi antecipada há pouco mais de um mês pelo GLOBO.
Segundo ele, há uma "frouxidão total" no Brasil em relação a pensões por morte, na
arrecadação da dívida ativa e na negociação de imóveis em nome do ministério. Técnicos
da área econômica reforçaram essa preocupação, dizendo que as regras atuais dão
margem a distorções, incluindo o pagamento indevido de pensão vitalícia e o acúmulo de
benefícios.
- A (mudança) abrange o setor público também. O setor público, sabemos, tem uma
massa que recebe baixos salários, mas na pirâmide há altos salários e não há
praticamente teto, que é no Empire State - ilustrou.
Mudança em estudo não terá efeito retroativo
Garibaldi citou como exemplo um casal de promotores. Disse que, após a morte do
marido, a mulher acumulou a pensão do marido.
- O que queremos é estancar a sangria no futuro - enfatizou, acrescentando que os
problemas da Previdência não se resumem a pensão por morte.
- Não podemos só falar das pensões, pois corremos o risco do maniqueísmo de dizer que
as viúvas são o problema. Também não posso dizer que vamos curar todos os males da
Previdência, mas quero conseguir botar a Previdência nos trilhos da modernidade completou o ministro.
O ministro esclareceu que, independentemente do que está sendo estudado, serão
preservados os direitos adquiridos dos atuais contemplados. Ou seja, não está prevista
retroatividade. Garibaldi disse que está em estudo a venda de imóveis de sua pasta. Mas
ponderou que é preciso cautela, para evitar que a a alienação resulte em novas fraudes.
- Se você visitar qualquer capital do país, verá que esses prédios estão no centro das
cidades, alguns sem prestar nenhum serviço à própria Previdência. Temos que resolver
isso - afirmou.
Ele informou ter levado à área econômica do governo a necessidade de pagar os
aposentados que ganharam, no Supremo Tribunal Federal (STF), o direito de correção
dos benefícios com base no teto fixado no ano em que se aposentaram. Trabalhadores
aposentados entre 1998 e 2003 buscaram o STF sob o argumento de que de seus
benefícios, na época, não foram calculados pelo teto vigente.
- O orçamento do ministério tinha reservado R$2 bilhões para esse pagamento, mas o
dinheiro foi cortado por ocasião do contingenciamento - disse Garibaldi, acrescentando
que a decisão judicial contempla cerca de 150 mil aposentados.
---------------------------------O Estado de S.Paulo - 28/04/2011
Crédito cresce 2,7% no trimestre e BC vê
indício de desaceleração
O estoque de crédito na economia do País cresceu 2,7% no primeiro trimestre. O Banco
Central avalia que o ritmo indica uma taxa desejável para desaquecer a economia e
conter a inflação. Em março, o volume subiu 1% ante fevereiro, mas se manteve estável
em 46,4% do PIB.
Crédito cresce 2,7% no trimestre, mas BC vê indícios de desaceleração
Para o BC, expansão dos empréstimos em 12 meses deve começar a cair com os
números deste ano, que refletem as medidas do governo
Fabio Graner e Edna Simão / BRASÍLIA - O Estado de S.Paulo
O estoque de crédito na economia brasileira cresceu 2,7% no primeiro trimestre deste
ano e o Banco Central avalia que o ritmo de expansão dos financiamentos caminha para
uma taxa desejável para desaquecer a economia e conter a inflação. Apenas em março,
ante fevereiro, o volume de crédito subiu 1%, mas se manteve estável em 46,4% do
Produto Interno Bruto (PIB).
Os números divulgados ontem mostram que, em termos anualizados, o crédito neste
início de ano de fato se expandiu em ritmo condizente com faixa de 10% a 15% definida
como meta pelo presidente do BC, Alexandre Tombini. O problema é que, no primeiro
trimestre de 2010, o crescimento foi idêntico ao verificado agora, mas nos trimestres
seguintes, foi acima de 5%.
Ou seja, não se pode dizer com absoluta certeza que o ritmo desse trimestre foi fruto das
medidas ou apenas um comportamento normal do período. De fato, nos 12 meses
encerrados em março de 2011, a taxa de crescimento dos financiamentos ficou em
20,7%, ainda bem acima da faixa ambicionada pelo BC.
O chefe do Departamento Econômico do BC, Túlio Maciel, demonstrou confiança na
eficácia das medidas adotadas. Segundo ele, a tendência é de que a expansão em 12
meses também comece a cair com a incorporação dos números do crédito de 2011, que
já refletirão mais claramente o processo de alta da taxa básica de juros e as iniciativas
de restrição aos financiamentos.
Apesar dos dados gerais mais moderados no início do ano, alguns números de março
ainda mostraram dinamismo do mercado de financiamentos. No crédito livre, aquele feito
com recursos que os bancos podem usar onde quiserem, houve aumento de 8,7% nas
concessões de novos empréstimos - para as famílias, a alta foi de 5,7%. Uma fonte do
governo, no entanto, afirma que, se forem descontados efeitos típicos do período
(dessazonalizado), houve estabilidade nas concessões gerais e queda de 0,6% nas novas
operações de pessoa física, o que reforça a tese de moderação do crédito.
Ajuda. Os dados parciais de abril também ajudam o governo nesse discurso. O estoque
de crédito livre cresceu 1,2% até o dia 12 deste mês e a média diária das concessões
caiu 6,9%. A média diária de novos créditos para pessoa física, por sua vez, recuou 5,4%
em abril.
Para o diretor de crédito do Banco do Brasil, Walter Malieni Junior, os dados dos
financiamentos para pessoa física em março refletem o pacote de medidas do governo.
Ele afirmou que o impacto dessas ações é gradativo, embora seja possível observar, ao
se comparar com os números do início de 2010, que o ritmo dos financiamentos às
famílias está em desaceleração.
---------------------------------Valor Econômico - 28/04/2011
Sistema mantém farta liquidez
Mesmo com as medidas adotadas pelo Banco Central desde o fim do ano passado, como
o aumento do depósito compulsório dos bancos, a liquidez do mercado continua folgada,
o que para alguns economistas pode contribuir para alimentar pressões inflacionárias.
Giro de moeda cresce com ações do BC e dispara alerta de inflação
Angela Bittencourt | De São Paulo
A liquidez do mercado brasileiro mudou de patamar. Está mais alta. O que começou com
a atuação do Banco Central (BC) na crise de 2008, agora se consolida com as
intervenções cambiais. E, em tempos de pressão inflacionária, liquidez farta dispara
alertas.
A sustentação de políticas com objetivos aparentemente conflitantes - conter a inflação e
evitar a apreciação cambial - reforça a mudança do padrão de liquidez do mercado
brasileiro que ocorreu há três anos, quando o BC fez intervenções pesadas para conter os
efeitos da crise global. Medidas monetárias tomadas em 2008 e 2009, especialmente a
liberação de compulsórios bancários sobre depósitos para evitar o estrangulamento do
crédito, foram revertidas com a normalização dos negócios mas não enxugaram o
sistema.
No final do ano passado, de olho no fôlego da demanda e seus efeitos inflacionários, o BC
elevou as alíquotas de recolhimentos compulsórios e cerca de R$ 420 bilhões já são
aprisionados pela instituição. Essa fatura é mais que o dobro do observado nos primeiros
meses de 2008, pré-crise global. Ainda assim, a disponibilidade de moeda no sistema é
significativa por conta da compra de dólares pelo BC. O volume de moeda que transita
entre os bancos e entre os bancos e a autoridade monetária também cresce, embora em
grau menor, com resgates líquidos de títulos federais.
Dados do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) mostram que o volume de dinheiro
movimentado diariamente alcançou R$ 530 bilhões na média de janeiro a meados de
abril deste ano - um dos patamares mais altos desde 2002, quando o sistema de
liquidação de transações financeiras do país foi remodelado, passando para tempo real.
Nos primeiros meses de 2008, o giro diário no SPB não chegava a R$ 300 bilhões. De lá
para cá, além do giro financeiro ampliado, cresceu o número de operações. Em média
32%, aproximando-se de 54 mil ao dia. Em parte, essa expansão se deve às atuações
das mesas de operações de mercado aberto e reservas internacionais do BC que também
são registradas no SPB. Sinal da importância das intervenções do BC nos mercados em
2008, as ações tomadas para conter efeitos da crise elevaram o giro de moeda
(registrado no SPB) a R$ 440 bilhões, ante R$ 290 bilhões observados nos primeiros
meses daquele ano.
"A liquidez excessiva complica o cenário inflacionário. Em algum momento o governo vai
ter de escolher entre priorizar o combate à inflação ou conter a valorização cambial que é
problemática, considerando que o Brasil tem conta de capital aberta. Não dá, portanto,
para o governo perseguir os dois objetivos simultaneamente. Há um conflito. E a liquidez
ampliada no mercado financeiro é um dos principais sintomas do conflito que se observa
entre as políticas praticadas pelo governo", avalia Monica Baumgarten de Bolle, sócia da
Galanto Consultoria, diretora da Casa das Garças e professora da PUC-RJ.
Ela explica que uma parte da sobra de dinheiro que se vê no mercado decorre das
intervenções cambiais do governo para conter a valorização do real. "O BC vem fazendo
intervenções para evitar a apreciação da moeda ao mesmo tempo em que o país vem
recebendo forte ingresso. Mas mesmo quando o ingresso é menor, as intervenções com
esterilização de reais [retirada de reais de circulação] são complexas porque é muito
difícil neutralizar os fluxos completamente, impedindo a criação de liquidez. O BC não
consegue tirar de circulação todo dinheiro que chega. Em síntese, o processo funciona
assim: a moeda estrangeira entra no país, o BC compra essa moeda e injeta reais na
economia e expande a disponibilidade de recursos. Se há preocupação com o
aquecimento da economia, o BC recolhe os reais por meio da venda de outros ativos
como títulos públicos. O problema é que essa venda nunca é perfeita. Sempre sobra
algum dinheiro que vai se acumulando ao longo do tempo."
Para tirar moeda de circulação, o BC faz diariamente operações compromissadas. Vende
títulos federais de sua carteira às instituições e assume o compromisso de recompra
futura. Essas operações alcançaram, em média, R$ 370 bilhões ao dia de janeiro a
meados de abril deste ano, volume 68% superior ao registrado em igual período de
2008. E chegaram a superar meio trilhão de reais, antes da elevação das alíquotas dos
compulsórios bancários.
Para Carlos Eduardo Gonçalves, professor da FEA/USP, as intervenções do BC para
enxugar os reais decorrentes das compras de dólares mostra preocupação com a
inflação. "Inflacionário seria o BC não esterilizar os reais decorrentes das compras de
dólares. Sem essa operação, aí sim a liquidez seria gigantesca", pondera o economista
que não considera o Brasil com excesso de liquidez. Para ele, a liquidez que implica mais
inflação decorre da evolução dos meios de pagamento - depósitos à vista e papel moeda
em poder do público. E esses indicadores não estão tendo crescimento expressivo. De
fato, dados do BC mostram que os depósitos à vista cresceram, em média de saldos
diários, 10% em 12 meses encerrados em março. E o estoque de papel moeda. Essas
variações não são excepcionais. Outra indicação de que não há liquidez excessiva,
segundo Gonçalves, é o nível do juro real. "Muito elevado se comparado a outros países.
O custo do crédito revela isso."
O economista Márcio Garcia, especialista em política monetária e professor da PUC-RJ,
também não vê problema no elevado volume de operações compromissadas do BC, mas
é um crítico do seu custo fiscal. "O problema não é risco das operações, mas custo. A
disponibilidade expressiva de moeda em mercado até ajuda o governo a pagar menos
pela rolagem da dívida pública. Hoje, essa posição é confortável, o que parecia
inconcebível há 10 ou 20 anos", comenta Garcia, para quem as compromissadas do BC
têm risco de rolagem, considerando que mais de 90% do saldo vencem em até 90 dias.
"A rolagem dessas operações é muito significativa a cada 45 dias. É uma rolagem pósCopom. Hoje não temos problema com essa concentração, mas tivemos em 2002. É
importante considerar, portanto, que as compromissadas são quase moeda. São mais de
R$ 300 bilhões aplicados no curto prazo e que podem deixar o mercado a qualquer
momento para aplicações em ativos de risco", lembra Garcia.
Na segunda-feira, primeiro dia de negócios pós-Copom, que elevou a taxa Selic a 12%
ao ano, o BC fez a rolagem de R$ 210 bilhões de operações compromissadas que
venceram no dia e ratificou o novo juro básico brasileiro. Esse movimento se repete a
cada reunião do Copom, como explica Márcio Garcia. Tanto, que compromissadas de R$
140 bilhões já estão no gatilho para rolagem no dia 9 de junho --próximo pós-Copom.
------------------------------------