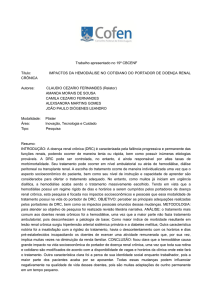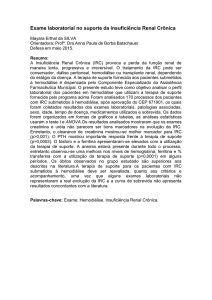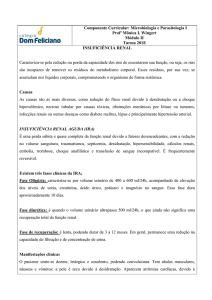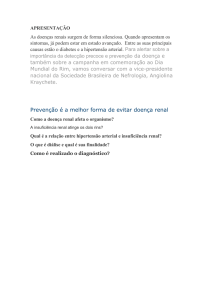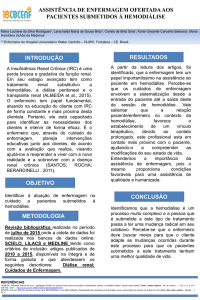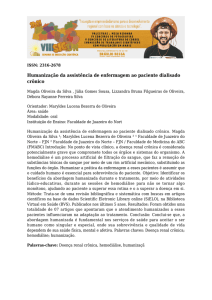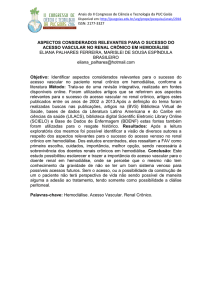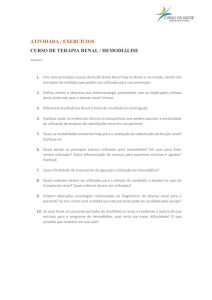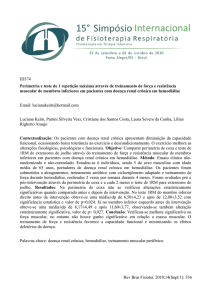1
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO
Curso de Fisioterapia
EVELN DOS SANTOS
MARCELO SOUZA LOPES
AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR DE PACIENTES
PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
SUBMETIDOS À HEMODIALISE
Bragança Paulista
2010
2
EVELYN DOS SANTOS – R.A. 001200602300
MARCELO SOUZA LOPES –R.A. 001200701453
AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR DE PACIENTES
PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
SUBMETIDOS À HEMODIALISE
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao curso de Fisioterapia - Universidade São
Francisco como requisito parcial para obtenção
de titulo de Fisioterapeuta.
Orientação: Profa Aline Maria Heidemann
Bragança Paulista
2010
3
SANTOS, Evelyn; LOPES, Marcelo Souza. Avaliação da função pulmonar de pacientes
com insuficiência renal crônica submetidos à hemodiálise. Trabalho de Conclusão de
Curso. Curso de Fisioterapia da Universidade São Francisco, Bragança Paulista, 2010.
________________________________________________________________
Prof.ª Aline Maria Heidemann
USF – Orientadora Temática
_________________________________________________________________
Prof.ª Dra. Rosimeire Simprini Padula
USF – Orientadora Metodológica
_________________________________________________________________
Dr. Alexandre de Toledo Arrebola
USF – Banca Examinadora
4
DEDICATÓRIAS
Dedico este trabalho especialmente a minha mãe Eleonor, pelo exemplo de
coragem, fé e perseverança que com o seu grande amor me acolheu em sua vida.
A minha filha Clara, que me trouxe a esperança de um mundo melhor.
Ao Tiago, que sempre me apoiou nos momentos difíceis e que compartilha da minha
maior felicidade.
Ao Marcelo Lopes, pela presença iluminada e pelo exemplo de bondade.
Evelyn dos Santos
Aos meus pais e irmãos pelo carinho e dedicação com que conduzem meu
crescimento. Orientando sem imposição, dialogando com paciência e alegrando-se a cada
pequena conquista.
Ao meu filho Gabriel que permitiu-me a compreensão de que a família é o maior bem
do homem.
A Evelyn dos Santos, pela presença amiga e sorriso contagiante na hora certa.
Marcelo Souza Lopes
5
AGRADECIMENTOS
Ao Criador, pela essência de nossas vidas.
Aos nossos pais pelo grande amor e por jamais deixarem de acreditar em nós.
A Profa Aline, pela grandeza de espírito, pelas horas dedicadas e por toda paciência.
Aos professores, mestres inesquecíveis em nossas vidas.
Ao Centro de Nefrologia do Hospital Universitário São Francisco.
Aos voluntários dessa pesquisa, por acreditarem na importância deste trabalho.
A todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste.
6
“Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os
mistérios e toda a ciência; ainda que eu tenha tamanha fé, a
ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei”
I Coríntios 13:2
7
RESUMO
Introdução: A doença renal crônica se caracteriza pela perda progressiva e irreversível das
funções renais, sendo que o sistema respiratório é afetado tanto pela doença, quanto por
seu tratamento. A uremia e a diálise interagem no estimulo respiratório, função muscular, na
mecânica e troca gasosa provocando disfunções pulmonares Objetivo: Analisar a função
pulmonar através da saturação de oxigênio, capacidade vital e cirtometria torácica de
pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica Submetidos à hemodiálise. Método:
Foram avaliados 17 pacientes do Centro de Nefrologia do HUSF e analisados os valores da
Saturação de Oxigênio, Capacidade Vital e Cirtometria Torácica (axilar, xifoidal e umbilical)
pré e pós sessão de Hemodiálise. Para análise estatística dos dados foi adotado nível de
significância menor que 5% e o programa estatístico utilizado foi o Bioestat 5.0. Resultados:
Os valores de mediana de saturação de oxigênio pré e pós hemodiálise apresentaram
aumento. Já a mediana de Capacidade vital e cirtometria xifoidal apresentaram redução
quando comparado os valores pré e pós hemodiálise. Enquanto que os valores de mediana
de cirtometria axilar e umbilical pré e pós hemodiálise mantiveram-se inalterados. Porém
não foi observada diferença estatisticamente significante entre esses valores. Conclusão:
Os valores de saturação de oxigênio, capacidade vital e cirtometria torácica não
representaram valores significantes à modificação da função pulmonar. Sendo que quanto
maior a idade do paciente menores foram o valores de capacidade vital, o que pode
exacerbar o processo patológico nesses pacientes.
Palavras chaves: Capacidade vital. Cirtometria Torácica. Fisioterapia. Hemodiálise.
Insuficiência Renal crônica. Saturação de Oxigênio.
8
ABSTRACT
Introduction: Chronic kidney disease is characterized by progressive and irreversible loss of
kidney function, and the respiratory system is affected by the disease and because of its
treatment. Uremia and dialysis interact in stimulating respiratory muscle function, mechanics
and gas exchange causing pulmonary dysfunction Objective: To evaluate pulmonary
function using oxygen saturation, vital capacity and chest circumference in patients with
chronic renal failure on hemodialysis. Methods: We studied 17 patients of the Centre for
Nephrology HUSF and analyzed values of oxygen saturation, vital capacity and thoracic
expansion (axillary, and umbilical xifoidal) before and after hemodialysis session. For
statistical analysis the level of significance was less than 5% and the program was used for
statistical Bioestat 5.0. Results: The median values of oxygen saturation before and after
hemodialysis showed an increase. The median of vital capacity and xifoidal circumference
were reduced when compared with the values before and after hemodialysis. While the
median values of axillary and umbilical circumference before and after hemodialysis were
unchanged. But there was no statistically significant difference between these values.
Conclusion: The values of oxygen saturation, vital capacity and chest circumference did not
represent significant values to changes in lung function. Being that the older the patient the
values were lower vital capacity, which can exacerbate the disease process in these
patients.
Keywords: Vital capacity. Chest circumference. Physiotherapy. Hemodialysis. Chronic Renal
Failure. Oxigen saturation
9
LISTA DE SIGLAS
CV
Capacidade Vital
CVF
Capacidade Vital Forçada
CG
Cockcroft-Gault
DAPC
Diálise Peritonial Ambulatorial Continua
DM
Diabetes Mellitus
FG
Filtração Glomerular
HAS
Hipertensão Arterial Sistêmica
IRC
Insuficiência Renal Crônica
IRCT
Insuficiência Renal Crônica Terminal
K/DOQI
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
Kt/V
Eficiência da Hemodiálise
MDRD
Modification of Diet in Renal Disease
mL/min
Mililitro por Segundo
m²
Metro Quadrado
NKF
National Kidney Foundation
RFG
Ritmo de Filtração Glomerular
SatO²
Saturação de Oxigênio
SBN
Sociedade Brasileira de Nefrologia
VEF1
Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo
VEF1/CVF
Indice de Tiffeneau
10
LISTA DE GRÁFICOS
GRÁFICO 1 – Caracterização da amostra por gênero ......................................................... 25
GRÁFICO 2 – Saturação de oxigênio pré e pós hemodiálise............................................... 26
GRÁFICO 3 – Capacidade vital pré e pós hemodiálise ........................................................ 27
GRÁFICO 4 – Cirtometria axilar pré e pós hemodiálise ....................................................... 28
GRÁFICO 5 – Cirtometria umbilical pré e pós hemodiálise ................................................. 28
GRÁFICO 6 – Cirtometria xifoidal pré e pós hemodiálise..................................................... 29
GRÁFICO 7 – Correlação entre capacidade vital pré hemodiálise e idade .......................... 30
GRÁFICO 8 – Correlação entre capacidade vital pós hemodiálise e idade .......................... 30
11
LISTA DE TABELAS
TABELA 1 – Estágios da DRC de acordo com FG em mL/min/1,73m²................................ 13
TABELA 2 – Fórmula de Cockcroft-Gault e fórmula MDRD ................................................. 17
TABELA 3 – Hipótese diagnóstica da amostra .................................................................... 26
TABELA 3 – Valor predito de CV ........................................................................................ 27
12
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 13
1.1 Definição de Insuficiência Renal ................................................................................... 13
1.2 Etiologia e Fatores de risco ............................................................................................ 14
1.3 Dados Epidemiológicos.................................................................................................. 15
1.4 Critérios de Diagnósticos ............................................................................................... 16
1.5 Tipos de Tratamento ...................................................................................................... 18
1.6 Alterações Pulmonares no Doente Renal Crônico ......................................................... 19
2 OBJETIVOS ..................................................................................................................... 22
2.1 Objetivo Geral ................................................................................................................ 22
2.2 Objetivos Específicos..................................................................................................... 22
3 PACIENTES E MÉTODO ................................................................................................ 23
3.1 Desenho do Estudo ....................................................................................................... 23
3.2 Voluntários ..................................................................................................................... 23
3.3 Materiais ........................................................................................................................ 23
3.4 Procedimento ................................................................................................................. 23
3.5 Análise dos Dados ......................................................................................................... 24
4. RESULTADOS ................................................................................................................ 25
5. DISCUSSÃO ................................................................................................................... 31
6. CONCLUSÃO .................................................................................................................. 34
7. REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 35
ANEXOS ............................................................................................................................. 40
13
1 INTRODUÇÃO
1.1
Definição de Insuficiência Renal
As alterações no perfil de morbimortalidade da população mundial, ocorridos nas
últimas décadas, evidenciaram um aumento das doenças crônicas degenerativas e
projetaram a Insuficiência Renal Crônica (IRC) no cenário mundial como um dos maiores
desafios à saúde pública deste século, aliada a todas as suas implicações econômicas e
sociais. Com o aumento da expectativa de vida e da prevalência da obesidade acarretou um
aumento das doenças crônicas, destacando-se o Diabetes Mellitus (DM) e a Hipertensão
Arterial Sistêmica (HAS), principais causas de insuficiência renal no mundo (ATKINS, 2005).
Os rins atuam na regulação de funções vitais do organismo como equilíbrio hídrico,
ácido-básico e eletrolítico participando nas funções hormonais, além de atuar na regulação
da pressão arterial. A IRC é uma condição patológica que se caracteriza pela perda da
capacidade renal em manter a homeostase do organismo (PARMAR, 2002).
Qualquer injúria que leve a uma lesão neste órgão pode gerar conseqüências
importantes em seu funcionamento. A diminuição progressiva da função renal acarreta
repercussões em todos os outros órgãos e sistemas do indivíduo (KIRSZTAJN, 2007).
Em 2002 a National Kidney Foundation (NKF) em seu documento Kidney Disease
Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) definiu a IRC baseada nos seguintes critérios: lesão
presente por um período igual ou superior a 3 meses, definida por anormalidades estruturais
ou funcionais do rim, com ou sem diminuição do Ritmo de Filtração Glomerular (RFG),
manifestada por anormalidades patológicas ou marcadores de lesão renal, incluindo
alterações sangüíneas ou urinárias, ou nos exames de imagem; RFG <60 mL/min/1,73 m²
por um período de 3 meses, com ou sem lesão renal. Baseado nesta definição, o grupo de
trabalho que desenvolveu o K/DOQI propôs a seguinte classificação para a IRC (tabela 01):
TABELA 01- Definição dos estágios da IRC de acordo com RFG em mL/min/1,73m²
Estágio
Definição
RFG (mL/min/1,73m²)
I
Lesão renal com RFG normal ou aumentada
> 90
II
Lesão renal com RFG levemente diminuída
60-89
III
Lesão renal com RFG diminuída
30-59
IV
Lesão renal com RFG severamente diminuída
15-29
14
V
Lesão renal funcional com RFG
< 15
Fonte: Kirsztajn (2007)
A insuficiência renal crônica terminal (IRCT), condição em que se faz necessária a
Terapia Renal Substitutiva (TRS), realizada através da hemodiálise (HD) ou diálise peritonial
ambulatorial
contínua
(DPAC),
acarreta
em
prejuízos
ao
paciente
reduzindo
consideravelmente o desempenho físico e profissional, o que leva a um impacto negativo
sobre sua percepção da saúde e afeta os níveis de vitalidade, o que pode limitar as
interações sociais e prejudicar sua saúde psíquica. Tal fato decorre de vários fatores, como
a necessidade de modificação alimentar, dos hábitos de vida, do esquema terapêutico
rigoroso, convívio com uma doença incurável e a dependência de uma máquina (SANTOS,
2006).
1.2
Etiologia e Fatores de Risco da DRC
As causas da IRC vão desde as doenças primárias dos rins, às doenças sistêmicas
as doenças do trato urinário. A HAS, nefropatia diabética e glomerulonefrite primária estão
entre as causas mais comuns da IRCT ao redor do mundo (BARROS, 1999 apud RIBEIRO
et al., 2008).
A IRC pode ser causada por doenças sistêmicas como DM, glomerulonefrite crônica,
pielonefrite, HAS não controlada, obstrução do trato urinário, lesões hereditárias (doença
renal policística), distúrbios vasculares, infecções, medicamentos, agentes tóxicos,
ambientais e ocupacionais (NEVES, 2000 apud RIBEIRO et al., 2008).
Segundo Riela (1996) a IRC caracteriza-se pela deterioração das funções fisiológicas
e bioquímicas de todos os sistemas do organismo, sendo secundária ao acúmulo de
catabólitos (toxinas urêmicas), alterações do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico,
acidose metabólica, hipovolemia, hiperfosfatemia, hiperparatireoidismo, anemia e distúrbio
hormonal, hipercalemia, infertilidade, retardo no crescimento, entre outros.
Nas formas avançadas de IRC, virtualmente todos os órgãos e tecidos sofrem seus
efeitos. Ocorre um acúmulo de substâncias tóxicas no meio interno, seja por excreção
deficiente, seja por excesso de produção devido aos distúrbios metabólicos. A IRC acarreta
alterações, entre elas anasarca, alterações ósseas, alterações da acuidade mental, ritmo do
sono, da pressão intra-ocular e cardíaca (RIBEIRO et al., 2008).
15
Dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento desta doença estão:
DM,
HAS,
envelhecimento
e
história
familiar
de
DRC.
Cabe
ressaltar
que
independentemente da causa da DRC, a presença de obesidade, dislipidemia e tabagismo
aceleram a sua progressão culminando com a necessidade de TRS. Mais de 70% dos
portadores de DRC diagnosticada apresentam HAS, sendo que os pacientes com DM
apresentam maior suscetibilidade a alterações cardiovasculares e lesões renais. Já o
envelhecimento altera fisiologicamente a FG e propicia a lesão renal. (NKF/DOQI, 2002).
Conhecendo-se os grupos de risco, proporcionando a estes um atendimento primário
adequado e modificando as possíveis comorbidades associadas, torna-se possível retardar
a progressão da doença, além da realização de preparo adequado para a TSR (ROMÃO,
2004).
1.3
Dados epidemiológicos
A ocorrência de IRC tem chamado atenção devido ao aumento de sua prevalência
no Brasil e no mundo. Dados do censo realizado em 2006 pela Sociedade Brasileira de
Nefrologia (SBN) mostraram uma prevalência de 383 pacientes em tratamento dialítico por
milhão de habitantes (pmp) no Brasil. Desses, 90,7% estavam em programa de hemodiálise
e 10,3%, em programa de diálise peritoneal. Chama atenção o crescimento de
aproximadamente 40% no número de pacientes em diálise no período de 2000 a 2006.
É importante destacar que 26% dos pacientes em diálise no mesmo período tinham
mais de 60 anos de idade, e que, essa proporção só tenderá a aumentar devido a maior
longevidade da população. A taxa de incidência anual estimada de pacientes novos em
diálise em 2005 foi de 175 pmp, variando de 93 pacientes/pmp na região Norte até 253
pacientes/pmp na região Centro-Oeste. Para uma população de 185 milhões em 2006,
estimou-se que surgissem cerca de 32.375 novos pacientes renais crônicos terminais ao
ano no Brasil (SBN, 2006).
No ano de 2004, dados mundiais mostram os Estados Unidos, o Japão e o Brasil
como os três primeiros em número de pacientes com IRC; sendo que o Brasil apresentava
mais de 58.000 casos. Em termos mundiais, espera-se um salto de 1.371.000 pacientes em
diálise em 2004 para mais de 2.000.0000 de pacientes em 2010, evidenciando um aumento
na prevalência dessa doença (GRASSMAN, 2005 apud CURY, 2007).
Apesar dos recursos envolvidos, os quais são muito onerosos aos governos, muitos
brasileiros não têm acesso à TRS: enquanto cerca de 800 a 1.200 pmp fazem diálise na
América do Norte e no Japão, no Brasil apenas 323 pmp estão usufruindo dessa
16
modalidade terapêutica, ou seja, cerca de 70% dos pacientes não se beneficiam da TRS
(BASTOS et al., 2004).
De acordo com o Relatório do Censo Brasileiro de Diálise de 2008 no qual os dados
nacionais foram estimados para a população global em diálise, o número total de pacientes
declarados em diálise foi de 41.614. As estimativas das taxas de prevalência e de incidência
de IRC em tratamento dialítico de manutenção foram de 468 e 141 ppm respectivamente. O
número estimado de pacientes que iniciaram tratamento em 2008 foi de 26.177. A taxa
anual de mortalidade bruta foi de 15,2%. Em relação aos pacientes prevalentes, 36,3%
tinham idade ≥ 60 anos, 89,4% estavam em hemodiálise e 10,6% em diálise peritoneal,
Pacientes da ordem de 37.573 (42,6%) estavam em fila de espera para transplante renal.
1.4 Critérios de Diagnóstico
Embora os casos leves e moderados de IRC sejam referidos como de elevada
prevalência, geralmente são assintomáticos, não diagnosticados e não tratados, o que
contribui para a evolução da doença nesses pacientes (CROOK et al., 2002).
De acordo com Kirsztajn e Bastos (2007), o diagnóstico precoce da IRC é essencial
à adoção de medidas que resultem na estabilização ou diminuição da queda de FG, além de
identificar e corrigir suas complicações e co-morbidades.
As formas mais usadas nos últimos anos para estimar a FG foram a depuração de
creatinina com urina de 24 horas e a creatinina sérica, mas esses critérios de análise
apresentam limitações. Por isso, na prática clinica utiliza-se equações que estimam a FG a
partir da creatinina sérica, seja pela fórmula do estudo Modification of Diet in Renal Disease
(MDRD) ou pela fórmula de Cockcroft-Gault (CG) (LEVEY, 1999; FILHO, 2004).
O uso dessas equações para estimar a FG tem como vantagem fornecer um ajuste
para variações substanciais em sexo, idade, superfície corporal e raça que interferem na
produção de creatinina (PERRONE et al, 1992).
Há inegáveis vantagens no uso das fórmulas para a estimativa da depuração de
creatina (CG) ou do ritmo de filtração glomerular (MDRD), mas devemos estar atentos ao
fato de que tais equações não são aplicáveis a pacientes que se encontrem em situação de
instabilidade da função renal, seja por alterações hemodinâmicas, seja por progressão ou
recuperação, em prazo de alguns dias, de agravo renal (KIRSZTAJN e BASTOS, 2007).
A fórmula de CG considera a idade, o peso, o sexo e a creatinina sérica (TABELA 2).
Na fórmula desenvolvida pelo trabalho MDRD (TABELA 3), nos pacientes que apresentam
algum grau de insuficiência renal, além destes dados são considerados a etnia, e as
concentrações de uréia e albumina séricas (GUSHI et al, 2004).
17
TABELA 2 - Fórmula para estimativa da Filtração Glomerular
Fórmula de CG
Depuração de creatinina (mL/min) = (140 - Idade) X Peso (Kg) X 0,85 (se F)
(72 X Crs)
TABELA 3 - Fórmula para estimativa da Filtração Glomerular
Fórmula MDRD
MDRD (fórmula completa)
170 x creatinina sérica-0,999 x idade-0,176 x BUN-0,170 x albumina sérica0,318 x 0,762
(se F) x 1,18 (se N)
MDRD simplificada com 4 variáveis:
FG(mL/min/1,73m2) = 186,3 X (Crs)-1,154 X (idade)-0,203 X 1,212 (se N) X 0,742 (se F)
Fonte: Gushi et al (2004)
Cru = creatinina sérica (mg/dL); Vu = volume urinário (mL/min); Cr s = creatinina urinária (mg/dL); F = sexo
feminino; FG = ritmo de filtração glomerular; N = raça negra; Uréias = uréia sérica (mg/dL); Albs = albumina
sérica (g/dL)
O diagnóstico da IRC também se baseia na presença de hematúria, proteinúria e
leucocitúria. A investigação da hematúria e da proteinúria pode ser facilmente realizada
empregando-se as fitas de imersão urinária. Essas fitas são de baixo custo e fácil manuseio,
podendo ser utilizadas nos postos de saúde e nos consultórios. Nos casos de hematúria,
recomenda-se a realização da sedimentoscopia urinária, preferencialmente através da
microscopia de contraste de fase, método simples e barato, e que possibilita, de imediato,
diferenciar se o sangramento é de origem glomerular ou pós-glomerular (BASTOS, 1998).
Segundo Alves (2004) a sedimentoscopia permite a diferenciação diagnóstica de
doenças renais tornando o exame de urina uma rotina na prática clínica. Logo, a
quantificação da proteinúria (ou albuminúria) é importante no diagnóstico, prognóstico e na
indicação terapêutica da doença renal, pois quanto maior for a proteinúria mais rápida é a
perda de função renal.
Outros parâmetros também devem ser considerados para diagnóstico da IRC, tais
como: História clínica, Exame físico, Determinação de lesão da estrutura renal e Exames de
18
imagem e/ou histopatológicos. Exceto o último, todos os outros parâmetros são clínicos, fácil
acesso e podem ser incorporados nos programas de rastreamento da IRC (KIRSZTAJN e
BASTOS, 2007).
1.5 Tipos de Tratamento
Para evitar e diminuir os sintomas e complicações da perda da função renal, o
paciente precisa ser submetido a alguns tratamentos que dependerão da evolução da
doença, sendo que inicialmente ele poderá ser apenas conservador, por meio de terapêutica
medicamentosa, restrição hídrica e recomendação dietética. A TRS será necessária quando
o tratamento conservador se tornar insuficiente, e por fim, o paciente terá a possibilidade de
submeter-se a um transplante renal (TERRA et al., 2010).
A diálise é utilizada para remover substâncias tóxicas e detritos orgânicos,
excretados normalmente pelos rins sadios, e sua indicação é essencial nos casos em que o
tratamento conservador não é considerado suficiente. Os procedimentos dialíticos podem
ser realizados por processos de DPAC ou por HD. (MEDEIROS, 2002; KAMIMURA, 2004;
GOLDMAN, 2005).
De acordo com Barbosa (2000) a HD é um procedimento no qual o sangue é
removido do corpo e circulado através de um aparelho externo denominado dialisador, cujo
acesso à corrente sanguínea, geralmente é realizado através de uma conexão artificial entre
uma artéria e uma veia criada cirurgicamente (fistula arteriovenosa), mas os acessos ainda
podem ser designados fisicamente por cateteres, shunts arteriovenosos, enxertos e
próteses vasculares.
O processo de HD convencional corresponde à remoção de 1 a 4 litros de fluido no
período médio de quatro horas durante três dias por semana. Apesar dos avanços
tecnológicos, a hemodiálise convencional ainda se associa a muitas complicações agudas e
crônicas e a altas taxas de hospitalização e mortalidade (SALOMAO et al., 2002).
A eficiência da HD pode ser avaliada a cada sessão calculando-se o Kt/V de uréia,
onde K = depuração da uréia do dialisador (ml/min), t = duração da sessão (min) e V =
volume de distribuição de uréia no organismo (V = 0,6 X peso corporal, em ml). Uma sessão
de HD crônica de boa eficiência resulta em Kt/V igual ou maior que 1,2; quando abaixo de
0,8 é considerada de baixa eficiência. Esses valores foram definidos para pacientes
submetidos a três sessões semanais de hemodiálise. Nessas condições, o tempo mínimo de
duração da sessão de hemodiálise seria aquele necessário para obter Kt/V igual a 1,2. A
“HD de alto desempenho” tem reduzido o tempo semanal do procedimento hemodiálitico,
19
pois usa membranas de alta permeabilidade, banho de diálise contendo bicarbonato e
equipamentos mais modernos (DRAIBE e AJZEN, 2001).
Malluche e Faugere (1990) afirmam que a utilização regular de métodos dialíticos e
do transplante renal, nas ultimas décadas, têm garantido a sobrevida de um crescente
número de pacientes com IRC, desde que a HD corrige apenas alguns dos distúrbios
metabólicos da DRC, estes indivíduos, em médio e longo prazo, freqüentemente evoluem
com diversas complicações clínicas.
A HD é capaz de prolongar a vida desses pacientes, porém, não evita alguns
prejuízos determinados pela condição patológica de base e pelo próprio tratamento
(SOARES et al., 2007), sobretudo, porque essa doença acumula substancias tóxicas no
sangue, causando sintomas como a fadiga precoce, comprometimento mental, déficit
circulatório periférico, alterações de sensibilidade e disfunções musculares (SCHOR, 2001).
Conforme relata Casagrande e Vezoreno (1995), a IRC e o tratamento hemodialítico
provocam uma sucessão de situações para o paciente renal crônico que compromete o
aspecto não só físico como psicológico, com repercussões pessoais, familiares e sociais,
geralmente decorrente de um cotidiano monótono e restrito, com limitação das atividades
desses indivíduos após o início do tratamento, favorecendo o sedentarismo e a deficiência
funcional.
1.6 Alterações Pulmonares No Paciente Renal Crônico
Em contraste com os outros sistemas, o respiratório é afetado tanto pela doença,
quanto por seu tratamento. A uremia e a diálise interagem no estímulo respiratório,
mecânica respiratória, função muscular e na troca gasosa provocando disfunções
pulmonares que podem ser reflexo direto das tóxicas circulantes ou indireto devido
sobrecarga de volume, anemia, imunossupressão, calcificação extra-óssea, desnutrição e
da fraqueza muscular (PREZANT, 1990). A fraqueza muscular ocorre devido atrofia das
fibras musculares, predominantemente, as fibras do tipo II (MOREIRA; BARROS, 2000).
As alterações radiológicas pulmonares mais evidentes na insuficiência renal é o
edema pulmonar, promovendo aumento do shunt a despeito do débito cardíaco se
conservar. A função pulmonar se altera na insuficiência renal, ocorrendo defeito na
transferência de gases mesmo com radiografias de tórax normais, há redução da
capacidade de difusão nos alvéolos e também restrição ventilatória. Porém, como as
infecções respiratórias são freqüentes nesses pacientes, muitas vezes prevalece a dúvida
diagnóstica entre edema, infecção e hemorragia pulmonar (BETHLEM et al., 2002).
20
Quando ocorre acúmulo de água extravascular no pulmão, esta ocupa
primeiramente o tecido intersticial mais periférico e, à medida que o seu volume vai
aumentando, estende-se para zonas axiais peri-hilares. O acúmulo de água no período
interdialítico relaciona-se com aumento da pressão hidrostática. Isso, associado ao aumento
nos valores séricos de substâncias osmoticamente ativas e aumento de permeabilidade,
poderá condicionar a retenção de água extravascular pulmonar sem que haja manifestações
clínicas ou radiológicas. Essa retenção, no entanto, seria suficiente para modificar a
expansibilidade pulmonar e a permeabilidade das vias aéreas de menor calibre. Geralmente,
com o tratamento hemodialítico, o edema desaparece rapidamente sem deixar seqüelas
importantes (ALVES et al., 1989).
Complicações pulmonares são comuns em pacientes em estágio final da doença
renal. Apesar dos avanços tecnológicos com relação às terapias de substituição, permitindo
prolongar a vida dos pacientes urêmicos, anormalidades como hiperemia, bronquite e
fibrose intersticial são comumente encontradas em autópsias de pacientes em hemodiálise
crônica (CHAN et al., 1996, apud BIANCHI, 2007).
Os músculos responsáveis pelo ato respiratório, como diafragma e intercostais
podem apresentar diminuição das propriedades de força e endurance muscular decorrente
da miopatia urêmica. O déficit ventilatório decorrente desse comprometimento na
musculatura respiratória, associado a outros comprometimentos teciduais pulmonares,
altera a função desse sistema, contribuindo para a diminuição da capacidade pulmonar
(CURY et al, 2010).
Além da redução da função pulmonar e da força muscular respiratória, pacientes
com IRC submetidos à HD apresentam variação de peso devido à sobrecarga de líquido
corporal no período interdialítico. Essa sobrecarga, em associação com um possível
aumento da permeabilidade capilar pulmonar, pode resultar em edema pulmonar e derrame
pleural, complicações essas que poderiam explicar pelo menos em parte a redução da
função pulmonar e alterações espirométricas de caráter restritivo (KOVELIS et al, 2008).
De acordo com Bianchi (2007) em pacientes urêmicos com edema pulmonar o efeito
da HD visa aumentar a ventilação nas áreas basilares do pulmão, provocando uma elevação
da Capacidade Vital (CV). Essas mudanças são explicadas pela diminuição do conteúdo de
água nos pulmões, desde que o edema intersticial seja razoavelmente pequeno, causando
fechamento relativo das vias aéreas.
Considerando que o comportamento mecânico do pulmão é baseado em suas
propriedades elásticas e em seu volume, a mensuração dos volumes pulmonares oferece
informações que podem ser essenciais para a caracterização do estado fisiopatológico
decorrente de anormalidades dos processos pulmonar-ventilatórios. As disfunções
21
restritivas, por exemplo, só podem ser diagnosticada com certeza por meio da medida dos
volumes pulmonares. Logo, a CV, que é o volume medido entre as posições de inspiração
plena e expiração completa e representa o maior volume de ar mobilizado correspondendo a
cerca de 80% da capacidade pulmonar total mostra-se como um subsídio confiável para
diagnostico de disfunções pulmonares (BARRETO, 2002).
De acordo com Cardoso (1997) o estudo dos gases sanguíneos também é
extremamente importante para a avaliação da função pulmonar, uma vez que esses gases
são o resultado de todos os processos envolvidos na respiração. Das técnicas não
invasivas, a mais difundida é a oximetria de orelha ou de pulso.
Esse procedimento permite a estimativa da saturação de oxigênio (SatO²), através
de uma técnica espectrofotométrica, que mede a variação pulsátil de transmissão de luz. Os
resultados da oximetria são acurados, a técnica é simples e de baixo custo. Valores acima
de 90% costumam corresponder a uma pressão parcial de oxigênio acima de 60 mmHg o
indica um aporte satisfatório de oxigênio ao organismo (WINCK e FERREIRA, 1998).
De acordo com Britto (2004) a cirtometria constitui parte do exame físico do tórax na
avaliação funcional respiratória. Consiste em um conjunto de medidas das circunferências
de tórax e abdome durante os movimentos respiratórios, nas fases expiratória e inspiratória
máximas. A diferença entre essas duas medidas, segundo Costa (1999), fornece
informações do grau de expansibilidade e de retração dos movimentos toraco-abdominais.
As medidas são realizadas com uma fita métrica convencional e devem ser realizadas, no
mínimo, em três níveis diferentes: axilar, xifoidal e umbilical.
Diante disso torna-se extremamente necessária a avaliação da função pulmonar de
pacientes portadores de IRC, devido à incidência de complicações pulmonares associadas à
IRC que interfere no quadro clínico do paciente. Sendo assim, a avaliação da função
pulmonar, através da verificação da saturação de oxigênio, dos volumes pulmonares e da
cirtometria torácica torna-se essencial para prevenir e detectar precocemente possíveis
afecções respiratórias desses pacientes.
22
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Analisar a função pulmonar de pacientes portadores de Doença Renal Crônica
submetidos à hemodiálise.
2.1.1 Objetivos específicos
Analisar a capacidade vital dos pacientes renais crônicos pré e pós sessão de
hemodiálise.
Analisar o nível de oxigenação através do índice de SatO2 dos pacientes renais
crônicos pré e pós sessão de hemodiálise.
Analisar a mobilidade torácica dos pacientes renais crônicos pré e pós sessão de
hemodiálise.
23
3 PACIENTES E MÉTODO
3.1 Desenho do Estudo
Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo e qualitativo.
3.2 Voluntários
O estudo foi realizado no Centro de Nefrologia do Hospital Universitário São
Francisco. Foram incluídos 17 pacientes, com idade entre 18 anos e 70 anos, de ambos os
sexos, com escala de coma de glasgow igual a 15, portadores de insuficiência renal crônica,
que estivessem em programa de HD há pelo menos um ano e que aceitassem participar do
estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Foram excluídos pacientes menores de 18 e maiores de 70 anos de idade, indivíduos
com escala de Glasgow inferior a 15, que estivessem em programa de HD há menos de um
ano ou que não aceitassem participar do estudo, não assinando o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (ANEXO 1).
3.3 Materiais
Ficha de coleta de dados (ANEXO 2)
Fita métrica Carci®
Oxímetro de pulso Nonin Onyx® (modelo 9500)
Ventilômetro Ferraris Wright® MK8
3.4 Procedimento
Mediante autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São
Francisco sob parecer no0122.0.142.000-10 ( ANEXO 3). Os voluntários selecionados foram
instruídos sobre o procedimento, intuito da pesquisa e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 1).
24
Preencheu-se uma ficha de coleta de dados (ANEXO 2) contendo: iniciais do nome,
idade, raça, sexo, peso, data de início do tratamento hemodiálitico, antecedentes familiares
e patologias associadas.
Realizou-se as medidas da Capacidade Vital pelo equipamento Ventilômetro Ferraris
Wright® MK8, no qual o paciente foi instruído a realizar uma inspiração máxima e
posteriormente mantendo a boca acoplada ao instrumento e narinas ocluídas por um clip
nasal solicitou-se ao paciente realizar uma expiração máxima lenta e não forçada, próxima
do volume residual. Foram realizadas três vezes sendo que o maior volume registrado no
ventilômetro foi considerado na pesquisa. Esse procedimento foi realizado antes e depois da
hemodiálise.
O índice de saturação de oxigênio do paciente foi obtido por oxímetro de pulso Nonin
Onyx® antes das outras avaliações respiratórias, já que estas exigiam esforço e isto poderia
interferir nos resultados. Com o paciente em repouso o oxímetro foi acoplado em falange
distal do dedo indicador do braço oposto ao da fistula arteriovenosa, mantendo o dedo de
prova, livre de interferências como esmalte, próximo ao nível do coração para diminuir a
pulsação venosa. Esperava-se o tempo suficiente para estabilização dos valores e
verificação do resultado percentual no visor do aparelho. Esse procedimento foi realizado
antes e depois hemodiálise.
As medidas de cirtometria torácica foram realizadas com o paciente sentado com o
tronco ereto e membros superiores relaxados ao longo do corpo e acoplada ao tórax do
paciente uma fita métrica acompanhou a amplitude do gradil costal durante a inspiração e
expiração nos pontos axilar, xifoidal e umbilical, registrando-se três medidas, sendo
considerada no presente estudo as maiores medidas para cada região de referência. Esse
procedimento foi realizado antes e depois da sessão de hemodiálise.
Análise dos dados
Para análise estatística dos dados foi utilizado o Teste de Wilcoxon, Spearman,
Kolmogorov Smirnov e Shapiro Wilk.
O nível de significância adotado foi de 5% e o
programa estatístico utilizado foi o Bioestat 5.0.
25
4 RESULTADOS
A amostra foi composta por 17 pacientes. A idade apresentou mediana de 49 anos,
sendo que idade mínima foi de 31 anos e a idade máxima de 69 anos. A caracterização da
amostra por sexo evidenciou 94,12% voluntários do sexo masculino, totalizando 16
pacientes, e 5,88% do sexo feminino, totalizando 1 paciente (GRÁFICO 1).
5.88%
Masculino
Feminino
94.12%
GRÁFICO 1 – Caracterização da amostra por gênero
26
A TABELA 3 demonstra as hipóteses diagnósticas apresentadas pela amostra.
TABELA 3 - Hipótese diagnóstica da amostra
Hipótese Diagnóstica
%
Voluntários
Nefroesclerose Hipertensiva
29,41
05
Glomerulonefrite
11,76
02
Indeterminada
29,41
05
Outras( nefropatia do HIV, neoplasia de rim, refluxo vesico uretral,
glomeruloesclerose segmentar focal e nefropatia diabética)
29,41
05
100
17
Total
A avaliação dos valores obtidos na saturação de oxigênio pré hemodiálise
apresentou mediana de 96% e mediana pós hemodiálise de 97%, equivalente a um
aumento de 1,04%, porém esse aumento não representa diferença estatisticamente
significante (p<0,05) (GRÁFICO 2).
Pré hemodiálise
Pós hemodiálise
GRÁFICO 2 – Saturação de oxigênio pré e pós hemodiálise
27
A mediana do valor predito da capacidade vital pré hemodiálise foi de 75ml/kg . A
mediana da capacidade vital predita pós hemodiálise foi de 60 ml/kg, o que significa uma
redução de 25% da capacidade vital após a sessão HD (TABELA 4).
TABELA 4 - Valor predito de CV
Variáveis
Mediana
Primeiro quartil
Terceiro quartil
C.V Pré HD
75 ml/kg
46ml/kg
80ml/kg
C.V Pós HD
60ml/Kg
44ml/kg
86ml/kg
Valor Predito de Capacidade Vital: 65 a 75ml/kg
No gráfico a seguir observa-se a variação da mediana de capacidade vital,
comparado
o valor obtido pré hemodialise, com mediana de 4720 ml e valor pós
hemodialise de 4560 ml, o que representa uma redução de 3,5%, porém essa redução não
representa diferença estatisticamente significante (p<0,05).
Pré hemodiálise
Pós hemodiálise
GRÁFICO 3 – Capacidade vital pré e pós hemodiálise
28
Já ao analisar os valores de mediana da cirtometria axilar (GRÁFICO 4) e da
cirtometria umbilical (GRÁFICO 5) ambos mantiveram-se inalterados, apresentando
respectivamente 2,5cm e 3,0cm no pré e no pós hemodiálise. Enquanto que a cirtometria
xifoidal (GRÁFICO 6) apresentou valor de mediana pré hemodiálise de 2,5 cm e 2,0cm no
pós hemodiálise o que equivale a diminuição de 25% o que não representa diferença
estatisticamente significante (p<0,05).
Pré hemodiálise
Pós hemodiálise
FIGURA 4 – Cirtometria axilar pré e pós hemodiálise
29
Pré hemodiálise
Pós hemodiálise
GRÁFICO 5 – Cirtometria umbilical pré e pós hemodiálise
Pré hemodiálise
Pós hemodiálise
GRÁFICO 6 – Cirtometria xifoidal pré e pós hemodiálise
30
Quando comparado a capacidade vital pré e pós hemodialise com a idade, verificouse uma relação inversamente proporcional. Pois quanto maior foi a idade dos pacientes
menor foi o valor verificado de capacidade vital tanto no momento pré como no momento
pós HD. Sendo que foi observado diferença estatisticamente significante com p<0,05.
GRÁFICO 7 – Correlação entre capacidade vital pré hemodiálise e idade
O GRÁFICO 8 – Correlação entre capacidade vital pós hemodiálise e idade
31
5 DISCUSSÃO
Jatobá e col (2008) avaliaram a relação entre a função pulmonar, a força muscular
respiratória e desempenho físico em portadores de doença renal crônica (DRC) submetidos
à hemodiálise em uma amostra constituída por 27 pacientes, sendo 63% do sexo masculino,
a média de idade de 44,8 ±15,5 anos e com diagnóstico clínico mais prevalente de
Glomerulonefrite com 38 % seguido de Nefroesclerose hipertensiva com 31%. A
caracterização da amostra desses pesquisadores assemelha-se a do presente estudo que
apresentou maior prevalênciado sexo masculino, com idade mediana de 49 anos e maior
prevalência
de
diagnóstico
clínico
de
nefroesclerose
hipertensiva
seguida
de
glomerulonefrite.
Santos (2006) analisou o nível de qualidade de vida de 107 portadores de doença
renal crônica submetidos à hemodiálise e comparou a pontuação obtida de acordo com o
sexo e a idade dos pacientes. O autor identificou em sua amostra a prevalência do sexo
masculino constituída por 63 (58,9%) homens, e entre as principais causas da IRC, no total
da amostra, foram glomerulonefrite em 50 indivíduos (46,7%). Observa-se dados
semelhantes no presente estudo, cuja prevalência de pacientes foi do sexo masculino e uma
das hipóteses diagnósticas mais prevalente foi a glomerulonefrite.
Neste estudo verificou-se aumento no valor de mediana de saturação de oxigênio
pós hemodiálise o que, no entanto não apresentou diferença estatisticamente significativa.
Em estudo realizado por Bianch (2007) em que foi avaliada a função respiratória e extresse
oxidativo de 33 pacientes com IRC terminal através da espirometria, manovacuometria,
oximetria e gasometria arterial antes e após a sessão de hemodiálise, as medidas da
saturação de oxigênio obtidas através da oximetria de pulso e inclusive pela gasometria
arterial mantiveram-se inalteradas bem como o que foi verificado em nosso estudo.
Guleria (2005) avaliou a função pulmonar de 29 pacientes com IRC em programa de
diálise, 7 dias pré e 30 e 90 dias pós transplante renal bem sucedido. Realizou a avaliação
pulmonar através da espirometria, gasometria arterial dentre outras ferramentas de
avaliação. A variável referente a satO2 tanto no período pré como no período pós transplante
renal mantiveram-se inalteradas assim como nos achados de nosso estudo.
Em estudo, realizado por Schardong e col, (2008), cuja avaliação da função
pulmonar de 30 pacientes portadores de IRC, submetidos à hemodiálise, foi realizada em
um único encontro através da capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no
primeiro segundo (VEF1) e do índice Tiffeneau (VEF1/CVF), os autores constataram que 45
% da amostra não atingiram o previsto para a CVF e 52% não atingiram o previsto para do
32
VEF1/CVF. O que vem ao encontro dos resultados de capacidade vital pós hemodiálise
apresentados nesse estudo.
Bush e Gabriel (1991) foram pioneiros ao discutir os fatores causas das
anormalidades da função pulmonar decorrentes dos diversos estágios de doença renal
crônica. Esses autores analisaram 80 pacientes divididos em 04 grupos, sendo 20 com DRC
em tratamento conservador, 20 em diálise peritonial ambulatorial contínua, 20 em
hemodiálise e 20 transplantados renais. Investigaram disfunções pulmonares através da
difusão de monóxido de carbono e da CVF entre outros parâmetros espirométricos. Os
resultados da pesquisa desses autores evidenciaram que apenas 09 dos 80 pacientes da
amostra tiveram função pulmonar normal e concluíram que as anomalias da função
pulmonar podem tornar-se comuns na insuficiência renal devido à importante redução da
difusão de monóxido de carbono atribuindo a causa dessa redução ao edema pulmonar
subclinico ou à fibrose intersticial secundária. Concluíram também que a hemodiálise pode
induzir mudanças agudas na função pulmonar, porém não é capaz de promover efeito
adicional prolongado no aumento da capacidade de volumes pulmonares. O que corrobora
com os resultados desse estudo, pois a capacidade vital pós hemodiálise apresentou-se
diminuída, sobretudo devido ao fato de ser considerada apenas uma sessão de hemodiálise.
Entretanto, Bianchi e col. (2007), obtiveram resultados satisfatórios na avaliação da
capacidade vital forçada pós sessão de hemodiálise. Os autores observaram que do total de
33 (100%) pacientes analisados, 12 (36,4%) pacientes apresentaram espirometria normal e
21 (63,6%) pacientes apresentaram algum tipo de anormalidade respiratória na pré sessão
de hemodiálise. Após sessão de hemodiálise, houve um aumento no número de
espirometrias normais, 17 (51,5%) pacientes apresentaram espirometria normal e 16
(48,5%) pacientes apresentaram algum tipo de anormalidade respiratória. Tais resultados
diferem do encontrado em nosso estudo, no qual a capacidade vital apresentou-se
diminuída, apesar da análise do autor investigar a capacidade vital forçada ambas
capacidades estão relacionadas a capacidade pulmonar total e norteiam a identificação de
distúrbios ventilatórios.
A cirtometria torácica mostrou-se inalterada após a sessão de hemodiálise nas
regiões axilar e umbilical, apresentando discreta redução para a região xifoidal, porém sem
variação estatisticamente significante.
Cury (2007) avaliou a capacidade de exercício, função pulmonar e qualidade de vida
de 72 pacientes com insuficiência renal crônica sendo divididos em 3 grupos: pacientes em
programa de diálise, pacientes que foram transplantados e grupo controle composto por
indivíduos saudáveis. Na variável cirtometria torácica a autora verificou valores dentro do
padrão de normalidade nos grupos diálise e transplantados quando comparado ao grupo
33
controle que apresentou tendência a diminuição das medidas com valores inferiores ao que
se é esperado para a normalidade.
Queiroz e Nascimento (2006) realizaram estudo para verificar as repercussões
pulmonares de 15 pacientes com IRC em tratamento dialítico, e verificaram que houve maior
mobilidade torácica no nível xifoidal. Diferindo de nosso estudo, desde que a cirtometria do
nível xifoidal apresentou menor variação. Não foi encontrado na literatura estudos que
comparassem a cirtometria torácica pré e pós sessão de hemodiálise.
Ruivo e cols (2009) investigaram a influência do envelhecimento na função pulmonar
ao comparar o padrão respiratório de adultos e idosos saudáveis, não fumantes,
confrontando os valores espirométricos e de expansibilidade torácica, de forma a confirmar
a ação do envelhecimento na função pulmonar. Os autores evidenciaram diferença
estatisticamente significativa entre os dois grupos, para todas as medidas avaliadas. A
relação linear foi, também, significativa entre a idade e todos os parâmetros e observou-se
correlação negativa. E apontaram que a declínio das medidas estáticas e dinâmicas da
função pulmonar, principalmente da capacidade vital forçada, são decorrentes do aumento
da idade.
De acordo com Carvalho (2002) os efeitos deletérios do envelhecimento nas
estruturas e na mecânica respiratória podem condicionar aos idosos a presença de
insuficiência respiratória restritiva, obstrutiva e difusional. No entanto, esta deficiência tornase evidente apenas em condições de esforço ou quando o idoso apresenta um processo
patológico pulmonar, que vai somar-se às alterações determinadas pelo envelhecimento.
O presente estudo também demonstrou uma correlação inversamente proporcional
quando relacionada a capacidade vital com a idade dos pacientes, pois nos indivíduos com
idades mais avançadas encontramos os menores valores de capacidade vital tanto no
período pré como no período pós sessão de hemodiálise.
34
6 CONCLUSÃO
Pode-se concluir que após ser submetido à hemodiálise, as variáveis: saturação de
oxigênio, capacidade vital e cirtometria torácica, comparadas pré e pós o procedimento de
hemodiálise apresentaram- se inalteradas ou diminuídas, porém não representaram valores
significantes à modificação da função pulmonar. Sendo que quanto mais velho o paciente
menores foram o valores de capacidade vital apresentados, o que pode exacerbar o
processo patológico nesses pacientes.
.
35
REFERÊNCIAS
ALVES, J; HUESPANHOL, V; FERNANDES, J; MARQUES, J.A. Alterações
espirométricas provocadas pela hemodiálise: sua relação com a variação dos
parâmetros vulgarmente utilizados na medição da eficácia hemodialítica. Acta Med
Port.1989.
ANAVEKAR, N.S.; MCMURRAY, J.J.; VELAZQUEZ, E.J.; SOLOMON, S.D.; ROULEAU,
J.L.; et AL. Relation between renal dysfunction and cardiovascular outcomes after
myocardial infarction. N Engl J Med, 2004.
ATKINS, R.C. The epdemiology of chronic disease Kidney international. 2005.
AZEREDO, C.A. Fisioterapia Respiratória Moderna: Aplicada e Revisada. 4ªed. São
Paulo: Manole, 2002.
BARBOSA, W.B. Qualidade de vida dos pacientes com insuficiência renal crônica.
Disc. Scientia. Série: Cienc. Biol. e da Saúde, Santa Maria, v.1, 2000.
BARROS, E.; MANFRO, R.C.; THOM, F.S.; GONÇALVES, L.F.S. Nefrologia: rotinas,
diagnóstico e tratamento. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul; 1999.
BASTOS, M.G. et al. Doença renal crônica: Problemas e soluções. Jornal brasileiro de
nefrologia, v. 26, n.4, dez. 2004.
BETHLEM, N e cols. Pneumologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002.
BEVINGTON, A. et al. Metabolic Acidosis is a Potent Stimulus for Celular Inorganic
Phosphate Generation in Uremia. Clin Sci v.88, 1995.
BIANCHI,
P.D.;BARRETO,S.S.M.;THOME,F.S.;KLEINA.B.
Repercussão
da
Hemodiálise na Função Pulmonar de Pacientes com Doença Renal Crônica
Terminal. J Bras Nefrol., v31, 2009.
36
CABRAL, P. C.; ARRUDA, I. K. G.; DINIZ, A.S. Avaliação nutricional de pacientes em
hemodiálise. Ver Nut. v.18, 2005.
CALDEIRA, Valéria da Silva et al . Precisão e acurácia da cirtometria em adultos
saudáveis. J. bras. pneumol., São Paulo, v. 33, n. 5, Oct. 2007 .
CARVALHO FILHO, E. T. de. Fisiologia do envelhecimento. In: NETTO, M.
P.Gerontologia - a velhice e o envelhecimento em visão globalizada. São
Paulo:Atheneu, 2002.
CARVALHO, MRA. Avaliação morfodinâmica do tórax e do abdomen. In: Carvalho
MRA, editor. Fisioterapia respiratória: fundamentos e contribuições. Rio de Janeiro: Nova
Casuística, 1979.
CASAGRANDE, L.D.R.; CESARINO, C.B. Paciente com insuficiência renal crônica
em tratamento hemodialitico: Atividade educativa do enfermeiro. Universidade de São
Paulo. Escola de enfermagem de Ribeirão Preto, 1995.
CHAN, C.H.S.; LAI, C.K.W.; LI, P.K.T.; LEUNG, C.B.; HO, A.S.S.; LAI, K.N. Effect of
renal transplantation on pulmonary function in patients with end-stage renal
failure. Am J Nephrol.1996.
CURY, J. L. Avaliação da Capacidade de Exercicio, Função Pulmonar e Qualidade
de Vida de Pacientes com Insuficiência Renal Crônica. 2007.89f. Dissertação
(Mestrado em Ciências da Saúde) – Programa de mestrado Interinstitucional em
Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, Brasília, 2007.
GUYTON, A.C. Tratado de Fisiologia Médica. 9ªed. Rio de janeiro: Guanabara
Koogan, 2002.
GUSHI et al. Avaliações da Filtração Glomerular Pela Depuração de Creatinina,
Equações MDRD e Cockcroft Gault São Semelhantes Em Receptores de
Transplante Renal. J Bras. De Nefrol. V 26, n03, 2004.
GRABOWSKI, S.R; TORTORA, G.J. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 9ª ed. Rio
de janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2002.
37
GRASSMANN, A. et al. ESRD patients in 2004: global overview of patient numbers,
treatment modalities and associated trends. Nephrol Dial Transplant. V.20.
JARDIM, J.R.; FARESIN, S.M.; ROMALDINI, H.; RATTO, O.R. Atualização da
proposta para unificação dos termos e símbolos pneumológicos no Brasil. J
Pneumol. 1996.
JOFRE, R.; LOPEZ, G. J.; MORENO, F.;SANZ, D.; VALDERRANO, F.; Changes in
quality of life after renal transplantation. AM. J. Kidney Dis. 1998.
KAMIMURA, M. A. et al Métodos de avaliação da composição corporal em
pacientes submetidos à hemodiálise. Rev. Nutr. v.17. 2004.
KIRSZTAJN, G. M; BASTOS, M. G. Proposta de Padronização de Programa de
Rastreamento da Doença Renal Crônica. J. Bras de Nefrol. v.29, n.1, 2007.
K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation,
classification and stratification. Am J Kidney Dis. 2002;39(Suppl 2):S1-S246.
LÔBO, M.C. S.; BELLO, V.A.O.; Reabilitação profissional pós transplante renal. J
Bras Nefrol. V.29, 2007.
MALLUCHE, H; FAUGERE, M,C. Renal Bone Disease: an unmet challenge for the
nephrologists. Kidney Int, 1990.
MARTINS, M. R. I.; CESARINO, C.B.; Qualidade de vida de pessoas com doença
renal crônica em tratamento hemodialitico. Rev Lat Amer Enferm. v.13, 2005.
MEDEIROS, R.H; PINENT , C.E; MEYER, F. Aptidão física de individuo com doença
renal cronica. J Bras Nefrol, 2002.
MINISTERIO DA SAUDE, Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença
Renal. In: complexidade, 2004.
MOREIRA, P.R.; BARROS, E. Atualização em fisiologia e fisiopatologia renal: bases
fisiopatológicas da miopatia na insuficiência renal crônica. J Bras Nefrol. v. 22,2000.
38
MOE,S.M.; CHEN, N.X. Pathophysiology of vascular calcification in chronic kidney
disease. Circ Res. 2004.
NEVES, O. O; CRUZ, I. C. F. Produção Cientifica de Enfermagem Sobre a Inserção
de Cateter Endovenoso em Fistula Arteriovenosa: Implicação para o enfermeiro de
métodos dialíticos. Disponível em: www.uff.br/nepae/catetervenosoemfistula.doc.
PARMAR, M. S. Chronic renal disease: Early identification and active management
of patients with renal impairment in primary care can improve outcomes. BMJ.
v.235, jul.2002.
PERES, Luis A.B. et al . Aumento na prevalência de diabetes mellitus como causa
de insuficiência renal crônica dialítica: análise de 20 anos na região Oeste do
Paraná. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo, v. 51, n. 1, Feb. 2007.
PRADO, F.C; RAMOS, J; VALLE, J.R; Atualização terapêutica. 20ª ed. São Paulo:
Artes médicas, 2001.
PREZANT, D.J. Effect of uremia and its treatment on pulmonary function. Lung.
1990.
ROMÃO, J.E. Doença renal crônica: definição, epidemiologia e classificação. J.
Bras. Nefrol. v. 26, 2004.
RIELA, M.C.; Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 3ª Ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
RIBEIRO, R. C. H. M et al . Caracterização e etiologia da insuficiência renal crônica
em unidade de nefrologia do interior do Estado de São Paulo. Acta paul. enferm.,
São Paulo, v. 21, n. spe, 2008
SANTANA, V.C.; BALDIN, A.C.; SQUASSONI, S.D.; MACHADO, N.C.; NATALI, V.;
FISS,E.; SELETRIN,C. Estudo comparativo da função pulmonar em pacientes
submetidos a revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea em
uso de drenos pleural e mediastinal versus dreno mediastinal. Arq Med ABC. v.32,
2007.
39
SANTOS, P. R. Relação do sexo e da idade com nível de qualidade de vida em
renais crônicos hemodialisados. Rev Assoc Med Bras 2006.
SCHOR, N. Insuficiência Renal Aguda: guia prático de urologia. 2001.
SESSO, R. et al. Relatório do censo de diálise 2008. J. Bras. Nefrol. V30, n°4, 2008
SOARES, A; ZEHETMEYER, M; ROBUSKE, M. Atuação da fisioterapia durante a
hemodiálise visando a qualidade de vida do paciente renal crônico. Rev Saúde
UCPEL, 2007.
Sociedade Brasileira de Nefrologia. Censo SBN – 2006 [acesso em 21 abril 2008].
Disponível em: http://www.sbn.org.br/Censo/2006/censosbn2006.ppt
VARELA, M. A; FILHO, R. F. S. Interações entre a doença cardiovascular e a doença
renal crônica. J Brás Nefrol.,v.28, p.23, 2006.
Xue JL, Ma JZ, Louis TA, Collins AJ. Forecast of the number of patients with endstage renal disease in the United States to the year 2010.
40
ANEXO 1- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
NOME DO PROJETO: Análise da Capacidade Pulmonar de Pacientes
Portadores de Insuficiência Renal Crônica
RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA
PESQUISADORES: Evelyn dos Santos
Marcelo Souza Lopes
ORIENTADORA: Profª Ft. Aline Maria Heidemann
Você está sendo convidado a participar de um projeto de estudo que será
desenvolvido no Centro de Nefrologia do Hospital Universitário São Francisco.
JUSTIFICATIVA DA PESQUISA: Com este estudo será possível avaliar a condição
respiratória do paciente antes e depois da sessão de hemodiálise, o que poderá
direcionar futuros estudos e tratamentos que busquem a melhoria da qualidade de
vida dos portadores de Doença Renal Crônica.
PROCEDIMENTOS A QUE O PACIENTE SERÁ SUBMETIDO: Os Pacientes que
após tomarem conhecimento e concordarem em participar deste estudo assinando o
termo de consentimento livre e esclarecido serão submetidos a uma breve avaliação
pré-sessão de hemodiálise constando de dados pessoais, história clínica e exame
físico com o objetivo de:
•
Avaliar a quantidade máxima de ar que os pulmões conseguem
armazenar e liberar no meio ambiente.
•
Medir a quantidade de oxigênio no sangue.
•
Medir com fita métrica o peito do paciente nos movimentos
respiratórios.
Repetindo-se a coleta desses dados no final da sessão de hemodiálise.
BENEFÍCIOS E RISCOS ESPERADOS: Espera-se que o presente estudo ofereça
aos pacientes voluntários a avaliação da sua condição respiratória na pré sessão de
hemodiálise e na pós sessão de hemodiálise, não oferecendo riscos aos pacientes
em nenhuma etapa da coleta de dados do estudo, e poderá indicar futuros estudos e
tratamentos que busquem a melhoria da qualidade de vida dos portadores de
Doença Renal Crônica.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
1. Os participantes saberão tudo o que acontece no estudo.
2. Os participantes poderão desistir a qualquer momento de participar da
pesquisa. Em caso de desistência não haverá nenhuma modificação ou prejuízo no
41
tratamento.
3. O nome dos participantes do estudo será feita por iniciais, e resultado desse
estudo só será usado para publicação científica (revista médicas, congressos
científicos, livros).
4. Os participantes não receberão nada e não pagarão nada para participarem
do estudo.
Tendo lido, entendido e estando suficientemente informado (a) sobre esse estudo,
permito a minha (ou de meu parente) participação nesse estudo.
Nome: _____________________________________________ Idade: ____ anos,
RG: ______________,HC: ____________, Endereço: ______________________,
_____________________________________, Telefone (contato): ____________;
consinto a minha (ou de meu parente) participação neste estudo, concordando com
o presente termo de consentimento livre e esclarecido, datando e assinado abaixo.
Bragança Paulista, ______ de ____________ de 2010.
ASSINATURA
Evelyn dos Santos
Marcelo Souza Lopez
Tel (0xx11) 8459-2470
Tel (0xx11) 9323-5649
Profª. Ft. Aline Maria Heidemann
Orientadora Responsável
Tel. (0xx19) 97329882
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade São Francisco tel: (0xx11) 24548981/ (0xx11) 2454-8028 e-mail [email protected].
42
ANEXO 2- FICHA DE COLETA DE DADOS
FICHA DE COLETA DE DADOS
Data: ____/____/_____
Peso:______________
Iniciais do Nome: ______________________________
Idade:_____ Raça:_______ Sexo: ( )F ( )M
RH: ____________________
Data de Admissão:_________________
HD:__________________________________________________________________
Antecedentes Familiares:__________________________________________________
Patologias Associadas:____________________________________________________
________________________________________________________________________
Saturação de Oxigênio
Pré
Pós
Sa02
Capacidade Vital
Pré
Pós
Primeira medida
Segunda medida
Terceira medida
Cirtometria Torácica
Pré
Pós
Axilar
Xifoidal
Umbilical
Observações:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________