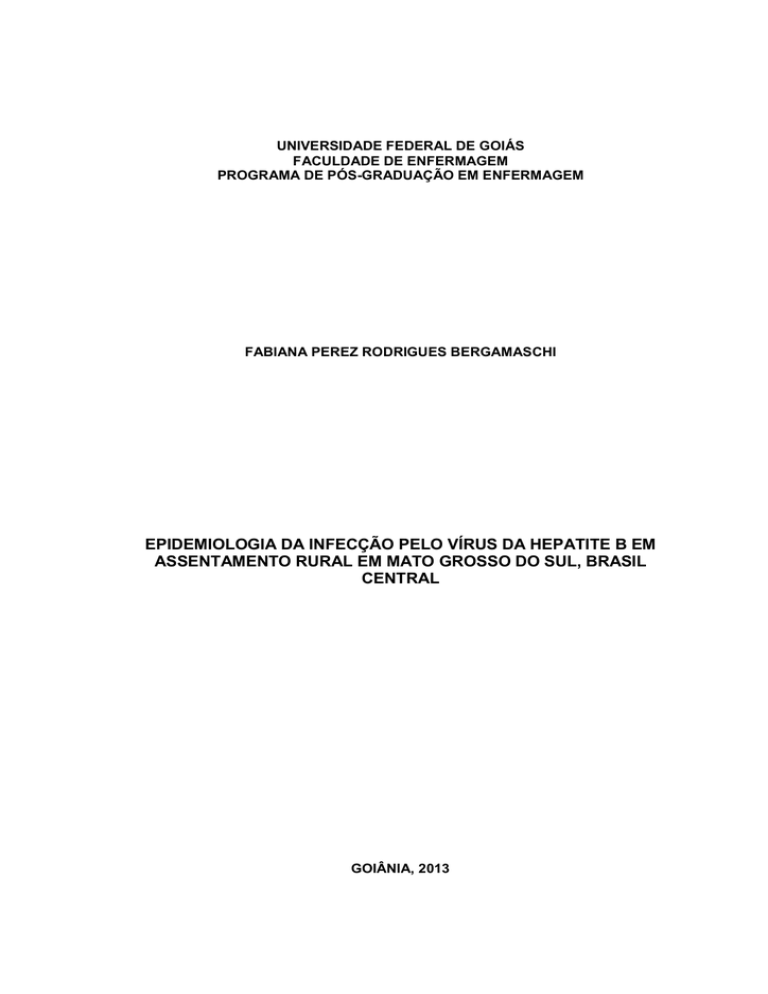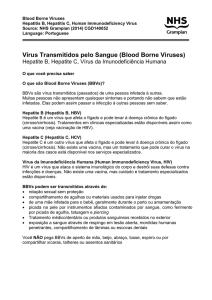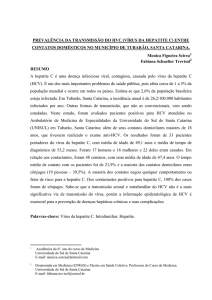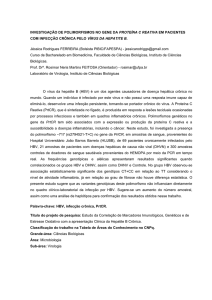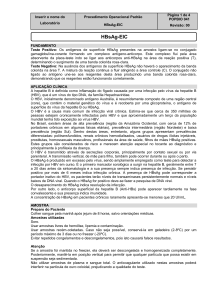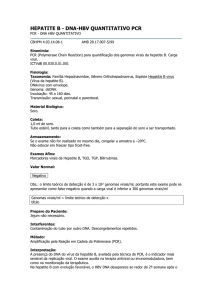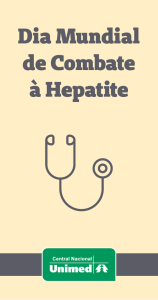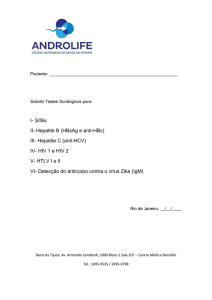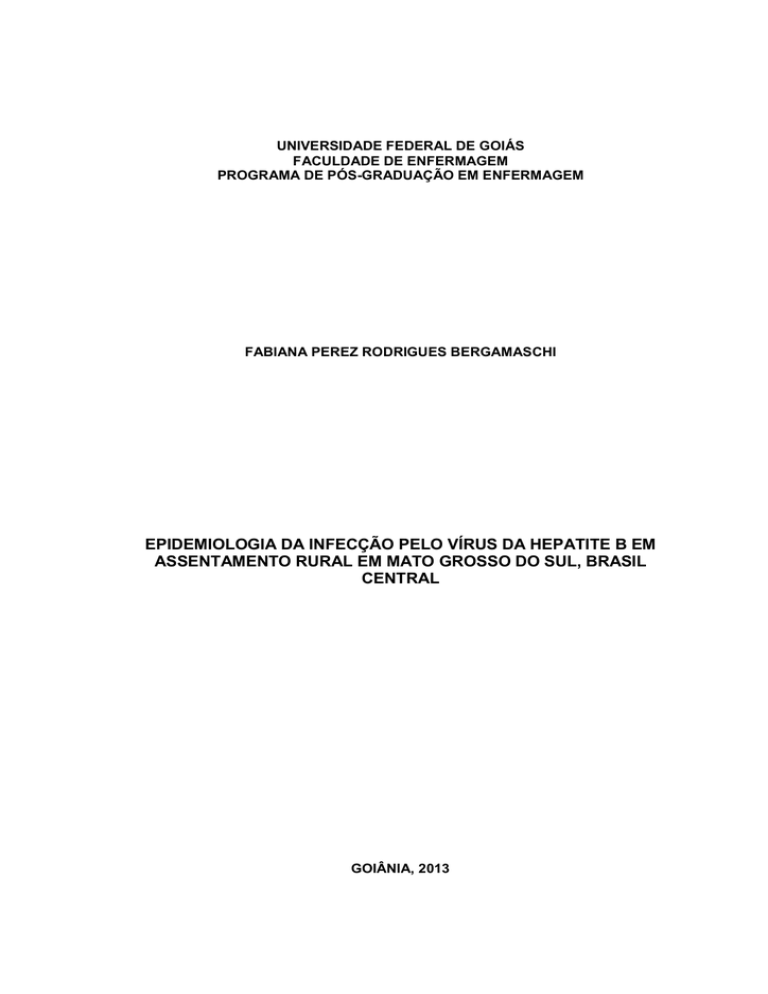
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
FABIANA PEREZ RODRIGUES BERGAMASCHI
EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B EM
ASSENTAMENTO RURAL EM MATO GROSSO DO SUL, BRASIL
CENTRAL
GOIÂNIA, 2013
FABIANA PEREZ RODRIGUES BERGAMASCHI
EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B EM
ASSENTAMENTO RURAL EM MATO GROSSO DO SUL, BRASIL
CENTRAL
Tese de Doutorado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Enfermagem da
Faculdade de Enfermagem da Universidade
Federal de Goiás, para a obtenção do título de
Doutor em Enfermagem
Área de Concentração: Enfermagem no Cuidado à Saúde Humana
Linha de Pesquisa: Epidemiologia, prevenção e controle de infecções por
patógenos veiculados pelo sangue
Orientador: Profa. Dra. Sheila Araujo Teles
Goiânia, 2013
FOLHA DE APROVAÇÃO
Fabiana Perez Rodrigues Bergamaschi
EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B EM
ASSENTAMENTO RURAL EM MATO GROSSO DO SUL, BRASIL CENTRAL
Tese de Doutorado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Enfermagem da
Faculdade de Enfermagem da Universidade
Federal de Goiás, para a obtenção do título de
Doutor em Enfermagem
Aprovada em ____ de________de_______
Banca Examinadora
_____________________________________________
Sheila Araujo Teles
Professora Dra – Presidente da Banca
(Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás)
______________________________________________________
Ana Rita Coimbra Motta Castro
Professora Dra. – Membro Efetivo, Externo ao Programa
(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS)
_______________________________________________________
Regina Maria Bringel Martins
Professora Dra. – Membro Efetivo, Externo ao Programa
(Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - UFG )
_________________________________________________________
Márcia Alves Dias
Professora Dra. – Membro Efetivo, Externo ao Programa
(Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - UFG)
__________________________________________________________
Anaclara Veiga Tipple
Professora Dra. – Membro Efetivo
(Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás)
Dedicatória
Ao meu esposo Ronaldo Bergamaschi
Pezerico, meu eterno amor, pelo
companherismo e pela paciência nos
momentos finais desta trajetória.
Ao meu filho Rafael Rodrigues Pezerico,
amor incondicional, prova da fidelidade de
Deus em minha vida.
AGRADECIMENTOS
v A Deus, que tem me concedido o dom da vida, a força e a saúde para trabalhar e
lutar, me guiado por caminhos seguros e sido fiel em todos os momentos de minha
vida.
v Aos meus pais, que passaram a fé acima de tudo, que foram e são exemplos de
força, coragem e amor, e que sempre acreditaram em mim.
v Ao meu esposo, que com paciência e amor me acompanhou nos momentos mais
bonitos e também mais difíceis desta trajetória.
v À Minha Orientadora, que não apenas me guiou na construção do conhecimento,
com sabedoria, dedicação e seriedade, mas foi acima de tudo exemplo de
profissional, de pesquisadora e de ser humano. Foi mãe, amiga e irmã, em
momentos importantes e difíceis do meu caminhar; foi e é fundamental para essa
conquista.
v Ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da
Universidade Federal de Goiás, que tem estimulado a produção do conhecimento e
do saber, e nesta construção proporcionou-me a oportunidade e o apoio para o
crescimento profissional.
v Em nome do professor Marcos André de Matos e das Professoras Ana Luíza Neto
Junqueira e Márcia Maria de Souza, agradeço a toda equipe do NECAIH, que
sempre me acolheram com carinho, dispensaram apoio, e contribuíram
significativamente para o desenvolvimento desta pesquisa.
v A toda equipe do Laboratório de Virologia do IPTSP e, sobretudo às Professoras
Regina Maria Bringel Martins e Márcia Alves Dias de Matos, que com muito
comprometimento, qualidade e eficiência realizaram as sorologias e os ensaios
moleculares deste estudo.
v À professora Megmar Aparecida dos Santos Carneiro, que contribuiu para a
construção deste estudo com sábias sugestões e orientações no Seminário de
Pesquisa II e na qualificação.
v À professora Ana Clara Ferreira Veiga Tipple, pela amizade, pelo exemplo de
enfermeira, professora, pesquisadora e pelas valiosas contribuições no Seminário de
Pesquisa II e na qualificação.
v À professora Ana Rita Coimbra Motta Castro, uma grande amiga e companheira,
exemplo de ser humano, de profissional, de pesquisadora e, sobretudo uma grande
parceira na construção deste trabalho.
v À Turma do Doutorado, Ivânia Vera, Katiane Martins Mendonça, Flaviana Vieira,
Dulcelene de Sousa Melo e Maria Alice Coelho, pela amizade e companherismo em
todos os momentos.
v À Ivânia Vera de maneira especial, por ser uma grande amiga, presente nos
momentos difíceis pela distância de casa, pela solidão, pelos obstáculos que
apareceram nesta trajetória. Amiga, obrigada pela amizade, pela presença, pelos
cafezinhos, pelas conversas e desabafos e pelos conselhos.
v À Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS, a todos da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação e do setor de capacitação, agradeço pelo afastamento
integral de minhas atividades, para o desenvolvimento do doutorado, pelo
acompanhamento, pelo apoio e pelas orientações.
v Ao Curso de Enfermagem da UEMS, agradeço ao coordenador do curso, enfermeiro
Wilson Brum e a todos os docentes que sempre me apoiaram, que torceram por mim
e que, sobretudo, me substituíram nas atividades de docência.
v À todos da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Porã, que me atenderam desde
o início do projeto de pesquisa com muita atenção e dedicação, que permitiram e
apoiaram o desenvolvimento deste estudo.
v Ao Núcleo Regional de Saúde de Ponta Porã e ao Enfermeiro Robson do Serviço de
Imunização do município, que disponibilizaram as vacinas contra a hepatite B, para
que pudéssemos vacinar os suscetíveis do estudo.
v Ao Enfermeiro Jefferson e toda a sua equipe de agentes comunitários, auxiliares e
técnicos, que abriram as portas do assentamento e da unidade para que este estudo
fosse desenvolvido. Recebam, o meu muito OBRIGADO. Sem vocês este estudo
não seria possível.
v À todos os Assentados do Assentamento Itamarati , que participaram do estudo,
obrigada pela participação, por me receberem em vossas casas, por colaborarem
para a construção do saber.
SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS........................................................................................
LISTA DE QUADROS......................................................................................
LISTA DE TABELAS........................................................................................
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS..........................................................
RESUMO..........................................................................................................
ABSTRACT......................................................................................................
RESUMEN........................................................................................................
08
09
10
11
13
14
15
1. INTRODUÇÃO..............................................................................................
1.1 O Vírus da Hepatite B.................................................................................
1.1.1 Variabilidade do HBV...............................................................................
1.2 Epidemiologia da Infecção pelo Vírus da Hepatite B..................................
1.3 Aspectos Clínicos da Infecção pelo HBV....................................................
1.4 Diagnóstico e Tratamento da Infecção pelo HBV.......................................
1.4.1 Diagnóstico Sorológico e Molecular.........................................................
1.4.2 Tratamento...............................................................................................
1.5 Prevenção da Hepatite B............................................................................
1.5.1 Vacina contra a Hepatite B......................................................................
1.6 Assentamentos Rurais e o Acesso à Saúde...............................................
1.6.1 O Assentamento Itamarati.......................................................................
1.7 Justificativa.................................................................................................
16
16
20
23
27
29
29
30
32
33
34
38
40
2. OBJETIVOS................................................................................................. 42
2.1 Objetivo Geral............................................................................................. 42
2.2 Objetivos Específicos.................................................................................. 42
3. METODOLOGIA...........................................................................................
3.1 Local de Estudo..........................................................................................
3.2 Delineamento do Estudo e Amostra...........................................................
3.2.1 Tipo do Estudo.........................................................................................
3.2.2 Cálculo Amostral......................................................................................
3.2.3 Critérios de Inclusão................................................................................
3.2.4 Critérios de Exclusão...............................................................................
3.3 Variáveis do Estudo....................................................................................
3.3.1 Variável de Desfecho..............................................................................
3.3.2 Variáveis de Predição..............................................................................
3.4 Procedimentos de Coleta de Dados e Amostras Sanguineas....................
3.4.1 Estudo Observacional..............................................................................
3.4.2 Vacinação contra Hepatite B..................................................................
3.5 Detecção dos Marcadores Sorológicos......................................................
3.6 Detecção do HBV DNA...............................................................................
3.6.1 Extração do HBV DNA.............................................................................
3.6.2 Reação em Cadeia da Polimerase..........................................................
3.6.3 Genotipagem por RFLP...........................................................................
3.6.4 Eletroforese em Gel de Agarose..............................................................
3.7 Processamento e Análise de Dados...........................................................
3.8 Aspectos Éticos da Pesquisa......................................................................
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
45
46
48
48
49
50
50
50
51
4. RESULTADOS ............................................................................................
52
4.1 Características da População Estudada.....................................................
4.2 Marcadores Sorológicos da Infecção pelo HBV.........................................
4.3 Detecção do HBeAg/anti-HBe, HBV DNA e Genótipos das Amostras
HBsAg Positivas...............................................................................................
4.4 Análise dos Fatores Associados à Infecção pelo Vírus da Hepatite B
4.5 Avaliação da Resposta Vacinal dos Assentados Susceptíveis Vacinados
52
54
54
56
60
5. DISCUSSÃO................................................................................................. 62
6. CONCLUSÕES............................................................................................. 68
7. CONSIDERAÇÒES FINAIS.........................................................................
69
8. REFERÊNCIAS............................................................................................
71
ANEXO A.......................................................................................................... 87
ANEXO B.......................................................................................................... 88
APÊNDICE A....................................................................................................
89
APÊNDICE B....................................................................................................
91
APÊNDICE C....................................................................................................
93
LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1. Partículas Virais e Sub-partículas do HBV.....................................
17
FIGURA 2. Esquema Geral do Vírus da Hepatite B.........................................
18
FIGURA 3. Esquema do Genoma do HBV.......................................................
20
FIGURA
4.
Dendograma
baseado
nos
79
genomas
completos
representativos dos genótipos do HBV, incluindo os dois novos genótipos I e
J..........................................................................................................................
21
FIGURA 5. Mapa da Prevalência Mundial da Infecção Crônica pelo Vírus da
Hepatite B em Adultos, 2005.............................................................................
24
FIGURA 6. Mapa da Prevalência Mundial da Infecção Crônica pelo Vírus da
Hepatite B em Crianças, 2005...........................................................................
24
FIGURA 7. Imagem Superior de Alguns Lotes da Fazenda Itamarati...............
38
FIGURA 8. Distribuição dos Movimentos Sociais de Luta no Assentamento
Itamarati.............................................................................................................
39
FIGURA 9. Prevalência do HBV e do Anti-HBs Isolado por Faixa Etária em
456 Assentados de Ponta Porã-MS..................................................................
56
FIGURA 10. Distribuição dos Assentados Suscetíveis à Infecção pelo Vírus
da Hepatite B que Receberam a Vacina Contra Hepatite B, Assentamento
Itamarati, MS, 2011-2012...................................................................................
60
LISTA DE QUADROS
QUADRO 1. Estudos de prevalência da infecção pelo vírus da hepatite B
realizados em diferentes populações rurais do Brasil............................................ 26
QUADRO 2. Primers utilizados na semi-nested – PCR.........................................
50
LISTA DE TABELAS
TABELA 1. Características Sociodemográficas de 456 Indivíduos do
Assentamento Itamarati, MS, 2008-2009..........................................................
53
TABELA 2. Prevalência dos Marcadores Sorológicos da Infecção pelo Vírus
da Hepatite B em 456 Indivíduos do Assentamento Itamarati, MS, 20082009................................................................................................................... 54
TABELA 3. Características e Perfil Sorológico e Molecular das Amostras
HBsAg reagentes 2008-2009 reagentes...........................................................
55
TABELA 4. Análise Univariada de Fatores Sociodemográficos Associados à
Infecção pelo Vírus da Hepatite B em indivíduos do Assentamento Itamarati,
MS, 2008-2009..................................................................................................
57
TABELA 5. Análise Univariada de Fatores de Risco para a Infecção pelo
Vírus da Hepatite B em indivíduos do Assentamento Itamarati, MS, 20082009..................................................................................................
58
TABELA 6. Análise Multivariável dos Fatores Associados à infecção pelo
HBV em indivíduos do Assentamento, MS, 2008-2009....................................
59
LISTA DE SIGLAS ABREVIATURAS
AMFFI
Associação de Moradores e Funcionários da Fazenda
Itamarati
ANTI-HBc
Anticorpo contra a proteína do “core” do vírus da hepatite B
ANTI-HBe
Anticorpo contra a proteína “e” do vírus da hepatite B
ANTI-HBS
Anticorpo contra a proteína “s”do vírus da hepatite B
BCP
Basal Core Promoter - Promotor Basal do “core”
CTA
Centro de Testagem e Aconselhamento
CUT
Central Única dos Trabalhadores
CN
Controle Negativo
CP
Controle Positivo
DNA
Desoxyribonucleic Acid - Ácido desoxirribonucleico
DP
Desvio Padrão
EASL
European Association for the Study of the Liver – Associação
Européia de Estudos do Fígado
EIA ou ELISA
Enzyme immunoassay ou Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay– Ensaio imunoenzimático
ESF
Estratégia de Saúde da Família
FETAGRI
Federação dos Trabalhadores na Agricultura
HBV
Vírus da Hepatite B
HBcAg
Proteína do Core do Vírus da Hepatite B
HBeAg
Proteína “e”do Vírus da Hepatite B
HBsAg
Antígeno de Superfície do Vírus da Hepatite B
HRPO
Horseradish peroxidade - Peroxidase de Rábano
IC 95%
Intervalo de Confiança de 95%
IgG
Imunoglobulina fração G
IGHAHB
Imunoglobulina Humana Anti-hepatite B
IgM
Imunoglobulina fração M
IFNά
Interferon ά
INCRA
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Kb
Kilo bases
MEIA
Ensaio Imunoenzimático de Micropartículas
MST
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra
ORF
Open Reading Frame – Sequencia Aberta de Leitura
OR
Odds Ratio – Estimativa de Chance
PCR
Polymerase Chain Reaction - Reação em cadeia pela
polimerase
PEG-INF
Pegylated interferon - Interferon peguilado
RNAse H
Ribonuclease H
SH
Serum Hepatitis - Hepatite Sérica
TMA
Transcription-Mediated Amplification - Amplificação mediada
pela transcrição
TMB
Tetrametilbenzidina
VRHB-IB
Vacina recombinante contra a Hepatite B
WHO
World Health Organization - Organização Mundial de Saúde
RESUMO
A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é ainda hoje responsável pelo maior
número de casos em todo mundo de doença hepática crônica e suas seqüelas:
cirrose e carcinoma hepatocelular. No Brasil, um país considerado de baixa
endemicidade para hepatite B, a maioria das informações sobre esta infecção tem
se limitado a populações urbanas. Dados sobre a epidemiologia da hepatite B em
populações rurais são raros. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar o perfil
epidemiológico da infecção pelo vírus da hepatite B em indivíduos assentados do
Assentamento Itamarati I, Mato Grosso do Sul. Inicialmente, realizou-se um estudo
transversal, e a seguir, formou-se uma coorte de indivíduos suscetíveis ao HBV para
vacinação contra hepatite B e avaliação da resposta vacinal. Os participantes foram
recrutados por meio de sorteio aleatório simples de suas famílias. Em cada domicílio
foram entrevistados todos os membros da família com idade ≥ dois anos que
concordaram em participar do estudo mediante a assinatura do Termo de
Consentimento Livre Esclarecido. Em seguida foram coletados 10 mL de sangue,
para a detecção dos marcadores sorológicos do HBV: HBsAg, anti-HBs e anti-HBc
Total, utilizando-se kits comerciais. As amostras HBsAg reagentes foram retestadas
para os marcadores HBeAg e anti-HBe. A vacina contra hepatite B foi oferecida aos
indivíduos identificados como suscetíveis para hepatite B, e a detecção quantitativa
do anti-HBs foi realizada após a terceira dose da vacina. Para o processamento e
análise dos dados, foi empregado o pacote estatístico SPSS for Windows versão
15.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul – UFMS. Do total de participantes, 54,4% era do sexo feminino. A
maioria possuía até 40 anos de idade (59,7%), casada/união consensual (62,7%) e
se auto-declarou de cor branca (78,3%). Os marcadores sorológicos da infecção
pelo HBV foram identificados em 110 assentados, resultando em uma prevalência
global de 24,1% (IC 95%: 20,4 - 28,2). Doze indivíduos (2,6%) foram HBsAg
positivos. Em 139 assentados (30,5%) detectou-se apenas o anti-HBs, sugerindo
vacinação prévia. A análise de regressão múltipla revelou que idade, movimentos
sociais e compartilhamento de objetos de higiene pessoal foram independentemente
associados ao HBV. Entre as amostras reagentes para o HBsAg, o HBV DNA foi
detectado em quatro, sendo identificado os genótipos D (3/4) e A (1/4). Dos 207
indivíduos identificados como susceptíveis a hepatite, 84 receberam a primeira dose
da vacina e apenas 44 completaram o esquema vacinal. Destes 28 (63,6%)
realizaram o anti-HBs quantitativo, dos quais 57,1% foram respondedores a vacina.
Os resultados deste estudo evidenciam uma elevada prevalência para hepatite B
nos assentados estudados, comparados a população urbana do Centro-Oeste, e
dificuldades para a vacinação contra a hepatite B nesta população; sinalizando,
assim, a necessidade da articulação entre serviços agrários e de saúde com
lideranças de movimentos sociais de assentados para a criação e implantação de
estratégias de saúde específicas para essa fatia da população rural brasileira.
ABSTRACT
Hepatitis B virus (HBV) infection has been responsible for the largest number of
chronic hepatitis illness throughout the world as well as its sequelae: cirrhosis and
hepatocellular carcinoma. In Brazil, a low endemic country for hepatitis B, the most of
the information on this infection has been limited to urban populations. Data about
hepatitis B epidemiology in rural settlement are rare. Thus, the aim of this study was
to investigate the epidemiological profile of hepatitis B virus infection in individuals
living in a rural settlement (Itamarati I) from Mato Grosso do Sul, Brazil. Initially a
cross-sectional study was carried out. Then HBV susceptible individuals were
vaccinated against HBV and their vaccine response were evaluated. Participants
were recruited following a random selection of their families. All family member aged
≥ 2 years who agreed to take part into the study was recruited by signing an
Informed Consent Form. Then, 10-ml-blood sample was taken for detecting HBV
markers: HBsAg, anti-HBs and total anti-HBc by using commercial kits. HBsAg
positive samples were retested for HBeAg and anti-Hbe markers. Hepatitis B
vaccine was offered to all individuals who were identified as susceptible to infection,
and quantitative detection of anti-HBs was measured after the third vaccine dose.
Statistical Package for the Social Sciences – SPSS for Window 15.0 was used for
processing and analyzing data. The present project was approved by the Ethics
Committee from Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Of all
participants, 54.4% were female. The majority (59.7%) were up to 40 years old,
62.7% were married and 78.3% self-declared white. Serological markers of HBV
infection were identified in 110 settlers, resulting in an overall prevalence of 24.1%
(95% CI: 20.4 to 28.2). Twelve subjects (2.6%) were HBsAg-positive. In 139 (30.5%)
individuals were detected only anti-HBs, suggesting previous vaccination. Multiple
regression analysis showed that age, social movements and sharing personal
hygiene objects were independently associated to HBV. HBV DNA was found in four
samples, being classified as genotypes D (3/4) and A (1/4). From those 207
individuals identified as susceptible to HBV infection, 84 received the first vaccine
dose, but only 44 complied with the full vaccine regimen. In 28 of them (63.6%)
vaccine response was evaluated, and 57.1% showed protective anti-HBs titers. The
results of the present study show a high prevalence of hepatitis B in the settlers
studied, compared to the urban population in the Midwest Region, and difficulties for
vaccination against hepatitis B in this population. These findings ratify the need of the
relationship between agricultural and health services and leaders of social
movements of settlers for the creation and implementation of health strategies
specific to this slice of rural Brazil.
RESUMEN
La infección por el virus de la hepatitis B (HBV) es aún hoy responsable por mayor
número de casos en todo el mundo de enfermedad hepática crónica y sus secuelas:
cirrosis y carcinoma hepatocelular. En Brasil, un país considerado de baja
endemicidad para hepatitis B, la mayoria de las informaciones sobre esta infección
se ha limitado a las poblaciones urbanas. Datos sobre la epidemiología de la
hepatitis B en poblaciones rurales son raros. Así, el objetivo de este estudio fue
investigar el perfil epidemiológico de la infección por el virus de la hepatitis B en
individuos asentados del Asentamiento Itamarati I, Mato Grosso do Sul. Inicialmente,
se realizó un estudio transversal, y en seguida, se formó um grupo de individuos
susceptibles al HBV para vacunación contra la hepatitis B y evaluación de la
respuesta vacunal. Los participantes fueron elegidos por medio de sorteo aleatorio
simple de sus familias. En cada domicilio fueron entrevistados todos los miembros
de la familia com edad ≥ de dos años que concordaron en participar del estudio
mediante la asignatura del Término de Consentimiento Libre Esclarecido. En
seguida fueron colectados 10 mL de sangre, para la detección de los marcadores
sorológicos del HBV: HBsAg, anti-HBs y anti-HBc Total, utilizandose kits
comerciales. Las muestras HBsAg reagentes fueron nuevamente testadas para los
marcadores HBeAg y anti-HBe. La vacuna contra hepatitis B fue ofrecida a los
individuos identificados como susceptibles para hepatitis B, y la detección
cuantitativa del anti-HBs fue realizada después de la tercera dosis de la vacuna.
Para el procesamiento y análisis de los datos, fue empregado el paquete estadístico
SPSS for Windows versión 15.0. El proyecto fue aprovado por el Comité de Ética de
la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Del total de participantes,
54,4% era del sexo femenino. La mayoria tenía hasta 40 anos de edad (59,7%),
casada/unión consensual (62,7%) y se auto-declaró de color blanca (78,3%). Los
marcadores sorológicos de la infección por el HBV fueron identificados en 110
asentados, resultando en una prevalencia global de 24,1% (IC 95%: 20,4 - 28,2).
Doce individuos (2,6%) fueron HBsAg positivos. En 139 asentados (30,5%) se
detectó apenas el anti-HBs, sugeriendo vacunación previa. El análisis de regresión
múltipla reveló que edad, movimientos sociales y el hecho de compartir objetos de
higiene personal fueron independentemente asociados al HBV. Entre las muestras
reagentes para el HBsAg, el HBV DNA fue detectado en cuatro, siendo identificados
los genótipos D (3/4) y A (1/4). De los 207 individuos identificados como susceptibles
a hepatitis, 84 ricibieron la primera dosis de la vacuna y apenas 44 completaron el
esquema vacunal. De estes 28 (63,6%) realizaron el anti-HBs cuantitativo, de los
cuales 57,1% obtuvieron respuestas a la vacuna. Los resultados de este estudio
evidencian una elevada prevalencia para la hepatitis B en los asentados estudiados,
comparados a la población urbana del Centro-Oeste, y dificultades para la
vacunación contra la hepatitis B en esta población; sinalizando, así, la necesidad de
la articulación entre servicios agrarios y de salud con liderazgos de movimientos
sociales de asentados para la creación e implantación de estrategias de salud
específicas para esa porción de la población rural brasileña.
16
1 INTRODUÇÃO
A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) apresenta-se ainda hoje como um
dos mais relevantes problemas de saúde pública, sendo responsável pelo maior
número de casos em todo mundo de doença hepática crônica e suas sequelas:
cirrose e carcinoma hepatocelular (LIAW, CHU, 2009; KNOW, LEE, 2011; FRANCO,
et al., 2012).
No Brasil, dados do último inquérito de base populacional realizado no
conjunto das capitais brasileiras estimaram que 1% da população é portadora do
vírus da hepatite B (PEREIRA, et al., 2010). No entanto, esta estimativa pode não
representar a população rural do país, uma vez que os estudos existentes têm
mostrado, em geral, taxas de prevalência maiores do que as encontradas nas
capitais (de PAULA, et al., 2001; MOTTA-CASTRO, et al., 2003; 2005; FERREIRA
A, et al., 2006; NUNES, et al., 2007; BIGATON, 2009; KATSURAGAWA, et al.,
2010).
A população rural brasileira é composta por diferentes grupos, incluindo
trabalhadores rurais assalariados; remanescentes de quilombos, de reservas
indígenas e extrativistas; populações ribeirinhas, de povoados e vilas; e ainda
indivíduos sem terra, vivendo em acampamentos ou já assentados (PINHEIRO, et
al., 2004). Os últimos representam uma população nova, emergente, que difere das
anteriores
por
serem
marcados
por
diversidades
de
origens,
trajetórias,
expectativas, representações e culturas (SCOPINHO, 2009). Informações sobre as
condições de saúde desta população ainda são poucas. Considerando a infecção
pelo HBV, os dados são praticamente inexistentes, restringindo-se a um surto em
assentados no Mato Grosso (SOUTO et al., 1998; 2004 ).
1.1 O Vírus da Hepatite B
A descoberta do vírus da hepatite B teve como ponto de partida a
identificação, por Baruch Blumberg, de um antígeno no soro de um aborígene
australiano que reagia com soro de hemofílicos politransfundidos, denominado,
inicialmente, como antígeno Austrália (BLUMBERG, ALTER, VISNICH, 1965).
Posteriormente, Alfred Prince relacionou este antígeno com hepatite, denominandoo antígeno SH (hepatite sérica) (PRINCE, 1968), e Bayer et al. (1968) identificaram
por microscopia eletrônica duas formas deste antígeno: partículas esféricas de 22
17
nm de diâmetro e tubulares de 22 nm de largura por 150 nm de comprimento (Figura
1). Em 1970, Dane et al. (1970) detectaram uma terceira partícula, com
aproximadamente 42 nm de diâmetro, em soros positivos para o antígeno Austrália,
identificando, assim, a partícula completa do vírus da hepatite B.
Sub-partículas
Particula
completa
Figura 1. Partículas Virais e Sub-partículas do HBV
Fonte: http://www.sciencephoto.com/media/249534/view
O HBV pertence à família Hepadnaviridae, gênero Orthohepadnavirus (ICTV,
2012). O vírion é formado externamente por um envelope composto por uma mistura
de três glicoproteínas, denominadas coletivamente como HBsAg (antígeno de
superfície do HBV), e internamente por um nucleocapsídeo icosaédrico, composto
pela proteína do core, que contem o genoma viral (Figura 2) (BOWDEN, 2006;
BRUSS, 2007; LIANG, 2009; KAO, 2011).
O genoma do HBV é formado por uma fita de DNA circular, parcialmente
dupla, com aproximadamente 3,2 Kilobases (Kb). A fita de polaridade negativa está
ligada covalentemente em sua extremidade 5’ à proteína terminal. Já a fita de
polaridade positiva é incompleta e, seu tamanho varia de 50 a 100% em relação ao
tamanho da fita negativa (Figura 3) (LIANG, 2009; PATIENT, et al., 2009). O DNA do
HBV possui quatro regiões de leitura aberta (Open Reading Frame - ORFs)
denominadas Pré-S/S, Pré-Core/Core, Pol e X, que codificam as proteínas virais
estruturais e não estruturais. Essas regiões se sobrepõem, aumentando, assim, a
capacidade de síntese protéica do vírion (BRUSS, 2007; LIANG, 2009; DANDRI,
LOCARNINI, 2012; LAPINSKI, POGORZELSKA, FLISIAK, 2012).
18
Figura 2. Esquema geral do Vírus da Hepatite B
Fonte: Adaptado de Perkins 2002
A Região Pré-S/S é dividida estruturalmente e funcionalmente em Pré-S1,
Pré-S2 e S e codifica as proteínas do envelope: L (Large- grande), M (Middlemédia), S (Small-pequena), respectivamente, pelo uso alternativo de três códons de
iniciação (GLEBE, URBAN, 2007; LIANG, 2009). A proteína L, com cerca de 400
aminoácidos (aa), é codificada pelas sequências Pré-S1, Pré-S2 e S e exerce um
papel importante na ligação do HBV a receptores específicos no hepatócito, bem
como na montagem e na liberação do vírion da célula hospedeira (GLEBE, URBAN,
2007; BRUSS 2007; LOCARNINI, ZOULIM, 2010). A proteína M, com 281
aminoácidos, é codificada pelas regiões Pré-S2 e S. Sua função ainda não foi
esclarecida, mas sabe-se que sua ausência não interfere na formação do vírus, e
nem impede a infecciosidade viral (GLEBE 2007; GLEBE, URBAN, 2007). Por fim, a
proteína S ou HBsAg, codificada pela região S, possui 266 aa. Nela, se encontram
epítopos específicos, alvos primário da neutralização viral conferida pela resposta
imune do hospedeiro (BRUSS, 2007; MICHEL, TIOLLAIS, 2010).
A Região Pré-Core/Core codifica as proteínas e (HBeAg) e core (HBcAg). A
primeira é um antígeno solúvel, e sua presença no soro de indivíduos infectados
indica replicação viral elevada (LIANG, 2009). Esse antígeno tem sido relacionado à
tolerância imune e persistência da infecção (LIANG, 2009; DANDRI, LOCARNINI,
19
2012). Já o HBcAg é encontrado no citoplasma e núcleo dos hepatócitos infectados.
Essa proteína forma o capsídeo viral e possui um agrupamento altamente básico de
aminoácidos em sua porção C-terminal com atividade de ligação ao RNA prégenomico. Além disso, desempenha importante função na replicação do HBV e na
indução de formação de anticorpos anti-HBc independente de células T (LIANG,
2009).
A Região Pol corresponde a aproximadamente três quartos do genoma do
HBV e codifica uma enzima viral multifuncional com aproximadamente 800
aminoácidos dividida em quatro domínios (LIANG, 2009): (I) proteína terminal ou
primase, que atua na encapsidação e início da síntese da fita menor do DNA; (II)
transcriptase reversa, que atua na síntese do genoma, (III) ribonuclease H (RNAse
H), que degrada o RNA pré-genômico e facilita a replicação viral (LIANG, 2009;
LAPINSKI, POGORZELSKA, FLISIAK., 2012); (IV) região espaçadora, localizada
entre os domínios da proteína terminal e da transcriptase reversa (NGUYEN,
LUDGATE, HU, 2008).
Por fim, o gene X codifica um polipeptídeo, com aproximadamente 154
aminoácidos, detectado apenas nos hepatócitos infectados (HBxAg) (ZHANG,
ZHANG, YE, 2006; LIANG, 2009). O antígeno X é uma proteína multifuncional com
atividade transativadora transcricional em vários promotores virais e celulares
(MICHIELSEN et al., 2005; BARBINI, et al., 2012; KEW, 2011). Estudos em células
primárias de hepatócitos humanos têm mostrado que a proteína X é essencial para o
início e manutenção da replicação viral e importante regulador do desenvolvimento
da infecção natural da hepatite B (LUCIFORA, et al., 2011; GEARHART,
BOUCHARD, 2011). Essa proteína tem sido associada ao desenvolvimento de
carcinoma hepático em portadores crônicos do HBV (ZHANG, ZHANG, YE, 2006;
ZHU, et al., 2007; MARTIN-VILCHEZ, et al., 2011; BARBINI, et al., 2012; XU, et al.,
2013).
20
Figura 3. Esquema do genoma do HBV.
Fonte: SEEGER, MASON, 2000
1.1.1 Variabilidade do HBV
A elevada taxa de turn over do HBV e a existência de uma polimerase viral
propensa a erros favorecem a ocorrência de inserções e substituições de
nucleotídeos durante a replicação viral, resultando na variabilidade genômica do
HBV (HARISSON, 2006; LOCARNINI, YUEN, 2010; LAPINSKI, POGORZELSKA,
FLISIAK, 2012).
Após a identificação do HBV, verificou-se que o HBsAg apresentava
variações antigênicas (LE BOUVIER, 1972; BANCROFT, MUNDON, RUSSELL,
1972). Essas variações permitiram a classificação do HBV em subtipos sorológicos,
denominados de ayw1-4, ayr, adw2, adw4, adrq+ e adrq- (COUROCÉ et al., 1976;
COUROCÉ-PAUTY et al., 1978; COUROCÉ-PAUTY, et al., 1983). Com o
desenvolvimento de técnicas moleculares, foi possível a classificação genética do
HBV. Assim, baseados na divergência de 8% ou mais na seqüência completa do
genoma, ou de 4% na seqüência do gene S, oito grupos genômicos foram descritos,
sendo denominados pelas letras do alfabeto de A-H (NORDER, COUROCE,
MAGNUS, 1992; NORDER et al., 1994; STUYVER et al., 2000; ARAUZ-RUIZ et al.,
2002). Dois novos genótipos têm sido propostos, denominados I e J (OLINGER et
al., 2008; HUY et al, 2008; YU et al., 2010; TATEMATSU et al., 2009; LIN, KAO,
21
2011). Também, variações intragenotípicas de, no mínimo, 4% da sequencia
completa de nucleotídeos têm permitido a classificação do HBV em subgenótipos
(Figura 4) (KRAMVIS, KEW, FRANCOIS, 2005; ARAUJO et al., 2011).
Figura 4. Dendograma baseado nos 79 genomas completos representativos dos genótipos
do HBV incluindo os dois novos genótipos I e J.
Fonte: Araujo et al., 2011.
A distribuição dos grupos genômicos do HBV difere de acordo com a região
geográfica. Os genótipos A, B, C e D são encontrados em todo o mundo, com
distribuição variável. O genótipo A predomina na América do Norte, noroeste da
Europa,
Índia e
África subsaariana
(KRAMVIS;
KEW; FRANÇOIS, 2005;
SCHAEFER, 2007). O genótipo B é freqüente na Indonésia, China, Japão, Vietnã,
Alaska, norte do Canadá e Groelândia, e o C na Ásia Ocidental (SCHAEFER, 2007;
OLINGER et al., 2008; LIN, KAO, 2011). O genótipo D é encontrado em todo o
mundo, mas o genótipo E tem sido restrito a África. Os genótipos F e H foram
encontrados em populações das Américas Central e do Sul, sendo que o genótipo F
parece ser de origem indígena. Já o genótipo G tem sido identificado nos Estados
Unidos e em alguns países da Europa como a França, Alemanha e Reino Unido,
22
(STUYVER
et
al.,
2000;
CAMPOS,
LEONE,
PINHEIRO,
2005;
KURBANOV,TANAKA, MIZOKAMI, 2010). Por fim, os genótipos recentemente
identificados I e J só foram encontrados, até o momento, em países orientais
(Vietnã, Laos e Japão) (OLINGER et al., 2008; HUY, NGOC, ABE, 2008;
TATEMATSU et al., 2009).
No Brasil, estudos mostram a circulação dos genótipos A, B, C, D, F e G,
sendo os tipos A, D e F os mais frequentes (TELES et al., 2002; CONDE et al.,
2004; MOTTA-CASTRO et al., 2005; MELLO et al., 2007; BOTTECCHIA, et al.,
2008; PEREIRA, et al, 2009; AlCALDE, et al., 2009; SANTOS et al., 2010;
BECKERT, et al., 2010; DIAS et al., 2012). Em relação aos subgenótipos, o A1 é o
mais prevalente no País (MOTTA-CASTRO et al., 2008; MATOS et al., 2009;
SANTOS, et al., 2010; ALVARADO-MORA, et al., 2011).
Alterações no genoma viral são frequentemente encontradas nos estágios
avançados da infecção persistente (HARRISON, 2006). Essas mutações podem
ocorrer ainda pela pressão de fatores endógenos (viral ou do hospedeiro) e de
fatores exógenos como o tratamento com antivirais e imunização prévia (DEVESA,
PUJOL, 2007).
A substituição da glicina pela arginina no resíduo 145 (G145R), na região S,
além de ser a mais frequente, representa a primeira mutação descrita relacionada ao
escape da resposta vacinal (LOCARNINI, 2004; LOCARNINI, ZOULIM, 2010). Na
região Pré-Core, a mutação mais comum é a troca da guanina pela adenina no
nucleotídeo 1896 (G1896A), criando um códon de parada prematuro que impede o
fim do processo de tradução e consequentemente a produção do antígeno e (BUTI,
et al., 2005; HARRISON, 2006; POORDAD, CHEE, 2010).
Outra mutação frequente, que reduz a produção do HBeAg, ocorre na região
do promotor basal do core (BCP) envolvendo duas substituições de nucleotídeos
(A1761T e G1764A)
(HARISSON, 2006; BAUMERT, THIMME, WEUZSACKER,
2007).
Mutações no gene da polimerase viral estão relacionadas ao tratamento com
antivirais análogos de nucleotídeos e nucleosídeos com surgimento de resistência
aos mesmos (LOCARININI, 2004; DÉNY, ZOULIM, 2010). Dentre elas, as mais
comuns são as mutações no motif YMDD (tirosina-metionina-aspartato-aspartato) do
domínio C ou catalítico da polimerase viral encontradas em pacientes em tratamento
23
com lamivudina (LOCARININI, 2004; GONÇALES, GONÇALES JR, 2006;
LOCARININI, ZOULIM, 2010).
1.2 Epidemiologia da Infecção pelo Vírus da Hepatite B
O HBV é transmitido por via vertical/perinatal, horizontal/intrafamiliar,
parenteral e sexual (CDC, 2007; KWON, LEE, 2011). Dessa forma, existem grupos
em maior risco de aquisição de infecção pelo HBV, tais como: crianças nascidas de
mães portadoras do vírus (DWIVEDI, et al., 2011), pessoas que convivem com
portadores de hepatite B crônica (THAKUR, et al., 2003; GUPTA, et al., 2008;
KUMAR, et al., 2009; BARROS, et al., 2013), hemofílicos (TAVARES, et al., 2004;
BORHONY et al., 2011), hemodialisados (FERREIRA,RC et al., 2006), profissionais
de saúde (LOPES, et al., 2001; BATISTA et al., 2006; ATTAULLAH, et al., 2011) e
usuários de drogas ilícitas (FERREIRA RC, et al., 2009), e ainda indivíduos que
possuem múltiplos parceiros sexuais e mantêm relações sexuais desprotegidas,
como profissionais do sexo (FORBI, et al., 2008; TODD, et al., 2010) e homens que
fazem sexo com homens (DIAMOND, et al., 2003; TSENG et al., 2012).
A hepatite B é uma das infecções virais mais prevalentes, e a primeira virose
relacionada ao desenvolvimento de câncer (KEW, 2010). Globalmente, cerca de dois
bilhões de pessoas já foram infectadas pelo HBV e ocorrem em torno de 600.000
mortes por ano decorrentes dessa infecção (WHO, 2012a). Atualmente, estima-se
em 240 milhões o número de portadores crônicos do HBV (OTT, et al., 2012).
Recentemente, uma revisão sistemática sobre a epidemiologia da hepatite B
no mundo mostrou mudanças na distribuição dessa infecção, considerando as faixas
etárias de 5-9 anos e 19-49 anos (OTT et al., 2012).
De acordo com este estudo,
independente da faixa etária, a prevalência dessa infecção se mantém elevada em
países do oeste da África Subsaariana (HBsAg ≥ 8%), mas intermediária a alta (57% para HBsAg) em países das regiões sul, central e leste da África, e baixa a
intermediária (2-4%) em países do norte deste continente e do Oriente Médio. No
continente americano, de maneira geral, entre adultos de 19 a 45 anos, a
prevalência se mantém baixa nas Américas do Norte e Central, e baixa a
intermediária em países do oeste da América do Sul como Argentina, Peru e
Equador. Já na faixa etária de 5-9 anos, a prevalência se mantém intermediária a
alta na Bolívia e Peru (Figuras 5, 6).
24
Prevalência da Infecção Pelo Vírus da Hepatite B em adultos de 19 – 49 anos, 2005
< 2 baixa
2-4% baixa-intermediária
5-7% intermediária - alta
≥ 8 % alta
Não se aplica
Figura 5 – Mapa da Prevalência Mundial da Infecção Crônica pelo Vírus da Hepatite B em
Adultos, 2005.
Fonte: Modificado de Ott, et al., 2012
Prevalência da Infecção pelo Vírus da Hepatite B em crianças, 5-9 anos,
< 2% baixa
2-4% baixa-intermediária
5-7% intermediária - alta
≥8% alta
Não se aplica
Figura 6 - Mapa da Prevalência Mundial da Infecção Crônica pelo Vírus da Hepatite B em
Crianças, 2005.
Fonte: Modificado de Ott, et al., 2012
No Brasil, de acordo com o Boletim Epidemiológico Hepatites Virais 2012,
entre o período de 1999 a 2011, foram confirmados 120.343 casos de hepatite B,
sendo a Região Centro-Oeste responsável por aproximadamente 9,5% desses
casos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Já um estudo de base populacional,
realizado nas capitais do Brasil em indivíduos de 10 a 69 anos, estimou uma
25
prevalência global para hepatite B de 7,4%, evidenciando o País como de baixa
endemicidade para essa infecção (PEREIRA, et al., 2010).
Por outro lado, investigações realizadas em diferentes populações rurais têm
mostrado taxas de positividade para os marcadores do HBV, variando de 1,1% a
79,1% para o anti-HBc em ribeirinhos do Pará (OLIVEIRA, et al., 2011) e
comunidades rurais da Amazônia (CASTILHO, et al., 2012) respectivamente. Quanto
ao HBsAg, a positividade variou de 0,1% em uma comunidade rural do Estado de
São Paulo (PASSOS, et al., 1992) a 10,2% em comunidades rurais da Amazônia
(CASTILHO, et al., 2012) (Quadro 1).
26
Quadro 1. Estudos de prevalência da infecção pelo vírus da hepatite B realizados
em diferentes populações rurais do Brasil
Referência
Ano do
População/Local
estudo
Passos et al. 1992
1986/1990
Azevedo et al. 1996
----------
Coimbra Jr et al. 1996
1990
Grupo etário
n
(Crianças/Adulto)
Prevalência (%)
HBsAg
anti-HBc
Rural / SP
Crianças e adultos
1951
0,1
Indígena / MT
Crianças < 15 anos
222
4,5
44,1
Mulheres
33
1,2
-------
Crianças e adultos
217♂
2,8
77,7
230♀
1,3
73,8
Indígena / AM
Indígena / RO
7,6
Ferrari et al. 1999
1994
Crianças e adultos
119
3,4
35,3
Souto et al. 1997
---------
Pantaneiros / MT
Indivíduos > 9 anos
740
1,2
22,8
Souto et al. 1998
1995
Assentados / MT
Indivíduos > 2 anos
374
10,4
75,1
De Paula et al. 2001
1997
Ribeirinha / Ac
Crianças e adultos
349
5,2
66,2
Braga et al.,2001
--------
Indígena / AM
Crianças e adultos
688
9,7
54,5
Souto et al. 2001
1999
Rural e Urbana /
Crianças e adultos
754
3,0
31,0
Indígena / MS
Crianças e adultos
312
00
2,20
260
9,2
27,3
MT
Aguiar et al. 2002
Motta-Castro
et
1999
al.
1999/2000
Quilombola / MS
Crianças e adultos
2001
Assentada/ MG
Indivíduos > 2 anos
838
2,1
40,0
al.
2002/2003
Quilombola/ MS
Crianças e adultos
1058
2,2
19,8
2003
Souto et al. 2004
Motta-Castro
et
2005
Braga et al. 2005
-----------
Rural / BA
605
3,3
49,9
Ferreira et al. 2006
-----------
Indígena / PA
Indivíduos > 1 ano
214
____
15,42
Almeida et al. 2006
1999
Rural e Urbana /
Crianças e adultos
1476
2,6
9,3
BA
Nunes et al. 2007
2003/2005
Matos et al. 2009
Katsuragua
et
2004
al.
2004/2005
Indígena / MG
Crianças e adultos
258
3,9
53,5
Kalunga / GO
Crianças e adultos
878
1,8
35,4
Ribeirinha / RO
Crianças e adultos
431
6,7
44,5
Ribeirinha / PA
Indivíduos ≥ 18 anos
181
____
1,1
Crianças e adultos
225
10,2
79,1
2010
Oliveira et al. 2011
2010
Castilho et al. 2012
----------
Rural / AM
Na Região Centro-Oeste, o Inquérito Nacional estimou uma prevalência
global para o HBV de 5,3% para o conjunto de três capitais (Cuiabá, Goiânia e
Campo Grande) (PEREIRA et al., 2009). Contudo, Bigaton (2009) encontrou uma
positividade de 36,5% em comunidades ribeirinhas do Mato Grosso do Sul; MottaCastro et al. (2008) e Matos et al. (2009) relataram prevalências de 42,4% e 35,4%
em afrodescendentes de comunidades isoladas do Mato Grosso do Sul e Goiás,
respectivamente e, ainda, Souto et al. (1997) evidenciaram uma prevalência de
22,8% em pantaneiros do Mato Grosso.
Já, em relação à população assentada, os dois estudos existentes, referemse a pequenos assentamentos rurais do município de Cotriguaçú, Mato Grosso.
27
Nesses, em 1995, a investigação de um surto de hepatite B, identificou uma
prevalência de 75,1% para essa infecção (SOUTO et al., 1998). No ano de 2001, um
novo estudo epidemiológico desenvolvido na mesma área estimou uma prevalência
de 40% para o HBV (SOUTO et al., 2004).
1.3 Aspectos Clínicos da Infecção pelo HBV
O período de incubação da hepatite B varia de 45 a 180 dias (LIAW, CHU,
2009), sendo que 60% a 80% dos casos de doença aguda são assintomáticos ou
apresentam quadro subclínico, com aumento sérico das aminotransferases e
elevados níveis de HBV-DNA e HBsAg (DÉNY, ZOULIM, 2010). Nos indivíduos que
desenvolvem doença clínica, os sintomas mais frequentes são fadiga, náuseas, dor
abdominal e, em alguns casos, icterícia (LIANG, 2009).
A hepatite fulminante ocorre em 1% dos casos de infecção pelo HBV, sendo
uma forma grave da doença aguda; caracterizada por evolução rápida para
insuficiência hepática com desenvolvimento de icterícia, febre, dor abdominal,
desorientação, confusão mental, encefalopatia e coma (LIANG, 2009; DÉNY,
ZOULIM, 2010). A persistência do HBsAg por mais de seis meses sugere evolução
para infecção crônica pelo HBV (ASPINALL, et al., 2011).
A infecção pelo HBV é responsável pelo desenvolvimento de doença
hepática necroinflamatória com níveis variáveis de gravidade e complicações. Casos
de infecção persistente por esse vírus são associados ao desenvolvimento de
doença
hepática
crônica,
podendo
levar
ao
aparecimento
de
cirrose
e
hepatocarcinoma (HCC) (CHISARI, ISOGAWA, WIELAND, 2010).
O desfecho da infecção aguda e a evolução para doença hepática crônica
são determinados pela idade do paciente e o sistema imune no período da infecção
(TRAN, 2011). Cerca de 90% dos recém-nascidos de mães HBeAg positivas
(transmissão vertical) apresentam risco para o desenvolvimento de infecção crônica.
Contudo, esse risco diminui para < 15% em recém-nascidos de mães HBeAg
negativas. Já quando a infecção ocorre em indivíduos acima de 10 anos de idade, o
risco varia entre 7 a 14% (McMAHON, 2010).
De acordo com a Associação Européia para Estudos do Fígado – EASL
(2012), a história natural da infecção crônica pelo HBV pode ser classificada em
cinco fases: fase de Imunotolerância, fase imune reativa HBeAg positiva, fase de
28
portador inativo, fase de portador de hepatite B crônica HBeAg negativa e fase de
portador HBsAg negativo.
Na fase de imunotolerância, ocorre elevada replicação viral sem evidências
de agressão hepatocelular. O sistema imunológico é induzido a tolerar a replicação
viral (McMAHON, 2010). Os níveis das aminotransferases séricas estão baixos ou
normais, sendo observada pouca atividade necroinflamatória. Esta fase ocorre
predominantemente em pessoas que foram expostas ao vírus ao nascer
(transmissão perinatal), sobretudo recém-nascidos de mães HBeAg reagentes e,
ainda, em pessoas infectadas pelo genótipo C (LIAW, CHU, 2009; McMAHON, 2010;
EASL 2012).
A fase imune reativa HBeAg positiva é caracterizada pelo início do
reconhecimento do vírus pelo sistema imune do hospedeiro e agressão ao
hepatócito infectado, levando ao aumento das aminotransferases. Embora menor do
que na fase anterior, os níveis do HBV DNA permanecem elevados, e ainda há
evidências de lesões hepáticas na biópsia (McMAHON, 2009; 2010). Esta fase pode
ocorrer após vários anos de tolerância imune, sendo mais freqüente em indivíduos
infectados na idade adulta (EASL 2012).
O estado de portador inativo ou fase imunoativa é caracterizada por baixos
níveis de replicação viral (níveis baixos ou indetectáveis de HBV DNA no soro,
normalização
das
aminotransferases
e
soroconversão
HBeAg/anti-HBe)
(HOOFNAGLE, et al., 2007; LIAW, CHU, 2009; McMAHON, 2010). O estado de
portador inativo favorece o paciente, que, em geral, apresenta baixo risco de
evolução para cirrose e carcinoma hepatocelular (EASL, 2012).
Hepatite B crônica HBeAg negativa é encontrada em indivíduos que
soroconvertem para o anti-HBe durante a fase imune reativa, ou após anos ou
décadas do estado de portador inativo. Representa uma fase imune reativa tardia na
história natural da infecção pelo HBV, sendo caracterizada por reativação periódica,
flutuação nos níveis de HBV DNA e aminotransferases e hepatite ativa. Pacientes
que apresentam esta forma de hepatite B crônica albergam virions com mutações
nas regiões Pré-Core e/ou promotora basal do core, com risco elevado de
progressão para fibrose hepática, cirrose e carcinoma hepático (EASL, 2012).
Na fase HBsAg negativa, observa-se baixo nível de replicação viral, com
HBV DNA detectável no fígado. Geralmente, o HBV DNA não é detectável no soro,
mas o anti-HBc com ou sem anti-HBs são detectáveis. Se a perda do HBsAg for
29
anterior ao surgimento da cirrose, o paciente terá um prognóstico favorável, risco
reduzido de evolução para cirrose, descompensação e carcinoma hepatocelular. Ao
contrário,
se
a
cirrose
já
se
desenvolveu
antes
da
perda
do
HBsAg
espontaneamente ou por tratamento, o risco de carcinoma hepatocelular se mantém,
e o paciente deve ser avaliado periódicamente (EASL, 2012).
1.4 Diagnóstico e Tratamento da Infecção pelo HBV
1.4.1 Diagnóstico Sorológico e Molecular
As hepatites virais, de maneira geral, compartilham algumas características
clínicas, que variam desde formas subclínicas à insuficiência hepática. Desta forma,
a avaliação clínica e laboratorial, com ênfase na bioquímica do soro, não são
parâmetros suficientes para a identificação do agente etiológico (MINISTÉRIO DA
SAÚDE 2008; 2010a).
Técnicas sorológicas como o ensaio imunoenzimático - EIA que detectam
antígenos (HBsAg e HBeAg) e anticorpos (anti-HBc, anti-HBs e anti-HBe), bem
como técnicas moleculares de pesquisas quantitativa e qualitativa do HBV-DNA são
fundamentais para a identificação do agente etiológico, confirmação da infecção pelo
HBV, indicação do tratamento e acompanhamento da terapêutica (VALSAMAKIS,
2007; CHEVALIEZ, PAWLOTSKY, 2008).
Na hepatite B aguda, o aparecimento do HBsAg no soro ocorre, geralmente,
antes do surgimento dos sintomas clínicos e alteração das aminotransferases, entre
6 a 10 semanas após a exposição. Junto ao HBsAg, observa-se também o
aparecimento do marcador HBeAg, que está associado a níveis elevados de HBV
DNA e alta infecciosidade. Este antígeno permanece detectável no soro por
aproximadamente três meses, quando então desaparece, surgindo o anticorpo antiHBe, que indica redução da viremia (CHEVALIEZ, PAWLOTSKY, 2008). Após o
desaparecimento do HBeAg, verifica-se o declínio do HBsAg, que torna-se
indetectável até seis meses do seu aparecimento. O surgimento do seu anticorpo
correspondente, anti-HBs, indica cura da infecção e imunidade contra novas
infecções (CHEVALIEZ, PAWLOTSKY, 2008; RODRÍGUES-FRIAS, JARDI, 2008).
O anti-HBc é o primeiro anticorpo detectado na hepatite B, e sua presença
indica infecção presente ou passada. A fração IgM do anti-HBc (anti-HBc IgM) está
presente em títulos elevados na infecção aguda, desaparecendo dentro de seis a 24
semanas do seu surgimento, sendo, portanto, um marcador de hepatite B aguda
30
(HATZAKIS, et al., 2006). O anti-HBc fração IgG é detectado por toda a vida do
indivíduo, indicando contato prévio com o vírus (CHEVALIEZ, PAWLOTSKY, 2008).
Os ensaios comerciais detectam o anti-HBc IgM e anti-HBc total, que inclui a fração
IgM e IgG. Assim, a detecção do anti-HBc IgG é inferida quando o anti-HBc total é
positivo e o anti-HBc IgM é negativo (RODRÍGUES-FRIAS, JARDI, 2008).
Indivíduos cronicamente infectados pelo HBV, normalmente, apresentam
positividade para o HBsAg e o anti-HBc. Dependendo da evolução da doença, os
marcadores HBeAg, anti-HBe e anti-HBc IgM podem ser detectados ou não
(VALSAMAKIS, 2007).
A detecção e quantificação do HBV DNA no sangue tem sido uma
ferramenta útil para elucidação do diagnóstico da hepatite B em pacientes que
apresentam perfis sorológicos atípicos, bem como para a monitoração da infecção e
do tratamento (SABLON, SHAPIRO, 2005; VALSAMAKIS, 2007).
Assim, baseados em técnicas de biologia molecular, os ensaios utilizados
para detecção qualitativa e quantitativa do HBV incluem técnicas de amplificação de
sinal (métodos de captura híbrida e de DNA ramificado) e amplificação alvo (reação
em cadeia pela polimerase - PCR e amplificação mediada pela transcrição - TMA)
(CHEVALIEZ, PAWLOTSKY, 2008). Ainda, métodos de amplificação alvo em tempo
real como Real time – PCR e Real time – TMA, vem sendo amplamente utilizados
tanto no campo da clínica, como no desenvolvimento de pesquisas. Esses métodos
aumentam a acurácia e especificidade dos resultados por permitirem a quantificação
do DNA viral durante a reação exponencial de amplificação e, por ser realizado em
sistema fechado, evitam contaminação (CHEVALIEZ, RODRIGUEZ, PAWLOTSKY,
2012).
1.4.2 Tratamento
O tratamento da infecção aguda pelo HBV limita-se a medicações
sintomáticas, levando em consideração o uso cauteloso e/ou restrito de drogas
hepatotóxicas, a necessidade de orientação quanto à dieta e repouso, bem como o
controle laboratorial com dosagem de aminotransferases, tempo de protrombina,
bilirrubina, fosfatase alcalina, proteínas totais e frações (WHO, 2008).
Já na infecção crônica, a indicação do tratamento antiviral é pautada nos
seguintes
critérios:
níveis
séricos
de
HBV DNA > 2000
IU/ml;
alanina
aminotrasferases acima do limite superior normal; e gravidade da lesão hepática,
31
avaliada por biópsia, mostrando atividade necroinflamatória moderada a grave ou
fibrose moderada (EASL, 2012). A meta da terapia antiviral é suprimir a replicação
viral e reduzir a atividade necroinflamatória para prevenção da progressão para
cirrose e carcinoma hepatocelular (TUJIOS, LEE, 2012).
Atualmente, o arsenal terapêutico para tratamento da hepatite B crônica
inclui os interferons (convencional e peguilado), os análogos de nucleosídeos
(lamivudina, telbivudina e entecavir) e os análogos de nucleotídeos (adefovir e
tenofovir) (EASL, 2012; KUO, GISH, 2012).
O interferon α (IFNα) foi o primeiro medicamento utilizado para o tratamento
da
hepatite
B
crônica,
possuindo
atividade
antiviral,
antiproliferativa
e
imunomoduladora (GISH, 2009; MARCELLIN, 2009; YUEN, LAI, 2011). Contudo,
pacientes em uso desse fármaco experimentam vários efeitos adversos como
cefaléia, febre baixa, fadiga, anorexia, depressão, alopecia, leucopenia e
plaquetopenia. Assim, nos últimos anos, o IFNα tem sido substituído pelo IFNα
peguilado (PEG-INF), que apresenta uma molécula de polietilenoglicol, conferindo
maior eficácia com menor evento adverso, quando comparado ao IFNα convencional
(MURRAY, et al., 2008; YUEN, LAI, 2011). As principais vantagens do uso do IFNα
convencional ou peguilado são a ausência de resistência e o controle do HBV
mediado pela resposta imune (DENY, ZOULIM, 2010).
A lamivudina foi o primeiro análogo de nucleosídeo utilizado no tratamento
da hepatite B crônica (YUEN, LAI, 2011; LAI, LIAW, 2010). Este medicamento atua
impedindo a replicação viral nos hepatócitos, reduzindo a carga viral de HBV DNA
no plasma em até 97% dos casos, em apenas duas semanas de tratamento.
Entretanto, apresenta uma importante limitação devido ao desenvolvimento de
resistência relacionada a mutações específica no gene da polimerase (MURRAY, et
al., 2008; MA et al., 2013).
O entecavir, pertencente ao subgrupo ciclopentano, foi licenciado em 2005.
Possui elevada capacidade de supressão viral e menor risco de desenvolver
resistência (TUJIOS, LEE, 2012). Aprovada em 2006, a telbivudina apresenta-se
mais potente que a lamivudina; entretanto, 25% dos pacientes HBeAg positivos e
11% dos HBeAg negativos tratados com este medicamento podem apresentar
resistência viral em dois anos de tratamento (YUEN, LAI, 2011).
O adefovir é um agente fosfonato acíclico, análogo da purina, com atividade
supressora do HBV relativamente fraca, mas capaz de inibir a replicação viral,
32
aumentando a atividade das células natural killer e a ação endógena do interferon.
Esse fármaco tem sido eficaz em portadores do vírus resistente a lamivudina e
telbivudina (MURRAY, et al., 2008). Já o tenofovir apresenta baixa toxicidade renal,
sendo eficaz em pacientes que albergam vírus resistentes a lamivudina (YUEN, LAI,
2011).
No Brasil, a Portaria 2.561 de 29 de outubro de 2009, que estabelece o
protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas para hepatite viral crônica B e
coinfecções preconiza o uso de seis destes agentes antivirais: IFNα, IFNα peguilado,
lamivudina, entecavir, adefovir e tenofovir (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009b).
1.5 Prevenção da Hepatite B
Muitas estratégias de prevenção da infecção pelo HBV têm sido propostas, e
reduzido a transmissão deste agente. No Brasil, a triagem sorológica em bancos de
sangue para o HBsAg e anti-HBc foi a primeira medida de impacto, reduzindo os
casos de hepatite B pós-trasnfusional. Esta estratégia foi instituída em 1989 e em
1993 por meio das Portarias do Ministério da Saúde 721/GM (09/08) e 1.376/GM
(19/11), respectivamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1989; 1993).
A monitoração sorológica do HBV em gestantes, implementada no País por
meio da Portaria no 1067/GM de 4 de julho de 2005, que instituiu a Política Nacional
de Atenção Obstétrica e Neonatal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005),tem impactado a
transmissão vertical do HBV, reduzindo os casos de hepatite B neonatal (KUPEK,
OLIVEIRA, 2012).
A adoção de medidas de precauções e a disponibilidade de
imunoprofilaxia pós-exposição a acidentes com material biológico para profissionais
de saúde também têm contribuído para prevenção de hepatite B ocupacional
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b). Ainda, a Política de Atenção Integral a Usuários
de Álcool e Drogas, implantada pelo Ministério da Saúde, por meio de Programas de
Redução de Danos (RD), também tem sido uma importante estratégia de prevenção
e controle da transmissão sanguínea do HBV entre os usuários de drogas ilícitas,
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
Por fim, ações educativas direcionadas à população em geral, sobre
prevenção e controle dessa infecção, incluindo o Dia Mundial de Combate as
Hepatites virais são também desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, e contribuem
para divulgação e conhecimento desta infecção.
33
1.5.1 Vacina Contra Hepatite B
A vacina contra hepatite B é a principal medida de prevenção dessa
infecção. A primeira vacina foi licenciada em 1982, inicialmente produzida a partir de
plasma de indivíduos infectados cronicamente pelo HBV, essa vacina contém
partículas do HBsAg altamente purificadas e inativadas por uréia, pepsina e calor,
sendo ainda utilizada em países da África e Ásia.
(VANRAJC, 2006; ZANETTI,
VANDAMME, SHOUVAL, 2008; FRANCO et al., 2012).
Posteriormente, por meio de técnicas de biologia molecular, foi possível o
desenvolvimento da vacina de segunda geração (ASSAD, FRANCIS, 1999;
FRANCO et al., 2012). Inicialmente, dois importantes laboratórios produziram a
vacina contra hepatite B, por tecnologia de DNA recombinante, utilizando a levedura
S. Cerevisae como sistema de expressão: Laboratório Merck (Recombivax®) e
Laboratório
GlaxoSmithKline
(EngerixB®),
nos
Estados
Unidos
e
Bélgica,
respectivamente (ASSAD, FRANCIS, 1999; MAST, et al., 2005; MICHEL, TIOLLAIS,
2010). Essas vacinas são consideradas Padrões-Ouro. Atualmente, a vacina contra
hepatite B é produzida predominantemente por engenharia genética, utilizando como
sistemas de expressão para obtenção do HBsAg recombinante células de leveduras
e de mamíferos. Vários países, incluindo o Brasil, já possuem tecnologia para
produção dessa vacina (HIEU, et al., 2002; MORAES, LUNA, GRIMALDI, 2010; SEO
et al., 2008; SHIVANANDA, et al., 2006; ZHANG et al., 2011).
O Instituto Butantan-SP produz a vacina recombinante contra hepatite B
(VrHB-IB), utilizando como sistema de expressão a Hansenula polymorpha (COSTA,
et al., 1997). Esta vacina foi licenciada no País em 1998, sendo produzida
inicialmente com 20 mcg de antígeno/mL de diluente. Contudo, uma menor
imunogenicidade da vacina brasileira foi observada em indivíduos com mais de 30
anos quando comparada a EngerixB®) (MARTINS et al., 2004). Assim, mais
recentemente, uma nova formulação da vacina foi proposta, com concentração de
25 mcg/mL, tornando-a equivalente a vacina referência (MORAES, LUNA,
GRIMALDI, 2010).
A vacina contra a hepatite B é administrada por via intramuscular, sendo o
deltóide e o vasto lateral da coxa os músculos de escolha em adultos e crianças,
respectivamente (MAST et al., 2005). O esquema convencional é composto por três
doses administradas nos meses de 0, 1 e 6. Após a vacinação, a detecção de
anticorpos anti-HBs em títulos iguais ou superiores a 10 mUI/mL indica imunidade
34
contra HBV. Mais de 90% dos indivíduos adultos saudáveis desenvolvem anticorpos
protetores após três doses da vacina, 75-80% após duas doses e 20-30% após uma
única dose (CDC, 2011).
A Organização Mundial de Saúde tem recomendado, desde a década de 80,
a inserção dessa vacina na rotina de imunização infantil, sobretudo nos países em
desenvolvimento (WHO, 2001). Até 2011, 93% dos países já haviam inserido a
vacina contra a hepatite B em seus programas de imunização, sendo a taxa de
cobertura mundial de 75% (WHO, 2012b).
No Brasil, a vacinação contra hepatite B foi implementada gradativamente,
iniciando-se pela Amazônia Ocidental em 1989, e inserida no Programa Nacional de
Imunização – PNI em 1998, para crianças. Em 2001, a oferta dessa vacina foi
ampliada para menores de 20 anos, e em 2010 passou a ser oferecida a indivíduos
susceptíveis com até 29 anos de idade, bem como para grupos vulneráveis como:
gestantes após o primeiro trimestre, bombeiros, profissionais de saúde, policiais
(militares, civis, rodoviários), carcereiros, coletadores de lixo, comunicantes sexuais
de portadores de HBV, doadores de sangue, homossexuais, manicures, populações
de assentamentos e acampamentos, entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010c;
2010d). Em 2013, a oferta da vacina foi ampliada para indivíduos até 49 anos de
idade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).
A administração da imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB)
também se apresenta como uma importante e eficaz medida de controle do HBV,
sendo indicada para prevenção da transmissão perinatal, e para indivíduos
susceptíveis pós-exposição a acidente com material biológico, vítima de abuso
sexual, comunicante sexual de portador do HBV e imunodeprimidos (CDC, 2001;
WHO, 2009; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
1.6 Assentamentos Rurais e o Acesso à Saúde
Um dos principais objetivos da reforma agrária no Brasil é modificar a
estrutura tradicional da sociedade rural, a fim de corrigir as distorções e proporcionar
oportunidades iguais aos indivíduos que vivem da atividade agrícola (MOTTA-MAIA,
1969).
A preocupação com a distribuição de terra data dos tempos do BrasilColônia, pela necessidade de dar a ela uma destinação econômica e social
adequada (MOTTA-MAIA, 1969). Já na primeira Constituição Brasileira, de 25 de
35
Março de 1824, ficou evidente a garantia da propriedade, conforme descrito no art.
179, inciso XXII: “é garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o
bem público legalmente verificado exigir o uso e emprego da propriedade do
cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela” (CONSTITUIÇÃO
BRASILEIRA, 1824).
Um século após, a Constituição de 1988, elaborada com o apoio de uma
bancada ruralista, composta por diversos setores do agronegócio, manteve o direito
da terra, porém trouxe em seu bojo o artifício de impedimento da reforma agrária,
principalmente no artigo 184 que apresenta: “cabe a lei complementar estabelecer
procedimento contraditório especial de rito sumário, para o processo judicial de
desapropriação” (CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, 1988). Assim, apenas em 1993, a
desapropriação de terra foi definitivamente regulamentada pela Lei 8.629, que
dispõe sobre os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no
Capítulo III da Constituição Federal (BRASIL, 1993).
Entretanto, mesmo com a preocupação da distribuição justa e igualitária da
terra, com a elaboração de Leis e Artigos que garantem essa distribuição, a luta por
terra em nosso País sempre esteve relacionada a enfrentamentos entre Estado,
proprietários e movimentos sociais. Entre as estratégias de enfrentamentos, a
ocupação de terra sempre foi predominante. Essa atitude tem como componentes
impulsionadores, a indignação e a revolta, a necessidade e o interesse, a
consciência e a identidade, a concepção de terra de trabalho, contra a de terra de
negócio e exploração (SAUER, SOUZA, 2008).
A ocupação de terra e/ou o acampamento nas margens das rodovias expõe
o dimensionamento e o espaço de socialização política, constrói espaço de luta e
resistência, e abre caminho para a formação dos assentamentos (FERNANDES,
2008). Nesse contexto, observa-se que os movimentos sociais dos sem terras e a
reforma agrária sempre estiveram ligados à pobreza e à exclusão, e marcada ainda
pela violência e o conflito (SAUER, SOUZA, 2008).
Este histórico de conflito tem estabelecido a construção dos assentamentos
rurais, por meio do processo de territorização da luta pela terra que promove uma
homogeneidade dos indivíduos em uma meta comum, a reforma agrária
(HACKBART, 2010). Para Bergamasco (1997), a história dos assentamentos é uma
história de luta e conflito social com repercussão na reorganização do espaço, na
busca de uma reestruturação fundiária e na reforma agrária.
36
Assim, define-se assentamento rural como unidade empresarial associativa,
de base familiar, autônoma e gerida por trabalhadores, visando o desenvolvimento
econômico e social do conjunto de assentados (BRASIL, 1964). No processo de
formação dos assentamentos estão inúmeros atores e diferentes histórias de vida.
Sua constituição significa um novo período na vida de muitas famílias antes sem
terras, acampadas. Assim os assentamentos rurais devem ser compreendidos,
considerando sua temporalidade, dinâmica e subjetividade (FARIAS, 2008).
No Brasil, os primeiros projetos de assentamentos rurais foram formados na
década de 80, após a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) (Decreto 1.110 de 9 de julho de 1970). Entretanto, a criação destes
intensificou-se na década de 90, sendo que desse período até dezembro de 2011
foram assentadas 1.235.130 famílias em todo o País (MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2012).
A organização e execução das atividades de produção nos assentamentos
são dirigidas por cada família, que ao mesmo tempo, é proprietária dos meios de
produção, e assume o trabalho no estabelecimento produtivo, caracterizando assim
o que se conhece por agricultura familiar (MARTINS, 2004).
No Mato Grosso do Sul, existem aproximadamente 203 assentamentos
rurais e 43.174 famílias assentadas (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO, 2012). A formação desses assentamentos está relacionada, geralmente,
a diferentes movimentos sociais, com heterogeneidade de origem, hábitos,
costumes, educação, práticas individuais e familiares.
Sabe-se ainda que, muitas famílias viveram em acampamentos, em
condições de vida desfavoráveis, que possibilitam a ocorrência de doenças
infecciosas como as hepatites virais. O influxo migratório, implícito no processo de
assentamento, também favorece a disseminação de doenças infecciosas na região
assentada (SOUTO, FONTES, GASPAR, 1998; SOUTO, et al., 2004).
A discussão sobre a saúde da população rural foi impulsionada a partir da
XII Conferência Nacional de Saúde, em 2003, que estabeleceu como um dos
principais desafios, garantir à população rural, condições para o acesso ao serviço
de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). Desde então, essa discussão passa por
diversas políticas públicas como: Plano Nacional de Reforma Agrária, Plano
Nacional de Saúde, Política Nacional de Humanização da Gestão e da Atenção à
Saúde, Política Nacional de Desenvolvimento Regional, Políticas de Promoção da
37
Igualdade Racial e Política Nacional de Ordenamento Territorial (BERGAMASCHI, et
al., 2012).
Segundo Campos (2003), as necessidades de saúde incluem as boas
condições de vida e o acesso à tecnologia de saúde. Neste sentido, o acesso à
saúde está ligado às condições de moradia, nutrição, habitação e acessibilidade ao
serviço de saúde (BRASIL, 1990).
No campo das condições de vida, grande parte dos assentamentos
vivencia situações que os colocam em risco como falta de água tratada, sistema de
esgoto em forma de fossas rudimentares, lixo queimado e/ou enterrado e freqüência
elevada de infecções intestinais parasitárias em crianças, dentre outras (VEIGA,
BURLANDY, 2001; SOUZA, et al., 2007; BEHERGARAY, GEHARDT, 2010).
Quanto ao acesso aos serviços de saúde, assentamentos com maior tempo
de formação e já organizados dispõem de Unidades Básicas de Saúde da Família
(UBSF), entretanto o funcionamento dessas, muitas vezes, deixa a desejar, seja
pela falta de profissionais, ou pelo funcionamento parcial, em dias alternados.
Existem ainda situações em que a população assentada precisa ser atendida em
unidades de saúde de cidades vizinhas (ALBUQUERQUE, CASTROS, ROSAS,
2000; BEHERGARAY, GERHARDT, 2010). Essa procura por outras unidades
sobrecarrega os serviços, provocando excesso de demanda por equipe e a
desestrutura da organização da atenção à saúde (GOMES, SILVA, 2011). Situações
estas, que se agravam pela precariedade dos sistemas de referência e contrareferência, dificultando a continuidade do cuidado nos três níveis de atenção
(SOUZA, ERDMAN, MOCHEL, 2011).
Neste contexto, a saúde dessa população constitui-se um desafio para o
profissional enfermeiro no desenvolvimento do cuidar, pois representa a expressão
das desigualdades sociais (CAVALCANTI, NOGUEIRA, 2008). Assim, o cuidado de
enfermagem exige a compreensão das singularidades e formas de estruturação
desse meio, bem como o conhecimento dos aspectos sociais, políticos e geográficos
que permeiam o viver rural (WUNSCH, 2011).
38
1.6.1 O Assentamento Itamarati
Figura 7. Imagem superior de alguns lotes da Fazenda Itamarati.
Fonte: http://itamaratinews.com.br/v2/assentamentos/5-assentamento-itamarati-
O Assentamento Itamarati (Figura 7) está localizado a 45 km do município
de Ponta Porã-MS e a 21 km da faixa da fronteira com o Paraguai. Possui 25.508
hectares (ha) e 1.143 famílias assentadas dividas em agrovilas correspondentes a
quatro grupos sociais: Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) e
Associação dos Moradores e Funcionários da Fazenda Itamarati (AMFFI) (TERRA,
2009) (Figura 8).
39
Figura 8. Distribuição dos Movimentos Sociais no Assentamento Itamarati.
Fonte: Terra, 2009
Implantado pelo INCRA em maio de 2001, recebeu este nome por ser
formado pela antiga Fazenda Itamarati (50.000 ha), de propriedade de Olacyr de
Moraes, no período de 1973 a 1976 (TERRA, 2009). Esta fazenda nasceu sob um
período de megaempreendimento agroexportador do Estado com a função de
tornar-se agroexportadora de commodities (TERRA, 2010). Dotada de recursos
tecnológicos variados como sementes especiais, desenvolvimento de pesquisas,
insumos e maquinários modernos, e mão de obra assalariada, qualificada e
setorizada. Abrigava ainda uma extensa área territorial com solos de qualidade,
campos limpos com algumas manchas de mata tropical, presença de trilhos da Rede
Ferroviária Federal (ex-estrada de Ferro Noroeste do Brasil) e banhada pelos
mananciais: Rio Dourado, Rio Santa Virgínia, Rio Lageado e Rio São João
(TEIXEIRA, 1989).
40
Além de todas as qualidades naturais da Fazenda Itamarati, bem como da
tecnologia implantada, a construção de armazéns, silos dotados de secadores com
capacidade de 138.000 toneladas de grãos, laboratórios para pesquisas e outras,
fizeram dessa uma verdadeira vitrine em nível nacional e internacional do
agronegócio. Entretanto, na década de 90, inúmeras crises econômicas ligadas à
agricultura, a falta de subsídios, os baixos preços de grãos e a queda da
produtividade
contribuíram
para
a
falência
da
“fazenda
modelo”
e,
consequentemente, sua aquisição pelo governo para fins de reforma agrária. Neste
sentido, na época, a intenção do governo (federal e estadual), não era apenas
assentar novas famílias, mas criar um “assentamento modelo” em tamanho,
organização e em quantidade de famílias assentadas (TERRA, 2010). Contudo, até
o momento, esse grande objetivo ainda não se cumpriu, tendo em vista as
dificuldades encontradas pelos assentados em inúmeros aspectos como educação,
infra-estrutura de transporte, segurança e saúde.
Considerando a saúde, atualmente o assentamento conta com três postos
de saúde localizados em agrovilas (CUT, MST e AMFFI), sendo a assistência
realizada por uma única equipe de estratégia de saúde da família (ESF), composta
por um enfermeiro, um médico, duas auxiliares de enfermagem e 17 agentes
comunitários de saúde. O atendimento nos postos é realizado em dias alternados.
O acesso da população ao posto de saúde é limitado, decorrente da
estrutura de transporte. A desnutrição infantil, o alcoolismo e a gravidez na
adolescência têm sido descritos como alguns dos problemas de saúde das famílias
do Assentamento Itamarati (TERRA, 2009).
1.7 Justificativa
Os assentamentos rurais emergem uma nova organização social, econômica
e política, com novas formas de produção e configuração do trabalho, constituindose como um elemento de reestruturação do campo e espaço de diferentes
biografias, que se encontram e iniciam novos processos de interação e identidade
social (TERRA, 2009). Dessa forma, os assentados podem ser considerados uma
população rural emergente, que apresenta características próprias, seja pelo
histórico de luta para reinserção na sociedade, no trabalho e na conquista da terra;
seja pelas condições de vida e saúde adversas, bem como pelas diferentes culturas
que se uniram por um único objetivo (SCOPINHO, 2009).
41
A enfermagem é uma profissão do cuidado, exercida por ações em saúde
que visam a promoção, a prevenção e a cura de doenças (WUNSCH, 2011).
Portando, considerando o histórico de luta e instabilidade dos assentados; a
complexidade da atenção à saúde nessa população emergente; o desconhecimento
de riscos a que são expostos; a escassez de estudos sobre a distribuição de
doenças e agravos, sobretudo das hepatites virais; entendemos que conhecer o
perfil da infecção pelo HBV, uma doença imunoprevenível, em população assentada
de nossa região é de extrema importância para o planejamento e execução de
estratégias de intervenção e prevenção nesta população e contribui para a prática
desafiadora do cuidado em enfermagem aos assentados rurais e suas famílias.
42
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral: Investigar o perfil epidemiológico e da infecção
pelo vírus da hepatite B em assentados de Ponta-Porã, Mato Grosso do Sul.
2.2 Objetivos Específicos:
- Estimar a prevalência da infecção pelo HBV no Assentamento
Itamarati I;
- Analisar os fatores preditores dessa infecção na população
estudada;
- Detectar o HBV DNA em amostras HBsAg reagentes, identificando
os genótipos circulantes nessa população;
- Verificar a situação de imunização contra hepatite B;
- Avaliar a adesão a vacina contra hepatite B nos assentados
suscetíveis;
- Analisar a resposta vacinal nos indivíduos que receberam as três
doses da vacina contra hepatite B.
43
3 METODOLOGIA
3.1 Local de Estudo
Estudo realizado no Assentamento Itamarati, localizado no município de
Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, cujas coordenadas geográficas médias são: 22º
11’ S; 55º 34’ W e altitude de 550 m. Este assentamento é dividido em Itamarati I e II
com áreas de mais de 25.000 e 24.000 hectares e um total de 1.143 e 1.692
famílias, respectivamente, sendo composto por assentados de quatro movimentos
sociais: CUT; MST; FETAGRI e AMFFI (URCHEI et al., 2002).
3.2 Delineamento do Estudo e Amostra
Este estudo é parte do projeto intitulado “Epidemiologia das Hepatites
Virais em assentados do Centro-Oeste”, desenvolvido em parceria com as
Universidades Estadual e Federal de Mato Grosso do Sul e a Universidade Federal
de Goiás.
3.2.1 Tipo do Estudo: inicialmente, realizou-se um estudo observacional
transversal analítico. A seguir, formou-se uma coorte de indivíduos suscetíveis ao
HBV para vacinação contra hepatite B e avaliação da resposta vacinal.
3.2.2 Cálculo Amostral: para o cálculo do tamanho amostral, foi
considerado um nível de 95% de significância (p < 0,05), poder estatístico de 80%
(β=20%), prevalência de 20% (MOTTA-CASTRO, et al., 2005), precisão de 5% e
efeito de desenho de 1,5. Assim, no mínimo, 369 pessoas seriam necessárias para
compor a amostra. A esse valor foram acrescidos 25% para fins de perdas. Os
participantes foram recrutados por meio de sorteio aleatório simples de suas
famílias. Para tanto, considerou-se os registros do INCRA das famílias assentadas.
3.2.3 Critério de Inclusão: ser responsável pelo lote ou dependente direto
do assentado e possuir idade ≥ 2 anos.
3.2.4 Critério de Exclusão: viver no assentamento por tempo inferior há
seis meses.
3.3 Variáveis do Estudo
3.3.1 Variável de Desfecho: positividade para o HBsAg e/ou anti-HBc
3.3.2 Variáveis de Predição:
a) aspectos socioeconômicos e demográficos: idade, sexo, estado civil,
educação formal em anos, movimento social e vivência em acampamento.
44
b) Fatores de risco para o HBV: história de hepatite na família, antecedentes
de transfusão de sangue, atividade sexual, antecedentes de DST, uso de
preservativos,
parceiro
do
mesmo
sexo,
presença
de
tatuagem/piercing,
compartilhamento de objetos cortante de uso pessoal, história de prisão e uso de
drogas ilícitas.
3.4 Procedimentos de Coleta de Dados e Amostras Sanguíneas
3.4.1 Estudo Observacional
A coleta de dados foi desenvolvida em dois períodos respeitando o tipo do
estudo. Assim, de março 2008 a dezembro de 2009 foi realizada a coleta de dados
do estudo observacional. Inicialmente foi realizado um sorteio dos domicílios,
considerando a proporção dos lotes de cada grupo social que compõem o
assentamento. Em cada domicílio foram entrevistados todos os membros da família
com idade ≥ 2 anos que concordaram em participar do estudo mediante a assinatura
do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndices A e B). Para os indivíduos
menores de idade, o termo foi assinado por um dos pais ou responsável. Quando
um dos membros da família não se encontrava no domicílio no momento da visita, a
equipe ou uma das pesquisadoras retornava em mais dois momentos.
Os participantes foram entrevistados, em local privativo, sobre dados
pessoais e fatores de risco para infecção pelo vírus da hepatite B, utilizando-se um
questionário estruturado, com perguntas fechadas e abertas (Apêndice C). Em
seguida foram coletados 10 mL de sangue, por meio de punção venosa periférica,
utilizando-se luvas, seringas e agulhas descartáveis. O sangue foi conservado em
tubo de ensaio numerado, de acordo com o número do questionário. O transporte
das amostras foi realizado em caixas de isopor, até o Laboratório de Anatomia do
Curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, onde
foram centrifugados e separados em duas alíquotas e congelados a –20ºC. A seguir,
estes soros foram transportados para o Laboratório de Imunologia da Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul e para o Laboratório de Virologia do Instituto de
Patologia Tropical e Saúde Publica da Universidade Federal de Goiás, para
realização dos ensaios sorológicos e moleculares, respectivamente.
45
3.4.2 Vacinação contra Hepatite B:
Em março de 2011, a vacina contra a hepatite B foi oferecida aos indivíduos
identificados como suscetíveis para hepatite B. Todas as doses da vacina foram
administradas nas três unidades de saúde das diferentes agrovilas (referentes a:
CUT, MST e AMFFI), como recomendado pelo Núcleo de Imunização do Município
de Ponta Porã, que ofereceu a vacina, e acordado com o enfermeiro e a equipe de
saúde da família do assentamento. Assim, foi pactuado com o enfermeiro e os
agentes de saúde, o agendamento das datas de cada dose e a forma de divulgação
e informação dos dias de vacinação para os assentados susceptíveis. Foram
agendados três dias inteiros, para cada dose da vacina, em cada unidade de saúde.
Essa estratégia foi utilizada para facilitar o deslocamento e a adesão à vacina.
A vacina contra hepatite B foi oferecida pela SMS de Ponta Porã - MS
Utilizou-se a Vacina Adsorvida Hepatite B (recombinante), produzida pelo Instituto
Butantan, SES-SP, Lote 1006119. Cada mL desta vacina contém 25 mcg de HBsAg
recombinante, até 1,5 mL de Hidróxido de alumínio, até 0,20 mg de timerosal e 1,0
mL de solução fisiológica tamponada PH 7.0. A vacina foi administrada em três
doses nos meses 0, 1 e 6, por via intramuscular. Para indivíduos com idade inferior a
20 anos, foram administradas doses de 0,5 mL (12,5 mcg), e para o restante 1,0 mL
(25 mcg).
A primeira e segunda doses foram administradas nos meses de março e
abril, respectivamente, período de finalização do plantio da safrinha de milho. Já a
terceira dose foi administrada em setembro, mês que antecede o plantio da safra de
soja e inicia-se o preparo da terra.
Observando a baixa adesão à vacina, sobretudo da 2ª e 3ª doses, foram
agendados novos dias em cada unidade nos meses de outubro, novembro e
dezembro do mesmo ano. Não atingindo ainda, a adesão de todos os susceptíveis,
foi enviado um ofício ao setor de imunização do município com a relação dos
indivíduos que ainda necessitavam completar o esquema e solicitado a parceria na
administração da vacina pela equipe de vacinadores do município de Ponta Porã.
Em Junho de 2012, os indivíduos que completaram as três doses da vacina,
foram contatados para realização de nova coleta de sangue (3 mL) para a detecção
quantitativa do marcador anti-HBs, pelo ensaio imunoenzimático de micropartícula
(MEIA), utilizando o Sistema AxSYM de automação e kits AxSYM AUSAB (Abbot
Laboratórios do Brasil), conforme descrito pelo fabricante.
46
O critério de soroproteção foi definido como concentração de anti-HBs igual
ou superior a 10 mIU/mL. Os indivíduos foram classificados como não
respondedores (anti-HBs < 10 mIU/mL), baixos respondedores (anti-HBs: 10 – 99
mlU/mL), bons respondedores (anti-HBs: 100-999 mlU/mL) e altos respondedores
(anti-HBs > 1000 mUI/mL) (MICHEL, TIOLLAIS, 2010).
Em todos os procedimentos foram respeitadas as recomendações de
biossegurança conforme a Resolução da Diretoria Colegiada–RDC 306, de
dezembro de 2004 (ANVISA, 2004), a Norma Regulamentadora – NR 32 de
segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (MNINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO, 2005) e a NBR 13853/97 da ABNT (ABNT, 1997).
3.5 Detecção dos Marcadores Sorológicos
Amostras sanguíneas de todos os participantes foram testadas para os
marcadores sorológicos do HBV: HBsAg, anti-HBs e anti-HBc Total, utilizando-se kits
comerciais. As amostras HBsAg foram testadas ainda para os marcadores HBeAg e
anti-HBe.
3.5.1 HBsAg: na detecção deste marcador, utilizou-se o teste Hepanostika
HBsAg Ultra, (Biomérieux), que consiste em um ELISA baseado no princípio de
sandwich. Resumidamente, na microplaca sensibilizada com anticorpos anti-HBs
monoclonais, foram adicionados o diluente de amostra, as amostras e controles
(negativo e positivo) em suas respectivas câmaras. Após incubação, foi
acrescentado o conjugado (anti-HBs marcado com peroxidase). A placa foi
novamente incubada e, posteriormente, lavada com tampão fosfato. Em seguida, o
substrato (peróxido de uréia) foi adicionado juntamente com o cromógeno
(tetrametilbenzidina - TMB). Após nova incubação, a reação foi interrompida pela
adição de ácido sulfúrico a 1N.
Conforme as instruções do fabricante, a leitura espectrofotométrica da
reação foi realizada em 450 nm. Foram consideradas positivas as amostras que
apresentaram absorbâncias maiores ou igual ao valor do cut-off, obtido pela média
das absorbâncias dos controles negativos + 0,040.
3.5.2 Anti-HBs: a detecção do marcador anti-HBs qualitativo foi realizada
utilizando testes comerciais (Liaison Diasorin, Itália) com o princípio direto tipo
sandwich não competitivo baseado na técnica de Elisa.
47
Inicialmente, foram dispensados nas câmaras da microplaca sensibilizada
com HBsAg humano (subtipos balanceados “ad, ay”) 100 µL de tampão de
incubação (PBS, albumina sérica bovina, Triton X – 750 e conservantes). Em
seguida, as amostras foram distribuídas em todas as câmaras, exceto na branca
(câmara livre para a determinação do valor absorbância resultante do substrato).
Posteriormente, a microplaca foi incubada em estufa por 2 horas a 37º C e, em
seguida, procedeu-se a lavagem da mesma por cinco vezes com o tampão de
lavagem (Teween® 20 e conservantes).
Foram dispensados 100 µL de conjugado enzimático em todas as câmaras
exceto na branca e incubado novamente por 1 hora à 37º C, após este processo
repetiu-se a lavagem e acrescentou-se o cromógeno (tetrametilbenzidina em
solução de tampão de citrato) e o substrato (peróxido de hidrogênio e tampão de
citrato), incubou-se por 30 minutos em temperatura ambiente ao abrigo da luz. Por
fim, distribuiu-se a solução de “paragem” (ácido sulfúrico 1N) e mediu-se a
absorvância da reação contida em cada câmara a 450/630nm.
A presença, ou ausência, de anticorpos anti-HBs foi determinada pela
comparação da absorvância das amostras com a absorvância média do calibrador 1
(cut-off). As amostras com valores de absorvância maior ou igual ao valor do cut-off
foram consideradas reagentes, e as com valores menores foram não reagentes.
3.5.3 Anti-HBc: a detecção do anti-HBc total foi realizada por meio de
reagentes comerciais (Hepanostika anti-HBc, Uni-Form, Biomerieux) com o princípio
de inibição competitiva de fase única. Os soros, controles e conjugado (anticorpos
anti-HBc de coelho conjugados com peroxidase) foram adicionados em microplaca
previamente sensibilizada com HBcAg. Em seguida a mesma foi incubada e lavada,
acrescentado o substrato da enzima (peróxido de uréia) e o cromógeno
(tetrametilbenzidina). Após nova incubação, a reação foi interrompida pelo
acréscimo de ácido sulfúrico e realizada a leitura espectrofométrica com filtros de
450nm e 620nm. Conforme recomendações do fabricante, a amostra com
absorbância menor ou igual ao ponto de corte foi considerada positiva, sendo o
cálculo obtido pela fórmula:
Ponto de Corte = CNx + CPx x 0,4 onde:
CNx = média de absorbância dos controles negativos;
CPx = média de absorbância dos controles positivos.
48
3.5.4 HBeAg: utilizando o kit HBeAg SYM (Symbiosys), em microplaca
sensibilizadacom anticorpo monoclonal anti-HBe purificado, adicionado 50 µL dos
controles e das amostras nas respectivas câmaras, seguidas de anticorpo anti-HBe
conjugado com Peroxidase de Rábano (HRPO). A microplaca foi incubada por 30
minutos em 37ºC, e realizada a lavagem com 300 µL de tampão (PBS-Tween 20 e
Kathon). Dispensou-se 100 mL de solução de cromógeno (tetrametilbenzidina em
solução de ácido cítrico) e substrato (peróxido de uréia), incubando por mais 10
minutos em temperatura ambiente. Posteriormente, foi adicionado 50 µL de solução
bloqueadora (H2SO4). A leitura da densidade óptica das soluções foi realizada em
um espectrofotômetro bicromático com comprimento de referência de 450 nm a 620
nm. Os resultados foram observados de acordo com a relação do valor da
densidade óptica da amostra e do valor do cut-off, sendo consideradas positivas as
amostras com cut-off < 1,0.
3.5.5 Anti-HBe: para a detecção deste marcador, utilizou-se o kit anti-HBe
(Symbiosys). Foi utilizada microplaca sensibilizada com antígeno HBe purificado,
adicionando 50 mL de controles (negativos e positivos), das amostras e ainda uma
solução contendo anticorpo monoclonal anti-HBe conjugado com peroxidase de
rábano (HRPO) em todas as câmaras da microplaca. Em seguida, a mesma foi
incubada por 30 minutos a 37oC e lavada com tampão (PBS Tween e Kathon como
conservante). Dispensou-se 100 mL de solução de cromógeno (tetrametilbenzidina
em solução de ácido cítrico) e substrato (peróxido de uréia) em todas as câmaras,
sendo incubadas novamente por 10 minutos em temperatura ambiente. A seguir,
adicionou-se 50 µL de solução bloqueadora de H2SO4. A leitura da densidade óptica
da reação a 450 nm foi realizada em um espectrofotômetro. Os resultados foram
observados de acordo com a relação do valor da absorbância da amostra e do valor
do cut-off, sendo consideradas positivas as amostras com cut-off < 1,0.
3.6 Detecção do HBV DNA
3.6.1 Extração do HBV DNA
As amostras reagentes ao HBsAg foram submetidas à extração do ácido
nucléico do HBV, conforme descrito por Niel et al. (1994). Inicialmente procedeu-se
ao preparo da solução de lise, constituída pela solução A (Tris 200 mM, SDS 1%,
NaCl 700 mM, EDTA 20 mM e tRNA 0,1 mg/mL) e B (Proteinase K 2 mg/mL em
solução de CaCl 0,36 mM) na proporção de 4:1. A seguir, em cada tubo, pipetou-se
49
250 µL de soro e 80 µL da solução de lise, que foram incubados em banho-maria a
37ºC por 4 horas. Após, adicionou-se 330 µL de fenol, homogeneizou-se em vórtex
e as amostras foram centrifugadas a 12.000 rpm sob refrigeração de 4ºC por 10
minutos. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo tipo eppendorf onde
foram acrescentados 330 µL de clorofórmio. A mistura foi homogeneizada em vórtex
e centrifugada por 5 minutos a 4ºC em 12.000 rpm, sendo a fase superior transferida
para outro tubo eppendorf, adicionado 400 µL de etanol absoluto, e incubado a 20ºC por uma noite (overnight).
No dia seguinte, as amostras foram centrifugadas por 30 minutos (4ºC/
12.000 rpm). O sobrenadante foi descartado, sendo adicionado 600 µL de etanol
70%, para lavagem do DNA precipitado no fundo do tubo. Em seguida, os tubos
foram homogeneizados por inversão e centrifugados durante 30 minutos a 4ºC e
12.000 rpm. Finalmente, o sobrenadante foi descartado e o pellet (contendo o DNA)
de cada amostra foi ressuspendido com 30 µL de água milliQ e armazenado a -20ºC.
3.6.2 Reação em Cadeia da Polimerase
Após a extração do DNA, a região pré-S/S do genoma do HBV foi
amplificada por uma semi-nested PCR, conforme descrito por Motta-Castro et al.
(2008). A primeira rodada de amplificação (PCR-1) foi realizada utilizando-se uma
mistura contendo 1 pmol dos primers PS1 e S2/S22 (Quadro 2) (Invitrogen), 3 mM
de Cloreto de Magnésio (MgCl), 0,2 mM de cada dNTP (desoxirribonucleotídeos
trifosfatados - dATP, dTTP, dCTP, dGTP), tampão 10x, 2 µL do DNA extraído e 1 U
de Taq DNA polimerase (Invitrogen) em um volume final de 50 µL. Para esta etapa,
foi utilizado o seguinte programa no termociclador: 94ºC por 3 minutos
(desnaturação inicial da fita de DNA), 30 ciclos de 95ºC por 30 segundos, 52ºC por
40 segundos, 72ºC por 2 minutos (desnaturação, anelamento e extensão,
respectivamente), seguido pelo alongamento final a 72ºC durante 7 minutos. O
produto final obtido foi de 1.236 pares de bases (pb).
Para a segunda PCR, utilizou-se 1 µL do produto da PCR-1, em uma mistura
com os primers PS1 e SR (Quadro 2) (Invitrogen) nas mesmas condições descritas
na primeira amplificação, e o seguinte programa: 94ºC por 3 minutos, 30 ciclos de
(94ºC por 20 segundos, 55ºC por 20 segundos, 72ºC por 1 minuto) e 72ºC por 7
minutos. O produto final obtido foi de 1099 pb.
50
Quadro 2. Primers utilizados na semi-nested PCR
Primer
Posição NT*
Sequência (5’ → 3’)
PS1 (sense)
nt 2.826–2.845
CCA TAT TCT TGG GAA CAA GA
S2 (anti-sense)
nt 841–819
GGG TTT AAA TGT ATA CCC AAA GA
S22 (anti-
nt 841–819
GTA TTT AAA TGG ATA CCC ACA GA
nt 704–685
CGA ACC ACT GAA CAA ATG GC
sense)
SR (anti-sense)
*Os nucleotídeos (nt) são numerados começando no local de clivagem para a enzima de restrição
EcoRI, localizado na região pré-S2, sendo que o genoma completo possui 3221pb
3.6.3 Genotipagem por RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism).
Para a identificação do genótipo das amostras HBV-DNA positivas, o
fragmento de DNA amplificado foi analisado pelo método de RFLP (análise do
polimorfismo de comprimento dos fragmentos de restrição), utilizando-se três
enzimas de restrição: EcoRI, BamHI e StuI (New England BioLabs). Para cada
amostra preparou-se três tubos (um para cada enzima) utilizando a seguinte mistura
água milliQ (8 μL), tampão específico de cada enzima (2 μL) e enzima (10U). A
reação foi incubada a 37ºC durante 6 horas. Após este período, as amostras
contendo DNA digerido e o marcador de peso molecular (100 pb) foram misturadas
ao azul de bromofenol, aplicados em gel de agarose a 2% e submetidos à
eletroforese. As bandas formadas foram visualizadas em luz UV com o auxílio de um
transluminador e comparadas às bandas do marcador de peso molecular. Os
padrões eletroforéticos foram interpretados e, a distinção entre os genótipos foi
realizada conforme descrito por Araújo et al. (2004).
3.6.4 Eletroforese em Gel de Agarose
Preparou-se o gel de agarose a 2% em TBE (tampão tris-borato-EDTA) e
adicionou-se brometo de etídeo. Os produtos obtidos após a semi-nested PCR e o
marcador de peso molecular (100 pb) foram misturados ao azul de bromofenol,
aplicados ao gel e submetidos à eletroforese. Posteriormente, as bandas formadas
foram visualizadas em transluminador de luz ultravioleta (UV).
3.7 Processamento e Análise dos Dados
Para o processamento e análise dos dados, foi empregado o pacote
estatístico SPSS for Windows versão 15.0. Prevalências e média geométrica de
títulos de anti-HBs foram calculadas com intervalo de 95% de confiança.
51
Inicialmente, foi realizada a análise univariada, estimando-se a chance (“odds ratio”)
de soropositividade ao HBV (HBsAg e/ou anti-HBc) associada as variáveis
investigadas. A seguir, a variáveis que apresentaram valor de p < 0,10 foram
incluídas em um modelo de regressão logística. O teste de quiquadrado e exato de
Fisher foram utilizados para testar a significância de diferenças entre proporções.
Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes.
3.8 Aspectos Éticos da Pesquisa
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul – UFMS, protocolo 1027/2007 com atualização da aprovação
em 2011 pelo mesmo comitê (Anexos A e B). A participação de cada indivíduo foi
autorizada pelo responsável, por meio da assinatura de um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndices A e B).
Os resultados dos exames foram entregues lacrados a cada participante da
pesquisa. Os indivíduos positivos para o HBsAg foram encaminhados para a
consulta com o médico da equipe da Estratégia de Saúde da Família.
52
4 RESULTADOS
4.1 Características da População Estudada
A Tabela 1 mostra as características sociodemográficas dos 456 assentados
estudados. A média de idade foi de 35 anos (DP: 17,6 anos). Do total, mais da
metade da população (54,4%) era do sexo feminino. A maioria dos assentados se
autodeclarou de cor branca (78,3%) e casada/união consensual (62,7%). Verificouse que dentre os indivíduos com mais de seis anos de idade, praticamente a metade
(47,6%) possuía até seis anos de estudo. Em relação à naturalidade, 50,7% eram de
cidades da Região Centro-Oeste, e um terço da Região Sul. Quanto aos
movimentos sociais de luta, verificou-se que Movimento dos Sem Terra (MST)
possuía a maior proporção de assentados afiliados (37%).
53
Tabela 1. Características sociodemográficas
Assentamento Itamarati, MS, 2008-2009
de
456
indivíduos
Característica
Idade (anos) (média: 35; DP:
17,6)
£ 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
> 60
N
%
42
80
72
80
88
61
33
9,2
17,5
15,8
17,5
19,3
13,4
7,3
Sexo
Feminino
Masculino
248
208
54,4
45,6
Cor autodeclarada
Branca
Preta
Parda
357
27
72
78,3
5,9
15,8
Estado Civil
Casado/união estável
Solteiro
Separado
Viúvo
286
149
13
08
62,7
32,7
2,8
1,8
Escolaridade/anos*
≤ 6 anos
7 – 9 anos
> 9 anos
210
165
66
47,6
37,4
15,0
Naturalidade
Sul
Sudeste
Centro Oeste
Nordeste
Norte
Outro País
142
47
231
21
05
10
31,2
10,3
50,7
4,6
1,0
2,2
Movimento Social de Luta
AMFFI
CUT
MST
FETAGRI
63
107
169
117
13,8
23,5
37,0
25,7
do
54
4.2 Marcadores Sorológicos da Infecção pelo HBV
Os marcadores sorológicos da infecção pelo vírus da hepatite B foram
identificados em 110 assentados, resultando em uma prevalência global para o HBV
de 24,1% (IC 95%: 20,4 - 28,2) (Tabela 2). Doze indivíduos foram HBsAg positivos,
sendo dois isoladamente (0,4%) e 10 associados ao anti-HBc (2,2%). O marcador
anti-HBs associado ao anti-HBc foi detectado em 81 (17,8%) assentados. Dezessete
(3,7%) indivíduos foram positivos isoladamente para o anti-HBc. Em 139 (30,5%)
assentados detectou-se apenas o anti-HBs, sugerindo vacinação prévia. Já ausência
de qualquer marcador, indicando a susceptibilidade à infecção pelo HBV foi
verificada em 207 assentados.
Tabela 2. Prevalência dos marcadores sorológicos da infecção pelo vírus hepatite B
em 456 indivíduos do Assentamento Itamarati, MS, 2008-2009
Marcadores Sorológicos
N
%
(IC 95% )
HBsAg isolado
02
0,4
(0,07 – 1,4)
HBsAg/anti-HBc
10
2,2
(1,1 – 3,9)
Anti-HBc / Anti-HBs
81
17,8
(14,5 – 21,5)
Anti-HBc isolado
17
3,7
(2,3 – 5,8)
Algum Marcador de infecção
110
24,1
(20,4 – 28,2)
Anti-HBs isolado
139
30,5
(26,4 – 34,8)
4.3 Detecção do HBeAg/antiHBe, HBV DNA e Genótipos das Amostras
HBsAg Positivas.
Dentre as 12 amostras reagentes para o HBsAg, uma possuía soro
insuficiente para realização da sorologia complementar (anti-HBc IgM e HBeAg) e
ensaios moleculares. Assim, dentre as 11 amostras HBsAg reagentes, todas foram
HBeAg e anti-HBc IgM não reagentes. O anti-HBe foi detectado em 9/11 amostras.
Já o HBV DNA foi detectado em quatro amostras, sendo realizada a genotipagem
por RFLP e identificados os genótipos D (3/4) e A (1/4) (Tabela 3).
55
Tabela 3. Características e perfil sorológico e molecular das amostras HBsAg
reagentes, 2008-2009
Amostra
Sexo
Idade
Nat*
Movimento
HBeAg
Social
Anti-
Anti-
Anti-
HBV
HBe
HBc
HBc
DNA
IgM
total
Genótipo
A-27
M
42
PR
CUT
ND
ND
ND
+
ND
ND
A-164
F
52
SP
FETAGRI
-
+
-
-
-
A-238
M
37
PR
MST
-
+
-
+
+
D
A-245
F
42
PR
MST
-
+
-
+
+
D
A-248
M
72
RS
MST
-
-
-
+
-
A-254
M
20
MS
MST
-
+
-
+
+
A-256
M
43
PR
MST
-
+
-
+
-
A-310
F
31
PR
MST
-
+
-
+
-
A-312
M
26
Paraguai
MST
-
+
-
+
+
A-316
M
29
PR
MST
-
+
-
+
-
A-371
F
16
MS
AMFFI
-
-
-
-
-
A-456
M
39
RS
MST
-
+
-
+
-
A
D
Estratificando a frequência do HBV, bem como do anti-HBs isolado por faixa
etária na população estudada (Figura 09), observou-se um aumento crescente de
positividade para o HBV com a idade, variando de 6,6% nos indivíduos com até 20
anos a 40,4% nos com mais de 50 anos. Já em relação à positividade para o antiHBs isolado, a relação foi inversa; verificou-se que a proporção de positividade em
assentados com < 21 anos foi de 50,8%, declinando para 21,3% nos com mais de
50 anos de idade.
56
Anos
Figura 09 – Prevalência do HBV e do anti-HBs isolado, por faixa etária em 456 indivíduos
do Assentamento Itamarati I - MS, 2008-2009
4.4 Análise dos Fatores Associados à Infecção pelo Vírus da Hepatite B
Para análise uni e multivariada, foram excluídos os indivíduos positivos para
o anti-HBs isolado (vacinação prévia). Assim, dentre as variáveis analisadas,
somente idade maior que 20 anos, sexo masculino, pertencer aos movimentos
sociais MST e FETAGRI, vivência em acampamento e compartilhamento de objetos
de uso pessoal foram estatisticamente associadas à infecção pelo HBV pela análise
univariada (Tabelas 4 e 5).
Embora indivíduos que relataram antecedentes de transfusão sanguínea,
atividade sexual, antecedentes de DST e prisão apresentassem uma maior
proporção de positividade para HBV quando comparados aos que não relataram tais
fatores, a diferença não alcançou significância estatística (p > 0,05).
57
Tabela 4. Análise univariada de fatores sociodemográficos associados à infecção
pelo vírus da hepatite B em indivíduos do Assentamento Itamarati, MS, 2008-2009
Fatores*
HBV
Pos./ Totala
(%)
Odds Ratio (IC 95%)b
P
13,3
34,0
32,8
37,5
51,4
1,0
3,34 (1,20 – 9,51)
3,17 (1,16 – 8,87)
3,90 (1,50 – 10,43)
6,86 (2,67 – 18,15)
< 0,001
0,01
< 0,01
< 0,001
Idade (anos)
<= 20
21-30
31-40
41-50
> 50
8/
18/
19/
27/
38/
Sexo
Feminino
Masculino
48/ 164
62/ 153
20,3
40,5
1,0
1,65 (1,03 – 2,62)
0,035
Educação formal (anos)
>9
7–9
≤6
12 37
42/ 119
56/ 156
35,9
35,3
32,4
1,0
0,97 (0,57 – 1,65)
0,86 (0,37 – 1,95)
0,92
0,91
0,69
Movimento social
AMFI
CUT
MST
FETAGRI
7/
19/
53/
31/
34
90
126
67
20,6
21,1
42,1
46,3
1,0
1,01 (0,53 – 1,90)
2,80 (1,06 – 7,68)
3,32 (1,17 – 9,76)
0,98
0,02
0,01
10/ 65
100/ 252
15,4
39,7
1,0
3,62 (1,76 – 7,43)
< 0,001
Vivencia
acampamento
Não
Sim
60
53
58
72
74
em
*Foram excluídos os indivíduos positivos isoladamente para o anti-HBs (vacinação prévia);
denominador reflete o número de respostas válidas; b IC 95%: intervalo de confiança de 95%
a
O
58
Tabela 5. Análise univariada de fatores de risco associados à infecção pelo vírus da
hepatite B em indivíduos do Assentamento Itamarati, MS, 2008-2009
HBV
Pos./ Totala
(%)
84/ 234
26 79
35,9
32,9
1,0
1,14 (0,66 – 1,96)
0,63
99/
11/
294
23
33,7
47,8
1,0
1,81 (0,77 – 4,24)
0,17
2/
105/
12
269
16,7
39,0
1,0
3,2 (0,69– 14,9)
0,12
Antecedentes de DST
Não
Sim
95/
8/
251
18
37,8
44,4
1,0
1,31 (0,50 – 3,44)
0,58
Uso de preservativos
Sempre
Ocasionalmente/nunca
72/
33/
172
97
41,9
34,0
1,0
1,40 (0,83 – 2,34)
0,21
104/
1/
265
3
39,2
33,3
1,0
0,77 (0,07 – 8,64)
0,83
105/ 272
2/9 9
38,6
22,2
1,0
0,45 (0,09 – 2,23)
0,32
(31,1)
(42,9)
1,0
1,66 (1,02 – 2,72)
0,04
101/ 267
6/13 46,2
(37,8)
(46,2)
1,0
1,40 (0,46 – 4,31)
0,55
106/
38,1
Fator*
Hepatite na família
Não
Sim
Antecedentes de transfusão de
sangue
Não
Sim
Atividade sexual
Não
Sim
Parceiro sexual com individuo
do mesmo sexo
Não
Sim
Presença de tatuagem/piercing
Não
Sim
Compartilhamento de objetos
cortante de uso pessoal
Não
Sim
História de Prisão
Não
Sim
Uso de drogas ilícitas
Não
Sim
68/
42/
219
98
278
0/ 1
Odds Ratio (IC 95%)b P
-
-
*Foram excluídos os indivíduos positivos isoladamente para o anti-HBs (vacinação prévia);
denominador reflete o número de respostas válidas.
a
O
59
Após a análise multivariada (Tabela 6), verificou-se que idade, movimentos
sociais e compartilhamento de objetos de higiene pessoal foram preditores de
exposição ao HBV.
Tabela 6. Análise multivariável dos fatores associados à infecção pelo HBV em
indivíduos do Assentamento Itamarati, MS, 2008-2009
Fator
Odds Ratio (IC
95%)*
Bruto
Odds Ratio (IC
95%)
Ajustadoa
Idade (anos)
<= 20
21-30
31-40
41-50
> 50
1,0
3,34 (1,20 – 9,51)
3,17 (1,16 – 8,87)
3,90 (1,50 – 10,43)
6,86 (2,67 – 18,15)
1,0
3,01 (1,13 - 8,02)
3,49 (1,30 – 9,33)
3,95 (1,54 – 10,1)
8,92 (3,45 – 23,2)
0,03
0,01
< 0,01
< 0,01
Sexo
Feminino
Masculino
1,0
1,65 (1,03 – 2,62)
1,0
0,62 (0,37 – 1,03)
0,06
1,0
3,62 (1,76 – 7,43)
1,0
2,24 (0,46 – 10,97)
1,0
1,01 (0,53 – 1,90)
2,80 (1,06 – 7,68)
3,32 (1,17 – 9,76)
1,0
1,07 (0,39 – 2,99)
4,62 (1,73 – 12,37)
3,36 (1,22 – 9,23)
0,89
0,02
0,02
1,0
1,66 (1,02 – 2,72)
1,0
1,89 (1,10 – 3,26)
0,02
Vivencia
acampamento
Não
Sim
em
Movimento social
AMFI
CUT
MST
FETAGRI
Compartilhamento de
objeto cortante de uso
pessoal
Não
Sim
a
P
0,32
ajustado por idade, sexo, vivencia em acampamento, movimento social e compartilhamento de
objeto de uso pessoal
Verificou-se um aumento gradativo na estimativa de chance (Odds Ratio)
para positividade ao HBV, conforme faixa etária. Indivíduos com 21 a 30 anos
apresentaram 3,0 (IC 95%: 1,13 – 8,02) vezes mais chance de ter sido exposto ao
HBV, quando comparados aos mais jovens e, esta chance alcançou quase nove
vezes (OR ajustado: 8,92; IC 95%: 3,45 – 23,2) quando a idade foi maior que 50
60
anos. Considerando os movimentos sociais de luta, os assentados membros do
MST e da FETAGRI mostraram 4,62 (IC 95%: 1,73 – 12,37) e 3,36 (IC 95%: 1,22 –
9,23) vezes mais chances de positividade para o HBV, quando comparados aos
filiados a AMFFI. Por fim, assentados que compartilhavam objetos cortantes de
higiene pessoal apresentaram 1,89 (IC 95%: 1,10 – 3,26) vezes mais chances de
exposição ao HBV do que os que não possuíam este comportamento.
4.5. Avaliação da Resposta Vacinal dos Assentados Suscetíveis
Vacinados
A vacina contra hepatite B foi oferecida a todos os indivíduos identificados
como susceptíveis a infecção pelo HBV (n=207). Destes, somente 84 (40,6%)
aceitaram participar da vacinação e receberam a primeira dose. A segunda e
terceira dose da vacina foi realizada em apenas 56 e 44 assentados,
respectivamente (Figura 10).
90
80
70
84
60
1ª dose
50
56
40
2ª dose
3ª dose
44
30
Anti-HBs
28
20
10
0
1ª dose
2ª dose
3ª dose
Anti-HBs
Figura 10 – Distribuição dos assentados suscetíveis à infecção pelo vírus da hepatite B, que
receberam a vacina contra hepatite B, Assentamento Itamarai, MS, 2011-2012
Entre os 44 assentados que completaram o esquema vacinal, 28 (63,6%)
aceitaram realizar o anti-HBs quantitativo para avaliação da soroconversão. Destes,
57,1% (16/28) foram respondedores, sendo 10 (62,5%) baixos respondedores (antiHBs = 10-99 mUI/mL), cinco (31,2%) bons respondedores (100-999 mUI/mL), e
61
apenas um (6,3%) excelente respondedor (>1000 mUI/mL). A média geométrica
dos títulos (GMT) de anti-HBs foi de 16,91 mUI/mL
(IC 95%:
6,71– 42,61).
Verificou-se que a média de idade dos indivíduos respondedores foi 34,9 anos
(DP:9,3) e dos não respondedores foi de 46,7% (DP: 8,4) (p < 0,01).
62
5 DISCUSSÃO
Este estudo representa a primeira investigação epidemiológica e molecular
da infecção pelo vírus da hepatite B em população assentada no Mato Grosso do
Sul.
Mais da metade da população investigada foi composta por indivíduos com
até 40 anos de idade (60,0%), do sexo feminino (54,4%), de cor branca (78,3%),
casados ou em união consensual (62,7%). Dados semelhantes foram encontrados
por Alvarenga & Rodrigues (2004) no assentamento PAM PANA em Nova Alvorada
do Sul, MS e, com exceção da cor, em comunidades rurais afrodescendentes do
mesmo Estado (MOTTA-CASTRO, et al., 2003; 2005).
O nível de escolaridade no Assentamento Itamarati revelou-se baixo,
considerando que 47,6% dos indivíduos possuíam até seis anos de estudo, o que
representa ensino fundamental incompleto. Esse resultado de maneira geral difere
do quadro de escolarização brasileiro, apresentado pela Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio, onde indivíduos de 10 anos ou mais apresentaram, em 2011,
média de 7,3 anos de estudo (IBGE, 2012).
Por outro lado, condiz com o cenário
de escolarização dos assentamentos rurais do País, onde aproximadamente 43%
dos assentados possuem até
quatro anos de estudo (MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2010); e assemelha-se, ainda, com os resultados
encontrados por Fietz e colaboradores (2010), que identificaram uma média de 5,2
anos de estudo em 217 indivíduos investigados no Assentamento Itamarati. Esse
fato corrobora com Di Pierro & Andrade (2009), que afirmam ser a escolarização nos
assentamentos ou em seu entorno deficitária em todos os níveis escolares e aponta
para a urgente necessidade de estratégias que melhorem o acesso ao ensino e as
condições de estudo nos assentamentos rurais brasileiros.
O predomínio de indivíduos afiliados ao MST no assentamento estudado
retrata o histórico de luta e construção desse movimento em prol da posse da terra,
haja vista ser este o primeiro movimento social de luta fundado em nosso País, e
principal interlocutor do governo federal a respeito da reforma agrária. Ainda, um dos
mais importantes movimentos camponeses do mundo, responsável pelas primeiras
ocupações de terra e resistência em cinco estados do centro sul do País, dentre
eles, o Mato Grosso do Sul (FERNANDES, 2008).
63
Neste estudo, a prevalência para o HBsAg, foi de 2,6% (IC 95%: 1,17 – 5,3),
apontando uma endemicidade intermediária, para hepatite B no assentamento
Itamarati, contrapondo, assim, os achados de Pereira et al. (2010) que identificaram
prevalência de 0,31% (IC 95%: 0,16-0,46) para esse marcador. Entretanto, esse
achado, assemelha-se ao verificado por Souto et al. (2004) e Motta-Castro et al.
(2005), que verificaram taxas de 2,1% e 2,2% para HBsAg em população assentada
do Mato Grosso e afrodescendentes do Mato Grosso do Sul, respectivamente.
Considerando a população rural brasileira, a prevalência global encontrada
nos assentados estudados (24,1%; IC 95%; 20,4 – 28,2) foi inferior a verificada por
Souto et al. (2004) em assentados de Cotriguaçu, MT (42,1%; IC: 95%; 39 – 46,8),
e em população pantaneira do MS (36,5%; IC: 95%; 31,2 – 41,2) (BIGATON, 2009).
Mas semelhante ao observado no estudo de Motta-Castro et al. (2005) em
comunidades rurais afrodescendentes do mesmo Estado (19,8%; IC: 95%; 17,5 –
22,3%). Ainda, esse resultado foi semelhante ao identificado em uma comunidade
rural dá África Central, que mostrou uma prevalência global de 27,1% (IC 95%: 21,3
– 34,0) (KOMAS et al., 2013).
Das 11 amostras reagentes para o HBsAg, nove foram anti-HBe reagentes e
apenas quatro positivas para HBV DNA, evidenciando a circulação do vírus nesta
população. Todas eram de assentados pertencentes ao MST, um dos grupos sociais
de luta mais representativos neste assentamento. Ainda, três das quatro amostras
foram classificadas como genótipo D, e uma do genótipo A. Esses grupos
genômicos são comuns no Brasil (MELLO et al., 2007; MOTTA-CASTRO, et al.,
2008; PEREIRA et al., 2009; SANTOS et al., 2010; DIAS et al., 2012). Contudo, o
genótipo D tem sido encontrado com mais freqüência no sul do País (MELLO et al.,
2007; PEREIRA et al., 2009). De fato, dois indivíduos portadores do genótipo D são
naturais do Estado do Paraná e um migrou do Paraguai para o Brasil.
Três variáveis mantiveram-se independentemente associadas a positividade
ao HBV nos moradores do Assentamento Itamarati: idade, movimento social
compartilhamento de objeto de uso pessoal.
A idade tem sido um preditor de hepatite B, e reflete o risco acumulado de
infecção ao longo da vida. Em regiões de endemicidade baixa e intermediaria a
infecção pelo HBV está, geralmente, relacionada a comportamentos de risco, e
ocorre principalmente após o início da vida sexual (BIGATON, 2009; MATOS, et al.,
2009;
JUARES-FIGUEROA,
URIBE-SALA,
CONDE-GONZALES,
2011;
DE
64
ALMEIDA, et al., 2012). Realmente, neste estudo, indivíduos na faixa etária de 21-30
anos tiveram três vezes mais chance de positividade para HBV, quando comparados
aos indivíduos mais jovens, triplicando esta chance em indivíduos com mais de 50
anos.
Os assentados pertencentes aos movimentos sociais MST e FETAGRI
apresentaram, respectivamente, 4,64 (IC: 95%; 3,45 – 23,2) e 3,36 (IC: 95%; 1,22 –
9,23) vezes mais chances de serem infectados pelo HBV quando comparados com
os assentados da AMFFI. Este risco acrescido pode estar relacionado ao contexto
histórico de formação e de luta destes movimentos. Sabe-se que a história da
reforma agrária está atrelada à história de formação do MST, que embora criado
oficialmente em 1984, seu verdadeiro início ocorreu com as primeiras mobilizações
camponesas e ocupações de terra, consideradas como as principais manifestações
de luta pela reforma agrária. Suas primeiras ocupações ocorreram em cincos
estados brasileiros em 1979, sendo, um desses, o Mato Grosso do Sul
(FERNANDES, 2008). Neste mesmo ano e Estado, a Federação dos Trabalhadores
na Agricultura é criada objetivando a luta pela reforma agrária no Estado (FETAGRIMS, 2012).
Considerando assim, o tempo de formação destes movimentos e a historia
de luta dos mesmos, especula-se que seus membros possam ter vivido maior tempo
em condições adversas que os membros dos outros movimentos. De fato, a CUT é
um movimento originalmente urbano, e a AMFFI um movimento dos antigos
moradores da fazenda Itamarati, que não fizeram parte do histórico de lutas pela
terra, pois foram indenizados com os lotes na desapropriação da Fazenda Itamarati.
A transmissão do HBV, por meio do compartilhamento de objetos de uso
pessoal, provavelmente, é a causa de muitas infecções por este agente (CDC,
2012). No Brasil, um estudo conduzido com ribeirinhos do Pará mostrou uma
frequência elevada de compartilhamento destes objetos (OLIVEIRA, et al., 2011).
Nos assentados estudados, indivíduos que referiram compartilhamento de objetos
de uso pessoal apresentaram quase duas vezes mais chance de positividade para o
HBV, e esta associação também foi observada por JOMBO et al. (2005) em
assentados da Nigéria.
Embora após ajustamento por outras variáveis, tenha perdido significância
estatística, a proporção maior de positividade para o HBV em indivíduos que
referiram vivência em acampamentos deve ser valorizada, haja vista as situações de
65
risco a que estão expostos, seja pela transitoriedade entre áreas de maior
endemicidade para o HBV, como pelos conflitos, condições precárias de moradias, e
dificuldades de acesso aos serviços de saúde e outros. De fato, estudos conduzidos
nos Estados Unidos (UGWU, et al., 2008; MUSERU, et al., 2010)
e na Itália
(TAFURI, et al., 2010) com refugiados, populações que por motivos sociopolíticos
diferentes dos acampados/assentados brasileiros vivem em situações semelhantes
de acampamentos e ou assentamentos/reassentamentos, apontam para elevadas
taxas de prevalência para o HBsAg, associando sobretudo às condições de vida,
transitoriedade e naturalidade de regiões endêmicas e à vulnerabilidade.
O cartão vacinal é o padrão ouro para a avaliação da cobertura vacinal. Na
ausência deste, a detecção isolada do marcador anti-HBs pode ser um indicador útil
para avaliação da situação de imunização da população investigada. Neste estudo,
assim como verificado por Bigaton (2009) em comunidades pantaneiras do mesmo
estado, e por Matos et al. (2009) em quilombolas de Goiás, somente um terço dos
assentados apresentaram perfil sorológico de imunização prévia (anti-HBs isolado),
sugerindo, assim, uma baixa cobertura vacinal global nas comunidades rurais da
região. Por outro lado, verificou-se que a imunização foi inversamente proporcional a
idade, evidenciando a coorte de vacinados seguida a implantação da vacinação
universal contra hepatite B em crianças e adolescentes, que no Brasil ocorreu em
1998 e 2001, respectivamente.
A vacina contra hepatite B foi oferecida a todos os assentados suscetíveis
ao HBV. Contudo somente 84/207(40,6%) aceitaram receber a primeira dose da
vacina, e 44/84 receberam as três doses da vacina. Embora a aceitação da vacina
nesta população tenha sido inferior a encontrada por Motta-Castro, et al. (2009) em
comunidade rural de afrodescendentes (40,6% vs. 80%), no presente estudo uma
porcentagem maior completou o esquema de três doses (52,4% vs. 28%). Esses
resultados evidenciam as dificuldades de imunização e completude do esquema
vacinal contra a hepatite B em população rural.
Estudos revelam que a aceitação ou não da vacina, bem como a completude
do esquema podem estar associadas ao grau de instrução da população, ao
conhecimento sobre as hepatites virais (ODSUANYA, et al., 2009; LU, et al., 2011)
e à percepção do risco (WIT, et al., 2005; BAARS, et al., 2010). Os assentados
estudados possuíam baixa escolaridade e observou-se, durante a coleta de dados,
que possuíam poucas informações sobre hepatites virais. Assim, estas condições,
66
acrescidas das dificuldades de logística na área rural, sobretudo referente às
atividades agrícolas (preparo da terra, plantio e colheita), bem como o transporte e
locomoção dos assentados, podem ter contribuído para os achados deste estudo.
Um dos grandes problemas da vacina contra hepatite B é o longo intervalo
entre a segunda e terceira dose, que corrobora para a não completude do esquema.
Neste estudo, observando a baixa adesão à vacina, sobretudo da 2ª e 3ª doses,
foram agendados novos dias em cada unidade nos meses de outubro, novembro e
dezembro. Não atingindo ainda a adesão de todos os susceptíveis, foi enviado um
ofício ao setor de imunização do município com a relação dos indivíduos que ainda
necessitavam completar o esquema e solicitado a parceria na administração da
vacina pela equipe de vacinadores do município de Ponta Porã. Apesar de toda esta
mobilização e esforço do pesquisador e dos profissionais de saúde local, apenas
52,4% dos que receberam a primeira dose concluíram o esquema. Assim,
considerando as dificuldades de imunização dos assentados estudados, talvez
esquemas acelerados, como os sugeridos para grupos de difícil acesso como
profissionais do sexo e usuários de drogas ilícitas (VAN HERCK, LEURIDAN, VAN
DAMME, 2007; BAARS, et al., 2010; HWANG, et al., 2010) fossem uma estratégia
alternativa para melhorar a completude do esquema vacinal nesta população.
Dos
indivíduos
que
completaram
o
esquema
vacinal, apenas
28
concordaram com a coleta de sangue para avaliação da resposta vacinal. Desses,
apenas 57,1% foram respondedores a vacina, com GMT de anti-HBs de 16,91
mUI/mL. Esses dados foram inferiores ao relatado por Motta-Castro et al. (2009) em
afrodescendentes, que encontraram uma taxa de soroproteção de 83,1% e GMT de
512 mUI/mL (IC: 95%; 342,5 – 765,3).
Sabe-se que após a administração intramuscular do esquema completo da
vacina, mais de 90% dos adultos saudáveis respondem com títulos protetores
(WHO, 2009; CDC, 2012). Entretanto, fatores como idade acima de 40 anos,
indivíduos imunocomprometidos, obesidade e tempo de realização do teste após o
esquema completo podem interferir na resposta sorológica (CDC, 2012). Ainda, de
acordo com a cinética do anti-HBs, o pico de detecção do anti-HBs pós-vacinal
ocorre no primeiro mês após a terceira dose da vacina, podendo sofrer ainda, uma
significativa diminuição no decorrer de 12 meses (ZUCKERMAN, ZUCKERMAN,
2000).
67
Neste estudo, a maioria dos indivíduos avaliados possuía idade igual ou
acima de 40 anos, e a coleta de sangue ocorreu sete meses após o término do
esquema, decorrente de problemas logísticos como período de colheita (safra de
soja e safrinha de milho) e de chuvas que dificultaram o acesso dos assentados as
unidades de saúde, bem da equipe de coleta. Assim, estas situações podem ter
contribuído para baixa resposta vacinal encontrada nos assentados vacinados.
Os resultados deste estudo ratificam a prevalência elevada para hepatite B
em populações rurais do Centro-Oeste brasileiro, comparada a população urbana;
sinalizando, assim, a necessidade da articulação entre gestores e profissionais dos
serviços agrários e de saúde com lideranças de movimentos sociais e assentados
para a criação e implantação de estratégias de saúde específicas para essa fatia da
população rural brasileira. Este movimento não deve ser restrito a prevenção da
hepatite B, mas também para a melhoria das condições de vida e promoção da
saúde dessa população, que muitas vezes fica a margem dos serviços públicos de
saúde.
68
6. CONCLUSÕES
- A prevalência global para o HBV foi de 24,1% (IC: 95%; 20,4 – 28,2),
caracterizando esta população como de endemicidade intermediária para hepatite B;
- Verificou-se que idade superior a 20 anos, compartilhamento de objetos
cortante de uso pessoal e pertencer aos movimentos MST e FETAGRI foram
preditores de infecção pelo HBV;
- As quatro amostras HBsAg e HBV DNA positivas foram classificadas como
de genótipos
A (n=1) e D (n=3), evidenciando a circulação destes grupos
genômicos no assentamento investigado;
- Do total de assentados, 30,5% apresentaram perfil sorológico de vacinação
prévia, sugerindo uma baixa cobertura vacinal contra HBV;
- Do total de indivíduos suscetíveis ao HBV (n=207), somente 84 aceitaram
receber a primeira dose da vacina e, desses, apenas 52,4% completaram o
esquema vacinal, evidenciando uma baixa adesão e completude da vacina contra
HBV;
Verificou-se uma baixa resposta vacinal (57,1%) nos indivíduos vacinados.
69
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para
o
desenvolvimento
deste
estudo,
importantes
parcerias
e
planejamentos antecipados foram realizados; entretanto, aspectos como a
localização do assentamento, transporte, estradas e período de safras implicaram no
longo tempo de coleta dos dados.
Embora um grande esforço tenha sido empreendido para realização da
vacinação, com agendamento e divulgação antecipado dos dias de vacinação,
disponibilização de vários dias em cada unidade de saúde e ainda pactuação com o
setor de imunização de Ponta Porã, os resultados da coorte de vacinados devem ser
considerados com precaução tendo em vista o pequeno número de indivíduos que
aceitaram receber a vacina, bem como as dificuldades de completude do esquema.
Reconhecendo as ações educativas como um dos eixos norteadores do
cuidado em enfermagem, os resultados deste estudo apontam para a necessidade
estratégias educativas que:
"
sensibilizem os indivíduos assentados para um aumento
na adesão da vacina contra a hepatite B, considerando, sobretudo, as
Portarias Ministeriais que garantem o direito desta vacina a grande
parte da população brasileira;
"
Capacitem os agentes de saúde que atendem essa
população, sobre as vias de transmissão e as formas de prevenção
da hepatite B e demais hepatites.
No assentamento Itamarati, este passo foi iniciado pela equipe de
pesquisadores deste estudo, os quais desenvolveram palestras educativas para os
17 agentes comunitários de saúde do assentamento, e orientações individuais nos
domicílios pesquisados. Entretanto, é necessário que exista um planejamento
contínuo de ações educativas entre a equipe de enfermagem e a população
assentada, com vistas principalmente aos agravos infecciosos.
A vacinação contra a hepatite B para adultos desta população foi também
iniciada por meio deste estudo. E ainda, a parceria entre membros dos movimentos
sociais, equipe de Estratégia da Saúde da Família (ESF), Secretaria Municipal de
Saúde e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul foi solidificada para a
70
continuidade de projetos de extensão com vistas à educação em saúde desta
população e modelo para parcerias entre outros assentamentos e universidades.
No campo da investigação científica entendemos ser necessário que a
enfermagem volte o olhar para o conhecimento epidemiológico das doenças
infecciosas da população rural, sobretudo nos assentamentos rurais, para que desta
forma o cuidado de enfermagem possa ser realmente multidimensional; não apenas
pelo conhecimento das singularidades de crenças, culturas e formas sociais e
políticas de formação desta população, mas dos riscos de exposição a agentes
infecciosos.
71
8. REFERÊNCIAS
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.NBR 13853. Coletores para
resíduos de serviços de saúde perfurocortantes ou cortantes – requisitos e métodos
de ensaio. ABNT, 1997.
Aguiar JI, Souza JA, Aguiar ES, Oliveira JM, de Lemos ERS, Yoshida CFT. Low
Prevalence of Hepatitis B and C markers in a non Amazonian Indigenous Population.
BJID. 2002;6(%):269-270.
Albuquerque CCS, Castro AJW, RosasRj. Análise Situacional da Saúde para
Assentados da Reforma Agrária [página da internet] Núcleo de Estudos Agrários e
Desenvolvimento Rural. 2000. Disponível em:
http://www.mda.gov.br/portal/mead/arquivos/.../arquivos_195.zip?
Alcalde R, Melo FL, Nishiya A, Ferreira SC, Langhi-Junior MD, Fernandes SS.
Distribution of hepatitis B Virus Genotypes and Viral Load Levels in Brazilian
Chronically infected Patients in São Paulo City. Rev Inst Med Trop S Paulo.
2009;51(5):269-272.
Almeida D, Tavares-Neto J, Vitvitsku L, Almeida A, Mello C, Santana D. et al.
Serological Markers of Hepatitis A, B and C Viruses in Rural Communities of the J
Infect Dis. 2006;10(5):317-332.
Alvarado-Mora MV, Botelho L, Gomes-Gouvêa M, Souza VF, Nascimento MC,
Pannuti CS et al. Detection of Hepatitis B Vírus Subgenotype A1 in a Quilombo
Community from Maranhão, Brazil. Virol J. 2011;8:415.
Alvarenga MRM, Rodrigues FP. Indicadores Socioeconômicos e Demográficos de
Famílias Assentadas no Mato Grosso do Sul. Rev Enferm UERJ. 2004;12(3):286290.
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ministério da Saúde Resolução
da Diretoria Colegiada – RDC No 306 de 7 de dezembro de 2004. Brasílida (Brasil):
Ministério da Saúde, 2004.Disponível em http://www.anvisa.gov.br . Acesso março
2013.
Araujo NM, Mello FCA, Yoshida CFT, Niel C, Gomes AS. High Proportion of
Subgroup A (genotype A) among Brazilian Isolates of Hepatitis B Vírus. Arch Virol.
2004;149:1383-1395.
Araujo NM, Waizbort R, Kay A. Hepatitis B Vírus Infection from na evolutionary point
of view: how viral, host, and environmental facotrs shape genotypes and
subgenotypes. Infect Genet Evol. 2011;11(6):199-1207.
Arauz-Ruiz P, Norder H, Robertson BH, Magnius LO. Genotype H: a new Amerindian
genotype of hepatitis B virus revealed in Central America. J Gen Virol. 2002;83:20592073.
Assad S, Francis, A. Over a decade of experience with a yeast recombinant
hepatitis B vaccine. Vaccine. 1999;18(1-2):57-67.
Aspinall EJ, Hawkins G, Fraser A, Hutchinson SJ, Golderg D. Hepatitis B prevention,
diagnosis, treatment and care:a review. Occup Med. 2011;61:531-540.
72
Attaullah S, Khan S, Naseemullah, Ayaz S, Khan SN, Ali I. et al. Prevalence of HBV
and HBV Vaccination Coverage in Health Care Workers of Tertiary Hospitals of
Peshowar, Pakistan. Virol J. 2011;8:275.
Azevedo RA, Silva AE, Ferraz MC, Marcopelo LF, Baruzzi RG. Prevalence of
serologic markers of hepatitis B and D viruses in children of the Caiabi and
Txucarramãe tribes from the Indial Reservation of Xingu, Central Brazil. Rev. Soc.
Bras. Med. Trop. 1996;29(5):431-439.
Baars JE, Boon BJ, Garretsen HF, Mhessen DV. The reach of a Hepatitis B
Vaccination Programme among Men who Have Sex with Men. European J Public
Health. 2010;21(3):333-337.
Bancroft WH, Mundon FK, Russell PK. Detection of Additional Antigenic
Determinants of Hepatitis B Antigen. J Immunol. 1972;109(4):842-848.
Batista SMF, Andreas MSA, Borges AMT, Lindemberg ASC, Silva AL, Fernandes Td
et al. Seroposity for Hepatitis B Vírus, Vaccination Coverage and Vaccine Response
in Dentists from Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. Mem Inst. Oswaldo
Cruz. 2006;101(3):263-267.
Barbini L, Tadey L, Fernandez S, Bouzas B, Campos R. Molecular characterization
of hepatitis B virus X gene in chronic hepatitis B patients. Virol J. 2012;9:131.
Barros LAS, Pessoni GC, Teles SA, de Souza SMB, Matos MA, Martins RMB et al.,
Epidemiology of the viral hepatitis B and C in female prisoners of Metropolitan
Regional Prison Complex in the State of Goiás, Central Brazil. Rev Soc Bras Med
Trop. 2013;46(1):24-29.
Bayer ME, Blumberg BS, Werner B. Particles associated with Australia antigen in the
sera of patients with leukemia, down’s syndrome and hepatitis. Nature,
1968;218(146):1057-1059.
Baumert TF, Thimme R, Weizsacker F. Pathogenesis of hepatitis B virus infection.
World J Gastroenterol. 2007;13(1):82-90.
Beckert CE, Mattos AA, Bogo MR, Branco F, Sitnik R, Kretzmann. Genotyping of
Hepatitis B Virus in a Cohort of Patients Evaluated in a Hospital of Porto Alegre,
South of Brazil. Arq. Gatroenterol. 2010;47(1):13-17.
Behergaray LR, Gerhardt TE. A integralidade no cuidado à saúde materno infantil
em um contexto rural: um relato de experiência. Saúde Soc. 2010;19(1):201-212.
Bergamaschi FPR, Teles AS, Souza ACS, Nakatami AYK. Reflexões Acerca da
Integralidade nas Reformas Sanitária e Agrária. Texto Contexto
Enferm.2012;21(3):667-674.
Bergamasco SMPP. A realidade dos Assentamentos Rurais por detrás dos números.
Estuda. 1997;11(31):37-49.
Bertolini DA, Gomes-Gouvêa MS, Guedes de Carvalho-Mello IM, Saraceni CP, Sitnik
R, Grazziotin FG et al. Hepatitis B Vírus Genotypes from European Origin Explains
the High Endemicity fouind in some Áreas from Southern Brazil. Infect Genetic Evol.
2012;12(6):1295-1304.
Bigaton G. Soroepidemiologia da Infecção pelo Vírus da Hepatite B em População
Pantaneira de Mato Grosso do Sul. Campo Grande [Dissertação]. Campo Grande:
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;2009.93p.
73
Blumberg BS, Alter HJ, Visnich S. A "new" antigen in leukemia sera. J. Amer. Med.
Assoc.1965;191: 541-546.
Borhany M, Shamsi T, Bootas S, Ali H, Tahir N, Naz A et al. Transfusion Transmitted
Infections in Patients with Hemophilia of Karachi, Pakistan. Clin Ap
Thrombosis/Hemostasis, 2011:17(6):651-655.
Bowden S. Serological and molecular diagnosis. Semin Liver Dis. 2006; 26(2): 97103.
Bottecchia M, Souto FJD, Ó KMR, Amendola M, Brandão CE, Niel C, Gomes S.
Hepatitis B virus genotypes and resistance mutations in patients under term
lamivudine therapy: characterization of genotype G in Brazil. BMC Microbiol.
2008;8(11).
Braga WSM, Brasil LM, Souza RAB, Castilho MC, Fonseca JC. Ocorrência da
infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) e delta (VHD) em sete grupos indígenas do
Estado do Amazonas. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 2001;34(4):349-355.
Braga WGM, Silva EB, de Souza RAB, Tosta CE. Soroprevalência da infecção pelo
vírus da hepatite B e pelo plasmódio em Lábrea, Amazonas: estimativa da
ocorrência de prováveis coinfecções. Rev Soc Bras Med Trop.2005;38(3):218-223.
Brasil, 1964. Lei No. 4.504 de 30 de novembro de 1964 – Estatuto da Terra. Dispõe
sobre o Estatuto da Terra e dá outras providências Brasília – DF. Disponível em:
http://www.senado.gov.br/legislaçao/listapublicaçoes. Acesso em Março de 2013.
Brasil,1990. Lei No 8080 de 19 de setembro de 1990: dispões sobre as condições
para a promoção proteção e recuperação da saúde. A organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 1990.
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivo/pdf/lei8080.pdf.
Brasil, 1993 a.Presidência da República, Casa Civil – Sub Chefia para Assuntos
Jurídicos. Lei 8629 de 25 de fevereiro de 1993.
Bruss V. Hepatitis B Virus Morphogenesis. World Gastroenterol. 2007;13(1):65-73.
Buti M, Rodriguez-Frias F, Jardi R, Esteban R. Hepatitis B virus genome variability
and disease progression: the impact of pre-core mutants and HBV genotypes. J Clin
Virol. 2005; 34(Suppl 1): S79-82.
Campos CEA. O deafio da integralidade segundo a perspectiva da Vigilância da
Saúde e da Família. Cienc. Saude Coletiva, 2003;8(2):569-584.
Castilho Mda C, Oliveira CM, Gemaque JB, Leão JD, Braga WS. Epdemiology and
Molecular Characterization of Hepatitis B Virus Infection in Isolated Villages in the
Western Brazilian Amazon. Am J Trop Med Hyg. 2012;87(4):768-774.
Campos RH, Leone M V, Pinheiro FG. Molecular epidemiology of hepatitis B virus in
Latin America. J Clin Virol. 2005;34(suppl. 2): s8-s13.
Carneiro FF, Tambellini AT, Silva JA, Burigo AC, Sa WR, Viana FC et al. A Saúde
das Populações do Campo: das políticas oficiais às contribuições do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Cad. Saúde Colet. 2007;15(2):209-230.
Cavalcanti IMS, Nogueira LMV. Práticas Sociais Coletivas Para a Saúde no
Assentamento Mátires de Abril na Ilha de Mosqueiro-Belém, Pará. Rev. Enferm. Esc.
Anna Nery. 2008;12(3):492-499.
74
CDC - Centers for Disease Control and Prevention. Surveillance for acute
viralhepatitis – United States. Recommendations and Reports. 2007; MMWR 58:1–
27 Disponível: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtm/rr5409a1.htm. Acesso
em fevereiro de 2013.
CDC – Center for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of
Vaccine-Preventable Diseases. (12th ed.). Washington DC: Public Health
Foundation. 2011. Disponível em: http://www.cdc.gov. Acesso em janeiro de 2012
CDC – Center For Disease Control and Prevention. Hepatitis B. 2012. Disponível em
http://www.cdc.gov. Acesso em outubro de 2013
Chevaliez S, Pawlotsky JM. Diagnosis and Management of Chronic Viral Hepatitis:
antigens, antibodies and viral genomes. Best Pract Res Clin Gasctroenterl.
2008;22(6):1031-38.
Chevaliez S, Rodriguez C, Pawlotsky JM. New Virologic tools for Management of
Chronic Hepayiyis B and C. Gastroenterology. 2012;142(6):1303-1313.
Chisari FV, Isogawa M, Wieland SF. Pathogenesis of Hepatitis B virus Infection.
Pathol Biol. 2010;58:258-266.
Costa AA, Inenomi M, Juarez EL, Lacen PD, Raw J. Preliminary reporto f the use on
adults of a recombinant yest-derived hepatitis B vaccine manufactures by Instituto
Butantan. Rev Inst Med Trop S Paulo. 1997;34(1).
Coimbra Jr CEA, Santos RV, Yoshida CFY, Baptista ML,Flowers NM, do Valle ACF.
Hepatitis B Epidemiology and Cultural Practices in Ameridian population of
Amazonia: The Tupi-Mondé and the Xavante. Soc Sci Med. 1996;42:12.
Conde SR, Móia LJ, Barbosa MS, Amaral IS, Miranda EC, Soares MC. et al.
Prevalence of Hepatitis B vírus genotypes and the ocurrence of precore mutation A –
1896 and to correlated them with the clinical prevention of chronic hepatitis, in a
population group of the Eastern amazon Region. Rev. Soc. Bras. Med. Trop.
2004;37.
Constituição Política do Império do Brasil (25 de março de 1824). Presidência da
República. Casa Civil (Brasil), 1824.
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em
5 de outubro de 1988. Título VIII, da ordem social, capítulo II, seção II Da Saúde, art.
196-200. Organização do texto: Encyclopedia Britânica do Brasil, (edição
especial)1988:112 – 114.
Couroucé AM, Drouet J, Muller Jy. Australia Antigen subtypes identification. Results.
Bibl Haematol. 1976;42:89 – 127.
Couroucé-Pauty AM, Lemaire JM, ROUX JF. New hepatitis B surface antigen
subtypes inside the ad category. Vox Sanguinis. 1978;27(5):304-308.
Couroucé-Pauty AM, Plançon A, Soulier JP. Distribuition of HBsAg Subtypes in the
World. Vox Sanf. 1983;44(4):197-211.
Dane DS, Cameron CH, Briggs M. Virus-like particles in serum of patients with
Australia-antigen-associate hepatitis. Lancet. 1970;1(7649): 695-698.
Dandri M, Locarnini S. New Insight in the Pathobiology of Hepatitis B Virus Infection.
GUT. 2012;61(Suppl 1):i6-i17.
75
De Almeida MKC, Santos KN, FEcury AA, Oliveira CSF, Freitas AS, Quaresma JAS
et al. Prevalence of Viral Hepatitis B and C in Riverside Communities of the Tucuruí
Dam, Pará, Brazil. J Med Virol. 2012;84:1907-1912.
Devessa M, Pujol FH. Hepatitis B Virus Genetic Diversity in Latin America. V
Research. 2007;127:177-184.
Dény P, Zoulim F. Hepatitis B Virus: from diagnosis to treatment. Pathol Biol,
2010;58:245-253.
De Paula VS, Arruda ME, Vitral CL, Gaspar AMC. Seroprevalence of Viral Hepatitis
in Riverine Communities from the Western Region of the Western Region of the
Brazilian Amazon Basin. Mem Inst. Oswaldo Cruz, 2001;96(8):1123-1128.
Di-Pierro MC, Andrade MR. Escolarização em Assentamentos no Estado de São
Paulo: uma análise da Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária em
2004. Rev. Bras. de Educação. 2009;14(41):246-391.
Dias ALB, Oliveira CMC, Castilho MC, Silva MSP, Braga WSM. Molecular
Characterization of the Hepatitis B Vírus in Autochthonous and Endogenous
Populations in the Western Brazilian Amazon. Rev. Soc, Bras. Med. Trop.
2012;45(1):9-12.
Diamond C, Thied H, Perdue T, Secura GM, Valerroy L, Mackellar D et al. Viral
Hepatitis Among Young Men who have Sex who Men: Prevalence of Infection, Risk
Behaviors and Vaccination. Sexually Transmitted Disease, 2003;30(15):425-432.
Dwivedi M, Misra SP, Misra V, Pandey A, Pant S, Singh R. et al. Seroprevalence of
Hepatitis B Infection During Pregnancy and Risk of Perinatal Transmission. Indian J
Gastroenterl, 2011;30(2):66-71.
EASL. European Association for the Study of The Liver. Clinical Practice Guidelines:
Management of Chronic Hepatitis B Vírus Infection. Journal of Hepatology. 2012.
Farias MFL. O Cotidiano dos Assentamentos de Reforma Agrária: entre o vivido e o
concebido. In. Ferrante VLSB, Whitcker DCA. Reforma Agrária e Desenvolvimento e
Desafios e Rumos da Política de Assentamentos Rurais. MDA, São Paulo: Uniara,
2008. Disponível em http://www.nead.org.br. Acesso em Janeiro de 2011.
Fernandes BM. Movimentos Sociais e Luta pela Reforma Agrária: velhas e novas
questões. In. Ferrante VLSB, Whitcker DCA. Reforma Agrária e Desenvolvimento e
Desafios e Rumos da Política de Assentamentos Rurais. MDA, São Paulo: Uniara,
2008. Disponível em http://www.nead.org.br. Acesso em Janeiro de 2011.
Fernande GCM, Boehs AE. Contribuições da Literatura para a Enfermagem de
Família no Contexto Rural. Texto Contexto Enferm. 2011;20(4):803-811.
Ferrari JO, Ferreira UM, Tanaka A, Mizokami M. The Seroprevalence of Hepatitis B
and C in na Ameridian Population in the Southestern Braziliam Amazon. Rev. Soc.
Bras. Med. Trop. 1999;32(3):299-302.
Ferreira A, Greca D, Tavares E, Moriya Y, Spelling F, Boeira M. et al.
Soroepidemiologia da Hepatite B e C em índios Kaingang do Sul do Brasil. Rev.
Panam Salud Publica. 2006;20(4):230-235
Ferreira RC, Teles SA, Dias MA, Tavares VR, Silva SA, Gomes SA, et al. Hepatitis B
Virus Infection Profile in Haemodialysis Patients in Central Brazil: prevalence, risk
factors and gentotypes. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 2006;101(6):689-692.
76
Ferreira RC, Rodrigues FP, Teles AS, Lopes CLR, Motta-Castro ARC, Novais ACM.
et al. Prevalence of hepatitis B vírus and risk factors in Brazilian non-injecting drug
users. J Med Virol. 2009;81:602-609.
Fetagri- Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Histórico. Disponível em
http://www.fetagrims.org.br/index.php?pag=institucional.php Acesso em dezembro
de 2012.
Fietz VR, Salay E, Watanabe EAMT. Condições socioeconômicas demográficas e
estado nutricional de adultos e idosos moradores em Assentamento Rural em Mato
Grosso do Sul, MS. Segurança Alimental e Nutricional. 2010;17(1):73-82.
Fontoura Jr EE, Souza KR, Renovato RD, Sales CM. Relações de Saúde e Trabalho
em Assentamento Rural do MST na Região de Fronteira Brasil – Paraguai. Trab
Educ Saúde, 2012;9(3):379-397.
Forbi JC, Onyemauwa N, Gyar SD, Oyeleye AO, Entonu P, Gwale SM. High
Prevalence of Hepatitis B Vírus among Female Sex Workers in Nigeria. Rev. Inst
Med Trop S Paulo. 2008;50(4):219-221.
Franco E, Bagnato B, Marino MG, Meleleo C, Serino L, Zaratti L. Hepatitis B:
epidemiology and prevention in developing coutries. World Hepatol. 2012;4(3):74-80.
Gearhart TL, Bouchard MJ. The hepatitis B virus HBx protein modulates cell cycle
regulatory proteins in cultured primary human hepatocytes. V Research.
2011;155:363-367.
Gish RG. Hepatitis B Treatment: Current best practices, avoiding resistance. Clev
Clin J Med. 2009;7(suppl3):S14-S19.
Glebe D. Recent advances in hepatitis B virus research: a german point of view.
World J Gastroenterol. 2007;13(1):8-13.
Glebe D, Urbans S. Viral and Cellular Determinants Involved in Hepadnaviral Entry.
World J Gastroenterol. 2007;13(1):22-38.
Gomes FM, Silva MGC. Programa Saúde da Família como estratégia de atenção
primária: uma realidade em Juazeiro do Norte. Cienc. Saúde Coletiva,
2011;16(Suppl1):893-902.
Gonçales NSL, Gonçales Jr FL. Perfis Sorológicos Anômalos, Genótipos e Mutantes
do VHB. Braz J Infect Dis. 2006;10(Suppl 1):23-27.
Gupta S, Gupta R, Joshi YK, Singh S. Role of horizontal transmission in hepatitis B
virus spread among household contacts in north India. Intervirol. 2008;51:7-13.
Hackbart R. Cidadania que brota no meio rural. Publicação Especial do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Jornal do INCRA no 02, 2010.
Hatzakis A, Magiorkinis E, Haida C. HBV Virological Assessment. J Hepatol.
2006;44(Suppl):571-576.
Harrison TJ. Hepatitis B Virus: molecular Virology and Common Mutants. Sem L Dis.
2006;26(2):87-96.
Hieu NT, Kim KH, Janowicz Z, Timmermans I. Comparative efficacy, safety and
immunogenicity of Hepavax-Gene and Engerix-B, recombinant hepatitis B vaccines,
in infants born to HBsAg and HBeAg positive mothers in Vietnam: an assessment at
2 years. Vaccine. 2002; 20(13-14):1803-1808.
77
Hollinger FB. Hepatitis B virus diversity and its impact on diagnostic assays. J Viral
Hep. 2007;14(1):11-15.
Hoofnagle JH, Doo E, Liang TJ, Fleischer R, Lok ASF. Manegement of Hepatitis B:
summary of a clinical research workshops. Hepatol. 2007;45:1056-75.
Huy TTT, Ngoc TT, Abe K. New Complex Recombinant Genotype of Hepatitis B
Virus Identified in Vietnan. J Virol, 2008;82(11): 5.657-5.663.
Hwang LY, Grimes CZ, Tran TQ, Clark A, Xia R, Lai D et al. Accelerated Hepatitis B
Vaccine Schedule among Drug Users – A Randomized Controlled Trial. J Infect Dis.
2010;202(10):1500-1509.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio. Síntese de Indicadores. 2011. Rio de Janeiro – RJ, 2012.
ICTV – International Committe on Taxonomy of Viruses – Virology Division –IUMS.
Virus Taxonomy: 2012 Release (current). Disponível em
http://ictvonline.org/virustaxonomy.asp?version2012. Acesso em outubro de 2013
Ioshimoto LM, Rissato ML, Bonilha VS, Miyaki C, Raw II, Granoviski N. Safety and
Immunogenicity of Hepatitis B Vaccine Butang in adults. Rev. Inst Med Trop São
Paulo. 1999;41:191-193.
Jombo GT, Egah DZ, Banwat EB. Hepatitis B Virus Infection in a Rural Settlement of
Northern Nigeria. Niger J Med. 2005;14(4):425-428.
Juárez-Figueiroa LA, Uribe-Salas FJ, Conde-González CJ. Heterogeneous
distribution of hepatitis B serological markers in rural areas of Mexico. Salud Publica
de Mexico. 2011;53(Suppl1):S26-S31.
Kao JH. Molecular Epidemiology of Hepatitis B Virus. Korean J Intern Med. 2011;
26:255-261.
Katsuragawa TH, Cunha RPA, Galcedo JMV, Souza DCA, Oliveira KRV, Gil LHS et
al. Alta Soroprevalência dos Marcadores das Hepatites B e C na Região do Alto Rio
Madeira, Porto Velho, Rondônia, Brasil. Rev Pan Amaz Saúde. 2010;1(2):91-96.
Keeffe EB, Dieterich DT, Pawlotsky JM, Benhamou Y. Chronic Hepatitis B:
Preventing, Detecting and Managing Viral Resistance. Clin Gastroenterol Hepatol.
2008;6:268-274.
Kew Mc. Epidemiology of Chronic Hepatitis B Virus Infection , Hepatocellular
Carcinoma, and Hepatitis B Virus – induced Hepatocelular Carcinoma. Pathol Biol,
2010;58:273-277.
Kew Mc. Hepatitis B Virus X Protein in the Pathogenesis of Hepatitis B Virus Induced
Hepatocellular Carcinoma. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26(Suppl1):144-152.
Komas NP, Vickos U, Hubschen JM, Beré A, Manirakuza A, Muller CP, Faou AL.
Cross-sectional study of hepatitis B virus infection in rural communities, Central
African Republic. BMC Infectious Diseases, 2013;13:286-293.
Kramvis A, Kew M, François G. Hepatitis B vírus genotypes. Vaccine. 2005; 23:
2409-2423.
Kurbanov F, Tanaka Y, Mizokami M. Geographical and genetic diversity of the
human hepatitis B Vírus. Hepatol Res. 2010;40:14-30.
78
Kupek E, Oliveira JF. Transmissão Vertical do HIV, da Sífilis e da Hepatite B no
Município de Maior Incidência de AIDS no Brasil: um estudo populacional no período
de 2002 a 2007. Rev. Bras Epidemiol. 2012;15(3):478-82
Kwon SY, Lee CH. Epidemiology and prevention of Hepatitis B Virus Infection.
Korean J Hepatol. 2011;17:87-95.
Kumar GT, Kazin SN, Kumar M, Hissar S, Chauhan R, Basir SF, Sarin SK. Hepatitis
B Virus Genotypes and Hepatitis B Surface Antingen Mutations in Familly Contacts
of Hepatitis B virus Infected Patients With Occult Hepatitis B Virus Infection. J
Gastroenterol Hepatol. 2009;24(4):588-598.
Kuo A, Gish R. Chronic Hepatitis B Infection. Clin Liver Dis. 2012;16:347-369.
Yu H, Yuan Q, Ge SX, Wang HY, Zhang YL, Chen OR et al. Molecular and
Phylogenetic Analyses Suggest an Additional Hepatitis B Virus Genotype “I”
PLOSNE. www.plosone.org,2010;5(2):
Yuen MF, Lai CL. Treatment of Chronic Hepatitis B: Evolution over two decades. J
Gastroenterol Hepatol. 2011;26(Supp1):138-143.
Lai M, Liaw YF. Chronic Hepatitis B: past, present and future. Clin Liver Dis.
2010;14:531-546.
Lapinski TW, Pogorzelska J, Flisiak R. HBV Mutations and Their clinical Significance.
Advances Med Sci. 2012;57(1):18-22.
Le-Bouvier GL. Subspecificitis of the Australia Antigen Complex. Am J Dis Child.
1972;123(14):420-424.
Liang TJ. Hepatitis B: the virus and Disease. Hepatol. 2009;49(5 Suppl):S13-21.
Liaw YF, Chu CM. Hepatitis B Virus Infection. Lancet. 2009;373-582-592.
Lin CL, Kao JH. The Clinical Implication of Hepatitis B Vírus Genotype: Recent
advances. J Gastroenterol Hepatl. 2011;26(suppl1):123-130.
Lu PJ, Byed KK, Murphy TV, Weimbaum C. Hepatitis B Vaccination Coveragem
among High-risk Adults 18-49 Years, US, 2009. Vaccine. 2011;29:1049-1057.
Locarnini SA. Molecular Virology of Hepatitis B Virus. Semin L Dis. 2004;24(1).
Locarnini SA, Yuen L. Molecular genesis of drug-resistant and vaccine-escape HBV
mutants. Antvir Ther. 2010;15(3PtB):451-461.
Locarnini SA, Zoulim F. Molecular Genetics of HBV Infection. Antivir Ther.
2010;15(Suppl 3):3-14.
Lucifora J, Arzeberger S, Durantel D, Belloni L, Streiben M, Levrero M et al. Hepatitis
B Virus X Protein is Essential to Initiate and Mantain Virus Replication after Infection.
J Hepatology. 2011;55:996-1003.
Lopes CLR, Martins RMB, Teles SA, Silva SA, Maggi PS, Yoshida CFT. Perfil
Soroepidemiológico da infecção pelo vírus da hepatite B em profissionais das
unidades de hemodiálise de Goiânia-Goiás, Brasil Central. Rev. Soc Bras Med Trop.
2001;34(6):543-548.
Ma J, Zhang Y, Chen X, Jin Y, Chen D, Wu Y, Cu J, Wang H et al. Association of
Preexixting Drug-Resistance Mutations and Treatment Failure in Hepatitis B Patients.
79
PLOSone. 2013;8(7):e67606. Disponível em www.plosone.org. Acesso em agosto
de 2013.
Marcellin P. Hepatitis B and Hepatitis C in 2009. Liver Internat. 2009;29(S1): 1-8.
Matos MA, Reis, NRS, Klozlowki, AG, Teles AS, Motta-Castro ARC, Mello FCA,
Goes S A, Martins RMB. Epidemiological study of hepatitis A, B and C in the largest
afro-brazilian isolated community. Trans Royal Soc Trop Med Hyg. 2009;103(9):899905.
Mahtab M, Rahman S, Khan M, Karim F. Hepatitis B Genotypes: on overview, Hepat
Pan Dis Int. 2008;7(5):457-464.
Martins JS. Reforma Agrária: o impossível diálogo. São Paulo: Edusp, 2004.
Martins RM, Bensabath G, Arraes LC, Oliveira MDEL, Miguel JC, Barbosa GG. et al.
Multicenter study on the immunogenicity and safety of two recombinant vaccines
against hepatitis B. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2004;99(8):865-871
Martin-Vilchesz S, Lara-Pezzi E, Tropero-Marugán M, Moreno-Otero R, San-Cameno
P. The Molecular and Pathophysiological Implications of Hepatitis B X Antigen in
Chronic Hepatitis B Virus Infection. Rev. Med Virol. 2011;21(5):315-329.
Mast EE, Margolis HS, Fiore A E, Brink EW, Goldstein ST, Wang SA. et al. A
comprehensive immunization strategy to eliminate transmission of hepatitis B virus
infection in the United States: recommendations of the Advisory Committee on
Immunization Practices (ACIP) part 1: immunization of infants, children, and
adolescents. MMWR Recomm Rep. 2005;54(RR-16):1-31.
McMahon BJ. The Natural History of Chronic Hepatitis B Vírus Infection. Hepatol.
2009;49(5 Suppl):S45-S55.
McMahon BJ. Natural History of Chronic Hepatitis B. Clin Liver Dis. 2010;14:381-396.
Mello FCA, Souto FJD, Nabuco LC, Villela-Nogueira CA, Coelho HSM, Frans HCF.
Hepatitis B Vírus Genotypes Circulating in Brazil: molecular characterization of
genotype F isolates. BMC Microbiol. 2007;7(103):1-9.
Michielsen PP, Francque SM, Van Dongen JL. Viral hepatitis and hepatocelular
carcinoma. World J of Surg Oncol. 2005;3(26):1-18.
Michel M, Tiollais P. Hepatitis B Vaccines: protective efficacy and therapeutic
potential. Pathol Biol. 2010;58:288-295.
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, 2000. Reforma Agrária e
Desenvolvimento Sustentável. Ministério do Desenvolvimento Agrário, Brasília,
Paralelo 15, 2000.
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, 2010. Reforma Agrária: Pesquisa sobre a Qualidade de
Vida, Produção e Renda dos Assentamentos da Reforma Agrária, apresentação dos
primeiros resultados, 2010. Disponível em: http://pqra.incra.gov.br/ Acesso em
setembro de 2013.
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, 2012. Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de
Projetos de Assentamento DT. Coordenação Geral de Implantação – DTI – SIPRA.
Projetos de Reforma Agrária Conforme Fases de Implementação, 2012. Disponível
em http://www.incra.gov.br Acesso em setembro de 2013.
80
Ministério da Saúde. Portaria 721 MS/GM de 09/08/1989. Aprova Normas Técnicas
em Hemoterapia para Coleta, Processamento e Transfusão de Sangue,
Componentes e Derivados. Brasil, 1989. Disponível em
http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/leg-norma-pes-consulta-CFM . Acesso em
outubro de 2013
Ministério da Saúde. Portaria 1376 MS/GM de 19/11/1993. Aprova alterações na
Portaria 721 – GM de 09/08/1989, que aprova normas técnicas em hemoterapia para
coleta, processamento e transfusão de sangue, componentes e derivados e dá
outras providências. Ministério da Saúde, 1993. Disponível em
http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/leg-norma-pes-consulta-CFM . Acesso em
outubro de 2013.
Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Anais da 12ª Conferência
Nacional de Saúde. Conferência Sérgio Arouca. Relatório Final. Ministério da Saúde,
2003. Disponível em:
http://sna.saude.gov.br/download/rel%20final%2012a%20cns.pdf.
Ministério da Saúde. A Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a
Usuários de Álcool e Drogas. 2ed. Série B: Textos Básicos de Saúde, Brasília-DF.
Ministério da Saúde, 2004.
Ministério da Saúde. Portaria 1067 MS/GM de 06/07/2005. Institui a Política Nacional
de Atenção Obstétrica e Neonatal e dá outras providências. Ministério da Saúde,
2005. http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/leg-norma-pes-consulta-CFM. Acesso
em outubro de 2013.
Ministério da Saúde. Hepatites virais: o Brasil está atento. 3. ed. Brasília (Brasil):
Ministério da Saúde, 2008.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST,
AIDS e Hepatites Virais. Programa Nacional para Prevenção e o Controle das
Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento da
Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2009a.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST,
AIDS e Hepatites Virais. ABCDE do Diagnóstico para as Hepatites Virais. Série A.
Normas e Manuais Técnicos, 24p. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2009b.
Ministério da Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias: guia de bolso. 8 ed.
Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2010a.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST,
AIDS e Hepatites Virais. Recomendações para Terapia Antirretroviral em Adultos
Infectados pelo HIV 2008. Suplemento III. Tratamento e Prevenção.
Recomendações para a abordagem da exposição ocupacional a materiais biológicos
HIV, e Hepatites B e C. Ministério da Saúde, 2010b.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização. Parecer
Técnico no: 04/201/CGPNI/DEVEP/SVS/MS – DST-AIDS e Hepatites
Virais/SVS/MS. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2010c.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização. Nota
81
Técnica 89/2010 CGPNI/DEVEP/SVS/MS. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde,
2010d.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de AIDS,
DST e Hepatites Virais. Boletim Epidemiológico Hepatites Virais, ano II (1), Brasília,
DF, 2011.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST,
AIDS e Hepatitis Virais. Boletim Epidemiológico Hepatites Virais. Ano III, no 1,
Brasília, DF, 2012. Disponível em htpp://www.saude.gov.br.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização.
Coordenação Geral de Direitos Humanos – Riscos e Vulnerabilidades. Nota Técnica
Conjunta 02/2013/CGPNI/CGDRARV/DST-AIDS/SVS/MS, Brasília,DF, 2013.
Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora – NR32. 2005.
Disponível em: http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas.regulamentadoras-1htm.
Acesso em outubro de 2013.
Moraes JC, Luna EJ, Grimaldi RA. Immunogenicity of the Brazilian hepatitis B
vaccine in adults. Rev Saude Publica. 2010; 44(2): 353-359.
Motta-Castro AR, Yoshida CFT, Lemos ERS, Oliveira JM, Cunha RV, Lewis-Ximenez
LL, Cabello PH. et al. Seroprevalence of Hepatitis B vírus Infection among an
Afrodescendant Community. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 2003;98(1):13-17.
Motta-Castro AR, Martins RM, Yoshida CF, Teles SA, Paniago AM, Lima KM. et al.
Hepatitis B virus infection in isolated Afro-Brazilian communities. J Med Virol. 2005;
77:188 – 193.
Motta-Castro ARC, Martins RM, Araujo M, Niel C, Facholi GB, Lago BV, et al.
Molecular Epidemiology of Hepatitis B Virus in an Isolated Afro-Brazilian Community.
Arch Virol. 2008;153(12):2197-205.
Motta-Castro ARC, Gomes SA, Yoshida CFT, Miguel JC, Teles SA, Martins RMB.
Compliance with and response to hepatitis B vaccination in remaining quilombo
communities in Central Brazil. Cad Saúde Pública. 2009;25(4):738-742.
Motta-Maia J. Iniciação à Reforma Agrária, Mabri – Texas/EUA, 1969.
Museru OI, Vargas M, Kinya M, Alexander T, Franco-Paredes C, Oladele A. Hepatitis
B Vírus Infection Among Refugees Resettled in the US: high prevalence and
challenges in acces to health care. J. Im Min Health. 2010;12:823-827.
Murray KF, Shah U, Mohan N, Heller S, Peralta-Gonzales RP, Kelly D et al., Chronc
Hepatitis. J Ped Gastroenterol Nutrit. 2008;47:225-233.
Nguyen DH, Ludgate L, Hu J. Hepatitis B Virus – Cellinteractions and Pathogenesis.
J Cel Physiol. 2008; 216:289-294.
Niel C et al. Genetic diversity of hepatitis B virus Strains Isolated in Rio de Janeiro. J
Med. Virol.1994;44:180-186.
Norder H, Couroucé AM, MAgnius LO. Molecular basis of hepatitis B virus serotypes
variations within the fours mayors subtypes. J Gen Virol. 1992;73(12):3191-5.
82
Norder H, Couroucé AM, Magnius LO. Complete Genomes, phylogenetic relatedness
and structural proteins of six strains of the hepatitis B vírus , four of which represent
two new genotypes. Virol.1994;198:489– 503.
Nunes HM, Monteiro MRC, Soares MCP. Prevalência dos Marcadores Sorológicos
dos Vírus das Hepatites B e D na Área Indígena Apyterewa do Grupo Parajanã,
Pará, Brasil, Cad Saúde Pública, 2007;23(11):2756-2766.
Odusanya OO, Alufohai EF, Meurice FP, Ahonkhai VI. Determinants of Vaccination
Coverage in Rural Nigéria. BMC Public Health. 2008;8:381.
Olinger CM, Jutavijittum P, Hubschen JM, Yousukh A, Samountry B, Thammarong T
et al., Possible new hepatitis B virus genotype, Southeast Asia. Emerging Infectious
Disease, 2008;14(11):1777-1780.
Oliveira CSF, Silva AV, Santos KN, Fecury AA, de Almeida MKC, Fernandes AP et
al., Hepatitis B and C vírus infection among brazilian amazon riparians.Rev Soc Bras
Med Trop. 2011;44(5):546-550.
Osti C, Marcondes-Machado J. Vírus da hepatite B: avaliação da resposta sorológica
à vacina em funcionários de limpeza de hospital escola. Cien Saúde Coletiva.
2010;15(Suppl 1):1343-1348.
Ott JJ, Stevens GA, Groeger J, Wiersamc ST. Global Epidemiology of Hepatitis B
Virus Infection: New estimates of age-specific HBsAg seroprevalence and
endemicity. Vaccine. 2012;30:2212-2219.
Passos Ad, Gomes UA, Figueiredo Jf, do Nascimento MM, de Oliveira JM, Gaspar
Am, Yoshida CF. Prevalence of Serological Markers of Hepatitis B in a Small Rural
Community of São Paulo State, Brazil. Rev. Saúde Pública. 1992;26(2):119-124.
Patient R, Hourioux C, Roingeard P. Morphogenesis of Hepatitis B Virus and its
Subviral Envelope Particles. Cell Microbiol. 2009;11(11):1566-570.
Pereira LMMB, Martelli CMT, Merchán-Hanann E, Montarroyos UR, Braga MC, Lima
MLC, et al. Population-Basead Multicentric Survey of Hepatitis B Infection and Risk
Factors Differences among Three Regions in Brazil. Am. J. Trop. Med. Hyg.
2009;81(2):240-247.
Pereira LMMB, Ximenes RAA, Moreira RC, Braga MC, Montarroyos UR, Crespo D et
al. Estudo de Prevalência de Base Populacional das Infecções pelos Vírus das
Hepatites A, B e C nas Capitais do Brasil. Universidade de Pernambuco, Núcleo de
Pós-Graduação, Brasil, 2010. Disponível em:
http://www.aids.gov.br/publicacao/2010/estudo_de_prevalencia_de_base_populacio
nal_das_infeccoes_pelos_virus_das_hepatites_b. Acesso em setembro de 2013.
Petry A, Kupek EJ. Efetividade das vacinas anti-VHB (DNA recombinante) em
doadores de sangue de uma região endêmica para a Hepatite B no Sul do Brasil.
Rev Soc Bras Med Trop. 2006;39(5):462-466.
Pinheiro ARO, Fritzen C, Aquino K, Viana RG. Diagnóstico de Saúde e Nutrição da
População do Campo: levantamento de dados. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica. Coordenação Geral da Política de Alimentação e
Nutrição – Ministério da Saúde, Brasília, DF, 2004.
Poordad F, Chee GM. Viral Resistance in Hepatitis B: Prevalence and Management.
Curr Gastroenterol Rep. 2010;12:62-69.
83
Prince AM. Relation of Australia and SH antigens. Lancet. 1968;2:462-463.
Rodrigues-Frias F, Jardi R. Virologia Molecular Del Vírus de La Hepatitis B. Enferm
Infecc Microbiol Clin. 2008;26(Suppl7):2-10.
Sablon E, Shapiro F. Advances in molecular Diagnosis of HBV Infection and drug
resistance, Int J Med Sci. 2005; 2.
Santos AO, Alvarado-Mora MV, Botelho L, Vieira DS, Pinho JRR, Carrilho FJ. et al.
Characterization of Hepatitis B Vírus (HBV) Genotypes in Patients from Rondônia,
Brazil. Virol J. 2010;7:315.
Sauer S, Souza MR. Movimentos Sociais na Luta pela Terra: conflitos no campo e
disputas políticas. IN Ferrante WDCA. Reforma Agrária e Desenvolvimento: desafios
e rumos da política de assentamentos rurais, 2008(NEAD Especial11).
Schaefer S. Hepatitis B Vírus Taxonomy and Hepatitis B Vírus Genotypes. World
Gastroenterol. 2007;13(1):14-21.
Scopinho RA. Em busca de “elos perdidos” Projeto de Assentamento e modos de
identificação entre trabalhadores rurais assentados. Cadernos de Psicologia Social
do Trabalho. 2009;12(2):257-270.
Seo HS, Park JS, Han KY, Bae KD, Ahn SJ, Kang H A. et al . Analysis and
characterization of hepatitis B vaccine particles synthesized from Hansenula
polymorpha. Vaccine.2008; 26(33): 4138-4144.
Seeger C, Mason WS. Hepatitis B Virus Biology. Microbiol Mol Biol Rev.2000;64:5168.
Shivananda SV, Srikanth BS, Mohan M, Kulkarni PS. Comparison of two hepatitis B
vaccines (GeneVac-B and Engerix-B) in healthy infants in India. Clin Vaccine
Immunol, 2006;13(6): 661-664.
Shouval D. Hepatitis B Vaccines. J Hepatol, 2003;39:570-576.
Soares MC, Menezes RC, Martins SJ, Bensabath G, Epidemiology of Hepatitis B, C
and D viruses among indigenous Parakanã tribe in the Eastern Brazilian Amazon
Region. Bol Oficina Sanit Panam. 1994;117(2):124-135.
Souto FJ, Fontes CJ, Oliveira JM, Gaspar AM, Lyra LG. Epidemiological Survey of
Infection with Hepatitis B Virus in the Savannal and Wetlands (Pantanal) of Central
Brazil. Ann Trop Med Parasitol. 1997, 91(4)411-6.
Souto FJ, Fontes CJF, Gaspar AMC. Outbreak of Hepatitis B Virus in Recent
Arriveds to the Brazilian Amazon. J Med Virol.1998;56:4-9.
Souto FJD, Santos GAE, Philippi JC, Pietro BRC, Azevedo RB, Gaspar AMC.
Prevalência e Fatores Associados a Marcadores do Vírus da Hepatite B em
População Rural do Brasil Central. Rev. Panam Salud Publica. 2001;10(6):
Souto FJD, Fontes CJF, Oliveira SS, Yonamini F, Santos DRL, Gaspar
AMC.Prevalência da Hepatite B em área rural de município hiperendêmico na
Amazônia Mato-Grossense: situação epidemiológica. Epidemiologia e Serviço de
Saúde. 2004;13(2): 93-102.
Souza EA, Silca-Nunes M, Malafronte RS, Muniz PI, Cardoso MA, Ferreira UM.
Prevalence and Spatial distribuition of intestinal parasitic infections in a rural
84
Amazonian Settlement, Acre, State, Brazil. Cad. Saude. Publica. 2007;23(2):427434.
Souza FGM, Erdmann AL, Machel EG. Condições limitadoras para a integralidade
do cuidado à criança na atenção básica de saúde. Texto Contexto Enferm.
2011;20(esp):263-271.
Stuyver L, De Gendt S, Geyt CV, Zoulim F, Fried M, Schinase RF et al. A New
Genotype of hepatitis B virus: complete genome and phylogenetic relatedness. J
Gen Virol. 2000;81:67-74.
Sugauchi F, Orito E, Ishida T, Chuaputti A, Lai CL, Ueda R et al. Hepatitis B virus of
genotype B with or without recombination with genotype C over the precore region
plus the core gene. J Virol. 2002;76(12):5985-5992.
Tafuri S, Prato R, Martinelli D, Melpignano L, De Palma M, Quarto M. Prevalence of
Hepatitis B, C, HIV and Syphilis Markers among Refugees in Bari, Italy. BMC Inf Dis.
2010;10:213.
Tavares RS, Barbosa AP, Teles SA, Carneiro MAS, Lopes CLR, Silva AS et al.
Infecção pelo vírus da hepatite B em hemofílicos em Goiás: soroprevalência, fatores
de risco associados e resposta vacinal. Rev Bras Hematol Hemoter. 2004;26(3):183188.
Thakur V, Kazim SN, Guptean RC, Malhotna V, Sarin SK. Molecular Epidemiology
and Transmission of Hepatitis B virus in Close Family Contacts of HBV related
Chronic Liver Disease Patients. J Med Virol. 2003;70(4):520-528.
Tatematsu K, Tanaka Y, Kuranov F, SugauchiMano S, Maeshiro T et al. A Genetic
Variant of Hepatitis B Vírus Divergent from Know Human and Genotypes Isolated
from a Japanese Patient and Provisionally Assigned to New Genotypes J. J Virol.
2009;83(20):10.538-10.547.
Terra A. Reforma Agrária por Conveniência e/ou por Pressão? Assentamento
Itamarati em Ponta Porã-MS: “O Pivô da Questão” [Tese]. São Paulo: Universidade
Estadual Paulista – UNESP, Faculdade de Ciências e Tecnologias, 2009.
Terra A. O Assentamento Itamarati no Contexto dos Megaempreendimentos em
Territórios Sul-Matogrossense. Rev. Geog. Agrária. 2010;5(9):166-202.
Teles, SA, Martins RM, Gomes SA, Gaspar AM, Araujo NM, Souza KP. et al.,
Hepatitis B virus transmission in Brazilian hemodialysis units: serological and
molecular follow – up. J Med Virol. 2002;68:41 – 49.
Teixeira MA. As mudanças agrícolas no Mato Grosso do Sul: o exemplo da grande
Dourados,1989 [Tese] Programa de Doutorado em Geografia. Universidade de São
Paulo, SP.1989.
Tiollais MP, Zhu MC. The Hepatitis B. Pathol Biol. 2010;58:243-244.
Tood CS, Nasir A, Stanekzar MR, Bautista CT, Botros BA, Scott PT et al. HIV,
Hepatitis B and Hepatitis C Prevalence and Associates Risk Behaviors among
Female Sex Workers in three Afghan Cities. AIDS, 2010;24(Suppl2):579-575.
Tran TT. Understanding Cultural Barriers in Hepatitis B Virus Infection. Clev Clin J
Med. 2009;76(Suppl 3):S10-S13.
Tran TT. Immune Tolerant Hepatitis B: A clinical Dilemma. Gastroenterol Hepatol.
2011;7(8):511-516.
85
Tseng YT, Sum HY, Chang SY, Wu CH, Liu WC, Wu PY. Seroprevalence of hepatitis
virus infection in mem who have sex with men aged 18-40 years in Taiwan. J F Med
Ass. 2012;111:431-438.
Tujios SR, Lee WM. New Advances in Chronic Hepatitis B. Curr Opin Gastroenterol,
2012;28:193-197.
Urchei MA, Fietz CR, Camunello E, Lima Filho OF, W.M. S. Caracterização
Edoclimática do Assentamento Itamarati, MS, e Análise Socioeconômica Rural. 1ªed:
Embrapa Agropecuária Oeste. 2002:49.
Ugwu C, Varkey P, Bagniewki S, Lesnick T. Sero-epidemiology of hepatitis B among
New Refugees to Minnesota. J Im Min Health. 2008;10:469-474.
WHO – World Health Organization. Department of Vaccines and Biologicals.
Introduction of Hepatitis B Vaccine into Childhood Immunization Services.
Management Guidelines Incluind Informations for Health Workers and Parents, 2001.
Disponível em: www.who.int/vaccines-documents/ Acesso em setembro de 2013.
WHO – World Health Organization. Hepatitis B – Fact Sheet No 204, 2008.
WHO – World Health Organization. Hepatitis B Vaccine – WHO position paper.
Weekly Epidemiological Record, 84(40): 405-420, 2009. Disponível em:
http://www.who.int. Acesso em Junho de 2013.
WHO - World Health Organization. 2012a. Prevention & Control of Viral Hepatitis
Infection: Framework for Global Action, Vol 1.
WHO – World Health Organization. Hepatitis B Immunization Surveillance
Assessment and Monitoring, 2012b. Disponível em http://www.who.int. Acesso em:
Agosto de 2013.
Wit JBF, VET R, Schutten M, Steenbergen JV. Social-cognitive determinants of
vaccination behavior against hepatitis B: na assessment among men who have sex
with men. Prev Med. 2005;40:795-802.
Wunsch S. Cuidado em Saúde nas Famílias em Assentamento Rural: um olhar da
Enfermagem. Santa Maria [Dissertação]. Santa Maria: Universidade Federal de
Santa Maria – RS;2011.129p.
Valsamakis A. Molecular Testing in the Diagnosis and Management of Chronic
Hepatitis B. Clin Microbiol Reviews. 2007;20(3):426-439.
Van Herck K, Leuridan E, Van Damme. Schedules for Hepatitis B Vaccination of
Risck Group: balancing immunogenicity and compliance. Sex Transm Infect. 2007;
83:426-432.
Veiga GV, Burlandy L. Indicadores socioeconômicos, demográficos e estado
nutricional de crianças e adolescentes residentes em um assentamento rural do Rio
de Janeiro. Cad Saud Publica. 2001; 17(6): 465-472.
Vranjac A. Vacina Contra a Hepatite B. Rev. Saúde Pública. 2006;40(6):1137-1140.
Xu C, Zhou W, Wang Y, Qiao L. Hepatitis B Virus-Induced Hepatocellular Carcinoma.
Cancer Lett. 2013.
Zanetti AR, Van Damme P, Shouval D. The global impact of vaccination against
hepatitis B: a historical overview. Vaccine. 2008;26:6266-6273.
86
Zhang Y, Ma JC, Qi SX, Wang F, Zhao C, Bi SL. Effectiveness of a Chinese hamster
ovary cell derived hepatitis B vaccine in Chinese rural communities. Vaccine.
2011;29(22):3905-3908.
Zhang X, Zhang H, Ye Lihong. Effects of Hepatitis B Virus X Protein on the
development of Liver Cancer. J Lab Clin Med. 2006;147(2):58-66.
Zoulim F. New Insigh on Hepatitis B Virus Persistence from the Study of Intrahepatic
Viral CCCDNA. J Hepatol. 2005;42:302-308.
Zuckerman JN, Zuckerman Aj. Current Topics in Hepatitis B J Infection. 2000;41:130136.
Zhu P, Tan D, Peng Z, Liu F, Song L. Polumorphism Analyses of Hepatitis B Virus X
Gene in Hepatocellular Carcionma Patients from Southern China. Acta Bioch Biophy
Sinica. 2007;39(4):265-272.
87
Anexo A
88
Anexo B
89
Apêndice A
Epidemiologia das hepatites virais B e C em assentamento rural de
Mato Grosso do Sul.
Pesquisador responsável:
Prezado senhor (a):
Você está sendo convidado a participar, como voluntário (a), de uma
pesquisa sobre Hepatite Virais B e C. Este documento irá lhe fornecer informações
importantes sobre o estudo. Por favor, leia atentamente o conteúdo abaixo e
esclareça suas dúvidas junto à equipe para decidir se deseja ou não participar do
mesmo. No caso de aceitar fazer parte do estudo, assine este documento. Caso não
queira participar não será penalizado em nenhum sentido. Informamos que este
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa envolvendo seres humanos,
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Caso venha sentir-se
envergonhado, ou tímido com qualquer que seja o questionamento poderá recusarse a responder e até mesmo se recusar a continuar a pesquisa. Após a realização
dos testes sorológicos os resultados serão entregues lacrados á unidade de saúde
da Família, e em seguida entregue a todos os indivíduos pelos agentes comunitários
de saúde
OBJETIVOS DO ESTUDO
Para Ampliar o conhecimento sobre hepatite virais B e C pretende-se
estudar os perfis epidemiológicos e molecular da infecção causada por esses vírus
na população rural de assentamento em Mato Grosso do Sul.
CONDUÇÃO DO ESTUDO
Toda a pesquisa será realizada por uma equipe qualificada, após o
consentimento dos participantes. O roteiro a ser utilizado é constituído de duas
partes: a primeira se refere aos dados sociodemográficos e a segunda parte diz
respeito aos possíveis fatores de risco para a infecção pelos vírus das hepatites B e
C. Após a entrevista será coletado sangue (20ml), que será transportado para
análise laboratorial.
RISCO
Esta investigação não oferece quaisquer riscos aos pacientes.
90
BENEFÍCIOS
Os benefícios diretos com a participação neste estudo incluem o
conhecimento sobre ser ou não portador do vírus das hepatites B e C, bem como a
aquisição de informações que visem medidas de controle e prevenção dessas
infecções.
CONFIDENCIALIDADE
A sua identificação neste estudo ocorrerá somente no momento da
entrevista e da coleta de sangue. Se você concordar em participar, as informações
obtidas relacionadas a sua pessoa serão registradas em formulários e os dados
serão armazenados e analisados por computador em forma de códigos, não
havendo registro do seu nome. Assim, os seus dados pessoais serão mantidos em
sigilo e não será possível a sua identificação em qualquer fase de divulgação da
presente pesquisa. Mesmo assim, você tem liberdade de retirar o seu consentimento
a qualquer momento. Em caso de qualquer esclarecimento devo procurar a pessoa
responsável pela pesquisa pelo telefone da pesquisadora, Fabiana Perez Rodrigues
0XX67 – 3902 2684 e do Comitê de Ética da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul (0XX67 3345-7187).
Assinatura (do entrevistado ou responsável): ______________________
Assinatura do pesquisador_____________________________________
91
Apêndice B
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Epidemiologia das Hepatites Virais em Assentamento Rural em Mato Grosso
do Sul, MS
Pesquisador responsável:
Prezado senhor (a):
No ano de 2008, você participou de uma pesquisa sobre a identificação das
Hepatites Virais, na qual realizou teste para as hepatites B e C. Foi informado sobre
o diagnóstico dos testes e orientado os procedimentos seguintes. Neste momento
você está sendo convidado (a) novamente a participar, como voluntário (a), de uma
pesquisa que dará continuidade a identificação das hepatites virais, entretanto sendo
agora realizado testes paras as hepatites Virais A, E e D. Este documento tem como
objetivo lhe esclarecer sobre a pesquisa, os procedimentos da mesma e pedir
permissão para utilizarmos a amostra de sangue do senhor coletada no ano referido
acima. O senhor (a) não é obrigado (a) a aceitar, abaixo segue algumas
informações. Por favor, leia atentamente o conteúdo abaixo e esclareça suas
dúvidas junto à equipe para decidir se deseja ou não participar do mesmo. No caso
de aceitar fazer parte do estudo, assine este documento. Informamos que este
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa envolvendo seres humanos,
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
OBJETIVOS DO ESTUDO
Para Ampliar o conhecimento sobre hepatite virais, A, E e D pretende-se estudar os
perfis epidemiológicos e molecular da infecção causada por esses vírus na
população rural de assentamento em Mato Grosso do Sul.
CONDUÇÃO DO ESTUDO
Toda a pesquisa será realizada por uma equipe qualificada, após o consentimento
dos participantes. Não será preciso responder questionário, pois este foi respondido
92
no ano de 2008. Da mesma forma não será necessário neste momento a coleta de
sangue.
RISCO
Esta investigação não oferece quaisquer riscos aos participantes.
BENEFÍCIOS
Os benefícios diretos com a participação neste estudo incluem: a) conhecer sua
condição sorológica quanto aos vírus pesquisados b) encaminhar para tratamento
clínico caso seja positivo para algum marcador de infecção; c) a vacinação de
indivíduos susceptíveis; d) o esclarecimento das principais medidas de controle e
prevenção dessas infecções.
CONFIDENCIALIDADE
A sua identificação neste estudo ocorrerá somente neste momento de permissão e
assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Se você concordar em
participar, as informações que foram obtidas anteriormente (2008) relacionadas a
sua pessoa foram registradas em formulários e os dados foram armazenados e
serão analisados por computador em forma de códigos, não havendo registro do seu
nome. Assim, os seus dados pessoais serão mantidos em sigilo e não será possível
a sua identificação em qualquer fase de divulgação da presente pesquisa. Mesmo
assim, você tem liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento. Em
caso de qualquer esclarecimento deve procurar a pessoa responsável pela pesquisa
pelo telefone da pesquisadora Fabiana Perez Rodrigues: (67) 99715767 / Curso de
Enfermagem
- UEMS: (67) 3902-2684 e do Comitê de Ética da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (3345-7187).
Assinatura (do entrevistado ou responsável): __________________________
Assinatura de Testemunha:_________________________________________
Assinatura do pesquisador_________________________________________
93
Apêndice C
PROJETO: ASSENTAMENTOS
QUESTIONÁRIO
ID: AS │_│_│_│
SEÇÃO I - DADOS PESSOAIS
1- Nome (nome e sobrenome): ____________________________________________________________________________
2- Sexo: 1- Masculino ( ); 2- Feminino ( )
3- Te1:______-___________________________; Tel 2: ______-___________________________
4- Data de nascimento: ____/____/________
5- Você estudou até que série (especifique o nível – primário, fundamental, médio)? ____________
6- Aonde você nasceu (cidade e estado) ?______________________________________
SEX
TEL1 (
DNASC __/__/_____
IDADE
(
ESCOL (
NATEST (
7- Em relação à cor de sua pele, como você a classifica: 1- Branca ( ); 2- Negra ( );
3- Parda ( ); 4- Outra ( ) especificar: _____________________
8- Qual o seu estado civil?1- casado/união consensual( ); 2-Solteiro( ); 3-Separado( ); 4-viúvo( )
9- Renda Familiar MENSAL (em reais)?__________________________
SEÇÃO II – DADOS DO ASSENTAMENTO
10-Movimento: 1- MST( ); 2-FETAEG( ); 3-COPAG( ); 4-MTL( ); 5-SINTRAF ( );
6-Outro ( ), especificar: ___________________________ 7 – Sem informação; 8-CUT (
FETAGRI ( ); 10-AMFI ( )
11- Você já viveu em acampamento?1- Não ( ); 2- Sim ( )
)
(
)
)
)
)
COR (
)
ESTCIV (
RENDA (
)
)
MOV (
)
ACAM (
)
TACAM (
NCAM (
AGUACAM (
)
)
)
TAGUACAM (
)
BANACAM (
DBANACAM (
)
)
LIXACAM (
)
AGUASS (
)
TAGUASS (
)
BANASS (
DBANASS (
)
)
); 9-
SEÇÃO III – DADOS DA MORADIA DO ACAMPAMENTO
12-Por quantos anos você viveu em acampamento (especifique - meses ou anos)?________________________
13-Quantas pessoas moravam com você na mesma moradia?______________________________
14-Como era o fornecimento de água na região nesta época? 1-Poços/minas/represas--reservatório( )
2- Encanada-- Cisterna( ); 3-Encanada--Poço Artesiano ( ); 4- Encanada--lagos/represas/rio ( )
15-Tratamento dado a água consumida na época: 1-Filtra a água ( ); 2- Fervia a água( ); 3-Não
tratava ( ); 4- Outro ( ), especifique: _________________________________
16-Neste domicílio existia banheiro ou sanitário?1- Não ( ); 2- Sim ( )
17-Para onde iam os dejetos deste banheiro ou sanitário?1-Fossa séptica( ); 2-Fossa rudimentar ( );
3-Direto para rio, lago, represa( ); 5- Outra forma ( ), especifique: ________________________
18-Qual era o destino do lixo? 1- Queimado( ); 2- Enterrado( ); 3- Coleta( ); 4- Outro( ),
especifique: _________________________________
SEÇÃO IV – DADOS DA MORADIA DO ASSENTAMENTO
19-Como é o fornecimento de água na região?
1- Poços/minas/represas--reservatório ( ) 2-Encanada--Cisterna( ); 3- Encanada-- Poço Artesiano ( );
4- Encanada-- lagos/represas/rio ( )
20-Tratamento dado a água consumida: 1-Filtra a água ( ); 2- Ferve a água ( ); 3- Não trata ( );
4- Outro ( ), especifique: ___________________
21-Neste domicílio existe banheiro ou sanitário? 1- Não ( ); 2- Sim ( )
22-Para onde vão os dejetos deste banheiro ou sanitário?
1-Fossa séptica( ); 2-Fossa rudimentar ( ); 3-Direto para rio, lago, represa( ); 5- Outra forma ( ),
especifique: ________________________
94
23-Qual o destino do lixo? 1- Queimado( ); 2- Enterrado( ); 3- Coleta( ); 4- Outro( ), especifique:
_________________________________
SEÇÃO V – CONHECIMENTO E OPINIÃO
24- Você já ouviu falar de hepatites virais (tiriça)? 1- Sim ( ); 2-Não ( )
25- Quais? 1- hepatite A ( ); 2- hepatite E ( ); 3-hepatite B ( ); 4- hepatite C ( )
LIXASS (
CONHEP (
)
QUALHEP (
QUALHEP2 (
THEPC (
)
)
)
26- Você saberia me dizer como transmite a hepatite C? 1- não sabe ( ); 2- sim ( ), especifique o
modo de transmissão: __________________________________________________________
27- Você saberia me dizer como transmite a hepatite B? 1- não sabe ( ); 2- sim ( ), especifique o
THEPB (
modo de transmissão: __________________________________________________________
28-Algum caso de hepatite (tiriça) na família? 1- não ( ); 2- sim ( )
CASOHEP (
29-Se sim, qual o parentesco? 1-Pai ( ); 2- Mãe ( ); 3- Irmão ( ); 4- conjugue ( ); 5- outro ( ),
PARHEP (
especifique: _____________________
SEÇÃO VI – COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA HEPATITE B e C
30-Você ingere bebida alcoólica? 1-Não (
); 2- Sim (
) ‡ Se sim: 1-destilada (pinga, cachaça e
ALCOO (
outras) ( ); 2-cerveja( )
TIPOALCOO (
31-Você fuma?1- Não ( ); 2- Sim ( ), especifique a quantidade de maços/dia: _______
FUMA (
NFUMA (
32-Você já usou algum tipo de droga? 1- Nunca ( ); 2- Maconha( ) 3- Cocaína ( ) 4- Crack ( );
DROG (
5- Outras ( ), especifique:____________________________________
DROG1 (
33-Você usou alguma droga nos últimos 12 meses? 1-Não ( ); 2- Sim ( )
34-Você usou drogas injetáveis nos últimos 12 meses? 1- Não ( ); 2-Sim ( )
35-Com que idade você começou a usar drogas? _______
36-Você tem alguma tatuagem/piercing no corpo?
1 – Não ( ); 2- Sim ( )
Caso afirmativo: Nº de tatuagens/piercing _______
37-Você já foi hemotransfundido (recebeu sangue na veia)? 1 – Não ( ); 2- Sim ( )
38-Caso afirmativo, antes de 1994: 1- não ( ); 2- sim ( ); 3 – não lembra (
)
39- Você já esteve internado em alguma momento da vida? 1- Não ( ); 2- Sim ( )
Se sim, qual o motivo da internação (cirurgia ou clínico):______________________________
40- Já compartilhou material cortante de higiene (alicate de unha, prestobarba e outros)?
1- Não ( ); 2- Sim ( )
41- Já foi preso? 1- Não ( ); 2- Sim ( )
42-Quantas vezes já foi preso?____________
Seção VII – COMPORTAMENTO SEXUAL
43-Já iniciou atividade sexual? 1- Não ( ); 2- Sim ( )
44-Qual foi o número de parceiros sexuais nos últimos seis meses: _______
45-Já teve relação com parceiro do mesmo sexo? 1- Não ( ); 2- Sim ( )
46- Frequência do uso do preservativo nos últimos 12 meses?
1- Nunca ( ); 2- Raramente ( ); 3- Sempre ( )
47-Já contraiu algum tipo de DST? 1 – Não ( ); 2- Sim ( )
Seção VIII – VACINA
48-Você já foi vacinada contra hepatite B?
1- não ( ); 2- sim ( ); 3 – Não sabe informar ( )
Caso afirmativo, quantas doses da vacina você recebeu?
1 dose ( ); 2 doses ( ); 3 doses ( ); não sabe informar ( )
Caso negativo, você aceita receber a vacina neste momento?
1- não ( ); 2- sim ( )
Nome do Entrevistador: _______________________________________
)
12DROG (
UDI (
IDADROG (
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
(
(
)
)
(
(
INTER (
)
)
)
HIG (
)
PRESO (
)
)
TATOO
NTATOO
TRANSF
TRANSF1994
NPRIS (
INISEX (
NSEX (
HOMOSEX (
)
)
)
FPRV12 (
)
DST (
)
VACB (
)
VACDOSE (
)
VACADES (
)
95