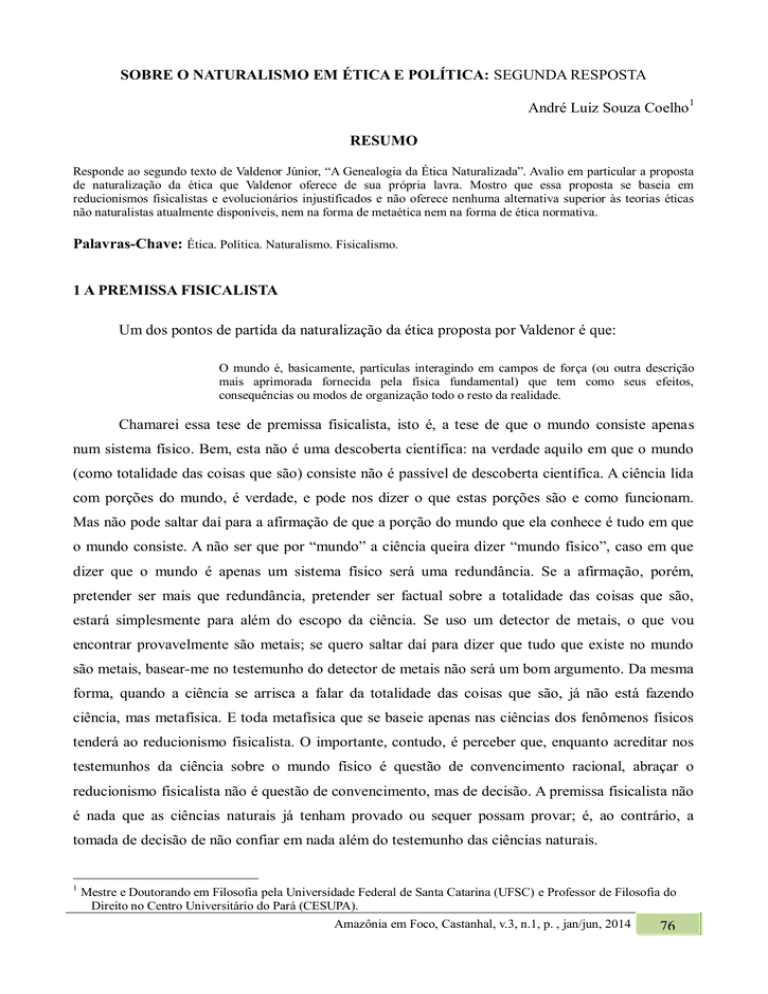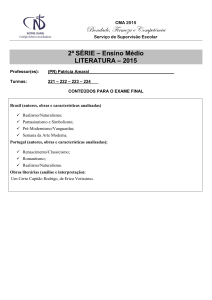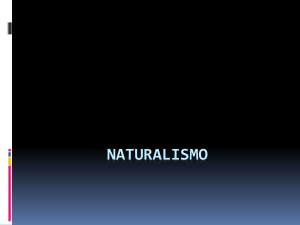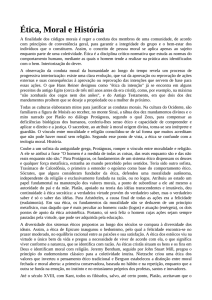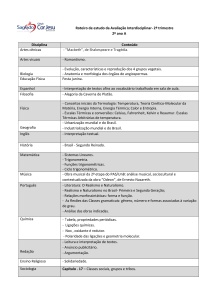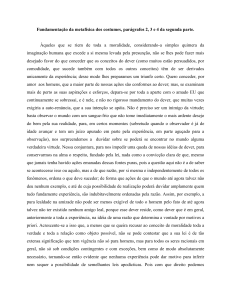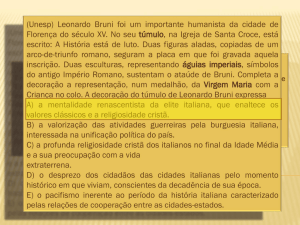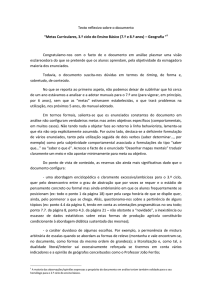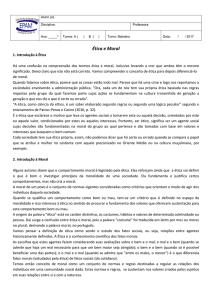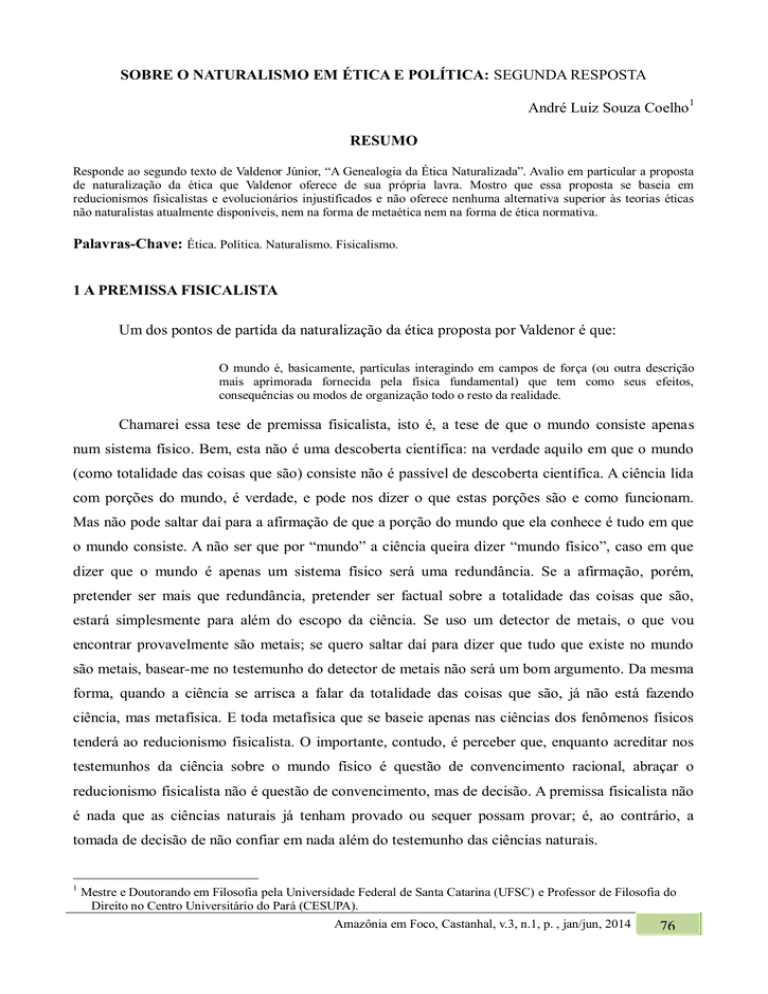
SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA
André Luiz Souza Coelho 1
RESUMO
Responde ao segundo texto de Valdenor Júnior, “A Genealogia da Ética Naturalizada”. Avalio em particular a proposta
de naturalização da ética que Valdenor oferece de sua própria lavra. Mostro que essa proposta se baseia em
reducionismos fisicalistas e evolucionários injustificados e não oferece nenhuma alternativa superior às teorias éticas
não naturalistas atualmente disponíveis, nem na forma de metaética nem na forma de ética normativa.
Palavras-Chave: Ética. Política. Naturalismo. Fisicalismo.
1 A PREMISSA FISICALISTA
Um dos pontos de partida da naturalização da ética proposta por Valdenor é que:
O mundo é, basicamente, partículas interagindo em campos de força (ou outra descrição
mais aprimorada fornecida pela física fundamental) que tem como seus efeitos,
consequências ou modos de organização todo o resto da realidade.
Chamarei essa tese de premissa fisicalista, isto é, a tese de que o mundo consiste apenas
num sistema físico. Bem, esta não é uma descoberta científica: na verdade aquilo em que o mundo
(como totalidade das coisas que são) consiste não é passível de descoberta científica. A ciência lida
com porções do mundo, é verdade, e pode nos dizer o que estas porções são e como funcionam.
Mas não pode saltar daí para a afirmação de que a porção do mundo que ela conhece é tudo em que
o mundo consiste. A não ser que por “mundo” a ciência queira dizer “mundo físico”, caso em que
dizer que o mundo é apenas um sistema físico será uma redundância. Se a afirmação, porém,
pretender ser mais que redundância, pretender ser factual sobre a totalidade das coisas que são,
estará simplesmente para além do escopo da ciência. Se uso um detector de metais, o que vou
encontrar provavelmente são metais; se quero saltar daí para dizer que tudo que existe no mundo
são metais, basear-me no testemunho do detector de metais não será um bom argumento. Da mesma
forma, quando a ciência se arrisca a falar da totalidade das coisas que são, já não está fazendo
ciência, mas metafísica. E toda metafísica que se baseie apenas nas ciências dos fenômenos físicos
tenderá ao reducionismo fisicalista. O importante, contudo, é perceber que, enquanto acreditar nos
testemunhos da ciência sobre o mundo físico é questão de convencimento racional, abraçar o
reducionismo fisicalista não é questão de convencimento, mas de decisão. A premissa fisicalista não
é nada que as ciências naturais já tenham provado ou sequer possam provar; é, ao contrário, a
tomada de decisão de não confiar em nada além do testemunho das ciências naturais.
1
Mestre e Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Professor de Filosofia do
Direito no Centro Universitário do Pará (CESUPA).
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
76
André Luiz Souza Coelho
Sendo assim, a premissa fisicalista não é nem verdadeira nem falsa: é uma decisão, uma
visão de mundo pela qual se opta, uma escolha de atitude cognitiva. Está, portanto, longe de ser
inquestionável ou incontroversa. Porém, quero chamar atenção para o fato de que, mesmo que fosse
verdadeira, a premissa fisicalista não contaria a favor da abordagem naturalista. Pois, mesmo que a
totalidade das coisas que são fosse um sistema físico e nada mais que isso, nada impediria que
criaturas físicas, surgidas e desenvolvidas num mundo físico, mas capazes de razão e imaginação,
se engajassem com dimensões e entidades que não pertencem ao mundo físico nem seguem suas
leis. A maioria dos filósofos da lógica e da matemática acreditam que ambos os domínios são deste
tipo. Relações e inferências lógicas de um lado, bem como números e operações matemáticas de
outro não apenas não pertencem ao mundo físico como não se comportam como nada que
conheçamos neste mundo. Mesmo que se adote a visão de que entidades lógicas e matemáticas não
são de fato entidades no sentido estrito, mas apenas modos de relação e de organização de
entidades, tais modos de relação e organização seriam ainda objetivos e obedeceriam a esquemas e
regras que fogem à influência do tempo, da gravidade ou causalidade. E mesmo que vários
cientistas da psicologia cognitiva defendam hoje que lógica e matemática devem ter se
desenvolvido nos seres humanos como capacidades estimuladas pela evolução e úteis para fins
adaptativos, isto ainda não modifica o fato de que se faz melhor lógica e matemática quando se
obedecem aos esquemas e regras dessas disciplinas do que se faria se se tentasse fazer inferências
dedutivas ou resolver cálculos complexos usando descobertas e previsões da psicologia evolutiva.
Uma coisa é a gênese evolucionária de um domínio ou atividade, outra coisa é a lógica interna que
prevalece neste domínio ou atividade.
Não vejo por que seria diferente com a ética ou com a política. Mesmo que o mundo fosse
um sistema físico, criaturas físicas poderiam alcançar entidades e relações não físicas na dimensão
normativa da ética e da política. Como na lógica e na matemática, estas dimensões não precisam
seguir as leis do mundo físico e, novamente, mesmo que tenham sido alcançadas por meios
evolucionários, não precisam ter sua lógica interna pautada por esquemas evolucionários. Trata-se
de um simples non sequitur.
Mas se poderia levantar a seguinte objeção: Não é o mesmo, porque a lógica e a matemática
são disciplinas formais, que não trabalham com conteúdos, apenas com esquemas e relações. Se A =
B e B = C, então, A = C, não importando ao que no mundo A, B e C se referem. Mas a ética e a
política não são formais. Elas tratam de conteúdo, e este conteúdo está diretamente relacionado com
circunstâncias, possibilidades e consequências, as quais dependem do mundo físico. Se os seres
humanos não se afogassem na água, então, Pedro ter caído na água não seria uma razão para João
resgatá-lo. Se os seres humanos não tentassem evadir-se de seus deveres, então, não haver
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
77
SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA
fiscalização contra sonegação de impostos não contaria como um defeito para um sistema político.
Se níveis elevados de álcool não nublassem o juízo dos seres humanos, então, Marco ter tido
relação sexual com uma Jéssica bêbada não seria uma razão para considerar o fato um tipo de
estupro.
Tudo isso é verdade, mas daí até a afirmação de que a ética e a política podem ser abordadas
em termos fisicalistas vai uma longa distância. Decisões éticas e políticas devem ser empiricamente
informadas, mas disto não se segue que as normas e critérios em que estas decisões se baseiam
dependam de fatos do mundo empírico. Para fins de comparação, tomemos um exemplo que não
pertence ao domínio ético, mas ao empresarial. Um presidente de empresa que precisasse tomar
decisão entre dois candidatos à vaga de diretor precisaria estar informado de que o candidato A é
mais eficiente e o candidato B é mais ousado, mas privilegiar eficiência ou ousadia dependeria do
tipo de empreendedor que ele é, e não do que tais informações lhe disseram. Trata-se de uma
decisão empresarial, a qual é em parte resultante de informação empírica e em parte resultante do
tipo de atitude que ele tem perante riscos e resultados. Agora retornemos ao domínio ético. Da
mesma forma, nas decisões éticas estão em jogo não apenas fatos, mas principalmente normas com
que se articulam estes fatos. Pode ser verdade que seres humanos se afogam na água e pode ser
verdade que Pedro caiu na água e que João pode salvá-lo, mas se não for verdade que João tem o
dever de ajudar Pedro toda vez que Pedro precise e João o possa sem prejuízo para si, então, os
fatos seriam irrelevantes e não constituiriam uma razão para João atirar-se na água para resgatar
Pedro. E que João tem aquele dever com Pedro não é um fato empírico, e sim uma norma. Ou seja:
É verdade que a ética e a política lidam com conteúdos, e tais conteúdos são dependentes de
informação empírica, mas o que é decisivo nessas disciplinas são as normas, e estas não apenas não
podem ser conhecidas empiricamente como também não são dependentes de informação empírica.
Mas é precisamente isto que o naturalista quer desafiar. Ele não nega que a ética e a política
dependam de normas, mas insiste que normas são entidades físicas como outras quaisquer. Na
medida em que os seres humanos se desenvolveram como criaturas vivas lutando por sobrevivência,
é provável, diz o naturalista, que as normas que hoje constituem nossa moralidade tenham vindo à
tona como esquemas comportamentais resultantes da evolução e úteis no processo de adaptação. O
que chamamos de normativo nada mais seria que aprendizado empírico reproduzido e consolidado
por seleção natural e hereditariedade.
Ora, se esta tese se basear na suposição de que, tendo se desenvolvido por meio de um
processo evolucionário, a ética e a política têm sua lógica interna determinada por esquemas
evolucionários, então, incorre na falácia que já despachamos acima. Como vimos com a lógica e
com a matemática, ter tido gênese evolucionária não implica obedecer a uma lógica evolucionária.
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
78
André Luiz Souza Coelho
Se, no entanto, não se baseia naquela suposição falaciosa, mas sim na expectativa de provar
que as normas éticas que reconhecemos como válidas podem ser obtidas a partir de raciocínios que
obedecem a esquemas evolucionários, então, estamos diante de um novo tipo de desafio. Agora o
naturalista não usa a premissa fisicalista para produzir uma conclusão precipitada, isto é, não se
baseia na afirmação de que no mundo nada há que não seja físico para daí derivar que a ética e a
política, se existem no mundo, devem também estar conectadas com entidades físicas e seguir leis
físicas. Não, agora o argumento se tornou mais sofisticado – na mesma medida em que tornou a
premissa fisicalista desnecessária, pois poderia ser bem sucedido mesmo que esta fosse falsa – e
consiste em mostrar que, através de esquemas evolucionários, se explicam as normas éticas e
políticas que reputamos válidas. Isto requererá um novo exame crítico.
2 VALOR EVOLUCIONÁRIO DA ÉTICA
Gostaria em primeiro lugar, antes de examinar a tentativa do naturalismo de derivar normas
éticas de esquemas evolucionários, de despachar ainda outra variante do argumento do “se teve
gênese evolucionária, então, obedece a uma lógica evolucionária”. Trata-se da variante que adiciona
que um padrão de comportamento só se generaliza numa espécie viva se em algum momento os
indivíduos que dispõem daquele padrão passam a ter chances maiores de gerarem descendentes do
que os que não dispõem do mesmo padrão. Ou seja, um padrão de comportamento só se generaliza
se acarreta uma vantagem adaptativa e, portanto, se tem algum valor evolucionário.
Esse é novamente um argumento apriorístico: assim como o outro se baseava na suposição
de que “é impossível existir e não ser físico, logo, se a ética existe, ela deve ser física”, este se
baseia na suposição de que “é impossível se generalizar e não ter valor evolucionário, logo, se a
ética se generalizou, ela deve ter valor evolucionário”. Digo que é apriorístico não porque não se
baseie em conhecimento empírico, e sim porque não oferece nenhuma prova de que, no primeiro
caso, a ética é física nem de que, no segundo caso, a ética tem valor evolucionário, mas apenas se
baseia na constatação de que, se não for este o caso, então, se contrariaria uma premissa geral da
qual não se está disposto a abrir mão. É uma reductio ad absurdum em que o absurdo é apenas o
contrário do que certa premissa científica amplamente aceita, mas não totalmente provada, afirma
ser verdade.
Como seu antecessor apriorístico, este novo argumento tem problemas. Quero dar dois
exemplos do tipo de equívoco que ele comete. O primeiro exemplo envolve a pesquisa em ciência
pura. Ora, é sabido que ciência pura é, por definição e em oposição à ciência aplicada, a que se
desenvolve com vista ao conhecimento em si, independentemente da aplicação que este
conhecimento possa ter na guerra, na indústria, na administração etc. Também é sabido que vários
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
79
SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA
desenvolvimentos e descobertas da ciência pura se provaram posteriormente úteis e rentáveis para a
ciência aplicada. Pesquisa-se sobre relatividade e isso depois permite lançar satélites, pesquisa-se
sobre fusão atômica e isto depois permite fazer bombas atômicas bem como fornos de micro-ondas,
pesquisa-se sobre hereditariedade e isto depois permite criar novas variedades de plantas e fazer
diagnósticos pré-implantação de embriões etc., os exemplos são inúmeros. É sabido, por fim, que a
expectativa de que os desenvolvimentos e descobertas da ciência pura venham a se provar úteis e
rentáveis para a guerra, a indústria, a administração etc. é o verdadeiro motivo por que empresas e
governos ao redor do globo investem tanto dinheiro em pesquisa de ciência pura. Os que financiam
a construção do mais poderoso acelerador de partículas geralmente não partilham do mesmo amor
pelo saber e pela descoberta dos cientistas que farão uso dele, mas apenas acreditam que as
descobertas destes cientistas podem ser a chave para novos desenvolvimentos técnicos com sabe-se
lá quantas e quais aplicações em setores com vultoso retorno econômico. Disso tudo se sabe. Mas
disso tudo não se segue que a ciência pura se torne, então, ciência aplicada. Pelo contrário, embora
se invista na ciência pura na esperança de que ela gere resultados para a ciência aplicada, é apenas
na medida em que a ciência pura for realmente pura, isto é, buscar realmente o saber por puro
interesse pela verdade, que ela se torna capaz de fazer descobertas revolucionárias que mais tarde se
podem converter em grandes lucros para seus investidores. Isto prova que ter valor para a ciência
aplicada não é o mesmo que ser uma ciência aplicada: pelo contrário, a ciência pura tem mais valor
para a ciência aplicada precisamente quando não opera como ciência aplicada, e sim como ciência
pura. (Aliás, este pode ser o caso da relação entre ciência pura e evolução: a ciência pura pode ter
valor evolucionário precisamente quando, em vez de buscar de modo imediato o que é
evolucionariamente útil, busca o que é verdadeiro no mundo.) Algo pode ter mais valor para certo
fim precisamente quando não tem aquele fim em vista, ou, o que é o mesmo e se relaciona mais
com o que aqui discutimos, algo pode ter valor para certo fim sem ter sua lógica interna governada
por aquele fim. Este poderia ser o caso com a ética tendo valor para a evolução: disto não se
seguiria, automaticamente, que sua lógica interna é governada por esquemas evolucionários. Pelo
contrário, poderia ser que a ética tivesse valor para a evolução precisamente na medida em que se
concentra no que é eticamente bom, e não no que é evolucionariamente útil.
Agora recorro a um segundo exemplo: o do jogo. Jogos podem ter valor para muitas coisas.
Proporcionam uma forma de recreação, reforçam laços de amizade, permitem aos participantes
competirem e lutarem em segurança e segundo regras, fornecem padrões de recompensa pelo
talento, pelo esforço e pelo mérito etc. Mas os jogos só conseguem fazer cada uma destas coisas na
medida em que funcionam a partir de seu universo e de suas regras próprias. Sempre que um jogo é
influenciado por algo externo a ele, perde seu valor intrínseco e se torna fonte de frustração, em vez
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
80
André Luiz Souza Coelho
de realização. Derrotar um grande rival tem valor inestimável, mas tudo cai por terra se se sabe que
o árbitro ou o próprio rival foi subornado para garantir aquele resultado. O competidor local sair
vencedor da competição contra muitos outros estrangeiros, especialmente quando não era o
favorito, pode ser fonte de euforia e orgulho, mas o ouro logo se converte em terra seca se se
descobre que os rivais foram ameaçados pelo ditador local, que quis impor uma vitória pelo medo.
Um chefe nunca sabe se ganhou a partida de tênis contra seu empregado porque jogou de fato
melhor ou porque o rival supunha que perder a partida era a atitude mais prudente. A criança que
joga contra o pai só obtém satisfação de sua vitória porque não sabe que ela resultou de o adulto têla deixado ganhar. Em todos estes casos, o jogo só mantém sua magia e só cumpre sua função,
qualquer que seja ela, se sua lógica interna permanecer intacta. Ora, adotando o mesmo raciocínio
apriorístico visto acima, o jogo, como padrão de comportamento que se generalizou na espécie,
deve ter algum valor evolucionário. Mas disso não se segue que fazer um xeque-mate, acertar a bola
entre as traves, arremessá-la dentro da cesta, chegar em primeiro numa corrida curta tenham, em si
mesmos, valor evolucionário. O que tem valor evolucionário é ser capaz de engajar-se num jogo e
competir, mas como se compete em cada jogo não depende da lógica da evolução, e sim das regras
de cada jogo. Novamente, o exemplo mostra que servir a certo fim não implica ter sua lógica
interna governada por aquele fim. Pode ser exatamente o contrário: que uma atividade atenda
melhor a certo fim quando é governada por sua lógica interna própria que é estranha àquele fim. E
isso que ocorre com o jogo, pode ocorrer também com a ética. Do fato de que a ética tenha valor
evolucionário não se segue que não possa ter sua lógica própria, estranha aos esquemas da
evolução. Pode ser exatamente o contrário: que ela seja útil para a evolução na medida em que
habilita os seres humanos a se engajarem em interações governadas por uma lógica estranha à da
evolução.
Tudo isso para despachar o argumento apriorístico de que, se se generalizou, então, certo
padrão de comportamento deve ter valor evolucionário e, por isso, ser governado por uma lógica
evolucionária. Trata-se, de novo, de um non sequitur. Para mostrar que certo domínio, como a ética,
é governado por uma lógica evolucionária, é preciso mais do que mostrar que ela teve valor
evolucionário: é preciso mostrar que, a partir de esquemas evolucionários, se explicam as normas
éticas de modo satisfatório e superior a como as mesmas são explicadas por abordagens não
naturalistas. Esta tentativa Valdenor faz, inspirado por Nozick, baseando-se na ideia de cooperação
social. Examinemos agora esta tentativa e por que, a meu ver, ela falha no seu intento.
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
81
SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA
3 ÉTICA COMO APRENDIZADO EVOLUCIONÁRIO DE COOPERAÇÃO
Valdenor afirma que toma como ponto de partida a seguinte sugestão de Nozick:
Voltando ao “Invariances“, Nozick (2001, p. 239) observa que, para explicar
adequadamente a emergência da capacidade das normas éticas, precisamos de uma função
que não seja descrita em termos éticos explícitos. E esta função se encontraria nas
vantagens de coordenação/cooperação em benefício mútuo que as normas éticas tornam
possível. As normas éticas permitem que os agentes possam obter ganhos mútuos maiores
do que seus respectivos “níveis de segurança”, um conceito de teoria dos jogos (NOZICK,
2001, p. 243-246).
Funcionaria mais ou menos assim: O ser humano tem maior chance de sobreviver e gerar
descendentes se se unir a outros em empreendimentos conjuntos; tem maior chance de conseguir
unir-se e permanecer unido a outros nestes empreendimentos se for capaz de cooperar com eles em
condições que gerem benefícios mútuos; segue-se disso que os seres humanos que se tornaram
capazes de cooperação mutuamente benéfica sobreviveram em maior número e geraram maior
número de descendentes; nós somos precisamente estes descendentes, de modo que nossa
moralidade hoje é resultante desta ancestral capacidade de cooperação mutuamente benéfica. Isto
para os que defendem o naturalismo como uma metaética que explica por que temos a moralidade
que temos. Já para os que defendem o naturalismo como uma ética normativa que indica quais
padrões de conduta são corretos, a conclusão do raciocínio acima seria esta outra: nossa moralidade
hoje precisa ser reformada para ajustar-se melhor e exclusivamente ao padrão da cooperação
mutuamente benéfica, único que de fato tem valor evolucionário. No meu comentário crítico,
ocupar-me-ei das duas variantes, metaética e normativa, do projeto ético naturalista.
a) O naturalismo metaético
Primeiro, a versão metaética. Nesta versão, o naturalismo não é uma teoria ética que nos
diga o que deve ser feito. Na verdade, os critérios e normas que indicam o que deve ser feito já
estão inscritos em nossos padrões evolucionários de comportamento. O papel que se reserva ao
naturalismo é apenas de explicar por que os critérios e normas éticas são estes que são, e não outros.
O naturalismo metaético não se ocupa de qual o padrão correto de conduta, mas antes de como a
espécie veio a selecionar certos padrões de conduta como corretos em detrimento de outros
possíveis. Este naturalismo não nos indica como sermos morais, mas apenas explica como viemos a
nos tornar seres dotados de moralidade.
É preciso examinar dois aspectos do naturalismo metaético: sua plausibilidade enquanto
explicação da gênese da moral e sua efetividade na resolução de problemas metaéticos relevantes,
sobretudo o do ceticismo. Quanto à sua plausibilidade, o naturalismo metaético propõe, no fim das
contas, que a cerne da moralidade é a cooperação mutuamente benéfica. Há vários problemas com
esta tese, e gostaria de elencar alguns. Um deles é que não se ajusta bem com a história da
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
82
André Luiz Souza Coelho
moralidade. Fosse a cooperação mutuamente benéfica o cerne da moralidade, seria de esperar que
as sociedades desenvolvessem seus sistemas morais em primeiro lugar em torno desta ideia.
Contudo, a ideia de que a moralidade diz respeito principalmente a como lidamos com os outros e
de que seu critério é ser benéfica para todos os envolvidos é recente e moderno. A maioria dos
sistemas morais primitivos se concentra se ocupa vastamente com a natureza, com os deuses, com
demônios, com antepassados mortos, com totens e símbolos, com rituais de preparação e de
purificação etc., elementos que jamais se esperaria de sistemas morais que se tivessem desenvolvido
em torno da cooperação mutuamente benéfica. A ética das civilizações grega e romana se
preocupou sobretudo com a ideia de virtude, de felicidade, de vida bem vivida, de honra, de
piedade, de temperança, de frugalidade etc., todos elementos que se relacionam mais com como
cada indivíduo cultiva a si próprio do que com como se relaciona com os demais ou com quanto os
demais ganham com isso. É apenas com as sociedades modernas e o advento do capitalismo que os
seres humanos encontraram na atividade econômica um exemplo de interação em que o benefício
mútuo poderia ter função moralizadora, na medida em que não se matava, roubava, agredia ou
discriminava sob pena de prejudicar certo equilíbrio de interesses em jogo entre aqueles que
interagiam. Não é que os antigos e medievais não conhecessem o comércio e as vantagens
econômicos do respeito recíproco, é apenas que jamais conceberam que pudesse ser este o cerne da
moralidade, mas, ao contrário, sempre fizeram questão de separar bem claramente a moralidade
instrumental do comércio da moralidade genuína da virtude. Somente na modernidade se engendrou
a ideia de que talvez a segunda moralidade se resumisse à primeira. Se o naturalismo metaético quer
sugerir que o cerne da moralidade é a cooperação mutuamente benéfica, precisa ser capaz de
explicar por que apenas nas sociedades modernas veio à tona a ideia de que a moralidade se resuma
a interações mutuamente benéficas. Por que a humanidade passou tanto tempo dando tanta
importância moral a objetos diversos da cooperação mutuamente benéfica se esta tinha sido desde
sempre o cerne da moralidade?
Outro problema é que a redução da moralidade à cooperação mutuamente benéfica viola
várias das intuições morais amplamente compartilhadas por seres humanos. Por um lado, há várias
situações de cooperação mutuamente benéfica que não são consideradas moralmente relevantes. A
repartição dos lucros de uma empresa de modo a contemplar todos os funcionários envolvidos na
conquista daqueles ganhos é, para a maioria dos indivíduos, uma situação em que está em jogo a
cooperação mutuamente benéfica, mas nem por isso é uma situação em que se diga que os diretores
da empresa têm o dever moral de dividir os lucros com seus empregados. A situação em que se vai a
um restaurante sofisticado e concorrido e se dá aos garçons e ao maître gorjetas vultosas para, mais
tarde, voltando na companhia de amigos ou de um interesse romântico, receber preferência ou
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
83
SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA
tratamento mais cuidadoso, é claramente uma em que a cooperação mutuamente benéfica está em
jogo, mas nem por isso se considera que a troca de gorjetas por favores seja uma questão moral
(pelo contrário, poderia ser que, chegando numa noite concorrida, o cliente das gorjetas vultosas
esperasse ter preferência para conseguir uma mesa e, para a maioria dos indivíduos, moralmente
correta seria precisamente a decisão de deixá-lo esperar na fila como todos os demais, e não a de
fazer uma exceção em seu favor, a qual seria a alternativa que realizaria a cooperação mutuamente
benéfica). Isso prova um lado da questão: nem tudo que envolve cooperação mutuamente benéfica
tem sentido ou relevância moral.
Mas falta provar o lado inverso: nem tudo que tem sentido ou relevância moral tem a ver
com cooperação mutuamente benéfica. Os exemplos mais diretos, que já mencionei ao falar da ética
clássica, envolvem as virtudes. Várias das virtudes que são consideradas eticamente desejáveis e
relevantes sequer tem a ver com cooperação. Pense na coragem, na paciência, na generosidade, na
temperança etc. É claro, a depender do quão elástica for a concepção de cooperação mutuamente
benéfica que o naturalista esteja defendendo, ele pode fazer a acrobacia argumentativa necessária
para reconduzir qualquer coisa de volta à ideia de cooperação. Pode dizer que a coragem tem a ver
com ser capaz de lidar com riscos e de enfrentar perigos em nome de um fim, capacidade utilíssima
para fins de cooperação; que a paciência tem a ver com saber esperar e não tomar decisões
precipitadas com base em ansiedade, desinformação ou impulso, qualidade também bastante
desejável no membro de uma cooperação; que a generosidade tem a ver com reverter situações de
vantagem ou abundância para si em oportunidades de ajuda e incentivo para outros, o que pode ser
decisivo para fazer girar a roda da cooperação; finalmente, que a temperança tem a ver com obter
autocontrole e evitar vícios e excessos, o que torna seu possuidor mais confiável e produtivo para os
fins da cooperação. Mas, com tudo isso, o naturalista teria apenas provado que ser virtuoso ajuda a
ser cooperativo, o que não é surpresa, pois, segundo a abordagem padrão sobre as virtudes, elas são
traços de caráter que ajudam a ser melhor no que quer que seja. Se, em vez de cooperação, se
estivesse falando de pilhagem, falsificação, prostituição e escravidão, é provável que também se
conseguisse provar, com mais ou menos esforço argumentativo, que as virtudes acima listadas
teriam impacto positivo na realização destas atividades. É a razão pela qual mostrar que virtudes
contribuem para a cooperação não quer dizer nada; seria preciso mostrar que elas se qualificam
enquanto tais apenas quando voltadas para a cooperação ou que elas têm em vista em última
instância a promoção da capacidade cooperativa. E é isso que o naturalista metaético não pode
provar. Não pode, porque aquele que busca ser virtuoso busca a felicidade ou perfeição, e não a
cooperação. O eremita isolado, privado de se comunicar, e a fortiori de cooperar, com quem quer
que seja, ainda pode, em sua vida de solidão, ser corajoso, generoso, paciente e temperante sem que
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
84
André Luiz Souza Coelho
nenhuma destas virtudes perca nada do seu brilho. Isto não é assim por acaso: é que entre virtude e
cooperação a conexão é contingente, não necessária.
Mas não é preciso recorrer a uma ética das virtudes para encontrar exceções à identificação
da moral com a cooperação mutuamente benéfica. Numa ética deontológica da ação, a situação se
prova ser a mesma. Kant diria que uma ação cuja motivação se encontrasse na cooperação
mutuamente benéfica em vez de no dever moral careceria de verdadeiro valor moral. Embora Kant
seja pródigo em exemplos que desafiam as intuições morais dos indivíduos, em pelo menos um
deles capta a intuição moral prevalecente de modo cristalino e torna inteligível a distinção
conceitual que a mentalidade comum faz sem dar-se conta. Assim é no famoso exemplo do
comerciante que, atendendo uma criança, lhe dá o troco devido, mesmo sendo capaz de enganá-la,
não porque se trata da coisa certa a fazer, mas antes porque sabe que, se as pessoas souberem que
seu estabelecimento é um em que até uma criança será tratada honestamente, fortalecerá seu nome
na praça e atrairá um número muito maior de clientes no futuro. Trata-se de uma intuição moral
compartilhada por todos que, neste caso, a motivação pela qual agiu maculou o valor moral da ação.
Temos todos a clara impressão de estarmos diante de um caso em que o agente agiu do modo certo
pelos motivos errados. E essa é uma intuição moral que provavelmente não teríamos se a moral
girasse em torno da cooperação mutuamente benéfica. Pois o que o comerciante fez foi
precisamente levar em conta a cooperação mutuamente benéfica para decidir como agir, contudo,
segundo nossa intuição, foi ao fazer isso que se desviou da ação moral. O naturalista talvez dissesse
que dar a todo cliente o troco devido é um padrão cooperativo muito mais efetivo e que é por isso
que cobramos do comerciante que agisse segundo aquele padrão mais amplo, em vez de pensar nas
consequências daquele ato em particular. Mas novamente a explicação do naturalista soaria, aos
ouvidos de nossa intuição moral, nada além de uma explicação prudencial mais elaborada sobre por
que é mais benéfico a longo prazo e em larga escala certa conduta em vez de outra; a explicação soa
como falando de autointeresse esclarecido, e não de moralidade propriamente dita. Este ponto,
captado por Kant brilhantemente, mostra como a cooperação mutuamente benéfica não apenas não
informa nossas intuições morais, mas é mesmo rejeitada por elas como candidato a cerne genuíno
da moralidade.
Isto basta quanto à plausibilidade. Falemos da efetividade do naturalismo metaético para
resolver questões metaéticas relevantes. À primeira vista, esta forma de naturalismo resolveria
vários problemas de metaética. Em que consistem os enunciados morais? Em enunciados sobre
padrões de cooperação mutuamente benéfica. Podem os enunciados morais ser verdadeiros e falsos?
Sim, na medida em que resultam cooperativos ou não, mutuamente benéficos ou não etc. Com que
tipo de raciocínio chegamos a conhecer os enunciados morais? Com um raciocínio prático voltado
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
85
SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA
para a cooperação mutuamente benéfica. Como os seres humanos chegam a ter senso de
moralidade? Por um processo evolucionário de seleção dos parceiros mais aptos à cooperação e,
portanto, mais prováveis de sobreviverem e gerarem descendência. Podem os enunciados morais ter
validade universal? Sim, porque existem certas invariâncias da natureza humana e das
circunstâncias de sua existência no mundo, de modo que algumas normas e critérios morais serão
capazes de produzir cooperação mutuamente benéfica entre quaisquer seres humanos em qualquer
contexto considerado etc.
Contudo, trata-se de um lugar comum na metaética afirmar que todas as questões metaéticas
fundamentais derivam de (e convergem para) um mesmo desafio: responder ao cético moral. O
cético moral ocupa na metaética o mesmo papel central que o cético cognitivo ocupa na
epistemologia. O cético cognitivo levanta dúvidas sobre termos mesmo algum conhecimento,
mostrando cenários em que poderíamos pensar conhecer coisas no mundo sem de fato conhecê-las.
Por exemplo, se em vez de indivíduos no mundo, fossemos cérebros num tanque, recebendo
estímulos que criam em nossa mente a ilusão de sermos indivíduos no mundo. Se o experimento
fosse conduzido de modo eficiente, não notaríamos qualquer diferença entre as experiências
sugeridas pelos estímulos e experiências que tivessem lugar no mundo real. Pode parecer que isso
faria pouca diferença, mas, do ponto de vista do conhecimento, faria muita. Quando pensássemos
estar sentados numa cadeia, seríamos na verdade cérebros num tanque que pensam que têm corpos
que estão sentados em cadeiras. O que acreditaríamos estaria conforme nossa experiência, mas não
estaria conforme a realidade. Seria, portanto, falso, não se qualificando como conhecimento. Para
sustentar que, quando penso estar sentado numa cadeia, estou de fato sentado numa cadeira, é
preciso afastar a hipótese de que eu seja um cérebro num tanque tendo esta experiência estimulada
sobre mim artificialmente. E, como a hipótese cética supõe que o experimento fosse conduzido
eficientemente e não deixasse indícios da diferença entre ilusão e realidade, não há nada na minha
experiência no mundo que eu possa apontar como prova de que não um cérebro num tanque, porque
qualquer coisa que apontasse como tal prova poderia ser produto da ilusão que me é estimulada
como cérebro num tanque. Da mesma forma, o cético moral lança desafios sobre a ideia de
moralidade. Existem diversos tipos de cético moral: o que duvida que enunciados morais tenham
sentido, o que duvida que a moral seja objetiva, o que duvida que a moral seja universal, o que
duvida que existam boas razões para agir moralmente etc. E, assim como fundamentar a validade do
conhecimento implica propor argumentos convincentes contra os desafios do cético cognitivo
(como a hipótese do cérebro no tanque), da mesma forma, fundamentar a validade da ética implica
propor argumentos convincentes contra os desafios do cético moral.
Estes desafios são vários. Um bastante conhecido é o da lenda do anel de Giges, que se
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
86
André Luiz Souza Coelho
encontra em A República, de Platão. Conta a lenda que Giges era um pastor, que achou um anel que
o tornava invisível, permitindo-lhe cometer crimes e abusos sem ser descoberto, poder de que fez
uso para ficar rico, matar o rei, desposar a rainha e tornar-se um tirano. O que a lenda significa é
que os seres humanos jamais são morais por livre vontade, mas apenas por medo de serem
descobertos e condenados pelos demais; cessado este medo, todos se mostrariam como de fato são,
isto é, egoístas e inescrupulosos. Isto mostraria que não apenas todos os seres humanos são egoístas,
mas que o que os impede de cometerem crimes e abusos o tempo todo é também uma razão egoísta.
O egoísmo só seria, então, refreado pelo próprio egoísmo. A lenda do anel de Giges pretende ser ao
mesmo um desafio contra a existência da moralidade (no caso, de comportamentos cujos motivos
fossem de fato morais) e contra as razões para se comportar moralmente (cessada a chance de
descoberta e punição, todos optaríamos pelos crimes e abusos). Portanto, para que um teórico
fundamente a validade da moral, precisa ser capaz de responder a desafios como este de modo
convincente.
Ora, o cético moral que se apoia na lenda do anel de Giges não apenas não se consideraria
refutado pela metaética naturalista, como ainda se consideraria reconfirmado por ela. Pois o que a
metaética naturalista alega é que o cerne da moralidade consiste na cooperação mutuamente
benéfica. Ora, mas por que alguém se engajaria em cooperação, se pudesse, em vez disso,
escravizar a todos e torná-los servos de suas vontades? A metaética naturalista não apenas não tem
resposta para esta questão, como ainda reforça o ceticismo que a inspira. Ela diz: “De fato, se fosse
possível escravizar a todos e torná-los servos de suas vontades, ninguém teria razão para cooperar; é
apenas porque esta não é uma possibilidade, isto é, é apenas porque se depende da cooperação
voluntária de outros e estes não costumam estar dispostos a cooperar com quem não lhes oferece
nada em troca, que cooperar se torna uma alternativa atraente”. Isso é dizer que a moralidade nada
mais é que egoísmo esclarecido, o que, em vez de refutar o cético moral, o confirma totalmente. O
cético estaria, então, disposto a aceitar a metaética naturalista, mas não como fundação da
moralidade, e sim como prova de sua inexistência e impossibilidade.
Vejamos agora outro tipo de cético. Segundo alguns, enunciados morais, tomados como se
referindo a valores ou normas, não fazem sentido, isto é, não são do tipo que se possa aceitar ou
rejeitar racionalmente, porque não são passíveis de valores de verdade e falsidade. Para estes
céticos, os únicos enunciados passíveis de valores de verdade são os que se referem a fatos no
mundo, isto é, enunciados factuais. Dizem que, a menos que se mostre que enunciados morais
podem ser convertidos ou reduzidos a enunciados factuais, os enunciados morais permanecerão
vazios de sentido. Se, contudo, de fato se mostrar que podem ser reconduzidos a enunciados
factuais, então, terão sentido, serão portadores de verdade, mas já não serão enunciados morais
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
87
SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA
como tais, apenas enunciados factuais como outros quaisquer. Tais céticos põem, então, um dilema:
ou os enunciados morais não fazem sentido porque não se reduzem a factuais, ou se reduzem a
factuais e fazem sentido, mas deixam de ser enunciados morais. Ora, fundamentar a validade dos
enunciados morais passa por enfrentar este tipo de desafio também. E enfrentá-lo é desfazer o
dilema e provar que enunciados morais podem ser válidos sem serem reduzidos a enunciados
factuais. Somente assim estes céticos estariam refutados. Mas a metaética naturalista não oferece
meios de desfazer o dilema. Pelo contrário, ela aceita o dilema e opta pela redução dos enunciados
morais a enunciados factuais. Enunciados como “é errado matar arbitrariamente” deveriam ser lidos
em termos de “matar arbitrariamente viola as condições de cooperação mutuamente benéfica, a qual
é condição evolucionária para a convivência de agrupamentos humanos”. O que se diz na
linguagem do correto se reelabora na linguagem do necessário ou do útil. Isso é precisamente
reduzir enunciados morais a enunciados factuais. Mais uma vez, os céticos estariam dispostos a
aceitar a metaética naturalista, mas não como fundação da moral, e sim como prova de sua
impossibilidade. Ao reduzir os enunciados morais a enunciados factuais, a metaética naturalista
teria eliminado a moral enquanto tal. Novamente, em vez de refutar o cético, ela apenas o
reconfirmaria.
Aqui o naturalista talvez recorresse ao seguinte expediente: dizer que, uma vez que se
tragam à tona os esquemas evolucionários que permitem explicar a moralidade, já não é preciso
responder ao desafio do cético, porque ele terá deixado de ser um desafio real; o desafio do cético
se volta contra uma moralidade que seja independente e até contrária aos interesses individuais e
que habite um universo normativo supostamente autônomo em relação ao mundo natural; ora, do
ponto de vista da metaética naturalista, tal moralidade simplesmente não existe, de modo que o
cético tem razão em duvidar dela, mas não tinha razão de duvidar da moralidade em geral; isto
porque de fato existe e é possível uma outra moralidade, aprendida e conquistada
evolucionariamente, conectada com interesses individuais e pertencente ao mesmo mundo natural
que todo o restante das coisas que conhecemos; é essa moralidade que o naturalismo sustenta que
existe, e esta moralidade está imune ao desafio cético. Segundo esta resposta do naturalista, a
metaética que ele sustenta não pretende fundamentar aquela moralidade que o cético ataca, mas
uma outra, imune aos seus desafios porque conforme suas exigências.
Esta resposta, contudo, deixa de levar a sério o que os desafios céticos significam. Ela
concebe que o ceticismo moral direciona seus ataques contra a única moral que conhece, deixando
de cogitar outra moral possível, uma que não padecesse dos mesmos problemas. Mas o cético moral
não deixa de cogitar esta “outra moral”; pelo contrário, ele reconhece explicitamente que ela é
possível e que apenas ela é capaz de existir no mundo; ele apenas se recusa a conceder-lhe o status
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
88
André Luiz Souza Coelho
de “moral”. Não é que o cético que se apoia na lenda do anel de Giges não considere possível uma
moral fundada no egoísmo, e sim que, para ele, uma moral fundada no egoísmo não é moral, mas
egoísmo. Para ser uma moral, ela teria que fornecer algum tipo de razão para agir diversa das razões
fornecidas pelo egoísmo e capaz de concorrer com estas últimas; se a razão para agir que oferece é
apenas a razão egoísta que os domínios não morais também oferecem, então, trata-se de um
domínio tão não moral quanto eles, isto é, não se trata de moral alguma. Da mesma forma, não é
que o cético que só reconhece valor de verdade a enunciados factuais não considere possível uma
moral cujos enunciados fossem factuais, e sim que, para ele, uma moral deste tipo não seria moral,
mas pura orientação empírica no mundo. Para ser uma moral, ela teria que fornecer um
conhecimento de tipo não factual, uma orientação de tipo não empírica que precisasse ser levada em
conta ao lado desta última. Se o que faz é apenas fornecer mais informação empírica, então, é
apenas uma modalidade de conhecimento empírico, não sendo, neste caso, moral alguma. A questão
não é que os céticos não concebam uma moral reduzida ao egoísmo ou ao factual, e sim que
neguem que uma moral assim reduzida ainda seja de fato uma moral, e não outra coisa. Uma vez
que se ganha percepção disto, percebe-se que, em vez de refutar os céticos, a metaética naturalista
de fato apenas os reconfirma. À luz dos desafios céticos, teríamos que reconhecer que o que a
metaética naturalista nos oferece é, em vez de uma nova fundação para a moral, uma visão de
mundo em que nenhuma moral é necessária, em que orientações empíricas e máximas de egoísmo
esclarecido já fariam todo o papel que até então reservávamos à moral. Em vez da utopia da moral
cientificamente provada, teríamos a distopia de uma substituta científica da moral.
Mas não haveria, então, algum tipo de cético moral que se consideraria refutado pela
metaética naturalista, algum tipo que se acharia satisfeito com a alternativa que ela oferece? Sim,
haveria um tipo, e, como se verá, é instrutivo saber de que tipo se trata. Há o cético que sustenta que
a moral não tem validade porque ela não pode ser sustentada e confirmada com base no único saber
que goza de credibilidade epistêmica bastante, isto é, com base na ciência. Este cético, ao contrário
daquele do anel de Giges e daquele dos enunciados factuais, não planta sua recusa na forma de um
dilema. Não é que a moral não possa ser fundada cientificamente, e sim que ela ainda não o foi. Se
o fosse, teria, então, validade e o convenceria. Ora, mas não é difícil reconhecer que este cético
moral não é ninguém outro senão o pensador de temperamento naturalista de que já falei no artigo
anterior, ou seja, aquele que considera que apenas o que se funda no tipo de saber provido pelas
ciências naturais é digno de crédito. Este, é claro, seria convencido pela proposta da metaética
naturalista. Segue-se, então, que o único cético moral que seria convencido pela alternativa
naturalista é o pensador naturalista, ou seja, que o naturalismo não oferece uma metaética
satisfatória para ninguém mais a não ser o próprio naturalista. O que me faz afirmar novamente: O
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
89
SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA
naturalismo ético nada mais é que a ética reconfigurada ao gosto e temperamento de quem, sem
nenhuma outra razão que não pura decisão ou convicção, só aceita ver o mundo pelas lentes das
ciências naturais.
b) O naturalismo normativo
Como ética normativa, o naturalismo não visa explicar a moralidade que temos, mas sim
orientá-la e, eventualmente, reformá-la. Não acredita que nossas crenças morais estão todas
fundadas em esquemas evolucionários, mas sim que, ao longo da história, os seres humanos
conceberam sistemas morais equivocados, distorcidos ou mesmo absurdos e deram status moral a
inúmeros padrões que nada tinham que ver com o verdadeiro cerne da moralidade, isto é, a
cooperação mutuamente benéfica. Esta se encontrada contemplada, de um modo ou de outro, em
todos os sistemas morais, mas frequentemente misturada a acréscimos inúteis ou até nocivos e
prejudicada por orientações que não apenas não se baseiam em esquemas evolucionários, mas os
dificultam ou desafiam diretamente. Urge, então, recolocar nos eixos os sistemas morais, devolverlhes compromisso com seu núcleo principal – a cooperação mutuamente benéfica – e dar-lhes status
científico, em vez de apenas especulativo ou fantasioso. Como ética normativa, o naturalismo quer
direcionar e restringir as éticas até então existentes.
Poderia fazê-lo seja pela via positiva, seja pela via negativa. Pela via positiva, diria o que a
ética deve ser; pela negativa, o que ela não pode ser. Que a proposta feita por Valdenor toma esta
última via, prova-se por suas próprias palavras:
Minha sugestão é que usemos um critério evolucionário para fornecer uma forma de “teoria
da verdade como correspondência” para a ética. Esse critério não diz “o que a ética deve
ser”, mas sim “o que a ética não pode ser”, com base em uma correspondência suficiente ou
não de uma norma aparentemente ética específica com a funcionalidade evolucionária
primeira da ética, que é a cooperação em benefício mútuo, portanto, uma correspondência
para com o papel que as normas éticas “fizeram diferença faticamente” dentro da estrutura
de um mundo objetivo.
Se assim é, a esta versão restringirei a crítica. Há duas coisas que se deve esperar de uma
ética normativa (mesmo uma que se anuncie apenas negativa): que, para os casos em que já
dispomos de consenso moral, indique soluções aceitáveis e exclua as inaceitáveis; e que, para os
casos em que não dispomos de consenso moral, que tome posição e indique um caminho,
sustentando-o de modo convincente. Em resumo: Deve ser coerente para os casos consensuais e
informativa para os não consensuais. Vejamos como o naturalismo normativo se sai em cada uma
destas duas exigências.
Primeiro, se é coerente nos casos consensuais. Aqui se tem sempre certo problema de
elencar casos consensuais, mas, em geral, mesmo com certa margem para contestação e certa
variação conforme as circunstâncias, se pode considerar amplamente consensual que respeito,
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
90
André Luiz Souza Coelho
tolerância, veracidade, cooperação, integração, diplomacia, inclusão e liberdade são eticamente
corretos e desejáveis, enquanto assassinato, roubo, constrangimento, chantagem, estupro,
discriminação, escravidão e genocídio são eticamente incorretos e indesejáveis. Para ser coerente
com estes consensos morais, o naturalismo normativo, apoiado sobre a cooperação mutuamente
benéfica, teria que excluir éticas que deixassem de contemplar os padrões de conduta corretos e
desejáveis e as que contemplassem os padrões incorretos e indesejáveis.
Isso, por sua vez, só aconteceria se todos os padrões corretos e desejáveis fossem deriváveis
da cooperação mutuamente benéfica, ao mesmo tempo em que os padrões incorretos e indesejáveis
fossem incompatíveis com a cooperação mutuamente benéfica. Não nego que, com algum esforço
argumentativo, seja possível mostrar que tal é o caso (mas, com algum esforço, é possível provar
também que a regra de ouro, o justo meio aristotélico, o imperativo categórico kantiano, o princípio
de utilidade milliano, a posição original ralwsiana etc. passam no mesmo teste de coerência, o que é
o mesmo que dizer que não se trata de um teste particularmente exigente e seletivo e que passar por
ele não recomenda uma teoria moral senão como não absurda). Mas gostaria de chamar atenção
para alguns aspectos envolvidos no processo.
Digamos, por exemplo, que a atribuição de liberdade aos indivíduos e o respeito por tais
liberdades sejam padrões eticamente corretos e desejáveis e, portanto, conteúdos que uma ética
normativa deveria ter. Digamos, em seguida, que se possa mostrar que a negação de liberdade aos
indivíduos viola máximas de cooperação mutuamente benéfica – seja na forma do core principle of
ethics, de Nozick, seja em qualquer outra (uma afirmação altamente questionável do ponto de vista
histórico social, já que a atribuição e respeito das liberdades é uma característica de relativamente
poucas sociedades ao longo da história, o que não parece compatível com a ideia de que viola um
padrão evolucionário que precisa necessariamente estar presente em qualquer sociedade humana
para sustentá-la enquanto tal; não é claro como sociedades tirânicas como o Egito de Ramsés e na
Pérsia de Xerxes foram capazes de manter-se se não atribuíam nem respeitavam nenhuma das
liberdades modernas enquanto tais, o que colocaria o naturalismo normativo no dilema entre ter que
dizer que liberdades individuais não são requisitos indispensáveis da cooperação mutuamente
benéfica, e assim abandonar seu compromisso com o liberalismo, ou dizer que no Egito de Ramsés
e na Pérsia de Xerxes havia liberdades individuais, e assim reduzir drasticamente o sentido que se
atribui a tais liberdades, abandonando, de novo, seu compromisso com o liberalismo; mas, para fins
do argumento, aceitemos que fosse verdade que a atribuição e respeito das liberdades individuais
seja um requisito indispensável da cooperação mutuamente benéfica). O que quero chamar atenção
é que atribuir e respeitar liberdades só é necessário para a manutenção da cooperação mutuamente
benéfica porque os indivíduos não estão dispostos a cooperar se não gozarem de liberdade; e que
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
91
SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA
este só é o caso porque os indivíduos prezam a liberdade como algo a que têm direito e que não lhes
deveria ser negado. Dito com outras palavras: é porque a liberdade tem valor moral que a negação
da liberdade prejudica a cooperação. A negação da liberdade só impede que se mantenha a
cooperação porque os indivíduos atribuem à liberdade um valor moral que não depende das
condições de cooperação. Do contrário, criar-se-ia um círculo pelo qual a negação da liberdade
prejudica a cooperação porque a liberdade é prezada, e a liberdade é prezada porque sua negação
prejudica a cooperação. Se se quer propor que a cooperação é o critério moral por excelência, é
preciso que as condições que favorecem a cooperação não dependam dos juízos morais dos
envolvidos, do contrário, estes juízos morais terão que estar fundados em critérios morais outros
que não a própria cooperação. Do contrário, obtém-se o mesmo tipo de circularidade de quando se
diz que a segregação racial é boa porque evita que os negros sejam agredidos ou que mulheres não
devem ocupar posições de comando porque suas ordens não serão obedecidas. Em ambos os casos,
formula-se um argumento em favor da conduta preconceituosa com base numa consequência que
resulta ela própria do preconceito. Se se removesse o preconceito contra negros e mulheres, nem os
negros seriam agredidos, nem as mulheres seriam desobedecidas, de modo que nem seria preciso
segregar, nem seria arriscado dar comando às mulheres. Da mesma forma, o valor moral da
liberdade não pode provir de ser necessária para a cooperação ao mesmo tempo em que só é
necessária para a cooperação porque os envolvidos atribuem a ela valor moral. Esta é uma
circularidade que a teoria deveria evitar.
Para evitar esta circularidade, a teoria precisaria sustentar que a liberdade tem valor moral
porque é necessária para a cooperação e que a liberdade ser necessária para a cooperação não tem
nada a ver com os indivíduos atribuírem à liberdade valor moral. Teria que mostrar, neste caso, que
a liberdade é empiricamente necessária para a cooperação, e não normativamente necessária; que
indivíduos privados de liberdade não podem cooperar, e não que não querem cooperar. E isso não
sei como poderia fazer. Pois parece totalmente plausível, do ponto de vista lógico e físico, que
indivíduos privados de liberdade podem cooperar; que, se a liberdade for indiferente para eles, sua
situação de estarem privados dela seja inclusive um estímulo e um facilitador para sua cooperação.
Parece ser o caso, pois, que a liberdade só é necessária para a cooperação porque, sem ter liberdade,
os envolvidos podem, mas não querem cooperar, e não querem não apenas porque desejam
liberdade (pois desejam muitas outras coisas que não chegam a obter), mas porque consideram que
têm direito a liberdade, ou seja, porque atribuem à liberdade valor moral. É por causa deste valor
moral da liberdade que a negação da liberdade prejudica a cooperação. E, por conseguinte, este
valor moral da liberdade não pode provir da própria necessidade dela para a cooperação. Desta
forma, pretendo ressaltar que, mesmo quando a teoria consiga provar que certo padrão dotado de
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
92
André Luiz Souza Coelho
valor moral é necessário para a cooperação, isto não é o mesmo que provar que tal padrão obtém
seu valor moral de ser necessário para a cooperação. Pode ser precisamente o caso oposto, ou seja,
que o padrão em questão só seja necessário para a cooperação porque é dotado de valor moral.
Por fim, quero ainda ressaltar que, no que se refere a ser informativa para os casos não
consensuais, o naturalismo normativo deixa a desejar. Ele pode excluir padrões como genocídio,
segregação, discriminação e assassinato, mas sobre casos não consensuais como pena de morte,
prisão perpétua, eutanásia, aborto e veganismo, ou não tem nada a dizer, ou tem a dizer para ambos
os lados da controvérsia. Quer dizer: ou, mantendo-se em níveis de modéstia e frugalidade
argumentativa, não consegue extrair da ideia de cooperação mutuamente benéfica uma orientação
suficiente para preferir certo curso de ação a outro nos casos listados, ou arriscando-se em níveis de
ambição e artificialidade argumentativa, é capaz de argumentar em favor de ambos os cursos de
ação possíveis. A cooperação mutuamente benéfica de uma comunidade que inclui e enfatiza os
fetos produzirá um argumento contra o aborto, ao passo que a de uma comunidade que exclui os
fetos e enfatiza as mulheres produzirá um argumento em favor do aborto. A cooperação
mutuamente benéfica de uma comunidade que privilegia a segurança dos inocentes produzirá um
argumento a favor da pena de morte, ao passo que a de uma que favorece a recuperação dos
culpados produzirá um argumento contra a pena de morte etc.
Sendo este o caso, torna-se pertinente a pergunta sobre que vantagens ou ganhos poderíamos
ter adotando uma ética normativa de tipo naturalista. Se estivermos falando de vantagens ou ganhos
éticos, parece que não muitos: a cooperação mutuamente benéfica concorda com os casos
consensuais de modo trivial e carece de respostas seletivas para os casos não consensuais. Se
alguma vantagem ou ganho haveria, seria apenas no nível de credibilidade epistemológica que a
ética assim alcançaria. Mas aqui estamos de volta no argumento que o naturalismo serve para
agradar ao gosto do naturalista, porque vincular os padrões éticos consensuais a esquemas
evolucionários de cooperação só tornaria aqueles esquemas mais dignos de crédito para alguém que
só estivesse disposto a dar crédito ao que tiver pedigree científico natural, caso que se aplica
precisamente e exclusivamente ao pensador de temperamento naturalista. É, em última instância,
não para obtermos ganhos éticos, mas para satisfazer a seus caprichos epistemológicos que todo
este esforço está sendo mobilizado.
Em conclusão – ao artigo e ao debate, pelo menos neste fórum e ocasião – resumo minha
posição da seguinte forma: A naturalização da ética enfrenta desafios lógicos e normativos que
ainda não consegue superar e não oferece nenhum ganho real sobre as metaéticas e éticas
normativas não naturalistas disponíveis no momento. Trata-se de uma tentativa de ajustar a ética aos
caprichos epistemológicos daqueles que só dão crédito ao método experimental e ao saber das
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
93
SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA
ciências naturais e não inova substantivamente em relação às outras tentativas de redução
naturalista que de tempos em tempos sofrem seus revivals. Qualquer avanço real em ética deve
levar em conta uma vasta gama de informação empírica, inclusive, eventualmente, a que é oferecida
pelo saber naturalista; mas não pode esperar deste saber nenhuma descoberta fundamental que lhe
sirva de critério referencial para propósitos genuinamente normativos. Qualquer avanço real em
ética provirá, como sempre proveio, de melhores argumentos normativos, e não empíricos. Investe
melhor seu tempo o filósofo moral que se restrinja ao jogo de linguagem da ética mesma.
ABOUT NATURALISM IN ETHICS AND POLITICS: SECOND RESPONSE
André Luiz Souza Coelho
ABSTRACT
Replies to Valdenor Junior’s second text, “A Genealogia da Ética Naturalizada”. I evaluate in particular the proposal of
naturalization of ethics that Valdenor offers from his own creation. I show that this proposal is based on unjustified
physicalist and evolutionary reductionisms and cannot offer any alternative superior to the non-naturalist ethical
theories currently available, neither in the form of metaethics nor in the form of normative ethics.
Keywords: Ethics. Politics. Naturalism. Physicalism.
REFERÊNCIAS
DANCY, Jonathan. Moral Reasons. Oxford: Blackwell, 1993.
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa:
Edições 70, 2008.
KORSGAARD, Christine. The Sources of Normativity. New York: Cambridge University Press,
1996.
NAGEL, Thomas. The Possibility of Altruism. Oxford: Clarendon Press, 1970.
PLATÃO. A República. 2. ed. Trad. de Carlos Alberto Nunes. Belém: UFPA, 1988.
SINGER, Peter (ed.). Companion to Ethics. Oxford: Blackwell, 2001.
SINNOTT-ARMSTRONG, Walter. Moral Skepticisms. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014
94