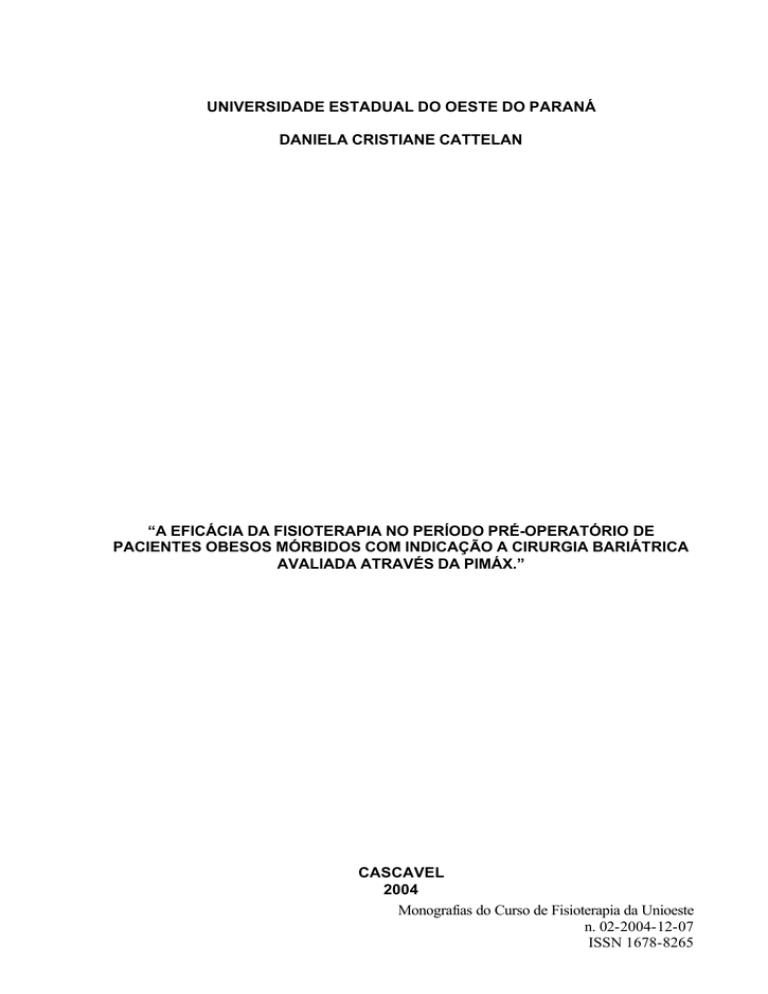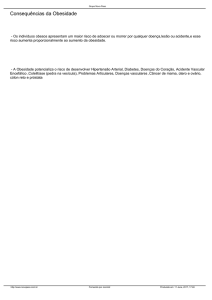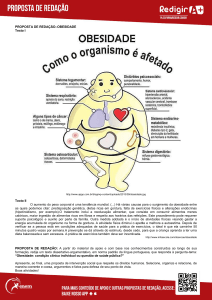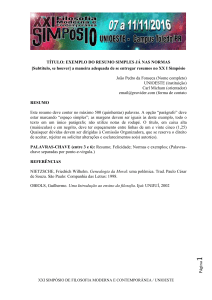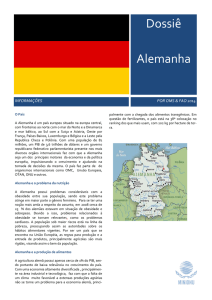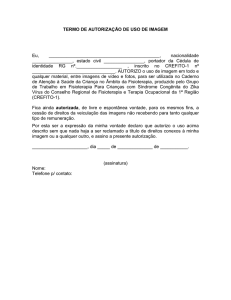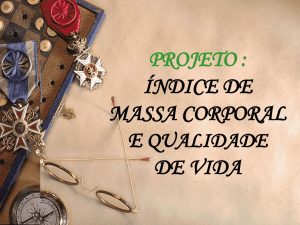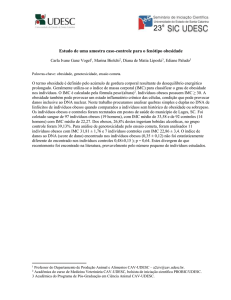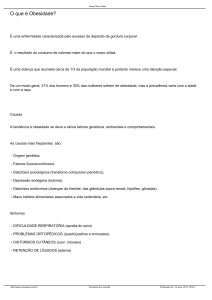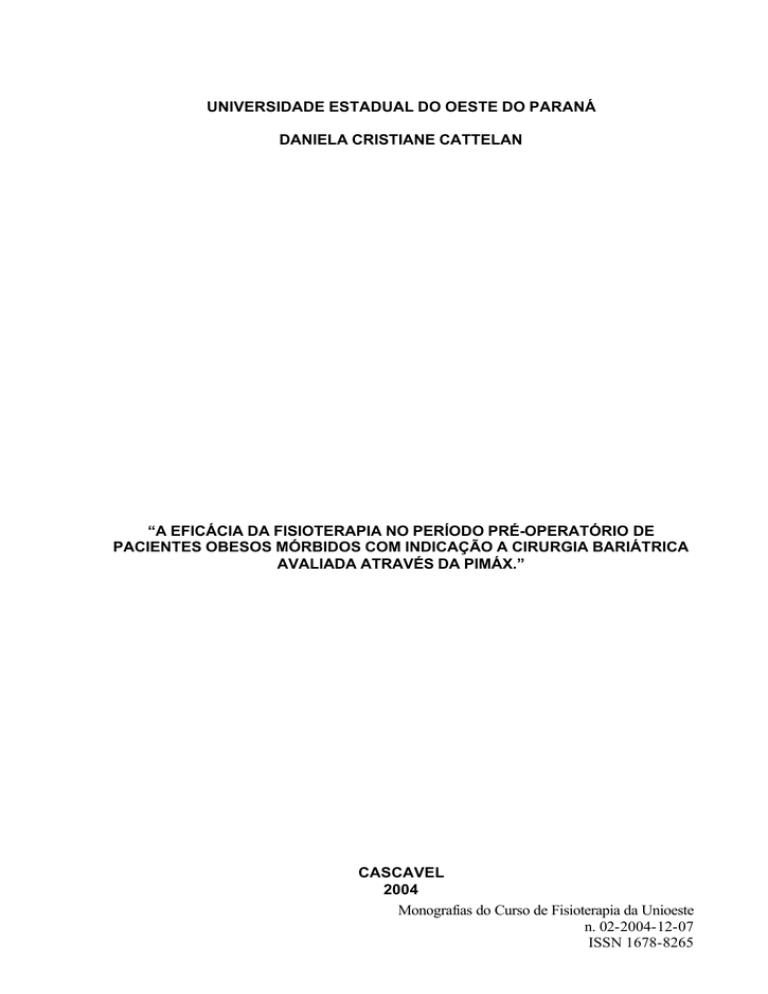
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
DANIELA CRISTIANE CATTELAN
“A EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO DE
PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO A CIRURGIA BARIÁTRICA
AVALIADA ATRAVÉS DA PIMÁX.”
CASCAVEL
2004
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
DANIELA CRISTIANE CATTELAN
“A EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO DE
PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO A CIRURGIA BARIÁTRICA
AVALIADA ATRAVÉS DA PIMÁX.”
Trabalho de Conclusão de Curso do Curso
de Fisioterapia, do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde, da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – campus
de Cascavel.
Orientadora: Profª. Erica Fernanda Osaku
CASCAVEL
2004
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
TERMO DE APROVAÇÃO
DANIELA CRISTIANE CATTELAN
“A EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO DE
PACIENTES COM INDICAÇÃO A CIRURGIA BARIÁTRICA.”
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Banca Avaliadora como requisito parcial
para obtenção do título de graduado em Fisioterapia, na Universidade Estadual do Oeste do
Paraná.
..................................................................................................................
Orientadora Profª Erica Fernanda Osaku
Colegiado Fisioterapia - UNIOESTE
..................................................................................................................................
Profª Claúdia Cláudia Rejane Lima de Macedo
Colegiado Fisioterapia - UNIOESTE
...............................................................................................................................
Dra. Erika Marine Bruneri
Fisioterapeuta
Cascavel, 10 de novembro de 2004.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
À minha família...
Pessoas verdadeiras, cuja simplicidade
do amor verdadeiro, foi
a base de todas às escolhas acertadas
que já fiz.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
AGRADECIMENTOS
Agradeço...
... a Deus que me acompanhou durante esta jornada;
... à minha orientadora, Érica Fernanda Osaku, por aceitar dirigir-me, pela confiança,
pela dedicação e paciência, durante a realização deste trabalho;
...à minha co-orientadora Cláudia, que além de dedicar parte do seu tempo para
auxiliar-me nesse trabalho, ensinou-me, ainda, o quão importante é o respeito e a
igualdade;
... à professora Francyelle P. dos Santos Suzin, pelo seu profissionalismo brilhante e
pela pessoa humana que é e que a faz exemplo de uma verdadeira mulher.
... aos meus professores, pelo conhecimento compartilhado durante a graduação;
... à amiga Sabrina, que sempre esteve presente, não só neste estudo, mas também
me ajudando de todas as formas possíveis e compartilhando dos momentos
complicados e de triunfo;
... à fisioterapeuta Dra. Carla Ingrid Iavat, proprietária da Vital Clínica, que, com
muita gentileza, cedeu as dependências de sua clínica para que fosse possível a
realização deste estudo;
... a todos aqueles que, embora não citados aqui, contribuíram de alguma maneira
no decorrer de mais esta etapa completada de minha vida.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
RESUMO
A obesidade mórbida, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é definida por
Índice de Massa Corpórea igual ou superior a 40kg/m2, ou entre 35 e 40Kg/m2 desde
que associado a co-morbidades como, por exemplo, a dispnéia, promove o
comprometimento do sistema respiratório. Entre as alterações encontradas neste
sistema, pode-se citar o desfavorecimento da biomecânica diafragmática, a redução
dos volumes pulmonares e a paralisação da musculatura diafragmática. Este trabalho
foi realizado com o objetivo de comparar a condição respiratória, através do
desempenho da musculatura inspiratória, dos indivíduos obesos mórbidos com
indicação de cirurgia bariátrica e que realizam fisioterapia no período pré-operatório
com aqueles que não a realizam. Para isto, foram selecionados, a partir da indicação
médica ou não à realização da fisioterapia pré-cirurgia, dois grupos de pacientes, que
foram divididos em um grupo controle composto por 3 pacientes e um grupo de
tratamento composto por 11 pacientes. Nesta amostra, foi aplicado um tratamento de
30 sessões de fisioterapia, com 2 horas de duração cada uma, 5 vezes por semana.
Após o tratamento, os pacientes foram reavaliados por meio de manovacuometria,
para a análise da força da musculatura inspiratória. Após as 30 sessões, verificou-se
a melhora da força da musculatura inspiratória na totalidade dos pacientes
submetidos ao tratamento. Conclui-se, então, que as técnicas fisioterápicas
empregadas têm relevância para a mecânica respiratória, o que favorece um melhor
preparo cirúrgico bariátrico dos pacientes, minimizando as funções alteradas e sendo
importante coadjuvante no tratamento da obesidade mórbida.
Palavras-chave: obesidade mórbida, cirurgia bariátrica, força muscular inspiratória.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
ABSTRACT
The morbid obesity that, according to World-wide Organization of the Health,
40kg/m2 is defined by index of equal or superior corporal mass, or between 35 and
40Kg/m2 since that associated the comorbidities as, for example, the dyspnoea, it
promotes the various problems to the respiratory system. Between alterations in this
system, it can be cited the disturb of the diaphragmatic biomechanics, the reduction
of the pulmonary volumes and the stoppage of the diaphragmatic musculature. This
work was carried through with the objective to compare the respiratory condition,
through the performance of the inspiratory musculature, of the morbid obese
individuals with indication of bariatric surgery and that they carry through
physiotherapy in the period pre-surgery with that they do not carry through it. For this,
they had been selected, from the medical indication or not to the accomplishment of
the physiotherapy pre-surgery, two groups of patients, that they had been divided in
a group has controlled composition for 3 patients and a group of treatment composed
for 11 patients. In this sample, a treatment of 30 sessions of physiotherapy was
applied, with 2 hours of duration each one, 5 times per week. After the treatment, the
patients had been reevaluated by means of manovacuometria for the analysis of the
force of the inspiratory musculature. After the 30 sessions, it was verified improves it
of the force of the inspiratory musculature in the totality of the patients submitted to
the treatment. It is concluded, then, that the used physiotherapic techniques have
relevance for the respiratory mechanics, what it favors one better surgical bariatric
preparation of patients, minimizing the modified functions and being an important
coadjuvant in the treatment of morbid obesity.
Keywords: morbid obesity, bariatric surgery, inspiratory musculature force.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
SUMÁRIO
LISTA DE ILUSTRAÇÕES……………………………………………………….
10
1 INTRODUÇÃO............................................................................................
1.1 Justificativa.............................................................................................
1.2 Objetivos do Estudo..............................................................................
1.2.1
Geral......................................................................................................
1.2.2
Específicos............................................................................................
11
16
17
17
17
18
18
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA..................................................................
18
2.1 Fisiologia do Sistema Respiratório......................................................
21
2.1.1
Elementos
do
Aparelho
Respiratório
e
o
Fluxo
22
Aéreo..........................
23
2.1.2
Estrutura
e
Função
23
Pulmonar...............................................................
24
2.1.3
Ventilação
25
Pulmonar.............................................................................
26
2.1.3.1
26
Fases..................................................................................................
26
2.1.3.1.1
27
Inspiração........................................................................................
27
2.1.3.1.2
27
Expiração........................................................................................
28
2.1.4
Complacência
28
Pulmonar.......................................................................
28
2.1.5
Complacência
do
Tórax
e
dos
29
Pulmões................................................
29
2.1.6
Volumes
e
Capacidades
29
Pulmonares...................................................
30
2.1.6.1
Volume
30
Corrente................................................................................
31
2.1.6.2
Volume
31
Residual................................................................................
32
2.1.6.3
Volume
de
Reserva
34
Inspiratório.........................................................
34
2.1.6.4
Volume
de
Reserva
36
Expiratório..........................................................
37
2.1.6.5
Capacidade
37
Vital................................................................................
39
2.1.6.6
Capacidade
Residual
40
Funcional.........................................................
41
2.1.6.7
Capacidade
Pulmonar
42
Total...............................................................
43
2.1.7
Músculos
Inspiratórios
da
45
Respiração.................................................. Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
9
Respiração..................................................
46
2.1.7.1
Músculo
47
Diafragma............................................................................
47
2.1.7.1.1
48
Descrição........................................................................................
51
2.1.7.1.2
52
Origem.............................................................................................
52
2.1.7.1.3
53
Inserção...........................................................................................
54
2.1.7.1.4 Função............................................................................................
56
2.1.7.1
Músculos
Intercostais
57
Externos..........................................................
57
2.2 Obesidade...............................................................................................
59
2.2.1
59
Definição...............................................................................................
61
2.2.2
63
Classificação.........................................................................................
64
2.2.3
64
Mortalidade............................................................................................
64
2.2.4
65
Diagnóstico............................................................................................
66
2.2.4.1
Diagnóstico
67
Quantitativo....................................................................
67
2.2.4.2
Diagnóstico
Qualitativo.......................................................................
2.2.4.3
Diagnóstico
Etiológico........................................................................
2.2.5
Fisiopatologia........................................................................................
2.2.5.1 Ingestão
Calórica...............................................................................
2.2.5.2
Gasto
Calórico....................................................................................
2.2.5.3
Formação
de
Gorduras......................................................................
2.2.5.4
Oxidação
de
Gorduras.......................................................................
2.2.6
Obesidade
Mórbida...............................................................................
2.2.6.1
Definição............................................................................................
2.2.7
A
Obesidade
e
o
Sistema
Respiratório.................................................
2.2.7.1
Síndrome
da
Apnéia
Obstrutiva
do
sono...........................................
2.2.7.2
Síndrome
da
Hipoventilação..............................................................
2.2.7.3
Complacência
e
Resistência
das
Vias
Aéreas...................................
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
10
2.2.8
Tratamento
Obesidade.....................................................................
2.2.8.1 Cirurgia
Bariátrica...............................................................................
2.2.8.1.1 Critérios para Seleção do
Paciente.................................................
2.2.8.1.2 Critérios para Exclusão do
Paciente...............................................
2.2.8.1.3 Derivações
Gastrojejunais..............................................................
2.2.8.1.3.2 Complicações PósCirúrgicas......................................................
2.2.8.1.4 Gastroplastia Vertical com
Bandagem.........................................
2.2.8.1.5 Derivações Bileopancreáticas com Gastrectomia
Distal.................
2.2.8.1.6 Implicações no Sistema
Respiratório..............................................
2.3 Tratamento Fisioterapêutico.................................................................
2.3.1
Aquecimento.........................................................................................
2.3.2 Exercício Físico
Aeróbico......................................................................
2.2.3 Alongamentos
Musculares....................................................................
2.3.4 EPAP.....................................................................................................
2.3.5
Respiron................................................................................................
2.3.6
Desaquecimento...................................................................................
3 METODOLOGIA.........................................................................................
3.1 Critérios de Inclusão..............................................................................
3.2 Critérios de Exclusão.............................................................................
3.3 Materiais e Métodos...............................................................................
3.3.1
Materiais................................................................................................
3.3.2
Métodos.................................................................................................
3.5 Avaliação da Variável de Interesse.......................................................
3.5.1 Teste.....................................................................................................
3.5.1.1
Materiais.............................................................................................
3.5.1.2 Técnica de
Mensuração....................................................................
3.5.1.2.1 Mensuração da
PImáx....................................................................
da
69
70
71
71
71
72
73
73
73
74
75
4 RESULTADOS............................................................................................
77
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
11
5 DISCUSSÃO...............................................................................................
81
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................
85
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...........................................................
86
ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTIMENTO LIVRE
ESCLARECIDO.............................................................................................
E
91
APÊNDICE 1 – PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA......
93
ANEXO 2 – MANOVACUÔMETRO...............................................................
95
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
FÍGURA
1
ANATOMIA
DO
SISTEMA
RESPIRATÓRIO.............................
FÍGURA
2
FASE
INSPIRATÓRIA
DA
RESPIRAÇÃO.................................
FÍGURA
3
–
FASE
EXPIRATÓRIA
DA
RESPIRAÇÃO..................................
FÍGURA 4 – TÉCNICA DE CAPELLA...........................................................
FIGURA 5 – TÉCNICA DE MANSON............................................................
FIGURA 6 – TÉCNICA DE SCOPINARO......................................................
TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO DA OBESIDADE SEGUNDO O ÍNDICE
DE MASSA CORPÓREA (IMC) E RISCO DE DOENÇA
(OMS).........................
TABELA
2
–
DIAGNÓSTICO
QUANTITATIVO
DA
OBESIDADE..................
TABELA
3
–
DIAGNÓSTICO
QUALITATIVO
DA
OBESIDADE.....................
TABELA 4 – COMORBIDADES PREVALENTES NOS 14 PACIENTES
OBESOS MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO À GASTROPLASTIA
REDUTORA...................................................................................................
TABELA 5 – CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DOS 14
PACIENTES
OBESOS
MÓRBIDOS
COM
INDICAÇÃO
À
GASTROPLASTIA REDUTORA...................................................................
TABELA 6 – MÉDIA DAS PRESSÕES INSPIRATÓRIAS MÁXIMAS
ESPERADAS EM FUNÇÃO DA IDADE DE ACORDO COM O SEXO.........
GRÁFICO 1 – PERCENTUAIS DO AUMENTO DA PIMÁX, EM 30 DIAS
DE ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO, EM 11 PACIENTES (P1 A
P11) OBESOS MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO À CIRURGIA
BARIÁTRICA.................................................................................................
GRÁFICO 2 – PERCENTUAIS DO AUMENTO DA PIMÁX, EM
INTERVALO DE 40 DIAS, EM 3 PACIENTES (P1 A P3) OBESOS
MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA, SEM
TREINAMENTO.............................................................................................
22
24
25
58
61
62
35
38
40
77
78
79
79
80
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
1 INTRODUÇÃO
A obesidade é o distúrbio nutricional mais importante do mundo
desenvolvido, uma vez que aproximadamente 10% de sua população é considerada
obesa (COLLINS et. al., 1995).
Em geral, um aumento de 20% acima do peso médio aceito para a idade
leva a um aumento nas taxas de mortalidade de 20% para homens e de 10% para
mulheres (ZILBERSTEIN, NETO e RAMOS, 2002).
Hoje, considera-se a obesidade importante causa de complicações médicas
precoces e mortes prematuras (AULER Jr., GIANNINI e SARAGIOTTO, 2003).
Antes, vista somente como um evento decorrente de um distúrbio alimentar;
hoje, sabe-se que são inúmeras as suas causas e também as conseqüências. Entre
essas podemos citar o alto índice de morbidade e mortalidade (FARIA et. al., 2002).
Entre outros fatores, o sedentarismo exerce papel fundamental na indução e
manutenção de tal distúrbio nas sociedades ocidentais (COUTINHO, 1999).
Os principais tipos de obesidade incluem a hipotalâmica, a endocrinológica,
a nutricional, a pertinente à inatividade física, genética e a induzida por drogas.
Dentro de tais esquemas de classificação existem vários subtipos. Sendo assim,
esta multiplicidade significa que o exercício regular é somente um aspecto da
prevenção ou tratamento, embora provavelmente interaja com vários mecanismos
regulatórios e metabólicos, por exemplo, hiperinsulinemia, atividade da ATPase,
atividade do sítio receptor periférico e lipólise (COSTA et. al., 2003).
No Brasil, dados de uma pesquisa realizada por um grande laboratório
farmacêutico durante três anos e divulgada pela imprensa leiga, analisando os
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
14
hábitos alimentares e a equivalência peso/altura de 280 mil funcionários das 200
maiores empresas do país, revelou que a obesidade afetava 46% dos indivíduos
estudados e, nestes, cerca de um terço se encaixava na definição de obesidade
mórbida. Em termos nacionais, estima-se que 30% da população brasileira está
acima do peso ideal (BUCHALLA, 2001).
O organismo humano sofre conseqüências relevantes desta patologia, entre
elas, o comprometimento do sistema respiratório. A princípio aconteceria a
ventilação superficial pelo desfavorecimento da biomecânica diafragmática, que por
sua vez leva a ocorrência de outras alterações como a hipoxemia, vasoconstrição
pulmonar e hipercapnia (AULER Jr., GIANNINI e SARAGIOTTO, 2003).
Obesos apresentam ainda, como prejuízos da função pulmonar, redução dos
volumes pulmonares e anormalidades restritivas à expirometria. Além disso, a
obesidade pode levar ao desenvolvimento da síndrome da apnéia e hipopnéia
obstrutiva do sono, que por sua vez se constitui em fator de risco significante para
doença cardiovascular e morte prematura (HALPERN e MANCINI, 2002).
Como a obesidade é uma condição médica crônica de etiologia multifatorial,
o controle de tal condição não se encontra nas dietas de abstenção, mas num plano
terapêutico traçado de maneira minuciosa, que leva em consideração alterações
fisiológicas, anatômicas e psíquicas; ou seja, o plano precisa observar os detalhes
para então formar a imagem do todo.
Existem casos em que, ao plano terapêutico, é associada à cirurgia
bariátrica, a qual se caracteriza por intervenção realizada no aparelho digestório com
o intuito de promover a restrição alimentar e ou a disabsorção. A restrição alimentar
é obtida através da redução do reservatório gástrico, o qual muitas vezes resulta da
divisão
do
estômago
em
duas
porções, sendo uma delas de tamanho
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
15
consideravelmente menor. Já a disabsorção é conseguida por meio de um desvio
intestinal, que se caracteriza pelo deslocamento de uma porção do intestino delgado
em direção ao novo reservatório alimentar. Este procedimento cirúrgico, na maioria
das vezes, promove uma redução drástica, acelerada e permanente do peso
corporal, sem maiores esforços aparentes, com resolução excelente das comorbidades e baixo índice de mortalidade (1 a 3 a cada 100 cirurgias). A ânsia de
dormir gordo e acordar magro torna tal conduta extremamente visada pela
população obesa (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).
Mesmo sendo tentadora, esta opção só é indicada para a população obesa
que apresenta risco de vida pela sua condição. Enquadram-se neste parâmetro
indivíduos obesos mórbidos, que, segundo a Organização Mundial da Saúde,
apresentam Índice de Massa Corpórea (IMC) igual ou superior a 40kg/m2, e aqueles
indivíduos cujo IMC encontra-se entre 35 e 40Kg/m2 desde que apresentem uma comorbidade associada, como hipertensão arterial, apnéia do sono, diabetes,
problemas articulares, dentre outras (SEGAL e FANDIÑO, 2002).
Ainda uma outra definição de obesidade mórbida é emprega por critérios de
peso corpóreo. Nesta, indivíduos portadores de obesidade mórbida são aqueles com
aumento de 100% acima do peso ideal, ou 45-50kg de excesso com relação ao peso
ideal. Isso, geralmente, inclui homens pesando mais de 120-130 kg e mulheres
pesando mais de 100-110 kg (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).
É recomendável, ainda, que o paciente obeso apresente obesidade estável
há pelo menos dois anos, baixo risco operatório, fracasso dos regimes alimentares
ou medicamentosos há mais de um ano e que seja cooperativo e compreenda
satisfatoriamente o procedimento cirúrgico a que será submetido. Ele deve
apresentar ausência de doenças endócrinas descompensadas, assim como
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
16
dependência ao álcool e drogas (SEGAL e FANDIÑO, 2002).
Este procedimento cirúrgico apresenta desvantagens que devem ser
consideradas: vômito e regurgitação no período de adaptação; comprometimento da
absorção de ferro, cálcio e vitaminas; presença de diarréia e fezes com péssimo
odor (problemas sociais); e possibilidade de complicações tardias, como anemia,
osteoporose, úlcera, desnutrição protéica, fístulas, hérnias incisionais e queda de
cabelo. Ainda, como toda cirurgia de grande porte, torna o paciente suscetível a
infecção cirúrgica e hospitalar, a embolia pulmonar, a trombose e a parada cardiorespiratória (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).
Visando-se a uma melhor qualidade de vida e a um melhor preparo e
recuperação dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, é que se indica que os
mesmos realizem atividades que promovam o fortalecimento da sua musculatura
inspiratória. Deve-se lembrar que, segundo Guyton (2002), durante a inspiração, a
contração do músculo diafragma traciona para baixo as superfícies inferiores dos
pulmões, aumentando o diâmetro vertical da caixa torácica, proporcionando então
uma melhor ventilação pulmonar, a qual, como citado anteriormente, encontra-se
comprometida nos indivíduos obesos. Assim, espera-se que atividades direcionadas
a essa musculatura, que se encontra debilitada, promovam o seu condicionamento,
fazendo-a trabalhar mais eficazmente.
Tem-se defendido que o trabalho direcionado para o fortalecimento da
musculatura inspiratória é necessário para que a mesma desenvolva de maneira
mais eficaz a sua função (HALPERN e MANCINI, 2002).
Este evento seria, então, o responsável por garantir a adequação da
ventilação pulmonar, da hematose, da saturação e da pressão parcial de oxigênio no
sangue, bem como a nutrição das células de todo o corpo humano.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
17
Considerando todo o conjunto de alterações que geralmente ocorrem em
indivíduos obesos, principalmente aquelas de natureza pulmonar, justifica-se a
necessidade de avaliações periódicas da sua função, com o objetivo de monitorar as
condições mecânicas do aparelho respiratório desses indivíduos, auxiliando na
orientação de medidas preventivas. Essas avaliações tornam-se muito mais
importantes quando se trata de indivíduos obesos submetidos a algum tipo de
atividade física e, desde que possível, é recomendável a realização de testes
complementares pré e pós-treinamento físico (COUTINHO, 1999).
Isso posto, nota-se a relevância da realização da fisioterapia nos indivíduos
obesos. Todavia, para a avaliação das possíveis mudanças que essa terapêutica
pode causar nesses indivíduos, torna-se necessária a exploração de técnicas de
mensuração física, especialmente de elementos da mecânica respiratória tal como: a
avaliação da força muscular respiratória (COSTA et. al., 2003).
A intervenção terapêutica, no presente estudo, fisioterapia, interfere
diretamente no trabalho e na ação muscular respiratória e, uma das maneiras de se
quantificar os efeitos dessa técnica da forma que aqui foi utilizada, consiste na
mensuração da força muscular respiratória, avaliada por meio da Pressão
Respiratória
Máxima,
a
saber,
Pressão
Inspiratória
(PImáx),
através
do
manovacuômetro.
A PImáx tem sido considerada um método simples, prático e preciso na
avaliação da força dos músculos inspiratórios, tanto em indivíduos sadios como em
pacientes com disfunção respiratória ou neurológicas. O conjunto dessas técnicas de
medidas respiratórias dentre outras, tem-se constituído em parâmetros eficientes de
avaliação e acompanhamento dos exercícios físicos e de muitos procedimentos
técnicos empregados na fisioterapia respiratória (COSTA et. al., 2003).
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
18
1.1 Justificativa
Entende-se que abordar profundamente esta temática seja importante, pois,
se o resultado obtido for positivo em relação ao que se estará buscando verificar,
estar-se-á permitindo alcançar maiores chances de acerto e sucesso das atividades
tanto da equipe multiprofissional que tratará do paciente, quanto dele próprio, que
terá maiores chances de recuperação e de preparo para passar pelo plano de
tratamento instituído. Se a equipe e o paciente estiverem conscientes de que o
manejo adequado da condição de obesidade depende não somente dos
profissionais aos quais ele se submete, mas também da sua boa vontade e
colaboração com o plano estabelecido, pode-se conseguir atingir todos os pontos
considerados indispensáveis para que uma terapêutica seja eficaz. Neste sentido,
julga-se que a realização deste trabalho possa vir a dar uma contribuição
significativa com relação ao assunto em pauta, na medida em que ele se realize de
uma forma metódica e científica.
Através da realização deste estudo e da comprovação dos resultados
previstos, pode-se, então, demonstrar de maneira confiável o quão indispensável é a
conscientização do paciente, assim como da equipe que o acompanha, a respeito da
fisioterapia na obtenção de um prognóstico mais favorável.
É de fundamental importância o esclarecimento do paciente, uma vez que, a
partir deste ponto, consegue-se que o mesmo perceba, que a sua condição e
recuperação também dependem de sua colaboração ao plano terapêutico
estabelecido e não somente da equipe que o acompanha.
Deve-se, ainda, relatar que, a partir deste estudo, alcançar-se-ão maiores
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
19
chances de sucesso no procedimento cirúrgico bariátrico, à medida que a equipe
multidisciplinar compreenda que o fisioterapeuta é parte relevante na mesma.
1.2 Objetivos do Estudo
1.2.1 Geral
Comparar a condição respiratória, através do desempenho da musculatura
inspiratória, dos indivíduos obesos mórbidos com indicação à cirurgia báriátrica, que
realizam fisioterapia no período pré-operatório em relação àqueles que não a
realizam.
1.2.2 Específicos
•
Identificar o desempenho da musculatura inspiratória;
•
Melhorar o condicionamento cardiopulmonar.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Fisiologia do Sistema Respiratório
2.1.1 Elementos do Aparelho Respiratório e o Fluxo Aéreo
O sistema respiratório é dividido em dois componentes: a caixa torácica e o
pulmão.
Dentro da caixa torácica encontramos um sistema de tubos que comunicam
o parênquima pulmonar com o meio exterior (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1991).
Este sistema de tubos constitui as vias aéreas, e apresenta como
características ser ramificado e torna-se mais estreito, mais curto e mais numeroso à
medida que ele penetra mais profundamente no pulmão (WEST, 1996).
Nele podemos distinguir uma porção condutora: que compreende as fossas
nasais; nasofaringe; laringe; traquéia; brônquios e bronquíolos; e uma porção
respiratória: representada pelas porções terminais da árvore brônquica e que contêm
os alvéolos, únicos locais onde se dão as trocas gasosas. Entre essas duas porções
existe uma outra, curta, chamada de transição. A porção condutora exerce as
importantes funções de limpar, umedecer e aquecer o ar inspirado, para proteger o
delicado revestimento dos alvéolos pulmonares (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1991).
Segundo Sá Filho (1994), o aparelho respiratório tem inicio no nariz, o que
constitui uma característica da espécie humana, e ocupa um bloco retangular com
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
21
os seios, ficando entre a abóbada palatina e a base do crânio. O ar que foi inspirado,
ao passar pelo nariz é então umedecido, aquecido e purificado de partículas
maiores. Isso se deve aos pêlos existentes em tal cavidade.
Segundo Guyton (2002), a via respiratória pode ter início, ainda, na boca,
caso a demanda de ar ultrapasse a quantidade que pode ser inspirada
comodamente pelo nariz.
Além dos pêlos, localizados no interior da cavidade nasal, pode-se encontrar
projeções, chamadas de cornetos. Estas são responsáveis por causar a turbulência
do ar, forçando assim o seu deslocamento em várias direções diferentes, antes de
se completar sua passagem pelo nariz. Tal evento promove a precipitação de poeira
e outras partículas suspensas no ar. As partículas ao colidirem com os cornetos, ou
com outras superfícies da cavidade nasal, são englobadas pela camada de muco
que cobre a superfície. Está, por sua vez, é dotada de células epiteliais, cujos cílios
penetram no muco e se movimentam na direção da faringe, movendo lentamente o
muco e as partículas englobadas em direção ao esôfago, onde serão deglutidas
(LOBO et. al., 1973).
Passando pela cavidade nasal o ar segue em direção a faringe, a qual
divide-se posteriormente em esôfago e traquéia. Nela, os alimentos são separados
do ar. Este entra na traquéia e aqueles penetram no esôfago. Essa separação se dá
através de reflexos nervosos. O alimento ao tocar a superfície da faringe, induz,
reflexamente, o fechamento das cordas vocais e a abertura da traquéia, pela
epiglote. Isso permite a passagem do alimento ao esôfago. Além desses
acontecimentos, devido à presença de receptores situados na mucosa nasal, podem
ocorrer reflexos de proteção como, por exemplo, o espirro (GUYTON, 2002).
A traquéia divide-se em brônquios principais direito e esquerdo, os quais por
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
22
sua vez dividem-se em brônquios lobares, e a seguir em segmentares. Este
processo continua para baixo até os bronquíolos terminais, que são as menores vias
aéreas sem os alvéolos. Todos esses brônquios constituem as vias aéreas de
condução, cuja função é conduzir o ar inspirado para as regiões de troca gasosa do
pulmão. Pelo fato das vias de condução não conterem os alvéolos é que elas não
tomam parte na troca gasosa. Elas constituem o espaço morto anatômico e o seu
volume é em torno de 150ml (WEST, 1996).
Os bronquíolos terminais dividem-se em bronquíolos respiratórios, os quais
têm alvéolos ocasionais, que brotam das suas paredes. Em seguida surgem os
chamados ductos alveolares, que são completamente revestidos com alvéolos
(LOBO et. al., 1973).
Esta região toda alveolada do pulmão, onde a troca gasosa ocorre, é
conhecida como zona respiratória. Está constitui a maior parte do pulmão, sendo o
seu volume cerca de 2,5 a 3 litros. A porção do pulmão distal a um bronquíolo
terminal forma uma unidade anatômica denominada ácino ou lóbulo (WEST, 1996).
Os pulmões, não estão fixados diretamente às costelas. Ao invés disso, eles
são suspensos pelos sacos pleurais. Esses apresentam uma parede dupla: a pleura
parietal que reveste a parede torácica; e a pleura visceral ou pulmonar que reveste a
face externa dos pulmões. Essas paredes pleurais envolvem os pulmões. Entre elas
existe uma fina película líquida que reduz o atrito durante os movimentos
respiratórios (WILMORE e COSTILL, 2001).
Além disso, esses sacos estão conectados aos pulmões e à superfície
interna da caixa torácica, fazendo com que os pulmões adotem a forma e o tamanho
da mesma quando o tórax se expande e contrai (WILMORE e COSTILL, 2001).
Estas relações estabelecidas entre as estruturas: pulmões, sacos pleurais e
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
23
caixa torácica são responsáveis por determinam o fluxo aéreo para dentro e para
fora dos pulmões.
2.1.2 Estrutura e Função Pulmonar
O pulmão é para troca gasosa. Ele tem como função primordial possibilitar
que o oxigênio se mova a partir do ar para dentro do sangue venoso e o dióxido de
carbono se mova para fora. O pulmão também realiza outras funções de menor
destaque. Ele metaboliza alguns compostos, filtra materiais tóxicos da circulação, e
atua como reservatório de sangue (WEST, 1996).
Tanto o oxigênio quanto o dióxido de carbono, transportam-se através do ar
e do sangue por difusão simples, isto é, a partir de uma área onde a pressão parcial
de oxigênio (concentração de oxigênio no sangue multiplicada pela pressão total do
mesmo existente neste) é alta para uma onde está é baixa (GUYTON, 2002).
Segundo West (1996), a lei de difusão de Fick diz que: “a quantidade de gás
que se move através de uma lâmina de tecido é proporcional à área da lâmina, mas
inversamente proporcional à sua espessura”. A barreira sangue-gás é extremamente
fina, possuindo uma área entre 50 e 100m2. Sendo assim ela é bem apropriada à
sua função de troca gasosa.
A enorme superfície de difusão encontrada no interior da cavidade torácica,
que tem um tamanho relativamente pequeno quando comparada a está superfície,
se dá através do envolvimento do grande número de alvéolos pelos capilares
sangüíneos. Existem em torno de 300 milhões de alvéolos no pulmão humano, cada
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
um com mm de diâmetro (LOBO et. al., 1973).
Os gases são trazidos para um dos lados da interface alvéolo/capilar, pelas
vias aéreas, enquanto o sangue é conduzido ao outro, pelos vasos sangüíneos.
2.1.3 Ventilação Pulmonar
A ventilação pulmonar, comumente denominada respiração, é o processo
pelo qual mobilizamos ar para dentro e para fora dos pulmões.
FIGURA 1 – ANATOMIA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
25
FONTE: GUYTON, 2002.
2.1.3.1 Fases
2.1.3.1.1 Inspiração
Durante a inspiração, o volume da cavidade torácica aumenta e o ar é
puxado para dentro dos pulmões (WEST, 1996).
Este evento decorre de um processo ativo que envolve o diafragma e os
músculos intercostais externos. As costelas e o esterno são movidos pelos músculos
intercostais externos. O esterno move-se para cima e para baixo, num movimento
semelhante ao de uma alavanca de bomba. Já as costelas movem-se para dentro e
para fora, num movimento semelhante ao de uma alça de balde. Ao mesmo tempo,
o diafragma se contrai, descendo e achatando-se em direção ao abdômen e
tracionando para baixo o plano inferior dos pulmões. (WILMORE e COSTILL, 2001).
Na respiração corrente normal, o nível do diafragma move-se cerca de 1
centímetro mais ou menos (WEST, 1996).
Essas ações expandem as três dimensões da caixa torácia, expandindo e
distendendo os pulmões. Quando os pulmões são expandidos, o ar no seu interior
tem um maior espaço para preencher, de modo que a pressão intrapulmonar
diminui. Como resultado, a pressão intrapulmonar é inferior à pressão do ar fora do
corpo. Como o trato respiratório apresenta uma abertura para o exterior, o ar entra
nos pulmões para reduzir essa diferença de pressão. É dessa forma que o ar é
levado para os pulmões durante a inspiração (WILMORE e COSTILL, 2001).
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
26
O ar inspirado flui para baixo até os bronquíolos terminais por fluxo bruto,
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
como água através de uma mangueira. Além desse ponto, a área de seção
transversa das vias aéreas é tão enorme, em virtude do grande número de ramos,
que a velocidade do gás para frente torna-se muito pequena (GUYTON, 2002).
FIGURA 2 – FASE INSPIRATÓRIA DA RESPIRAÇÃO
FONTE: GUYTON, 2002.
2.1.3.1.2 Expiração
Em repouso, a expiração geralmente é um processo passivo que envolve o
relaxamento dos músculos inspiratórios e a retração elástica do tecido pulmonar.
Quando o diafragma relaxa, ele retorna a sua posição normal, arqueada
para cima. Quando os músculos intercostais externos relaxam, as costelas e o
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
28
esterno descem novamente às suas posições de repouso. Enquanto isso ocorre, a
natureza elástica do tecido pulmonar faz com que ele se contraia, retornando a sua
posição de repouso. Isso aumenta a pressão intratorácica e, por essa razão, o ar é
forçado para fora dos pulmões (WILMORE e COSTILL, 2001).
FIGURA 3 – FASE EXPIRATÓRIA DA RESPIRÇÃO
FONTE: GUYTON, 2002.
2.1.4 Complacência Pulmonar
A alteração de volume por unidade de alteração da pressão é conhecida
como complacência. No ser humano adulto normal, a complacência total de ambos
os pulmões é, em média, cerca de 200ml de ar por centímetro de água de pressão
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
29
transpulmonar. Isto é, toda vez que a pressão transpulmonar aumenta 1 centímetro
de água, o volume pulmonar tem expansão de 200ml (WEST, 1996).
Esta complacência torna-se muito diminuída caso a pressão venosa
pulmonar seja aumentada e o pulmão fique ingurgitado de sangue (WEST, 1996).
2.1.5 Complacência do Tórax e dos Pulmões
A complacência do sistema respiratório (pulmões e caixa torácica) é medida
enquanto ocorre expansão dos pulmões de uma pessoa relaxada ou paralisada. Ela
é quase exatamente a metade da complacência dos pulmões isolados, 110ml/cm.
Além disso, quando os pulmões são expandidos até grandes volumes, ou
comprimidos até pequenos volumes, as limitações impostas pelo tórax tornam-se
extremas; próximo a esses limites, a complacência do sistema pulmão-tórax pode
ser inferior a um quinto da complacência dos pulmões isolados (GUYTON, 2002).
2.1.6 Volumes e Capacidades Pulmonares
2.1.6.1 Volume Corrente
Definido como o volume de ar que é inspirado ou expirado a cada respiração
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
30
normal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 1996).
Pode ser definido ainda, como o volume de ar que entra no pulmão a cada
inspiração. Este equivale à cerca de 500ml (WEST, 1996).
2.1.6.2 Volume Residual
Se refere volume de gás que permaneceu no pulmão após uma inspiração
máxima e equivale a cerca de 1200ml (PELOSI et. al., 1998).
2.1.6.3 Volume de Reserva Inspiratório
Volume máximo adicional de ar que pode ser inspirado além do volume
corrente normal; em geral, este volume é igual à aproximadamente 3000ml
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 1996).
2.1.6.4 Volume de Reserva Expiratório
O volume de reserva expiratório corresponde ao volume máximo adicional
de ar que pode ser eliminado por expiração forçada, após uma expiração normal.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
31
Esse é cerca de 1100ml (GUYTON, 2002).
2.1.6.5 Capacidade Vital
É o volume de ar exalado após uma inspiração e também uma expiração
máximas (WEST, 1996).
Este corresponde à cerca de 4600ml (GUYTON, 2002).
2.1.6.6 Capacidade Residual Funcional
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (1996), a
capacidade residual funcional equivale ao volume de ar que permanece nos
pulmões após a expiração corrente normal.
Segundo
West
(1996),
a
capacidade
residual
funcional
é
de
aproximadamente 2300ml.
2.1.6.7 Capacidade Pulmonar Total
Esta está relacionada à soma da capacidade vital ao volume residual
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 1996).
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
32
Segundo Guyton (2002), ela corresponde a um volume de aproximadamente
cerca 5800ml (GUYTON, 2002).
2.1.7 Músculos Inspiratórios da Respiração
2.1.7.1 Músculo Diafragma
2.1.7.1.1 Descrição
Consiste em uma delgada folha de músculo em forma de cúpula que é
inserido nas costelas inferiores. Ele é suprido pelo nervo frênico a partir dos
segmentos cervicais 3, 4 e 5. Quando ele se contrai o conteúdo abdominal e forçado
para baixo e para frente, e a dimensão vertical da cavidade torácica é aumentada.
Além disso, as margens costais são levantadas e movidas para fora, causando um
aumento no diâmetro transverso do tórax (WEST, 1996).
Ele é o músculo mais liso de todo o organismo, e limita a parte superior da
cavidade abdominal e a inferior da cavidade torácica. Ele é côncavo embaixo e
convexo em cima e sua parte intermediária é aponeurótica ou tendinosa e se chama
centro frênico. Ao seu redor é onde se encontram suas porções musculares
(DÂNGELO e FATTINI, 1999).
Este músculo é mais alto na parte da frente do que na de trás, já que as
costelas são mais altas na parte anterior do que na parte posterior. Sua abóboda
não é regular, sendo o seu lado esquerdo mais baixo que o direito. Ele é um
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
33
músculo saliente, assimétrico e como, já citado anteriormente, o mais importante da
inspiração (FUCCI, BENIGNI e FORNASARI, 1984).
2.1.7.1.2 Origem
Segundo Fucci, Benigni e Fornasari (1984), o diafragma se forma de fibras
musculares e tendinosas, provindas dos elementos anatômicos que formam o orifício
costal inferior, podendo-se reconhecer e diferenciar várias partes:
a) A parte vertebral é a mais grossa e é denominada de pilares do
diafragma: um deles se encontra à direita e é mais amplo e largo; o outro é menor e
fica à esquerda. O pilar direito sobe e se une ao esquerdo, formando um orifício
chamado de aórtico, pois, através dele, passa a artéria aorta. Sobre este orifício, vaise formar um outro que tem como base os dois mesmos pilares e se chama orifício
esofágico.
b) Outra parte é chamada de fibras lombares ou pilares lombares. Eles vêm
da primeira vértebra lombar e vão até a 12ª costela.
c) Outra porção, chamada costal, vai da 12ª costela e vai até a 7ª.
d) Além disso, ele tem fibras esternais na face inferior do esterno.
2.1.7.1.3 Inserção
Todas as suas fibras convergem para o centro frênico, que tem forma de
trevo, em cuja folha direita existe um orifício por onde passa a veia cava inferior.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
34
Este centro é a parte mais alta do diafragma, pois se encontra à altura do 5º espaço
intercostal, embora isto seja variável, pois pode ser encontrado de 3 a 5 cm acima,
no 3º espaço intercostal, como também a outros tantos centímetros abaixo.
Normalmente, ele se move para cima e para baixo uns dois ou três centímetros
(GARDNER, DONALD e RONOAN, 1978).
2.1.7.1.4 Função
Ao contraír-se, segundo Souchard (1989), o diafragma fecha o orifício torácico
superior e se torna rígido, assumindo uma forma quase reta. Com isto, sua
dimensão passa a ser maior, o que aumenta o diâmetro, no sentido crânio-caudal,
da caixa-torácica e afeta a inspiração. Nesta atividade, ele atua de duas formas:
a) Ao alinhar-se, ele aumenta o diâmetro crânio-caudal.
b) Ao tornar-se rígido, ele amplia o orifício torácico inferior.
Ao se alinhar, o diafragma também produz um outro efeito: comprime o fígado,
dirigindo o sangue que existe nele para o coração e melhorando o retorno venoso.
2.1.7.1 Músculos Intercostais Externos
Os músculos intercostais conectam costelas adjacentes e são inclinados
para baixo e para frente. A sua contração, que traciona as costelas para cima e para
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
35
frente, causa um aumento em ambos os diâmetros: lateral e ântero-posterior do
tórax. Os músculos intercostais são supridos por nervos intercostais que saem da
medula espinhal ao mesmo nível. A paralisia de tal musculatura isoladamente não
afeta seriamente a respiração porque o diafragma é muito ativo (WEST, 1996).
2.2 Obesidade
A obesidade é uma doença universal de prevalência crescente e que vem
adquirindo proporções alarmantemente epidêmicas, sendo um dos principais
problemas de saúde pública da sociedade moderna (HALPERN e MANCINI, 2002).
No Brasil, a situação não é diferente, observando-se crescimento maior que
90% da população obesa nos últimos 30 anos (FARIA et. al., 2002).
Caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo, a
obesidade é uma doença crônica cuja prevalência vem crescendo acentuadamente
nas derradeiras décadas e as despesas com suas complicações atingem cifras de
bilhões de dólares (AMARAL e CHEIBUB, 1991).
Tal condição compartilha com os transtornos psiquiátricos de pesado
preconceito tanto entre a população leiga, quanto entre os profissionais da área da
saúde (AMARAL e CHEIBUB, 1991).
Com relação ao feitio psicossocial da obesidade, numerosos relatos dão
conta da estigmatização dos indivíduos obesos, aumentando a possibilidade de tais
desenvolverem distúrbios psicossociais.
Além disso, existe falta de respeito generalizada pelos indivíduos obesos, a
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
36
ponto de existir estudos em que aproximadamente 80% dos pacientes, em tal
condição, relatam terem sido tratados de forma desrespeitosa por profissionais da
área da saúde (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).
Além do aspecto psicossocial, os indivíduos obesos têm um risco
aumentado
de
desenvolverem
inúmeras
doenças,
como
diabetes
mellitus,
dislipidemia, doenças cardio e cerebrovascular, alterações da coagulação, doenças
articulares degenerativas, neoplasias estrogênio-dependentes, neoplasia de vesícula
biliar, esteatose hepática com ou sem cirrose, apnéia do sono entre outras
(HALPERN e MANCINI, 2002).
As inúmeras disfunções orgânicas, decorrentes da obesidade, são
responsáveis pelo aumento do índice de morbidade e mortalidade e pela piora da
qualidade de vida dos indivíduos obesos. O avanço tecnológico atual que induz a um
estilo de vida sedentário, e fatores como o aumento do tabagismo, do consumo de
álcool e do nível de estresse, vêm favorecendo o aumento da população obesa em
nosso país (GUEDES e GUEDES, 1998).
Segundo vários estudos realizados é cada vez mais evidente a prevalência
tanto da obesidade, quanto do sobrepeso nos diferentes segmentos da população
brasileira.
Aproximadamente 32% da população adulta brasileira apresentam algum
grau de sobrepeso (IMC > 25 kg/m2), sendo que, destes, 8% apresentam obesidade
(IMC > 30 kg/m2). Nos últimos 15 anos, houve um grande aumento da população de
indivíduos obesos no Brasil, sendo este mais significativo entre os homens
(BENÍCIO et. al., 2004).
Estando a obesidade relacionada a um maior risco de doenças, e maior
propensão a problemas econômicos, sociais e psíquicos, ou seja, a diminuição da
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
37
qualidade e da expectativa de vida, torna-se imperativo um tratamento eficaz para
essa doença (FARIA et. al., 2002).
2.2.1 Definição
A obesidade é conceituada como sendo o acúmulo de energia sob a forma
de gordura. É uma doença multifatorial, dispendiosa, vitalícia e potencialmente letal
(FARIA et. al., 2002).
Pode ser definida, ainda, com excesso de tecido adiposo no organismo,
sendo tal, potencialmente deletério para a boa saúde e bem-estar dos indivíduos
(MITCHELL et. al., 1978).
Segundo conceito generalizado, o excesso de tecido adiposo dá-se por uma
ingestão calórica que sobrepassa o gasto calórico. Nestas circunstâncias, seria de
se supor, que na fisiopatologia da obesidade dois fatores apenas deveriam ser
considerados, a saber: a ingestão e a queima calórica. Sabe-se que, no entanto,
outros fatores intervêm na gênese da obesidade, como a capacidade de fazer
gorduras e uma menor oxidação dessas (GARRIDO Jr., 2002).
2.2.2 Classificação
Mesmo em uma população geneticamente homogênea, o peso é muito
variável. Assim uma classificação singular da obesidade torna-se bastante
complexa.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
38
A diferença entre a normalidade e a obesidade é arbitrária, mas um indivíduo
é considerado obeso quando a quantidade de tecido adiposo aumenta em uma
extensão tal que a saúde física e psicológica são afetadas e a expectativa de vida é
reduzida (MANCINI, 2001).
No mundo moderno, com a grande miscigenação de grupos étnicos e raciais
há uma ampla heterogeneidade genética. Está é manifestada por diferentes alturas,
circunferências corporais (tórax, cintura, quadris) e pesos de constituição. É
indesejável focalizar um único número de quilogramas para a altura em centímetros
como o peso “normal”, particularmente porque não está claro qual deve ser o critério
de peso “normal” (GARRIDO Jr., 2002).
Diz-se, um indivíduo ser obeso, quando no caso do sexo masculino ele
apresentar mais do que 20% de gordura na composição corporal e no sexo feminino
mais do que 30% (SEGAL e FANDIÑO, 2002).
Na prática clínica, na maior parte dos estudos e na classificação da
Organização Mundial da Saúde (OMS) utiliza-se o Índice de Massa Corporal (IMC)
para tal classificação, calculado dividindo-se o peso corporal, em quilogramas, pelo
quadrado da altura, em metros quadrados (VANÍTALLIE, 1979).
A classificação da obesidade segundo a Organização Mundial da Saúde
está representada na tabela 1.
TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO DA OBESIDADE, SEUNDO O ÍNDICE DE MASSA
CORPÓREA (IMC) E RISCO DE DOENÇA (OMS)
IMC (Kg/m2 )
CLASSIFICAÇÃO
OBESIDADE
RISCO DE OENÇA
(grau)
< 18,5
18,5-24,9
25-29,9
Magreza
Normal
Sobrepeso
0
0
I
Elevado
Normal
Elevado
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
39
30-39,9
Obesidade
> 40,0
Obesidade grave
FONTE: SEGAL E FANDIÑO 2002.
II
III
Muito elevado
Muitíssimo elevado
Indivíduos com IMC < 18,5 Kg/m2, têm baixo peso e risco aumentado de
doenças; um IMC < 25 Kg/m2, é considerado normal; a faixa entre 25 e 29,9 Kg/m2,
é denominada pré-obesidade ou sobrepeso e os riscos de complicações são ainda
baixo. A partir do IMC de 30 Kg/m2, existe obesidade propriamente dita e a
morbidade e a mortalidade aumentam exponencialmente; a obesidade com IMC de
40 Kg/m2, é denominada obesidade grave ou mórbida (MANCINI, 2001).
Alguns autores denominam super-obesos os indivíduos com IMC de
55kg/m2, devido às dificuldades particulares do manejo pessoal e à extensa gama de
complicações clínicas que incidem nesse pacientes (HALPERN e MANCINI, 2002).
2.2.3 Mortalidade
Com relação à mortalidade associada à obesidade foram encontraram taxas
aumentadas em duas vezes para homens e mulheres que estão 50% acima do peso
ideal. A obesidade é em si um fator de risco para mortalidade e especialmente os
jovens obesos tendem a morrer antes daqueles que se enquadram na média do
peso ideal, caindo por terra, desta forma, o termo "obeso saudável" (ZILBERSTEIN,
GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).
Há evidencias marcantes de que a obesidade acarreta risco excessivo para
a saúde; de fato, a mortalidade aumenta de forma aguda quando o índice de massa
corporal ultrapassa 30 Kg/m2, principalmente quando há distribuição central de
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
40
tecido adiposo concomitantemente (MANCINI, 2001).
Morte súbita misteriosa é 13 vezes mais comum em mulher obesa com IMC
de 40 Kg/m2, quando comparada a mulher de peso normal (MANCINI, 2001).
2.2.4 Diagnóstico
A fronteira entre obesidade e peso normal (peso de um indivíduo associado
à menor mortalidade para sua altura) é variável, podendo existir altercações entre as
pessoas avaliadas.
No entanto, muito se utiliza para tal procedimento os diagnósticos
quantitativos e qualitativos.
2.2.4.1 Diagnóstico Quantitativo
O índice de massa corpórea (IMC ou BMI, de body mass index), também
conhecido por Índice de Quetelet, que é o peso (em Kg) dividido pelo quadrado da
altura (em m), é o mais utilizado na prática clínica e em estudos epidemiológicos
(MANCINI, 2001).
O IMC tem cálculo simples e rápido, apresentando boa correlação com a
adiposidade corporal. Porém, além de não distinguir gordura central de periférica, o
IMC não distingue massa gordurosa de massa magra, podendo superestimar o grau
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
41
de obesidade em indivíduos musculosos (FARIA et. al., 2002).
Segundo Mancini (2001), o IMC também apresenta limitações no que se
refere a pessoas edemaciadas ou com presença de cifose importante. Tais
indivíduos podem apresentar um IMC falso elevado.
A impedância bioelétrica, outro método de avaliação quantitativa da
obesidade, vem ganhando aceitabilidade na prática clínica pelo desenvolvimento de
aparelhos menores e mais baratos, o que permite uma avaliação com maior precisão
da massa adiposa e da massa de tecidos magros. Tal recurso substitui com
vantagem o método da somatória da medida da espessura das pregas cutâneas,
que possui como desvantagem apresentar variabilidade inter e intra-examinador,
inaceitáveis. Os valores aceitados como normais são: para homens menores que
25%, no que se refere à porcentagem de tecido adiposo na constituição corporal; e
para mulheres, os valores considerados ideais devem estar abaixo de 33%
(HALPERN e MANCINI, 2002).
Os métodos mais utilizados, atualmente, para o diagnóstico quantitativo da
obesidade são apresentados na tabela 2.
TABELA 2: DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO DA OBESIDADE
MÉTODOS MAIS UTILIZADOS PARA DIAGNOSTICAR OBESIDADE
(QUANTITATIVO)
Tabela de peso x Altura
Índice de massa corpórea
Somatória das medidas de pregas cutânea
Impedância bioelétrica de freqüência única
Espectroscopia bioelétrica de freqüência múltipla
Condutibilidade elétrica corpórea total (Tobec)
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
42
Absorpciometria dual de raios x (DXA)
Tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética
Potássio corpóreo total (K)
Água duplamente marcada (D2 O)
FONTE: SEGAL E FANDIÑO, 2002.
2.2.4.2 Diagnóstico Qualitativo
O diagnóstico qualitativo da obesidade é realizado através da análise da
distribuição de gordura corporal, a qual pode estabelecer um prognóstico de risco
para a saúde, mais fidedigno que o próprio grau de obesidade (MANCINI, 2001).
O excesso de gordura, de uma pessoa obesa, pode estar mais concentrado
na região abdominal ou no tronco, o que define obesidade tipo andróide, superior,
central, abdominal ou em maçã, mais freqüente, mas não exclusiva no sexo
masculino. Pode ainda, estar mais concentrado na região dos quadris, o que define
obesidade tipo ginóide, inferior, periférica ou subcutânea, glúteo-femoral, ou em
pêra, mais freqüente no sexo feminino (FARIA et. al., 2002).
A obesidade tipo andróide apresenta maior correlação com complicações
cardiovasculares e metabólicas, que a obesidade ginóide. Está, apresenta como
doenças
associadas
às
complicações
vasculares
periféricas
e
problemas
ortopédicos e estéticos (HALPERN e MANCINI, 2002).
Outra forma de avaliar qualitativamente um obeso é com o cálculo da
relação cintura-quadril, definida pela divisão do maior perímetro abdominal, entre a
última costela e a crista ilíaca, pelo perímetro dos quadris em nível dos trocânteres
femorais, com o indivíduo em decúbito dorsal (HALPERN e MANCINI, 2002).
Índices superiores a 0,8 em mulheres e 0,9 em homens definem distribuição
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
43
central de gordura e, estatisticamente, se correlacionam com maior quantidade de
gordura visceral ou portal, medidas por métodos de imagem como tomografia ou
ressonância magnética (FARIA et. al., 2002).
Mais recentemente, a medida da circunferência da cintura tem mostrado ser
suficiente
para
estabelecer
riscos,
sendo
considerados
limites
normais
a
circunferência menor que 95 cm para homens e menor que 80 cm para mulheres. O
risco de existir um fator de risco coronariano aumenta substancialmente quando a
medida em homens ultrapassa 104 cm e em mulheres 88 cm. A tabela 3 mostra
alguns métodos utilizados para este diagnóstico (HALPERN e MANCINI, 2002).
TABELA 3: DIAGNÓSTICO QUALITATIVO DA OBESIDADE
MÉTODOS MAIS UTILIZADOS PARA DIAGNOSTICAR OBESIDADE (QUALITATIVO)
Medida do maior perímetro abdominal entre a última costela e a crista
ilíaca
Relação cintura-quadril
Absorpciometria dual de raios X (DXA)
Ultra-sonografia
Tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética
FONTE: HALPERN E MANCINI, 2002.
2.2.4.3 Diagnóstico Etiológico
Síndromes genéticas raras como Prader-Willi, Bardet-Biedl, Cohen e Alstrôm
apresentam obesidade em seu quadro clínico, estando, em geral, também
associadas a retardo mental e hipogonadismo (BENÍCIO et. al., 2004).
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
44
Foram identificadas famílias com defeitos genéticos levando a deficiência na
produção de leptina e do seu receptor, fato responsável pela obesidade grave na
infância (MITCHELL, 1978).
Hipotireoidismo, hiperinsulinização no tratamento de diabetes mellitus,
insulinoma, alterações hipotálamo-hipofisárias (secundárias a destruição por
tumores, cirurgia, radioterapia ou infecção do sistema nervoso, mas raramente
idiopáticas) se constituem em causas endócrinas de ganho de peso, que nem
sempre justificam a obesidade em sua plenitude (BENÍCIO et. al., 2004).
Estas formas de obesidade genética ou de causa orgânica óbvia
representam uma minoria absoluta em relação ao total de obesos.
2.2.5 Fisiopatologia
Embora seja clássica a noção de que os obesos ingerem mais calorias do
que os não obesos, não há um consenso geral entre os autores de que isto seja
verdadeiro.
A fisiopatologia da obesidade não está ainda totalmente esclarecida.
Segundo Garrido Jr. (2002), acredita-se hoje que as principais razões para um
indivíduo se tornar obeso sejam:
1) Comer mais (particularmente gordura);
2) Queimar menos calorias;
3) Fazer gorduras mais facilmente;
4) Oxidar menos gorduras.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
45
Evidentemente, a maior propensão à obesidade está sujeita a influência de
fatores genéticos e ambientais, os quais se alteram de indivíduo para indivíduo
(FARIA et. al., 2002).
2.2.5.1 Ingestão Calórica
Há uma disposição em se acreditar que existe maior consumo de alimentos
gordurosos em populações de obesos, e tudo leva a crer que a maior tendência à
obesidade no mundo com livre acesso a comida está ligada a uma maior ingestão de
alimentes gordurosos (MACBRYDE e BLACKLOW, 1975).
Existem escassas dúvidas de que as calorias contidas nas gorduras levam a
uma adipogênese muito mais eficiente que as calorias contidas nas proteínas e nos
hidratos de carbono. Parasse haver, portanto, uma tendência a maior ingestão de
alimentos gordurosos na população de indivíduos obesos em relação aos normais.
Esta maior ingestão de gorduras parece também estar associada a um maior
consumo de doces e álcool. Esta tríade: gorduras, açúcar e álcool colaboram
decisivamente para o crescimento da obesidade que vem sendo observado no
mundo (FANDIÑO et. al., 2004).
Além do consumo alimentar outro fator importante a se considerar na
gênese da obesidade é o habito alimentar do indivíduo. Não há a menor dúvida de
que um hábito alimentar compulsivo está associado à tendência de ganho de peso
(CRUZ e MORIMOTO, 2004).
O hábito alimentar compulsivo é definido como aquele tipo de alimentação
em que o indivíduo ingere grandes quantidades de alimentos, movido por uma força
quase incontrolável, com um consumo por vezes enorme de calorias e, seguido por
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
46
sensação de culpa. Este hábito alimentar compulsivo parece ser desencadeado por
fatores psíquicos, mas também tem base neuroendócrina, visto que a regulação da
fome e da saciedade é feita por uma série de mediadores: nutrientes, hormônios e
também neurotransmissores (GARRIDO Jr., 2002).
Na experiência clínica comparando-se os hábitos compulsivos em indivíduos
pesados (IMC maior que 25Kg/m2), obesos (IMC maior que 30KG/m2) e obesos
mórbidos (IMC maior que 40 Kg/m2), encontra-se uma prevalência de 46,5%, 51,1%
e 70%, respectivamente (GARRIDO Jr., 2002).
2.2.5.2 Gasto Calórico
A calorigênese é o processo que se refere, ao gasto calórico. Para que se
entenda de forma clara este evento é necessário que se saiba, quais os
compartimentos em que o mesmo está dividido.
Um deles, o metabolismo basal, constitui a queima calórica do indivíduo
dormindo, e representa o dispêndio de energia em condições basais, o que difere do
metabolismo de repouso, que se refere a calorigênese gerada pelo organismo em
repouso, mas já desperto. Os metabolismos basal e de repouso dependem da
massa magra (fundamentalmente dos músculos), do sexo (homens apresentam
maior metabolismo que mulheres), da idade (idosos dispendem menos calorias),
havendo também uma porcentagem de 10% a 15% de dependência em relação aos
aspectos genéticos (CRUZ e MORIMOTO, 2004).
Deve-se salientar que o metabolismo basal é maior nos obesos que nos
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
47
normais, fundamentalmente porque ele depende de massa muscular, que está
aumentada de maneira absoluta nos indivíduos obesos, embora percentualmente
esteja diminuída (MACBRYDE e BLACKLOW, 1975).
O emagrecimento, no entanto, faz com que os obesos nivelem seu peso ao
dos não obesos, e isto leva a um decréscimo no metabolismo basal, havendo
evidências de que pelo menos uma parte dos ex-obesos, também chamados obesos
reduzidos ou emagrecidos, apresenta uma queima calórica basal menor que os
indivíduos não obesos com o mesmo peso (FANDIÑO et. al., 2004).
A calorigênese exercício-induzida é obtida através de qualquer atividade
física, programada ou espontânea, e é variável de indivíduo para indivíduo
(MITCHELL, 1978).
A questão relativa à atividade física ainda é sujeita a debates, embora haja
uma tendência a se acreditar que boa parte dos obesos tenha uma diminuição na
atividade física do dia-a-dia, não dirigida especificamente para a prática de
exercícios.
A calorigênese dieta-induzida apresenta dois componentes: o obrigatório e o
facultativo. O primeiro é dependente do trabalho efetuado pelo organismo nas
diversas fases da atuação sobre o nutriente: mastigação, deglutição, absorção e
transformações metabólicas. Já o componente facultativo representa o acréscimo
sobre a queima calórica obrigatória, na verdade, um gasto calórico supérfluo
(MACKBRYDE e BLACKLOW, 1975).
Alguns autores acreditam que a queima calórica de 24h é deficiente em
alguns indivíduos, e também, que este seja um dos fatores responsáveis pela
predisposição à obesidade. Mais ainda, os mesmos autores mostraram que não só a
queima calórica por unidade de massa magra é variável de indivíduo para indivíduo,
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
48
como também está agregada a família, isto é, a calorigênese seria geneticamente
determinada (GARRIDO Jr., 2002).
Assim sendo, indivíduos com menor calorigênese apresentariam maior
tendência à obesidade. Alguns estudos mostraram uma tendência sete vezes maior
de ganho de peso em indivíduos com menor calorigênese em relação aos indivíduos
com calorigênese aumentada (APPOLINARIO, 1998).
Em relação à termogênese alimentar, a literatura se divide: determinados
autores crêem ser ela reduzida nos obesos; outros não admitem esta ocorrência.
Deve-se salientar, no entanto, que a menor termogênese alimentar nos obesos
parece ser conseqüência e não causa da obesidade.
Tal fato foi comprovado por um estudo que promoveu o isolamento térmico
artificial da parede abdominal em normais, e, a partir de tal circunstância, observou a
ocorrência de redução na termogênese alimentar e no peso, o que por sua vez levou
a restauração desta queima induzida pelo alimento (APPOLINARIO, 1998).
Em conclusão, há uma variabilidade genética na queima calórica e uma
atividade física diferente entre os indivíduos. Pessoas que geneticamente têm menor
calorigênese e os menos ativos estão sujeitos a se tornarem obesos.
2.2.5.3 Formação de Gorduras
A adipogênese depende da agilidade da lípase lipoprotéica (ALLP) e, assim
sendo, é aceitável que alguns obesos possam deparar-se com níveis aumentados
desta enzima. Certos estudos sugerem este fato, isto é, confirmaram ALLP
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
49
aumentada em animais geneticamente obesos e, mais ainda, tenacidade de
agilidade aumentada em obesos emagrecidos, o que oferece tendência óbvia a uma
volta ao peso anterior (GARRIDO Jr., 2002).
Sabe-se agora, que além da atividade da lípase lipoprotéica a formação da
célula adiposa adulta e o acúmulo de gordura na mesma estão sujeitos a uma
variedade de acontecimentos bastante complexos, desde as células primordiais até
a maturação dos adipócitos. Há evidências de que alterações nas séries destes
eventos podem ocasionar obesidade, como, por exemplo, a de receptores para
ativadores da proliferação de peroxisomas (MACKBRYDE e BLACKLOW, 1975).
2.2.5.4 Oxidação de Gorduras
Um outro fator relevante na maior ou menor deposição de tecido adiposo é a
oxidação de gorduras, que pode ser diferente entre os indivíduos.
A oxidação de gorduras – maior ou menor – pode ser revelada pelo
quociente respiratório (QR = CO2 expirado/ O2 inspirado), obtido através de
calorimetria indireta (GARRIDO Jr., 2002).
A oxidação pura de gorduras produz um QR de 0,7, e a oxidação pura de
hidratos de carbonos produz um QR de 1,0. Alguns autores evidenciaram quocientes
respiratórios diferentes de um indivíduo para outro e, mais ainda, prospectivamente
mostraram tendência a ganho de peso de 2,5 vezes maior entre os indivíduos com
QR em torno de 0,87, quando comparados com indivíduos com QR em torno de 0,82
(CRUZ e MORIMOTO, 2004).
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
50
Em suma, parece haver uma tendência genética à maior ou menor oxidação
de gorduras, assim como de indivíduos com menor oxidação serem obesos.
2.2.6 Obesidade Mórbida
2.2.6.1 Definição
A definição de obesidade mórbida por critérios de peso corpóreo, estabelece
como indivíduos portadores de tal patologia aqueles com aumento de 100% acima
do peso ideal ou 45-50kg de excesso com relação ao peso ideal. Isso, geralmente,
inclui homens pesando mais de 120-130kg e mulheres pesando mais de 100-110kg
(BALSIGER et. al., 2000).
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, obesidade mórbida é assim
considerada quando o índice de massa corporal (IMC) de um indivíduo for maior ou
igual a 40 Kg/m2, o que está relacionado a um risco muito elevado de co-morbidades
(FARIA et. al., 2002).
A Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica considera um IMC de até 25
como normal (eutrófico), entre 25-30 de IMC como sobrepeso, entre 30-35 de IMC
como obesidade grau I, entre 35-40 de IMC como obesidade grau II e acima de 40
de
IMC
como
obesidade
grau
III
ou
"obesidade
clinicamente
mórbida"
(ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).
Ainda, no que diz respeito às coomorbidades, uma definição mais ampla de
obesidade mórbida deve obrigatoriamente incluir pacientes que tenham coMonografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
51
morbidades graves relacionadas diretamente com a obesidade, como artropatia
mecânica, hipertensão, diabetes tipo II, doença cardíaca, dislipidemia e apnéia do
sono dentre outras (BALSIGER et. al., 2000).
Pacientes obesos mórbidos têm risco magnificado de desenvolverem doenças
crônicas, o que acarreta aumento expressivo da mortalidade (250% em relação a
pacientes não obesos). É justamente o avanço do conhecimento médico sobre o
aumento da morbimortalidade de tais pacientes que enfatiza a necessidade de
intervenção médica no tratamento da obesidade (HALPERN e MANCINI, 2002).
Portanto, a obesidade mórbida representa risco iminente à vida devendo ser
tratada de maneira definitiva (FARIA et. al., 2002).
2.2.7 A Obesidade e o Sistema Respiratório
A obesidade promove diversas alterações fisiopatológicas, as quais
comprometem virtualmente todos os sistemas do organismo, entre eles o
respiratório, podendo apresentar-se como barreira no diagnóstico e na terapêutica
(MANCINI, 2001).
À medida que um indivíduo torna-se mais obeso, o trabalho muscular
necessário para ventilação aumenta. Se o movimento da parede torácica for
suficientemente limitado, ocorre retenção de CO2, que pode levar a letargia e a
sonolência. Narcose pelo CO2 também pode levar a períodos de apnéia, que
geralmente ocorrem durante o sono, e exacerbar o problema de retenção de CO2
(BENÍCIO et. al., 2004).
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
52
Além disso, pode ocorrer policitemia, que pode estimular trombose. Em
casos graves de doença respiratória, pode-se desenvolve hipertensão pulmonar,
aumento cardíaco e insuficiência cardíaca congestiva (BENÍCIO et. al., 2004).
A deposição crescente de gordura revestindo a cavidade torácica e, tanto
dentro como sobre a cavidade abdominal, promove alterações progressivas na
função pulmonar (HALAKA, et. al., 1995).
Acredita-se, então, que a obesidade gera restrição pulmonar devido à
diminuição da excursão diafragmática pelo aumento da adiposidade abdominal ou
do peso na parede torácica, levando a uma redução dos volumes pulmonares
quando comparados com os valores previstos (HALAKA et. al., 1995).
A obesidade grave está associada com reduções na capacidade residual
funcional (CRF), no volume de reserva expiratório (VRE) e na capacidade pulmonar
total (CPT), as quais são atribuídas ao efeito de massa e à pressão sobre o
diafragma (MANCINI, 2001).
A alteração mais importante envolve a diminuição da (CRF). Na obesidade
elevada ou moderada encontra-se uma CRF mais baixa, causada pelo processo
mecânico simples de “compressão” da cavidade torácica, e uma redução nas
dimensões anatômicas pela massa de tecido adiposo de revestimento. O diafragma
encontra-se elevado pelo abdômen distendido. A redução da CRF ocorre tanto pela
redução do volume de reserva expiratório (VRE), como pela redução do volume
residual (VR) (LUCE, 1980).
A CRF pode estar reduzida de tal forma no paciente obeso, que pode
ocasionar oclusão das pequenas vias aéreas (MANCINI, 2001).
Tal evento pode levar a anormalidades na distribuição ventilação/perfusão,
nos gases do sangue arterial, nos mecanismos pulmonares e na difusão dos gases
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
53
(LUCE, 1980).
Na posição vertical, o volume de reserva expiratório e a capacidade residual
funcional (CRF) estão diminuídos, então o volume corrente pode diminuir de acordo
com a capacidade de oclusão, determinando alterações da ventilação e perfusão ou
mesmo os shunts, com hipoxemia subseqüente. Na posição deitada, a CRF
usualmente cai, agravando as trocas gasosas (HALAKA, 1995).
Outra alteração respiratória importante que acompanha a obesidade é um
aumento no trabalho mecânico da respiração e o elevado custo do oxigênio da
mesma. Essas alterações ocorrem porque os músculos intercostais movimentam
uma massa aumentada de revestimento do tórax e com isso o músculo diafragma,
ao contrair-se e descer, irá atuar contra a pressão de um abdômen distendido
(PELOSI et. al. 1998).
Esta dificuldade na movimentação do diafragma, limitada pelo volume
abdominal aumentado, trará como conseqüência a sua paralisação.
Estando o diafragma paralisado, ele se moverá para cima, em vez de para
baixo, com a inspiração, isto porque a pressão intratorácica cai. Este evento é
conhecido como movimento paradoxal (WEST, 1996).
Assim, pacientes obesos, em geral, apresentam defeitos discretos na troca
de gases, com redução da PaO2 e aumento da diferença alvéolo-arterial de O2.
Obesos apresentam consumo de oxigênio e produção de dióxido de carbono
aumentado, tanto em repouso, quanto durante exercício físico. A atividade
metabólica do tecido adiposo, o maior dispêndio energético para manter a
normocapnia, são explicações levantadas para o consumo elevado de oxigênio
(AULER Jr., GIANNINI e SARAGIOTTO, 2003).
Mancini (2001) sugere que tal evento se deve, ainda, ao aumento do
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
54
trabalho de carga sobre os tecidos de suporte.
Apesar destas mudanças nas variáveis respiratórias, os testes usuais, como
a capacidade vital forçada, volume expiratório forçado no primeiro minuto e fluxo
expiratório máximo são geralmente normais na obesidade (COSTA et. al., 2003).
Por outro lado, Halaka et. al. (1995) encontraram limitação ao fluxo
respiratório entre 50% e 75% da capacidade vital, em pacientes obesos.
Embora não existam referências sobre a força muscular respiratória em
indivíduos obesos, esta provavelmente estará alterada, porém não necessariamente
diminuída.
Todavia, a obesidade pode estar relacionada com apnéia do sono e
síndrome da hipoventilção, que se acredita ser responsável pela redução dos
volumes pulmonares, causando hipoxemia e hipercapnia (LOPATA, 1982).
2.2.7.1 Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono
Cerca de 5% dos pacientes com obesidade grau III apresentam a síndrome
da apnéia obstrutiva do sono, que se caracteriza por episódios freqüentes de apnéia
ou hipopnéia (sendo significante a ocorrência de ou mais episódios por hora ou > 30
por noite de sono) durante o sono (MANCINI, 2001).
Um episódio de apnéia obstrutiva é definido como dez segundos ou mais de
total interrupção do fluxo aéreo, a despeito de esforço respiratório contínuo contra
uma via aérea fechada (LOPATA, 1982).
Já a hipopnéia é definida como uma redução de 50% no fluxo aéreo ou uma
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
55
redução suficiente para levar à diminuição de 4% na saturação de O2., roncos (mais
ruidosos a medida que a via aérea diminui de calibre) acompanhados de engasgos e
tosse quando a patência é restaurada, sintomas diurnos como sonolência com
aumento do risco de acidentes de tráfego, diminuição da concentração e da
memória, cefaléia matinal devido à retenção de CO2 e vasodilatação cerebral e
alterações fisiológicas como hipoxemia, hipercapnia, vasoconstrição pulmonar
sistêmica, policitemia (MANCINI, ALOE e TAVARES, 2000).
2.2.7.2 Síndrome da Hipoventilação
A síndrome da hipoventilação se refere à presença de apnéias sem esforço
respiratório.
Esses
episódios,
que
são
associados
com
uma
progressiva
dessensibilização dos centros respiratórios à hipercapnia noturna, inicialmente
limitam-se ao sono, mas eventualmente podem ter como conseqüência à falência
respiratória, condição que, quando presente, leva a morte súbita do indivíduo
(MANCINI e ALOE, 1998).
A síndrome da hipoventilação apresenta como característica principal a
obesidade marcante (obesidade grau III). Junto a esta pode-se observar a
hipersonolência, a hipóxia, a hipercapnia, a insuficiência ventricular direita e a
policitemia (PELOSI et. al., 1998).
2.2.7.3 Complacência e Resistência das Vias Aéreas
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
56
Além das alterações funcionais, pacientes obesos podem apresentar
também alterações importantes da mecânica ventilatória. Há um conceito geral de
que a complacência respiratória total, dos indivíduos obesos, está diminuída pelo
comprometimento torácico e pulmonar, sendo o componente torácico mais
importante. A redução da complacência da parede torácica é atribuída à gordura ao
redor das costelas e do tórax. Admite-se que o volume sangüíneo pulmonar é
responsável pela diminuição da complacência pulmonar (COSTA et. al., 2003).
Alguns autores relatam diminuição na complacência total do sistema
respiratório e na complacência da parede torácica, enquanto outros sugerem que
não existe correlação entre a complacência da parede torácica e a obesidade
(BENÍCIO et. al., 2004).
Pelosi et al (1998) afirma que à medida que aumenta o IMC, a complacência
respiratória total declina, caindo em cerca de 30% do previsto em casos mais
graves.
2.2.8 Tratamento da Obesidade
A obesidade mórbida representa risco iminente à vida, e por tal motivo deve
ser tratada de maneira definitiva (FARIA et. al, 2002).
O objetivo ideal do tratamento da obesidade deve ser o de se obter melhora
na saúde e na qualidade de vida, com a diminuição de peso expressiva e duradoura
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
57
que gere redução nos fatores de risco e co-morbidades e ainda melhore a função
nas atividades da rotina diária (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).
Como a obesidade é uma categoria médica crônica de etiologia multifatorial,
sua terapêutica abarca vários tipos de abordagens. Um guia dietético, um programa
de exercícios físicos e o uso de medicamentos anti-obesidade são os pilares
fundamentais do adequado tratamento (SEGAL e FANDIÑO, 2002).
Contudo, a terapêutica consagrada para a obesidade mórbida permanece
produzindo resultados insatisfatórios, com 95% dos pacientes reavendo seu peso
primitivo em até 2 anos. (SEGAL e FANDIÑO, 2002).
Sendo, ainda, a obesidade uma condição de vida limitante, busca-se
resultados mais satisfatórios do seu tratamento, quanto a melhora da qualidade de
vida dos indivíduos obesos. É também, por tal necessidade que estes são
freqüentemente encaminhados para cirurgias abdominais, como a gastroplastia,
para tratamento da obesidade, após falha de outras modalidades terapêuticas, como
a dieta (AULER Jr., GIANNINI e SARAGIOTTO, 2003).
Carecendo de uma intervenção mais eficaz no direcionamento clínico de
obesos graves, a recomendação das operações bariátricas acende nos dias atuais.
2.2.8.1 Cirurgia Bariátrica
A refratariedade de muitos pacientes com obesidade mórbida à dieta, à
psicoterapia, à modificação do comportamento, a drogas e a programas de exercício
conduziu ao pessimismo médico a respeito da probabilidade de sucesso terapêutico
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
58
em longo prazo. Como resultado, tratamento cirúrgico para tal condição foi tentado
(DOMÍNGUEZ et. al., 1998).
Segundo Garrido Jr. et al (2002), a cirurgia para tratamento da obesidade
grave vem sendo empregada há quase 50 anos.
O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, consenso de 1991,
afirma que para esses pacientes, o tratamento cirúrgico é a melhor opção para a
manutenção da perda de peso em longo prazo (FARIA et. al., 2002).
No entanto, o tratamento cirúrgico não é um procedimento cosmético e não
envolve a remoção cirúrgica de tecido adiposo (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e
RAMOS, 2002).
Tal conduta, como tratamento da obesidade, justifica-se somente quando o
risco de permanecer obeso exceder os riscos, a curto e longo prazo, da cirurgia
bariátrica (CRUZ e MORIMOTO, 2004).
Este fato é relevante, uma vez que o índice de mortalidade peri-operatória,
descrito em pacientes com obesidade mórbida, tem sido alto (6,6%) quando
comparado ao índice de mortalidade de pacientes não obesos submetidos a cirurgia
do trato gastrointestinal (2,6%) (AULER Jr., GIANNINI e SARAGIOTTO, 2003).
Estes resultados podem ser explicados pelo fato de a obesidade levar a uma
série
de
distúrbios
fisiopatológicos,
incluindo
distúrbios
cardiovasculares,
respiratórios, endócrinos e metabólicos, que podem influenciar negativamente no
resultado pós-operatório (BRAGA, SILVA e CREMONESI, 1999).
Apesar de sua natureza invasiva e da relevante taxa de mortalidade a
cirurgia bariátrica tem demonstrado taxa de sucesso consistente (redução de 50%
no excesso de peso) em conseguir e manter a redução de peso a longo prazo
(ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
59
Os princípios de tal cirurgia envolvem a redução do tamanho do reservatório
gástrico, associado ou não a procedimento de indução de má absorção. Como
resultado deste procedimento, o hábito alimentar do paciente melhora, reduzindo a
ingestão maciça, assegurando que o paciente coma em pequena quantidade e
mastige bem cada porção de alimento (PATIÑO, 2003).
2.2.8.1.1 Critérios para Seleção do Paciente
Segundo Cruz e Morimoto (2004), os critérios para a seleção do paciente
incluem:
•
Índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 40kg/m² ou acima de 35kg/m²
quando associado a co-morbidades que possam ser reduzidas com a perda de
peso;
•
Várias tentativas de perda de peso sem resultado;
•
Condições psicológicas para cumprir a orientação dietética no pós-operatório, o
que deve ser avaliado com a ajuda do serviço de psicologia.
•
Pacientes que avaliados por médico experiente em matéria de tratamento da
obesidade, tenham pequena probabilidade de sucesso com medidas não
cirúrgicas.
Entre as co-morbidades associadas à obesidade a conferência do consenso
de 1985 do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos delineou uma lista de
que
inclui
hipertensão,
cardiomiopatia
hipertrófica,
hiperlipidemia,
diabetes,
colelitíase, apnéia do sono, hipoventilação, artrite degenerativa e desajustes
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
60
psicossociais. Duas complicações (co-morbidades) da obesidade que podem levar a
risco de vida são a coronariopatia e o diabete melito (ZILBERSTEIN, GALVÃO
NETO e RAMOS, 2002).
Além dessas complicações outras merecem ser consideradas: doença
coronariana; obstrução venosa ou linfática de membros inferiores e hipertensão
pulmonar da obesidade (PATIÑO, 2003).
2.2.8.1.2 Critérios para Exclusão do Paciente
Segundo Mancini e Aloe (1998), são contra-indicações absolutas para
tratamento cirúrgico a dependência química, a falta de colaboração por parte do
paciente e algumas doenças psiquiátricas (esquizofrenia, desordens psiquiátricas
limítrofes e depressão não controlada).
Também são contra-indicados pacientes com síndrome de obesidade
terminal (diabetes grave + hipertensão não controlada + hiperlipidemia), o que se
deve a delicada condição de saúde desses indivíduos (FARIA et. al., 2002).
Por este motivo, para essa classe de pacientes, deve-se proceder com o
internamento prévio a realização do procedimento cirúrgico bariátrico, para
tratamento das complicações de modo a diminuir o risco cirúrgico (ZILBERSTEIN,
GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
61
2.2.8.1.3 Derivações Gastrojejunais
Nos dias atuais, a técnica cirúrgica mais utilizada é a de Fobi-Capella; uma
técnica mista, de caráter restritivo e disabsortivo. Nela ocorre diminuição da câmera
gástrica, pois o estômago é dividido em duas porções com o uso de grampeadores,
e anastomose gastrojejunal. O novo reservatório criado tem volume de 30ml a 50ml,
o que corresponde a 5% do estômago (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO E RAMOS,
2002).
Essa nova bolsa criada é ligada a um segmento do intestino delgado,
enquanto a maior parte do estômago continua fora do trânsito alimentar (CRUZ e
MORIMOTO, 2004).
Este procedimento leva a uma redução de cerca de 40% do peso em um
ano e a manutenção desta perda após um ano. Segundo Jr Garrido, (2002), com a
redução ponderal observa-se que a dispnéia e a apnéia do sono cessam ou
melhoram muito, assim como certas artralgias. A hipertensão arterial passa a exigir
menos medicação, os diabéticos a dispensar a insulina e controlar glicemia sem
medicação ou com hipoglicemiantes orais. A qualidade de vida e a auto-estima
seguem a melhora da saúde física (FARIA et. al., 2002).
FIGURA 4 – TÉCNICA DE CAPELLA
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
62
FONTE: SITE ASBS.
2.2.8.1.3.2 Complicações Pós-Cirúrgicas
Os efeitos colaterais potenciais desse procedimento são a má absorção de
ferro e menos freqüentemente de vitamina B12, evitado pela suplementação
(PATIÑO, 2003).
Imediatamente após a cirurgia pode haver a formação de compilações
serosas no local do corte cirúrgico, atelectasias pulmonares, lesões do baço, flebites,
trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar e deiscência das suturas
(PARDO et. al., 2003).
O risco aumentado de trombose venosa profunda e embolia pulmonar estão
relacionados ao fato de a obesidade pode levar a estase venosa nos membros
inferiores e a diminuição da atividade fibrinolítica, que conduz a um estado de
hipercoagulabilidade (MANCINI, 2001).
Passadas
as
primeiras
semanas
pós-cirúrgicas,
as
complicações
encontradas podem ser as hérnias incisionais, obstrução intestinal por hérnia interna
ou aderências, dor, vômitos (estas duas normalmente decorrentes de complicações
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
63
com o anel de silicone), obstrução da anastomose gastrojejunal, assim como
ocorrência de úlceras em tal localidade (GARRIDO Jr., 2002).
2.2.8.1.4 Gastroplastia Vertical com Bandagem
Em 1980 foi introduzida por Manson a técnica cirúrgica de gastroplastia
vertical com bandagem (COUTINHO, 1999).
Edward E. Manson, professor de cirurgia da Universidade de Iowa nos
Estados Unidos, baseava tal procedimento na restrição mecânica à ingestão de
alimentos (GARRIDO Jr., 2002).
O procedimento, inicialmente, consistia no fechamento de uma porção do
estômago através de uma sutura, resultando na diminuição relevante do reservatório
gástrico. Um anel de contenção era colocado no orifício de saída, tornando o
esvaziamento desta pequena câmara mais lento (SEGAL e FANDIÑO, 2002).
Atualmente, as gastroplastias que se baseiam em tais princípios, são
também conhecidas como procedimentos de "partição gástrica", e se caracterizam
por promoverem a restrição gástrica anatômica, dividindo o estômago em um
pequeno segmento superior ("câmara ou bolsa superior") com volume menor ou
igual a 30 ml, o qual se comunica com o restante do estômago por um estreito canal
ou estoma (é o princípio da ampulheta) através do uso grampeadores. Esses foram
recursos que vieram para facilitar esses procedimentos, a ponto destes chegarem a
ser conhecidos como "grampeamento gástrico" (SEGAL, 1999).
Tais operações restritivas são simples, rápidas e com baixos índices de
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
64
complicações
e
mortalidade.
Por
serem
procedimentos
de
complexidade
intermediária dispensam a realização de by-pass gastrointestinal (SEGAL, 1999).
Contudo, este procedimento apresenta alta incidência de recidiva da
obesidade após 10 anos de seguimento, motivo pelo qual ela vem sendo substituída
mundialmente (AMERICAM SOCIETY OF BARIATRIC SURGERY, 1998).
Resultados de longo prazo, como os demonstrados por trabalho realizado na
Clínica Mayo sobre a gastroplastia vertical com banda com seguimento de três anos
em 70 pacientes, mostraram que apenas 38% tinham mantido a perda de peso em
torno de 50%. Apesar desses resultados, muitos grupos nos Estados Unidos
continuam a utilizar esse procedimento baseado na sua segurança e baixa
incidência de efeitos colaterais metabólicos (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e
RAMOS, 2002).
FIGURA 5 - TÉCNICA DE MANSON
FONTE: SITE ASBS.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
65
2.2.8.1.5 Derivações Bileopancreáticas com Gastrectomia Distal
São conhecidas também como operação de Scopinaro, por terem sido
desenvolvidas pelo professor Nicola Scopinaro, da Universidade de Gênova, na
Itália (GARRIDO Jr., 2002).
Consistem em uma gastrectomia parcial de 80% (elemento restritivo)
associada à anastomose em Y de Roux com alça jejunal longa, estando a ênteroêntero anastomose situada a 50 cm da válvula ileocecal (elemento disabsortivo)
(SEGAL e FANDÑO, 2002).
Duas
modalidades
cirúrgicas
reconhecidas
pela
IFSO
(International
Federation for the Surgery of Obesity) vêm sendo realizadas. São elas a operação
proposta por Nicola Scopinaro e uma variação sua, o "Duodenal Switch" Ambas são
derivações bílio-pancreáticas e são operações mal-absortivas, nas quais a restrição
volumétrica não representa papel principal (COUTINHO, 1999).
Segundo Zilberstein, Neto e Ramos (2001), com está modalidade cirúrgica
há descrições de diminuição de episódios de compulsão alimentar e a perda
ponderal e a manutenção associadas à técnica são similares à GVB com Y de Roux.
Em publicação recente, Scopinaro relata 72% de perda do excesso de peso
em 18 anos de seguimento. Esses são os melhores resultados da literatura na
seqüência de longo prazo (AMERICAM SOCIETY OF BARIATRIC SURGERY, 1998)
Apesar de sua eficiência, a operação induz a vários efeitos colaterais
potenciais, como exemplo a má absorção de ferro, cálcio, vitamina B12 e de
vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) que requerem suplementação parenteral. Por
tal motivo, foram introduzidas modificações como o by-pass gástrico distal e o switch
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
66
duodenal (GARRIDO Jr., 2002).
FIGURA 6 - TÉCNICA DE SCOPINARO.
FONTE: SITE ASBS.
2.2.8.1.6 Implicações no Sistema Respiratório
A realização da anestesia, conduta de rotina de qualquer gastroplastia
redutora, leva a uma redução em 50% da capacidade residual funcional em obesos
(MANCINI, 2001).
Tal evento acaba por agravar ainda mais está alteração, que como vista
anteriormente, já é freqüente nos obesos mórbidos.
Benseñor e Auler (2004) descreveram a redução na capacidade residual
funcional, originada pela anestesia geral e pela paralisia muscular decorrente da
ventilação mecânica, efeitos que surgem como conseqüência do relaxamento da
musculatura diafragmática.
Pelosi et al (1998) propuseram que a redução da oxigenação e do volume
pulmonar relacionam-se de forma inversa ao IMC e, também, que tal redução pode
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
67
ocorrer na CRF.
A redução da CRF diminui a capacidade do paciente obeso tolerar períodos
de apnéia (MANCINI, 2001).
Indivíduos obesos dessaturam rapidamente após indução de anestesia a
despeito de pré-oxigenação. Isso é resultado tanto de uma reserva de O2 menor,
causada por uma CRF diminuída, como também pelo aumento do consumo de O2
causado pela obesidade (MANCINI, 2001).
Além destes eventos, o emprego de altas frações de oxigênio, na mistura
gasosa administrada, durante o procedimento anestésico produz atelectasias, e tal
efeito parece ser exacerbado em obesos, sobretudo nos obesos classificados como
mórbidos (PELOSI et. al., 1999).
2.3 Tratamento Fisioterapêutico
As condutas fisioterapêticas empregadas, no presente estudo, serão
descritas a seguir.
2.3.1 Aquecimento
O aquecimento deve ser realizado com o objetivo de produzir alterações
metabólicas e fisiológicas no organismo, as quais permitirão melhor adaptação ao
esforço que será desenvolvido durante a fase de resistência. Ele, ainda, evita lesões
potenciais dos sistemas músculo-esquelético e cardiorrespiratório (OLIVEIRA e
VANDERLEI, 2002).
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
68
Além disto, proporciona poderoso estímulo para a dilatação das artérias
periféricas e coronárias (FOSS e KETEYIAN, 2000).
Por outro lado, a realização de atividade física de forma brusca e intensa,
sem aquecimento prévio, pode induzir a uma variedade de sinais e sintomas
indesejados, como por exemplo, a hipoglicemia e a queda da pressão arterial.
2.3.2 Exercício Físico Aeróbio
No presente estudo os exercícios aeróbicos foram realizados na esteira e
bicicleta ergométricas.
O exercício físico tem efeito benéfico que parece resultar de interações
complexas de efeitos psicológicos e fisiológicos. Além disso, é adequado salientar a
diminuição do estresse, a melhora da função cardiorrespiratória, a remoção de
fatores como o tabagismo e a reeducação alimentar (BENETTI e NAHAS, 2000).
Muitos das respostas benéficas proporcionadas pela atividade física
aeróbica se devem a melhora da circulação sistêmica. Esta ocorre, entre outras
razões, pelo fato de o exercício contribuir para a redução do hematócrito (ao
aumentar a volemia) e ocasionar elevação da plasticidade do eritrócito, promovendo
acréscimo do fluxo sanguíneo e melhor distribuição do oxigênio na interface célulacapilar (FOSS e KETEYIAN, 2000).
Podem, ainda, ocorrer modificações significativas tanto anatômicas como
fisiológicas do sistema cardiovascular, com aprimoramento do sistema de transporte,
extração e utilização do oxigênio (FROELICHER e MYERS, 1999).
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
69
Estudos demonstram que este tipo de exercício pode contribuir para o
aumento da circulação sanguínea colateral (BOSCO et. al., 2004).
2.3.3 Alongamentos Musculares
Pessoas obesas geralmente apresentam uma certa dificuldade para a
movimentação, o que as leva a movimentarem-se ainda menos. A prática de
atividades físicas também é reduzida por esse motivo. Tais fatores levam a um maior
grau de deficiência orgânica e física, assim como a alterações no estilo de vida
(HALPERN e MANCINI, 2001).
No intuito de se melhorar a função músculo-esquelética é que usamos os
alongamentos.
O alongamento é uma das técnicas mais utilizadas na terapêutica
fisioterápica para aumentar a flexibilidade muscular e, quando realizado no primeiro
instante de um treinamento, reduzir o risco de lesões músculo-tendinosas
(WILMORE e COSTILL, 2001).
Os
alongamentos
desenvolvem
vantagens
múltiplas
facilitando
os
movimentos, diminuindo as pressões articulares, rearmonizando as tensões e agindo
sobre a circulação sangüínea e linfática (REDONDO, 2001).
Ainda, segundo Redondo (2001), na prática, normalmente são escolhidos os
alongamentos globais e simétricos, a fim de melhor harmonizar as tensões e evitar
as compensações que favorecem as torções.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
70
2.3.4 EPAP
A pressão positiva durante a expiração é a forma mais simples de se ofertar
PEEP em respiração espontânea.
Tal recurso se caracteriza por ser um sistema de demanda composto por
uma válvula unidirecional acoplada a uma máscara (de preferência siliconada) e a
um mecanismo de resistência expiratória. Nesse, a fase inspiratória é realizada sem
nenhuma ajuda externa ou fluxo adicional, e a expiração é realizada contra essa
resistência, tornando-a positiva em seu final.
Segundo Azeredo (2002), o principal objetivo da terapia com EPAP é impedir
a evolução clínica da hipoxemia, restaurando a (CRF) e melhorando, portanto, a
estabilidade alveolar e conseqüentemente as trocas gasosas.
2.3.5 Respiron
O respiron é um equipamento incentivador inspiratório a fluxo, usado para se
conseguir a expansão pulmonar.
Este inspirômetro de incentivo é um aparelho que fornece uma informação
retroativa (feedback) ao paciente enquanto este realiza exercícios respiratórios de
padrão de sustentação máxima da inspiração (AZEREDO, 2002).
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
71
O feedback, neste recurso, é visual e, é conseguido através do movimento
de bolas coloridas de pequeno tamanho, localizadas em câmaras plásticas, quando
o paciente inspira um fluxo suficiente.
Esse exercitador respiratório de padrão alinear (pressão inspirada não
controlada) têm por objetivo: a reexpansão pulmonar; o aumento da permeabilidade
das vias aéreas; e o fortalecimento dos músculos respiratórios (AZEREDO, 2002).
2.3.6 Desaquecimento
O desaquecimento é tão importante quanto o aquecimento, pois evitará que
o indivíduo venha a sentir dores musculares desagradáveis após os exercícios.
Segundo Foss e Keteyian (2000), quando realizado de maneira
gradual e bem feito prepara o sistema cardiopulmonar, musculo-esquelético,
circulatório e mesmo a mente para voltarem as suas condições fisiológicas normais.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
3 METODOLOGIA
O presente trabalho foi realizado na Vital Clínica, no período de maio a
outubro de 2004. Para o estudo, foram selecionados 14 pacientes obesos mórbidos
(1 homem e 13 mulheres), com idade entre 25 e 50 anos, sem restrição de sexo e de
idade. Os pacientes foram eleitos a partir de critérios de inclusão e exclusão, como
aparecem descritos a seguir.
Os atendimentos apresentaram uma freqüência de cinco vezes na semana,
sendo cada paciente atendido uma vez ao dia, até que ele completasse um total de
trinta sessões. Cada sessão teve duração de duas horas.
O protocolo de estudo foi submetido ao comitê de Ética e Pesquisa do
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Unioeste e, para a participação no
estudo, as pessoas foram devidamente esclarecidas e assinaram um termo de
consentimento com os passos do processo (Anexo 1).
No início do estudo, os participantes foram submetidos a avaliação
fisioterapêutica de acordo com parâmetros previamente estabelecidos, visando a
verificar as condições fisiológicas em que eles se encontravam (Apêndice 1).
Os pacientes foram selecionados a partir da indicação ou não do médico
para uma possível realização de fisioterapia no período pré-operatório. A partir
dessa indicação, os indivíduos foram divididos em dois grupos: um, que realizou o
tratamento fisioterapêutico no período pré-operatório e foi denominado grupo de
tratamento (GT); e o outro, que não sofreu nenhuma intervenção durante este
período, que foi chamado de grupo de controle (GC).
Os grupos apresentavam as seguintes características: GT (obesidade grau
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
73
III) - IMC = 35 a 60Kg/m2 (11 voluntários); GC (obesidade grau III) – IMC = 38 a
42Kg/m2 (3 voluntários).
Constituídos os critérios básicos de seleção e formados os grupos de
participantes, os mesmos foram sendo incluídos no estudo, após preencherem os
critérios de inclusão e assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. Em
seguida, eles foram submetidos à análise da variável que se encontrava posta em
foco: avaliação da força da musculatura inspiratória.
Posteriormente,
o
GT
foi
submetido
ao
protocolo
de
intervenção
fisioterapêutica em vigência na Vital Clínica.
Decorridos 30 dias de atendimento fisioterapêutico, os pacientes dos grupos
de tratamento e de controle foram novamente submetidos à avaliação funcional
(teste pós-imediato), sendo avaliados a partir do mesmo protocolo do pré-teste. Os
resultados foram posteriormente comparados entre as duas amostras.
3.1 Critérios de Inclusão
•
Indivíduos obesos mórbidos;
•
Índice de massa corpórea dentro dos padrões considerados mórbidos, de acordo
com os índices estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde;
•
Indicação à cirurgia bariátrica;
•
Aceitação, por parte dos pacientes, de participar do estudo, ou seja, de se
submeter à rotina do tratamento pré-estabelecido;
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
74
•
Indicação ou não à fisioterapia no período pré-operatório à cirurgia bariátrica.
3.2 Critérios de Exclusão
•
Presença de patologias respiratórias associadas;
•
Realização de procedimentos associados.
3.3 Materiais e Métodos
3.3.1 Materiais
Os materiais utilizados para a aplicação das condutas fisioterapêuticas e dos
métodos de avaliação foram:
• Bastões de PVC (1m);
• Bolas terapêuticas (de 250g);
• Colchonetes (2m de comprimento, 1m de largura e 6cm de espessura);
• Um manovacuômetro portátil, marca MV - 150/300;
• Bocal e traquéia para o manovacuômetro;
• Clipe nasal para o manovacuômetro;
• Ficha de avaliação;
• Esteira ergométrica, marca Moviment;
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
75
• Bicicleta ergométrica, marca Moviment;
• Respiron, marca MCS;
• EPAP: composto por máscara facial de silicone, clipe nasal, válvula
unidirecional, frasco de 5 litros com 2 litros de água e tubo para conexão (traquéia)
de 45 cm de comprimento e 2cm de diâmetro.
3.3.2 Métodos
Os métodos utilizados para o tratamento fisioterapêutico consistiram em:
• Aquecimento: foi realizado de maneira global, visando sempre aos grandes
grupos musculares, por um tempo de 5 minutos;
• Alongamentos Musculares: a estes foram destinados 10 minutos da terapia,
sendo cada grupo muscular submetido a 3 repetições com sustentação de 20
segundos. Os alongamentos foram variados a cada sessão no intuito de que a
terapia não se tornasse rotina.
• Esteira Ergométrica: nela, a atividade foi realizada de acordo com a
capacidade física individual dos pacientes, a qual foi determinada de acordo com a
freqüência cardíaca de treinamento, obtida pela fórmula: FCT= FCRepouso + 50% x
(FCMáxima – FCRepouso). O tempo reservado para tal atividade foi de 30 minutos. Novos
cálculos eram realizados a cada semana.
• Bicicleta Ergométrica: os princípios e o intervalo de tempo dispendido com
a atividade foram os mesmos descritos anteriormente.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
76
• Respiron: para a utilização desse recurso, o paciente permaneceu sentado,
estando o seu tronco num ângulo de 90º com as coxas e ele gastou 20 minutos da
terapia. Nesse intervalo, foram realizadas 10 repetições, intercaladas com 2 minutos
de descanso. O nível de dificuldade (1 a 3) foi determinado de acordo com a
capacidade e evolução do paciente.
• EPAP: para esse recurso, a posição utilizada foi a mesma da conduta
descrita anteriormente. Aqui, os pacientes realizavam 10 repetições com intervalos
de dois minutos, até que o limite de 20 minutos fosse atingido. A cada nova semana
a resistência oferecida era aumentada em 500ml.
• Desaquecimento: também foi realizado de maneira global, abarcando os
grandes grupos musculares, por um período de 5 minutos.
3.5 Avaliação da Variável de Interesse
3.5.1 Teste
Neste estudo, a manovacuometria foi o teste realizado para se verificar a
função respiratória, mais especificamente a pressão inspiratória máxima.
3.5.1.1 Materiais
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
77
O instrumento utilizado para medir a pressão inspiratória máxima (PImáx),
de acordo com o que preconiza a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(2002), foi um tubo cilíndrico rígido, cuja extremidade distal é fechada, exceto por
apresentar um orifício de 2mm de diâmetro, e cuja extremidade proximal é aberta,
onde, então, encaixa-se uma peça bucal, através da qual o indivíduo em teste
realiza esforço inspiratório máximo. Uma saída lateral e uma tubulação de plástico
rígido ligaram o tubo a um manovacuômetro (manômetro aneróide que mede
pressões negativas e positivas) (Anexo 2). A presença do pequeno orifício (ou fuga)
no instrumento de mensuração serviu para dissipar as pressões geradas pela
musculatura da face e da orofaringe, sem afetar significativamente as pressões
produzidas pelos músculos da caixa torácica com a glote aberta.
Nos esforços inspiratórios máximos, músculos da boca e da orofaringe
podem gerar uma pressão negativa que falseia o valor da pressão produzida pelos
músculos inspiratórios da caixa torácica, esteja a glote corretamente aberta ou
indevidamente
fechada
(SOCIEDADE
BRASILEIRA
DE
PNEUMOLOGIA
E
TISIOLOGIA, 2002).
A peça bucal utilizada foi de material rígido (plástico). Caracterizava-se por
ser cônica e de pequeno calibre, em torno da qual o indivíduo fechava os lábios;
para evitar vazamentos. A tubulação de plástico rígido apresentava 25cm de
comprimento e 4cm de diâmetro. A fim de se evitar vazamentos de ar, através da
cavidade nasal, usou-se um clipe nasal durante a realização do teste.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
78
3.5.1.2 Técnica de Mensuração
A PImáx foi medida a partir da posição de expiração máxima, quando o
volume de gás contido nos pulmões era o volume residual (PImáxVR).
Para o teste, o indivíduo permaneceu na posição sentada, estando o seu
tronco num ângulo de 90º com as coxas. Quaisquer peças de vestuário que
pudessem interferir na realização do esforço inspiratório máximo foram afrouxadas
ou removidas. Essas peças eram cintos apertados, dentre outras.
Previamente ao teste, o paciente recebeu orientações a respeito dos
objetivos do teste e suas dúvidas foram esclarecidas.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (2002), a
posição corporal interfere nos resultados obtidos, assim o teste foi realizado sempre
numa mesma posição.
A ocorrência de vazamentos foi cuidadosamente observada e as manobras
em que estes fossem notados eram descartadas e, quando necessário, corrigiu-se o
posicionamento da peça bucal.
Os procedimentos do exame foram ensinados e demonstrados ao indivíduo
a ser testado. Durante a realização, o paciente foi incentivado a melhorar os
resultados, buscando dar de si o esforço máximo.
3.5.1.2.1 Mensuração da PImáx
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
79
O nariz dos indivíduos testados foi ocluído com um clipe nasal e, após, o
bucal foi firmemente adaptado à suas bocas para que não houvesse o escapamento
de ar. Durante o teste, o paciente comprimia as bochechas com as mãos.
O paciente, primeiramente, realizou uma expiração até o volume residual e,
em seguida, buscou alcançar o esforço inspiratório máximo. A posição alcançada foi
mantida por pelo menos 1 segundo e o valor do platô de pressão (maior valor após o
primeiro segundo) foi anotado. Após cada inspiração máxima o paciente descansou
por 1 minuito, repetindo-se o teste por 5 vezes.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
4 RESULTADOS
Nesta parte do estudo, serão apresentados, de forma descritiva, os
resultados obtidos através da Manovacuometria. Dos 14 pacientes com indicação à
cirurgia bariátrica, a totalidade apresentou IMC de 35 a 60 Kg/m2. Ainda, todos eles
apresentaram, pelo menos, uma co-morbidade grave relacionada à obesidade, que
seria passível de resolução, caso essa afecção fosse tratada. Portanto, esses
pacientes se enquadraram nos critérios de indicação da cirurgia bariátrica.
A prevalência de morbidades associadas à obesidade, nos pacientes obesos
mórbidos, foi bastante elevada (86%), sendo mais freqüente a dispnéia, que esteve
presente em 78% dos pacientes. Outras co-morbidades de alta prevalência foram a
hipertensão arterial sistêmica (50%), a lombalgia (64%), as dores nas pernas (71%)
e a depressão (50%). O quadro das co-morbidades está representado na tabela 4.
TABELA 4: COMORBIDADES PREVALENTES NOS 14 PACIENTES
OBESOS MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO À GASTROPLASTIA
REDUTORA
Co-morbidades
%
Cardiovasculopulmonares
Dispnéia
78%
Hipertensão arterial sistêmica
50%
Apnéia do sono
7%
Osteoarticulares
Artropatia do joelho
14%
Lombalgia
64%
Dores nas Pernas
71%
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
81
Metabólicas
Dislipidemias
36%
Diabete melito tipo II
14%
Irregularidade menstrual
7%
Gastrointestinais
Gastrite
28%
Outras
Depressão
50%
FONTE: A AUTORA
Na maioria dos casos, os pacientes estudados foram do sexo feminino
(92%), da raça branca (100%) e eram procedentes de Cascavel (100%). Os dados
epidemiológicos referentes a sexo, idade, IMC e peso corporal dos voluntários dos
grupos GT e GC estão descritos na tabela 5.
TABELA 5: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DOS 14
PACIENTES
OBESOS
MÓRBIDOS
COM
INDICAÇÃO
À
GASTROPLASTIA REDUTORA
GRUPO T
GRUPO C
HOMENS
1
0
MULHERES
11
3
IDADE (anos)
35,09 + 6,45
43 + 4
PESO (Kg)
117,18 + 17,70
97,33 + 5,77
ALTURA (m)
1,63 + 0,16
1,57 + 0,07
IMC Kg/m2)
43,95 + 6,09
39,55 + 2,46
PImáx inicial (cmH2O)
46,36 + 13,05
43,33 + 11,54
84,09 + 20,95
45 + 13,22
PImáx final (cmH2O)
FONTE: A AUTORA
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
82
Uma avaliação pós-tratamento fisioterapêutico mostrou aumento significativo
da força da musculatura inspiratória apresentada pelos indivíduos treinados (GT).
Tal fato, no entanto, não foi verificado nos indivíduos não treinados (GC). A análise
dos pacientes que realizaram um mínimo de 30 dias de treinamento no período préoperatório demonstrou que 63% deles tiveram um aumento acima de 50% nessa
variável. A média das PImáxs esperadas em relação à idade de acordo com o sexo
dos pacientes dos dois grupos estão representadas na tabela 6.
TABELA 6: MÉDIA DAS PRESSÕES INSPIRATÓRIAS MÁXIMAS
ESPERADAS EM FUNÇÃO DA IDADE DE ACORDO COM O SEXO
Grupo Controle
82,07 + 2,03
FONTE: A AUTORA
Grupo Tratamento
89, 51 + 11,46
A avaliação do sucesso terapêutico fisioterápico mostrou que 100% dos
pacientes treinados obtiveram resultado favorável com a intervenção fisioterapêutica
e nenhum dos procedimentos realizados foi considerado um fracasso, uma vez que
houve relatos, por parte de todos os pacientes, em relação a alguns aspectos, como
a melhora satisfatória da qualidade de vida quanto à auto-estima, à sociabilidade, às
condições físicas confortáveis, à da disposição para o trabalho e à libido, dentre
outros. Os resultados da análise estão representados nos gráficos 1 e 2.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
83
GRÁFICO 1: PERCENTUAIS DO AUMENTO DA PIMÁX, EM 30 DIAS
DE ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO, EM 11 PACIENTES (P1 A
P11) OBESOS MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO À CIRURGIA
BARIÁTRICA
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10 P11
FONTE: A AUTORA
GRÁFICO 2: PERCENTUAIS DO AUMENTO DA PIMÁX, EM INTERVALO
DE 40 DIAS, EM 3 PACIENTES (P1 A P3) OBESOS MÓRBIDOS COM
INDICAÇÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA, SEM TREINAMENTO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
P1
P2
P3
FONTE: A AUTORA
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
5 DISCUSSÃO
A fisioterapia, visando ao condicionamento físico, preconiza como um de
seus princípios o trabalho com a respiração. Assim, procurou-se testar a hipótese de
que ocorreria uma melhora da força da musculatura inspiratória dos indivíduos
obesos mórbidos com indicação à cirurgia bariátrica, melhora esta decorrente da
prática terapêutica possibilitada pelo tratamento fisioterapêutico. Com o tratamento
proposto, verificou-se um aumento na força da musculatura inspiratória de todos os
pacientes (11) através dos resultados mostrados pelo uso da manovacuometria.
Segundo a 37ª Sesión Del Subcomitè de Planificación y Programacion Del
Comité Ejecutivo, (2003), a obesidade é conceituada como uma conseqüência do
desajuste energético e acontece, quando o aporte energético é superior ao gasto
durante um tempo prolongado. Muitos fatores complexos e diversos podem levar a
um saldo de energia positivo, mas se considera a interação entre alguns destes
fatores e não a influência de um único como responsável pela obesidade.
A obesidade, de acordo com Costa et. al. (1992), ocasiona, dentre outras
alterações respiratórias importantes, uma sobrecarga da musculatura diafragmática,
pois, ao contrair-se e descer, ela reage contra a pressão do abdômen distendido.
Embora não se encontrem na literatura referências sobre a força muscular
respiratória em indivíduos obesos mórbidos, a mesma, provavelmente, também
esteja alterada nesses indivíduos.
Apesar de serem poucos os estudos que relacionam diretamente a prática
fisioterapêutica com a melhora da função pulmonar em indivíduos obesos, acreditase, com base na fisiologia e na biomecânica respiratória normais e em concordância
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
85
com PESSOA e REBOUÇAS (1997), na relação recíproca entre as estruturas físicas
e funcionais. Assim, uma vez ocorrendo uma melhora da condição das estruturas
físicas, ela é transmitida às estruturas funcionais como as da respiração.
A avaliação da força muscular respiratória medida pela PImáx conforme
procedimentos existentes tem sido estudada nas últimas décadas como uma técnica
eficaz para a interferência sobre a condição muscular respiratória das pessoas,
melhorando-a (BENÍCIO et. al., 2004).
Alguns autores correlacionam a PImáx à medida da força do diafragma,
enquanto outros a consideram como sendo capaz de avaliar a força do conjunto de
todos os músculos respiratórios. Embora exista essa controvérsia, um fato fica claro:
tais medidas, ao sofrerem variações, permitem concluir se houve alteração na força
dos músculos respiratórios.
Pelo fato de as alterações da força inspiratória se caracterizarem por
variações na eficácia dos movimentos respiratórios, seguramente, são elas a causa
de alterações da mecânica respiratória.
Como mencionado acima, na obesidade mórbida especialmente, o
comprometimento da mecânica respiratória tem relação direta com a alteração da
força muscular inspiratória. Assim, similarmente ao que se supõe, a prevalência de
fraqueza muscular dos músculos inspiratórios nos pacientes desta série foi muito
elevada (100%).
Os resultados deste estudo indicam que os indivíduos obesos mórbidos que
se submeteram ao tratamento fisioterapêutico durante o período pré-operatório
tiveram sua dinâmica respiratória alterada em função do aumento da PImáx de 46,36
+ 13,06 para 84,09 + 20,95 cmH2O. Comparativamente ao trabalho de Costa et al.
(2002), o valor médio da PImáx inicial e final de pacientes submetidos ao tratamento
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
86
fisioterapêutico foi bastante semelhante de (64 + 11,2 e 92 + 31,2, respectivamente).
Associados a esses resultados, todos os indivíduos que participaram do
treinamento fisioterapêutico no período pré-operatório se referiram a melhoras para
realizarem os movimentos respiratórios.
De acordo com os resultados apresentados, ficou evidente que a prática
fisioterapêutica promoveu melhora na dinâmica respiratória, mais apropriadamente
na tóraco-abdominal dos indivíduos obesos que se submeteram a esse tipo de
intervenção física. O aumento obtido da força muscular inspiratória sugere que eles
podem ter a função respiratória melhorada por meio de exercícios fisioterapêuticos.
As alterações ocorridas na mecânica da respiração proporcionaram ganho da força
muscular inspiratória, podendo prevenir complicações na vida de indivíduos obesos.
No entanto, os resultados alcançados por este estudo poderiam ser mais
exaustivos, se o mesmo envolvesse (1) uma amostra maior e mais homogênea e (2)
se o tempo de tratamento fosse mais prolongado, ou seja, mais do que 30 sessões.
O aumento do número de sessões possibilitaria avaliar uma possível
redução de peso e a esperada melhora mais significativa na mecânica do trabalho
respiratório. Uma homogeneidade da amostra garantiria resultados mais fidedignos,
pois a influência dos fatores que afetam a função pulmonar seria mais semelhante.
De acordo com a prática clínica de alguns fisioterapeutas consultados, é
necessário que o tratamento fisioterapêutico seja mantido por uma média de 6
meses, a fim de possibilitar uma amenização de certas co-morbidades que são a
causa de alto risco cirúrgico em tais pacientes
A técnica utilizada nesta pesquisa mostrou-se eficaz como método de
avaliação da força da musculatura inspiratória, tendo ainda a vantagem de ser uma
técnica simples, rápida e de baixo custo para ser aplicada. No entanto, ela exige
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
87
uma boa manutenção dos equipamentos, sendo muitas vezes afetada por diversos
fatores, como a compreensão, a dedicação e os estados físico e emocional do
paciente no momento do teste, a correta aplicação da técnica, a calibragem do
aparelho e a correta interpretação dos resultados.
Portanto, o tratamento fisioterapêutico durante o período pré-operatório dos
pacientes obesos mórbidos, quando indicado como um coadjuvante para o
adequado preparo cirúrgico, representa importante recurso terapêutico para os
mesmos. Espera-se que o aumento da força muscular inspiratória, além de fornecer
melhores condições para que os pacientes enfrentem a cirurgia, possa também ser
útil na recuperação mais precoce no período pós-operatório.
Mesmo com um número pequeno de pacientes e de sessões, os resultados
foram satisfatórios, pois atenderam aos objetivos propostos. Fica como sugestão
final a repetição deste estudo, com a orientação de que ele seja feito com um maior
numero de sessões aplicadas a uma amostra maior de pacientes.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando-se os resultados positivos obtidos e os achados na literatura,
concluiu-se que:
(1)
As técnicas fisioterapêuticas empregadas têm ação relevante sobre a
mecânica respiratória, revelando-se como método de tratamento
eficaz na melhora da força da musculatura inspiratória dos indivíduos
submetidos regularmente a ela;
(2)
Os resultados da manovacuometria mostraram índices ampliados
após o tratamento e a mesma se revelou um método eficaz na
avaliação da força da musculatura inspiratória. Ela é um método
relativamente simples, rápido e pouco dispendioso;
(3)
Com os resultados, foi possível comprovar a melhora da capacidade
funcional respiratória a partir do favorecimento da biomecânica da
respiração com a prática do método;
(4)
Novos estudos devem ser realizados a fim de comprovar a eficiência
do tratamento fisioterapêutico, não só como método de fortalecimento
muscular respiratório, mas também na melhora das diversas comorbidades advindas da obesidade e da qualidade de vida;
(5)
O presente estudo poderia ser repetido com uma amostra mais
exaustiva de pacientes, especialmente no que se refere a um grupo
de controle com um maior número de sessões. Estes fatores, de
certa forma, limitaram os resultados desta pesquisa.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMARAL, C. R. T.; CHEIBUB, Z. B. Obesidade mórbida: implicações anestésicas.
Revista Brasileira de Anestesiologia.V. 41, p. 273-279, 1991.
AMERICAN SOCIETY OF BARIATRIC SURGERY [ASBS]. Rationale for the
surgical treatment of morbid obesity, 1998.
APPOLINARIO, J. C. Obesidade e psicopatologia. In: HALPERN, A.; et. al.
Obesidade. São Paulo: Lemos, 1998.
AULER, J. O. C. A. Jr.; GIANNINI C. G.; SARAGIOTTO D. F. Desafio no manuseio
peri-operatório de pacientes obesos mórbidos: como prevenir complicações. Revista
Brasileira de Anestesiologia. V. 53, n. 2, p. 227 – 236, 2003.
AZEREDO, C.A.C. Fisioterapia Respiratória Moderna. 4. ed. São Paulo: Manole,
2002.
BALSIGER, P. et. al. Bariatric surgery. Obesity Surgery. V. 84, p. 477-489, 2000.
BENETTI, M.; NAHAS, M. Alterações na qualidade de vida em coronariopatas
acometidos de infarto agudo do miocárdio, submetidos a diferentes tipos de
tratamentos. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. V. 6, p. 27-33, 2000.
BENÍCIO, N. C. D.; et. al. Medidas espirométricas em pessoas eutróficas e obesas
nas posições ortostática, sentada e deitada. Revista da Associação Médica
Brasileira. V. 50, n. 2, p. 541-553, S. P., abr/jan, 2004.
BENSEÑOR, F. E. M.; AULER, J. O. C. J. PETCO2 e SpO2 permitem ajuste
ventilatório adequado em pacientes obesos mórbidos. Revista Brasileira de
Anestesiologia. V. 54, n. 4, p. 654-660, Campinas, julho/agosto, 2004.
BOSCO, R.; et. al. O efeito de um programa de exercício físico aeróbio combinado
com exercícios de resistência muscular localizada na melhora da circulação
sistêmica e local: um estudo de caso. Revista Brasileira de Medicina do Esporte.
V.10, n.1, p. 56-68, Niterói, jan./fev, 2004.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
90
BRAGA, A. F. A.; SILVA, A. C. M.; CREMONESI E. Obesidade mórbida:
considerações clínicas e anestésicas. Revista Brasileira de Anestesiologia. V. 49,
p. 201-212, 1999.
BUCHALLA, A. P. Trabalhar engorda. Revista Veja. V. 22, p. 86-87, 2001.
COLLINS, L. C.; et. al. The effect of body fat distribution on pulmonary function tests.
Am Journal Clinical Nutritional.V. 107, p. 1298-1302, 1995.
COSTA, D.; et. al. Avaliação da força muscular respiratória e amplitudes torácicas e
abdominais após a RFR em indivíduos obesos. Revista Latino-americana de
Enfermagem. V. 11, p. 156-160, março/abril, 2003.
_____. Avaliação da eficácia da reeducação funcional respiratória. 6º Simpósio
Internacional de Fisioterapia Respiratória. P. 129, Curitiba, 1992.
COUTINHO, W. Consenso latino americano de obesidade. Arquivo Brasileiro de
Endocrinologia Metabólica. V. 43, p. 21-27, 1999.
CRUZ, M. R. R.; MORIMOTO, I. M. I. Intervenção nutricional no tratamento cirúrgico
da obesidade mórbida: resultados de um protocolo diferenciado. Revista de
Nutrição. V. 17, n. 2, p. 263-272, Campinas, abr/jun, 2004.
DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. 2.
ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1999.
DOMÍNGUESZ, C. G., et. al. Anesthesia for morbidly obese patients. World Journal
of Surgery. V. 22, p. 969-973, 1998.
FANDIÑO, J.; et. al. Cirurgia bariátrica: aspectos clínico-cirúrgicos e psiquiátricos.
Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. V. 26, n.1, p. 47-51, Porto Alegre,
jan/apr, 2004.
FARIA, O. P.; et. al. Obesos mórbidos tratados com gastroplastia redutora com
bypass gástrico em y de roux: análise 160 pacientes. Revista Brasília Médica. V.
39, p. 26-34, 2002.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
91
FILHO, F. P. G. de Sá. As Bases Fisiológicas da Ortopedia Maxilar. 1. ed. São
Paulo: Santos, 1994.
FOSS, M.; KETEYIAN, S. Bases Fisiológicas do Exercício e do Esporte. 6. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
FROELICHER, V.; MYERS, J. Exercício e o Coração. 3 ed. Rio de Janeiro:
Revinter, 1999.
FUCCI, S.; BENIGNI, M.; FORNASARI, V. Biomecánica Del Aparejo Locomotor
Aplicado Al Acondicionamiento Muscular. Madrid: Gredos, 1984.
GARRIDO, A. B. G. J. Cirurgia da Obesidade. 1. ed. São Paulo: Manole, 2002.
GARDNER, E.; DONALD, J. G.; RONAN, O. R. Anatomia. 4.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1978.
GUEDES D. P.; GUEDES J. E. R. P. Controle do Peso: Composição Corporal,
Atividade Física e Nutrição. Londrina: Midiograf, 1998.
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
HAKALA, K.; et. al. Effect of weight loss and body position on pulmonary function and
gas exchange abnormalities in morbid obesity. Chest. V. 78, p. 626-631, 1995.
HALPERN, A.; MANCINI, M. C. Como diagnosticar e tratar Obesidade. Revista
Brasileira de Medicina. São Paulo, v. 63, n. 14, p. 131-140, dez. 2002.
JUNQUERIA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 5. ed. São Paulo:
Guanabara Koogan, 1991.
LOBO, B. et. al. Fisiologia Humana. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1973.
LOPATA, M.; ONAL, E. Mass loading, sleep apnea, and the pathogenesis of the
obesity hypoventilation. Ann International Medic. V. 126, p. 604-645, 1982.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
92
LUCE, J. M. Respiratory complications of obesity. Chest. V. 78, p. 626-645, 1980.
MACBRYDE, C. M.; BLACKLOW, R. S. Sinais e Sintomas. 5. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1975.
MANCINI, M. C.; Obstáculos diagnósticos e desafios terapêuticos no paciente
obesos. Arquivo Brasileiro de Endocrinologia Metabólica. V. 45, n. 6, p. 584-608,
2001.
_____; ALOE, F. Obesidade, apnéia obstrutiva do sono e distúrbios respiratórios. In:
Obesidade, Lemos Editorial, 1. ed. São Paulo, 153-170, 1978.
_____; _____; TAVARES, S. Apnéia do sono em obesos. Arquivo Brasileiro de
Endocrinologia Metabólica. V. 44, n. 1, p. 81-90, 2000.
MITCHELL, H. S.; et. al. Nutrição. 1. ed. Rio de Janeiro: Copyright, 1978.
OLIVEIRA, A. L. B.; VANDERLEI, L. C. M. A importância da fase de aquecimento em
programas ambulatoriais de exercícios físicos para pacientes cardíacos. Revista da
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. V. 12, p. 10-15, set/out, 2002.
PARDO, G. et. al. El aporte de la cirugía bariátrica en el tratamiento del síndrome de
pickwick/contribution of bariatric surgery in the treatment of pickwick syndrome.
Revista Chilena de Cirurgía. V. 55, p. 9-13, 2003.
PATIÑO, J. F. Cirurgia bariátrica. Revista Colombiana de Cirugía. V. 18, p. 28-50,
jan, 2003.
PELOSI, P.; et. al. The effects of body mass on lung volumes, respiratory mechanics,
and gas exchange during general anaesthesia. Anesthesiology Analgesic. V. 87, p.
654-660, 1998.
_____. et. al. Positive end-expiratory pressure improves respiratory function in obese
but not in normal subjects during anaesthesia and paralysis. Anesthesiology. V. 91,
p. 1221-1231, 1999.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
93
PESSOA, C.; REBOUÇAS, L. Estudo histórico e bibliográfico do método IsoStretching como complemento no tratamento das alterações posturais.
Disponível em: www.fisiohoje.fst.br/iso7.html . Acesso em: 01 jun 2004.
REDONDO, B. Isostretching: A ginástica da coluna. Rio de Janeiro: Skin Direct
Store, 2001.
SEGAL, A. Obesidade e co-morbidade psiquiátrica: caracterização e eficácia
terapêutica de atendimento multidisciplinar na evolução de 34 pacientes. Tese
Doutorado. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
1999.
_____.; FANDIÑO, J. Indicações e contra-indicações para a realização da cirurgia
bariátrica. Revista Brasileira de Psiquiatria. V. 24, s. 3, p. 68-72, SP, dez, 2002.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA. I consenso
brasileiro sobre espirometria. In: Jornal de Pneumologia. V. 22, n. 3, p. 106-108,
Sp, mai/jun, 1996.
_____. Diretrizes para testes de função pulmonar. In: Jornal de Pneumologia. V.
28, s. 3, p. 155-165, Sp, out, 2002.
SOUCHARD, P. E. Respiração. 3. ed. São Paulo: Summus, 1989.
VANÍTALLIE, T. B. Obesity: adverse effects on health and longevity. Am Journal
Clinical Nutritional. V. 32, p. 2723-2733, 1979.
WEST, J. B. Fisiologia Respiratória Moderna. 5. ed. São Paulo: Manole, 1996.
WILMORE, J. H.; COSTILL, D. L. Fisiologia do Esporte e do Exercício. 2. ed. São
Paulo: Manole, 2001.
ZILBERSTEIN, B.; GALVÃO, M. G. N.; RAMOS, A. C. O papel da cirurgia no
tratamento da obesidade. Revista Brasileira de Medicina. V. 59, n. 4, p. 258-264,
2002.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
95
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Nome da pesquisa: A eficácia da fisioterapia respiratória no período pré-operatório
de pacientes com indicação a cirurgia bariátrica.
Orientadora da Pesquisa: Erica Fernanda Osaku.
Este trabalho estuda a interferência de um protocolo de tratamento
fisioterapêutico no preparo cirúrgico bariátrico em pacientes que apresentam o
quadro de obesidade mórbida. Os pacientes selecionados como voluntários para
este trabalho sofrerão a interferência da fisioterapia respiratória, durante o período
pré-operatório baseados em informações na literatura, que visem promover a
melhora da mecânica cardiorespiratória. O programa de tratamento terá duração de
6 semanas. Todos os voluntários serão submetidos à avaliação para verificar a
condição da musculatura inspiratória. Ao término do trabalho, os voluntários serão
informados dos resultados por ele obtidos.
Sua participação será muito importante para o sucesso desta pesquisa.
Assinatura do pesquisador______________________________________
Tendo recebido as informações anteriores e, esclarecido dos meus direitos
relacionados a seguir, declaro estar ciente do exposto e desejar participar da
pesquisa.
1.
A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a
dúvidas sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a
pesquisa;
2.
A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de
participar do estudo;
3.
A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter
confidencial das informações relacionadas com a minha privacidade;
4.
Compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo,
ainda que possa afetar minha vontade de continuar participando.
Em seguida, assino meu consentimento.
Cascavel, _____de __________ de 2003.
Nome: _____________________________________RG_________________
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
96
Assinatura: ______________________________
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
APÊNDICE 1 – PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO
FISIOTERAPÊUTICA
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
98
PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
Identificação
Nome:_________________________________________________. Idade: _____.
Data de Nascimento: _____/______/______. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino.
Cor:__________.
Nacionalidade:_____________.
Estado
Civil:___________.
Profissão: _______________. Endereço: __________________________________.
Telefone: (
) _________.
Antecedente patológico pessoal: ________________________________________.
Antecedente patológico familiar: ( ) Obesidade ( ) Outros.
Sistema Respiratório: (
) Dispnéia. Quando: ______________________________.
Medicamentos e período de uso: ________________________________________.
Tratamentos anteriores: _______________________________________________.
Exame Físico
Massa corpórea atual: Peso: ____________. Altura: __________. IMC: __________.
Massa corpórea media: _______________.
PImáx (inicial):______________. PImáx (final):______________.
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265
ANEXO 2 – MANOVACUÔMETRO
‘
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004-12-07
ISSN 1678-8265
100
MANOVACUÔMETRO
Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste
n. 02-2004
ISSN 1678-8265