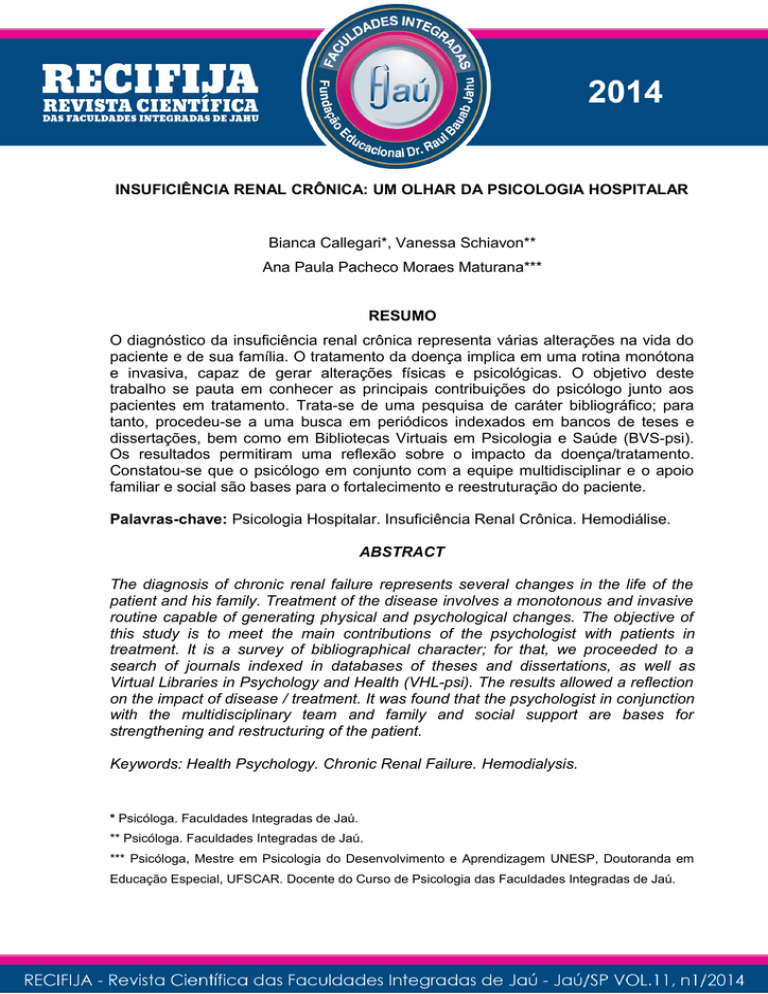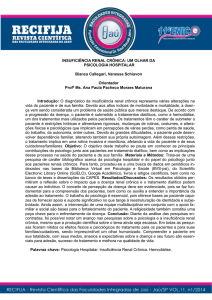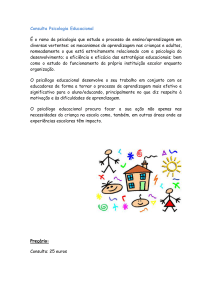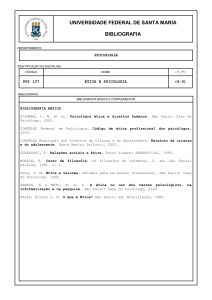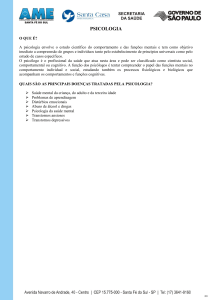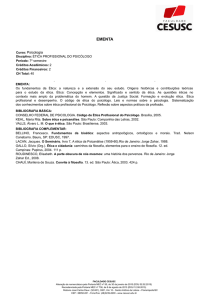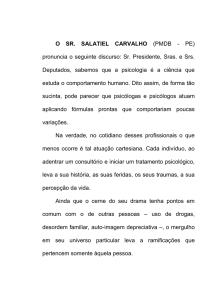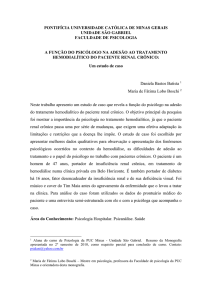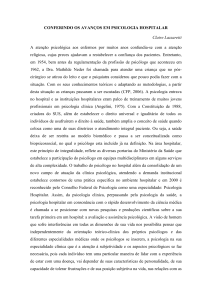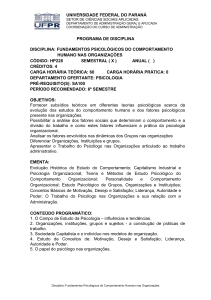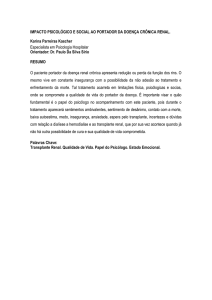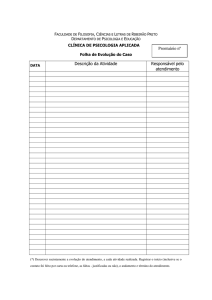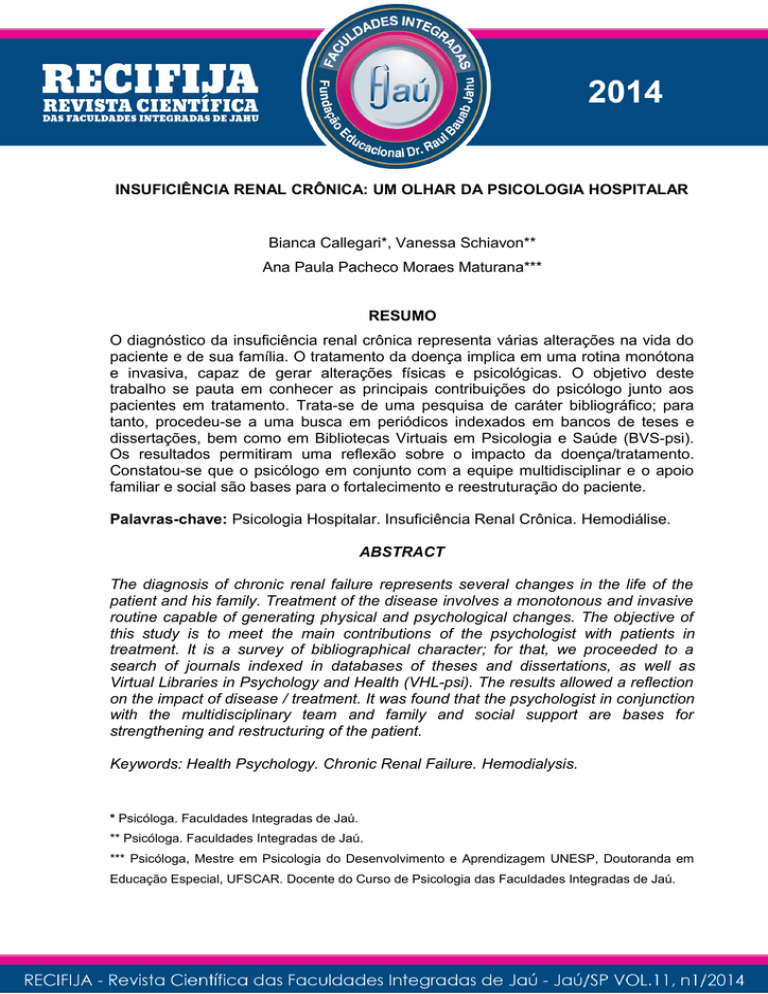
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA: UM OLHAR DA PSICOLOGIA HOSPITALAR
Bianca Callegari*, Vanessa Schiavon**
Ana Paula Pacheco Moraes Maturana***
RESUMO
O diagnóstico da insuficiência renal crônica representa várias alterações na vida do
paciente e de sua família. O tratamento da doença implica em uma rotina monótona
e invasiva, capaz de gerar alterações físicas e psicológicas. O objetivo deste
trabalho se pauta em conhecer as principais contribuições do psicólogo junto aos
pacientes em tratamento. Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico; para
tanto, procedeu-se a uma busca em periódicos indexados em bancos de teses e
dissertações, bem como em Bibliotecas Virtuais em Psicologia e Saúde (BVS-psi).
Os resultados permitiram uma reflexão sobre o impacto da doença/tratamento.
Constatou-se que o psicólogo em conjunto com a equipe multidisciplinar e o apoio
familiar e social são bases para o fortalecimento e reestruturação do paciente.
Palavras-chave: Psicologia Hospitalar. Insuficiência Renal Crônica. Hemodiálise.
ABSTRACT
The diagnosis of chronic renal failure represents several changes in the life of the
patient and his family. Treatment of the disease involves a monotonous and invasive
routine capable of generating physical and psychological changes. The objective of
this study is to meet the main contributions of the psychologist with patients in
treatment. It is a survey of bibliographical character; for that, we proceeded to a
search of journals indexed in databases of theses and dissertations, as well as
Virtual Libraries in Psychology and Health (VHL-psi). The results allowed a reflection
on the impact of disease / treatment. It was found that the psychologist in conjunction
with the multidisciplinary team and family and social support are bases for
strengthening and restructuring of the patient.
Keywords: Health Psychology. Chronic Renal Failure. Hemodialysis.
* Psicóloga. Faculdades Integradas de Jaú.
** Psicóloga. Faculdades Integradas de Jaú.
*** Psicóloga, Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem UNESP, Doutoranda em
Educação Especial, UFSCAR. Docente do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Jaú.
1 INTRODUÇÃO
A história da psicologia hospitalar no Brasil tem seu início na década de 50.
Segundo Almeida (2007), Mathilde Neder foi uma das grandes pioneiras que
exerceu e expandiu a profissão. Desse modo, a psicologia foi se constituindo uma
área reconhecida não somente como saber, mas como prática e meio de produção
científica.
No caminho de sua estruturação, a psicologia hospitalar ganhou forças e
passou a ser aceita e divulgada, garantindo um novo modelo de atuação aos
profissionais. Ao longo dos anos, tornou-se nítida a evolução que essa área obteve,
ganhando espaços nos cursos de graduação, em eventos, publicações e
consequentemente, fazendo com que ocorressem mudanças na postura médica
diante do paciente e sua patologia, reconhecendo os aspectos emocionais do
mesmo e constituindo desse modo, a humanização dentro dos hospitais.
Toda enfermidade remete a alguma alteração na vida do paciente. Em
especial, o diagnóstico de uma doença crônica representa várias alterações tanto na
vida do paciente quanto de sua família, como mudanças de rotinas, costumes e
alterações físicas e psicológicas (CAIUBY; KARAM, 2010). A insuficiência renal
crônica, por ser uma patologia com altos índices de morbidade e mortalidade, tem se
tornado um problema de saúde pública que merece atenção.
A insuficiência renal crônica pode ser compreendida por uma lesão nos rins e
uma consequente perda progressiva e irreversível da atividade desses órgãos.
Dependendo do grau da evolução, os rins podem não mais conseguir manter a
homeostase do organismo, acarretando sérios prejuízos à saúde do indivíduo
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2014b).
Essa patologia não possui uma cura total, porém, é possível ser tratada
através de alguns recursos, sendo eles: o tratamento conservador, a diálise
peritoneal, a hemodiálise ou transplante renal, que podem, em maior ou menor
escala garantir uma qualidade de vida satisfatória ao indivíduo. Tais tratamentos são
essenciais para a melhora e manutenção da saúde do paciente, porém podem ser
bastante dolorosos, monótonos e incisivos.
De acordo com Nakao (2014) em sua dissertação, os procedimentos dialíticos
são capazes de interferir significativamente na rotina dos pacientes, pois oferecem
sérias restrições que englobam tanto prejuízos à alimentação e ao consumo de
líquidos, quanto importantes alterações psicossociais e emocionais. As causas se
originam, por vezes, das várias perdas sofridas pelo paciente, como a perda da
saúde, de identidade, das condições de trabalho, de autodomínio, ou mesmo pelo
medo do desconhecido. Ainda, devido às grandes dificuldades enfrentadas, o
paciente pode desenvolver dependência familiar, alterando também sua autonomia e
própria autoimagem. Outras complicações psiquiátricas podem surgir durante o
período de tratamento, como reações com sintomas de depressão e ansiedade,
além de distorções da imagem e integridade corporal, de importância dentro da
sociedade, atrasos no desenvolvimento (no caso de crianças), disfunções sexuais, e
síndromes psico-orgânicas.
O tratamento geralmente é caracterizado como um processo bastante
invasivo, tanto para o paciente quanto para sua família. Em sua dissertação, Simone
(2011), defende que o paciente renal crônico luta para entender e aceitar sua
doença, procurando compreender a origem e seu tratamento. Diante desses
motivos, a tendência da Psicologia e das ciências da saúde é compreender as
limitações do tratamento e olhar para o paciente dentro de uma perspectiva que
integre as esferas biológica, psicológica e social, como uma forma de minimizar o
sofrimento do processo saúde-doença.
O psicólogo que atua no hospital trabalha com o paciente que a todo instante
procura resgatar sua essência, e muitas vezes, busca justificativas para seu estado
de saúde. Em sua pesquisa sobre a atuação do psicólogo junto ao paciente renal
crônico, Farias (2012), afirma que cabe ao profissional, portanto, buscar entender o
que está envolvido na queixa do paciente com uma visão ampla do caso, auxiliando
o paciente no enfrentamento desse processo, bem como oferecendo suporte à
família e à equipe de saúde.
Em geral, as doenças crônicas são responsáveis por forte influência sobre o
desenvolvimento e as reações do paciente, da família e de seus grupos sociais.
Estratégias de enfrentamento dessas doenças possuem um papel importante de
equilíbrio entre o processo sujeito-saúde-doença. Estudos apontam que as práticas
de enfrentamento mais comuns entre os pacientes hospitalizados estão relacionadas
ao suporte social, a família, as práticas religiosas/pensamentos fantasiosos, a
autonomia, aos recursos culturais e materiais, valores, crenças e habilidades sociais
de cada indivíduo (BERTOLIN, 2007; FARIA; SEIDL, 2005; MADEIRO et al., 2010;
NUNES et al., 2013; RAVAGNANI; DOMINGOS; MIYAZAKI, 2007; SCHWARTZ et
al., 2009; ZIMMERMANN; CARVALHO; MARI, 2004). Desse modo, a intervenção do
psicólogo poderá estar pautada a esses recursos, reforçando de maneira positiva o
modo de encarar o tratamento e as dificuldades encontradas no decorrer do
processo.
Em resumo, a atuação do psicólogo hospitalar não se pauta somente em
bases teóricas, ela acontece em seu cotidiano com o contato com cada paciente, a
cada visita e intervenção feita. Ainda há muito a se fazer pelo avanço do psicólogo
nessa área de atuação, porém, é nítido o benefício que sua atuação oferece aos
pacientes e aos envolvidos no tratamento.
2 A HISTÓRIA DA PSICOLOGIA HOSPITALAR NO BRASIL
Durante muitos anos, quando a psicologia ainda não havia se constituído
como uma ciência e profissão, a atenção dirigida aos pacientes hospitalizados era
de cunho religioso, praticada por freiras que auxiliavam os profissionais da saúde
dentro dos hospitais e sempre estavam dispostas a escutar as angústias e tristezas
dos enfermos como uma forma de apoio e conforto (BARROS; SILVA, 2006).
A história e o reconhecimento da psicologia hospitalar começam a ser
desenhados em 1818, no Hospital McLean em Massachussets. Profissionais com
objetivos
em
comum,
incluindo
psicólogos,
formaram
a
primeira
equipe
multidisciplinar e, neste mesmo local, foi fundado em 1904, um laboratório de
psicologia que teve como intuito desenvolver pesquisas sobre a nova área que
estava surgindo (BRUSCATO, 2004).
No Brasil, o psicólogo junto à psiquiatria teve seu início quando os primeiros
serviços de Higiene Mental foram consolidados na década de 30. Juntos, tinham
como meta novas propostas e alternativas de internação psiquiátrica, firmando
assim, seu trabalho dentro das instituições de saúde (ALMEIDA, 2007). De acordo
com Lhullier (2003), a partir dessa época, há uma maior preocupação em integrar os
saberes médicos e psicológicos. Nesse momento, a psicologia ganha forma e passa
a ser considerada uma área do saber independente da medicina, entretanto,
apontada como mais eficaz quando vinculada a esta última.
Na década de 50, Mathilde Neder, pioneira na área hospitalar, desenvolveu
seu trabalho na Clínica Ortopédica e Traumatológica da Universidade de São Paulo
(USP), com a função de preparar pacientes que seriam submetidos a cirurgias de
coluna, bem como acompanhá-los em suas recuperações. Esse foi um dos primeiros
relatos sobre a inserção do psicólogo dentro do âmbito da saúde (ALMEIDA, 2007).
Cabe ressaltar que o marco do início da atuação em psicologia hospitalar
ocorreu antes mesmo da regulamentação da profissão do psicólogo no Brasil. Silva
(2006), explica que até então os profissionais que atuavam com práticas
psicológicas eram graduados em outras áreas das ciências humanas, podendo
complementar sua formação com aprimoramentos em Psicologia, como cursos de
especialização ou estágios.
Também considerada pioneira da área hospitalar, Bellkis W. R. Lamosa
registrou outro marco na história da psicologia a partir da implantação do Serviço de
Psicologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP (SILVA, 2006). Com essa inovação, Lamosa inseriu na graduação
em psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo o curso de Atuação
do Psicólogo em Hospitais. Esse foi o primeiro curso de psicologia hospitalar no país
oferecido em uma graduação (ANGERAMI-CAMON, 2009).
Logo após a expansão e reconhecimento da necessidade do psicólogo dentro
do contexto hospitalar, vários profissionais da área começaram a desenvolver e
implantar trabalhos nas instituições de saúde, comprovando a relevância do
exercício da profissão (ANGERAMI-CAMON, 2009).
Ao longo dos anos, é nítida a evolução que a psicologia hospitalar obteve.
Ganhou espaços em eventos e publicações e fez com que ocorressem mudanças na
postura médica diante do paciente e sua patologia, reconhecendo os aspectos
emocionais do mesmo e contribuindo para a humanização dentro dos hospitais.
Com sua notoriedade, ocorreu o surgimento cada vez maior na graduação de cursos
que abordassem a realidade hospitalar, possibilitando aos futuros psicólogos o
conhecimento de mais uma área de importante atuação.
Através do exercício desenvolvido, o próprio psicólogo nota o quão valioso é
seu trabalho e especialmente sua palavra, pois é através dela que pode ocorrer o
alívio de um longo sofrimento, o ressurgimento da esperança e principalmente o
auxílio para a cura. Conforme aponta Angerami-Camon (2009, p. 138): “[...] A
psicologia hospitalar transforma tanto a realidade institucional como a realidade
interior do próprio psicólogo”. Ainda existem muitas batalhas pela frente e muito
trabalho a ser feito, explorado e divulgado. Entretanto, não se pode deixar de
comemorar o surgimento, reconhecimento e expansão da área, fruto das habilidades
e do comprometimento que os profissionais têm apresentado com o belo exercício
da psicologia.
3 A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO HOSPITALAR
O trabalho do psicólogo dentro do ambiente hospitalar ainda é algo recente.
Sua inserção teve como meta integrar a equipe de saúde, juntamente com os
demais profissionais atuantes nesse contexto, para suprir a necessidade de tornar
esse ambiente mais humanizado. Desse modo, o paciente começaria a ser visto não
somente como um corpo enfermo, mas como um ser visto em sua totalidade, dotado
de sentimentos e fragilidades (GARCIA, 2004).
Conforme Campos (1995) ressalta, em sua atuação, o profissional de
psicologia deve proporcionar ao paciente, no momento de sua permanência no
hospital, o alívio de seu sofrimento, deixando o mesmo falar sobre si, a doença, a
família, seus medos e angústias, enfim, prestar assistência, apoio e suporte para
que ocorra a minimização do sofrimento e a clarificação de seus sentimentos. Essa
escuta poderá acontecer tanto individualmente com o paciente, quanto em grupo.
A humanização no atendimento realizado pelo psicólogo tem o intuito de
auxiliar os pacientes e familiares, através de um processo de escuta e acolhimento.
Como exemplo dessa prática, pode ser citada a importância de chamar as pessoas
e principalmente o paciente pelo seu nome, fornecer informações adequadas, evitar
visitas ao leito que lesem a privacidade dos pacientes; dentre outras (ANGERAMICAMON, 2009).
Na situação de hospitalização, é imprescindível que os atendimentos feitos
pelo psicólogo sejam realizados com dedicação e como se fossem únicos, não
esperando uma nova oportunidade de conversa com o paciente, pois poderá ocorrer
a alta. Além disso, o trabalho deverá ser focal .
Por se trabalhar com questões delicadas sobre a vida, é comum que a
palavra “morte” esteja presente em várias situações no ambiente hospitalar. É difícil
falar sobre esse acontecimento, como explica Campos (1995, p. 64-65), “[...] a morte
é temida e vista como um tabu, como algo que nem se deve comentar [...]”. Frente a
esse assunto, o psicólogo muitas vezes é chamado para explicar e expor a situação
da doença ao paciente e seus familiares e em algumas delas, é necessário falar
sobre a morte, não ocultando essa possibilidade.
De acordo com as demandas, o papel assumido pelo psicólogo no contexto
hospitalar é ativo e real, e não apenas interpretativo. Seu exercício acontece em
nível de comunicação, sendo de grande importância a troca de conhecimentos,
experiências e aprendizados com toda a equipe, para que o profissional esteja mais
bem preparado para compreender os fenômenos decorrentes de todo processo que
o paciente enfrenta (CANTARELLI, 2009).
Atualmente, ainda é vista a relutância em aceitar o psicólogo dentro dos
hospitais, até mesmo por questões financeiras, porém é inaceitável negar a
contribuição e o alívio que o mesmo traz aos pacientes quando sua atuação tem
como foco a minimização do sofrimento provocado pela hospitalização (ANGERAMICAMON, 2009).
As doenças crônicas originam um estado patológico no indivíduo que pode
ser caracterizado por apresentar incapacidade residual, alterações patológicas
incuráveis, períodos longos de reabilitação e cuidados extremos no decorrer da vida
(SANTOS; SEBASTIANI, 1996). Dessa forma, o indivíduo que recebe a notícia de
ser portador de Insuficiência Renal Crônica passa muitas vezes a apresentar seus
recursos emocionais de forma alterada, pois o diagnóstico da doença não apresenta
uma perspectiva de cura para esses casos (CESARINO; CASAGRANDE, 1998).
Para tanto, o acompanhamento psicológico é essencial para o paciente, sua família
e todos os envolvidos na hospitalização e no processo saúde-doença.
4 A INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E SEUS EFEITOS
O sistema urinário é composto por um conjunto de órgãos responsáveis pela
regulação de líquidos e sais minerais dentro do corpo. Em especial, este sistema é
capaz de produzir, armazenar e eliminar a urina.
O organismo humano com funcionamento normal possui dois rins situados no
espaço retroperitoneal, ou seja, na parede posterior do abdômen, e em ambos os
lados da coluna vertebral. Cada rim de uma pessoa adulta pesa em média cerca de
150 a 160 gramas, tem o tamanho aproximado de uma mão fechada e possui a
forma de um feijão (GUYTON; HALL, 2006; RIELLA, 1980).
Os rins, por se tratarem de órgãos vitais, possuem importantes funções dentro
do organismo. Essencialmente, estes órgãos são responsáveis por quatro funções
básicas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2014a):
(1) eliminação de toxinas do sangue por um sistema de filtração,
(2) regulação da formação do sangue e da produção dos glóbulos vermelhos,
(3) regulação da pressão sanguínea,
(4) controle do equilíbrio químico e de líquidos do corpo.
O rim é o órgão responsável pela filtração do sangue transportado através
das artérias renais. Após circular pelos rins e ser filtrado, o sangue retorna à veia
cava abdominal através das veias renais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
NEFROLOGIA, 2014a). Ainda sobre a estrutura, os rins são formados por milhares
de unidades funcionais microscópicas chamadas de néfrons, cerca de um milhão por
rim, podendo ser definido como a unidade estrutural e funcional do rim, pois ele é
responsável pela formação da urina.
Com o surgimento de lesões, doenças ou mesmo o envelhecimento, o rim
pode perder grande parte de néfrons e comprometer, assim, o funcionamento do
órgão. É nesse momento que começam a surgir as doenças renais que podem
variar desde lesões leves até a insuficiência renal aguda e crônica, momento em que
grande parte do rim já está comprometido. Quando os rins atingem o estágio da
insuficiência renal crônica, passa a ser necessária a adesão de tratamentos que
ajudem os rins a cumprir suas funções (GUYTON; HALL, 2006).
A insuficiência renal crônica se origina basicamente por uma incapacidade em
manter a homeostase interna devido a perda de um grande número de néfrons
funcionais. Diversas são as patologias que acometem as funções do rim, sendo que
algumas comprometem a função renal rapidamente e outras o fazem de maneira
mais lenta, porém, ambas agem de forma progressiva e irreversível (RIELLA, 1980).
Por possuir a característica de ser lenta e progressiva, a insuficiência renal
crônica, por muitas vezes, mantém o paciente assintomático até que estes tenham
perdido cerca de 50% de suas funções renais. Quando o rim se torna mais
debilitado, ou seja, possui menos de 10% da sua função normal, faz-se necessária a
intervenção de outros métodos de tratamento, como o processo de diálise ou o
transplante renal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2014b).
De acordo com o Censo de Diálise de 2013 da Sociedade Brasileira de
Nefrologia (2014d), estima-se que no Brasil cerca de 100.397 pacientes encontramse em tratamento dialítico por ano e devido ao elevado índice de morbidade e
mortalidade, a doença renal vem sendo considerada um problema de saúde pública.
5 ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO
As doenças crônicas são responsáveis por forte influência sobre o
desenvolvimento e as reações do paciente, da família e de seus grupos sociais.
Estratégias de enfrentamento dessas doenças têm papel de equilíbrio entre o
processo sujeito-saúde-doença (RAVAGNANI; DOMINGOS; MIYAZAKI, 2007).
De acordo com Abrunheiro (2005), o suporte social tem sido o aspecto mais
destacado ao se falar de meios de enfrentamento em conceitos relacionados à
Psicologia da Saúde. Isso porque tal domínio é capaz de diminuir situações de
estresse e até inibir o desenvolvimento de outras doenças, além de proporcionar
resultados positivos para a recuperação do paciente.
As atenções voltadas à terapêutica e à qualidade de vida dos pacientes renais
crônicos são recentes e originam-se da constatação de que recuperações mais
rápidas e efetivas são resultados de um bem estar físico e mental, lazer, autonomia,
preservação de esperança e senso de utilidade dos pacientes (MARTINS;
CESARINO, 2005).
Moraes (2012), em sua dissertação de mestrado, destaca a importância dos
autores Lazarus e Folkman a respeito do tema “estratégias de enfrentamento”
(coping). Segundo a autora, a partir da intenção de medir o coping e criar uma
medida padrão para uso em pesquisas, Lazarus e Folkman criaram o “Ways of
Coping Checklist”, um instrumento favorável ao trabalho de pesquisadores da área e
que oferece vantagens por alguns motivos, tais como: é capaz de aferir o coping em
uma situação específica; pode ser utilizado tanto para análise intra-individual quanto
para análise de comparação; é considerado de fácil aplicação pelos autores.
Lazarus e Folkman, 1984 (apud Moraes, 2012) definem o coping como uma forma
individual pela qual são representadas as diferentes reações das pessoas frente ao
stress, sendo estas determinadas por questões pessoais, situacionais e pelos
recursos disponíveis.
O conceito de se buscar um ajustamento psicológico frente a situações
adversas remete à teoria de Viktor Frankl, a logoterapia, que propõe a busca de
sentido na vida, também conhecida como “terapia do sentido”. Tal denominação é
dada a partir da concepção de que a motivação primária do ser humano é a busca
pelo sentido da vida (FRANKL, 1985). Nessa perspectiva, o autor aponta que
encontrar sentido em meio a momentos de dor e sofrimento é de extrema
importância, pois permite superar a adversidade da melhor forma possível, bem
como dar-lhe valor e ressignificação. Tais experiências têm caráter positivo a partir
do momento que permite que a pessoa cresça em sua dimensão mais profunda: dar
sentido à sua dor.
Diante de uma doença crônica, é possível que se encontre sentido inclusive
na morte. A irreversibilidade da morte faz com que o homem oriente-se para
aproveitar oportunidades, satisfazer desejos e aproveitar seu tempo de vida,
garantindo uma melhora em seu bem-estar e na satisfação de dever cumprido
(MOREIRA; HOLANDA, 2010).
A doença crônica influencia a pessoa a refletir sobre a própria existência e, de
certo modo, questionar suas crenças e religiosidades (SCHWARTZ et al., 2009). De
acordo com Kübler-Ross (2011), é comum que frente a perdas significativas
apareçam estágios de negação, raiva, barganha, aceitação e esperança, como
busca por justificativas para a situação e como forma de tentar compreendê-la.
O suporte social, a família, a fé/espiritualidade, autonomia, aceitação, entre
outros, constituem o grande campo de estratégias de enfrentamento utilizadas por
pacientes hospitalizados para amenizar o sofrimento da doença. Entretanto, maiores
estratégias por parte das equipes de saúde devem ser utilizadas para detectar essas
demandas e utilizá-las em possíveis intervenções, garantindo a promoção de um
atendimento integral. A participação do psicólogo nesse contexto é de fundamental
importância, pois considera um olhar humanizado ao paciente, ao seu sofrimento e
sua subjetividade. Como Resende et. al. (2007, p.93) pontuam: “O atendimento
psicológico auxilia a quebrar tabus e preconceitos, além de incentivar as pessoas a
desenvolverem suas capacidades, levando-as a verem a doença sob outros
ângulos”.
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas pesquisas de artigos online sobre o tema em periódicos
indexados nas bases da Biblioteca Virtual em Psicologia e Saúde (BVS-psi) e do
Scientific Electronic Library Online (SciELO) com os descritores "insuficiência renal
crônica", "psicologia hospitalar", "hemodiálise". Inicialmente não foram encontrados
artigos para a pesquisa.
Para tanto, recorreu-se a buscas no banco de teses da CAPES a partir dos
descritores “psicologia hospitalar” e “doença renal crônica”, onde foram encontrados
282 registros sobre o assunto. A partir de uma busca avançada nos programas de
psicologia, foram encontradas cinco dissertações, um artigo e uma tese sobre o
assunto.
Dos resultados encontrados, foram escolhidas cinco dissertações e um artigo
para a discussão deste trabalho. Os critérios para a seleção foram: o tema
abordado, o ano de publicação (2004-2014), e a atuação e contribuição do psicólogo
junto ao paciente renal.
De acordo com os autores pesquisados, as conclusões sobre seus escritos
em relação ao tema proposto foram: deve-se dar uma maior atenção ao
cuidador/família do paciente; trabalhar com intervenções psicoeducativas; criar
grupos com famílias que auxiliem em um melhor apoio e enfrentamento de todo o
processo; esclarecer desmistificar os significados atribuídos pelo paciente à doença;
necessidade de maior produção científica referente ao assunto; trabalhar com a
questão do significado atribuído à morte e às perdas; importância da relação
médico-paciente; qualidade no tratamento atribuído ao paciente; perspectivas de
futuro do paciente; abordar questões referentes ao transplante caso seja um desejo
do paciente e o incentivo a adesão ao tratamento.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir este estudo, foi possível notar as implicações resultantes da
descoberta da Insuficiência Renal Crônica (IRC) na vida do paciente e de seus
familiares, e os principais impactos causados não somente em seu estado físico,
mas principalmente emocional.
Verificou-se que o papel do psicólogo se faz fundamental no contexto
hospitalar e em casos de doenças crônicas. O trabalho do profissional de psicologia
precisa ser diretivo e contínuo, oferecendo respaldo e apoio necessário desde a
descoberta da doença até os processos pós-cirúrgicos, como nos casos de
transplante. Do mesmo modo, a família necessita de cuidado e atenção dos
profissionais da saúde. O conjunto harmonioso entre paciente, família e equipe
multidisciplinar é a chave para a boa evolução do tratamento.
O cuidado com a saúde mental do paciente se faz primordial para que o bemestar e a qualidade de vida se instalem. Para tanto, a psicoterapia tem fundamental
importância, pois têm o intuito de auxiliar os pacientes estimulando-os em seus
potenciais, modificando a visão sobre a doença, bem como apresentando outros
pontos importantes de reflexão que merecem ser valorizados. A escuta e o
acolhimento são primordiais em qualquer momento do tratamento, e somam mais
pontos positivos a partir do momento que auxiliam os pacientes a ressignificar o
momento em que estão passando.
Ao longo do trabalho, pôde-se constatar que a função desempenhada pelo
psicólogo é de suporte à pessoa e à família que, muitas vezes, pode não estar
aceitando a situação e buscando justificativas para a doença. Esse suporte coloca o
psicólogo como profissional capaz de ter a visão do paciente como um todo, um ser
biopsicossocial, e o auxilia com a clarificação de seus sentimentos. A necessidade
de um profissional da saúde que saiba como entender e compreender o sofrimento
do outro se torna indiscutível no âmbito hospitalar.
Ainda que o psicólogo enfrente algumas dificuldades em ser aceito nessa
área de atuação, muitas vezes pelo seu custo, é nítida a necessidade de seu
trabalho junto ao hospital. Para tanto, a capacitação se faz necessária para um bom
respaldo teórico e técnico do profissional. Ainda assim, a troca de experiências é
essencial, além da divulgação de materiais atualizados capazes de nortear os novos
profissionais e contribuir para que a atuação nessa área seja mais valorizada e
reconhecida.
REFERÊNCIAS
ABRUNHEIRO, L. M. M. A satisfação com o suporte social e a qualidade de vida no
doente após o transplante hepático. O Portal dos Psicólogos., Portugal, 2005.
Disponível em: <http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0255.pdf>. Acesso em: 08
jun. 2014.
ALMEIDA, R. A. Histórico da Psicologia Hospitalar, 2007. Disponível em
<http://www.scielo.br/pdf/rbci/v4n56e5.pdf>. Acesso em: 04 Dez 2013.
ANGERAMI-CAMON, V. A. Tendências em Psicologia Hospitalar. 1ª. ed. São
Paulo: Cengage Learning. 2009. 195p.
BARROS, M. N. S.; SILVA, M. V. O. A História da Psicologia Hospitalar. Psicologia
Ciência e Profissão – Diálogos, São Paulo, v. 4, p. 19-25, dez. 2006. Disponível
em: <http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2007/02/dialogos_4.pdf>. Acesso em:
04 dez. 2013.
BERTOLIN, D. C. Modo de Enfrentamento de Pessoas com Insuficiência Renal
Crônica Terminal em Tratamento Hemodialítico. Ribeirão Preto, 2007, 142p.
Dissertação (Mestre em Enfermagem). Universidade de São Paulo, USP, Ribeirão
Preto, SP, 2007.
BRUSCATO, W. L. A Psicologia no Hospital da Misericórdia: Um modelo de atuação.
In: BRUSCATO, W. L.; BENEDETTI, C.; LOPES, S. R. A. (Org). A prática da
psicologia hospitalar na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo: Novas
Páginas em Uma Antiga História. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. p. 17–32.
CAIUBY, A. V. S., KARAM, C. H. Aspectos Psicológicos de Pacientes com
Insuficiência Renal Crônica. In: ISMAEL, S. M. C. (Org). A Prática Psicológica e
sua Interface com as Doenças. 2ª Edição. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. p.
131-148.
CAMPOS, T. C. P. Psicologia Hospitalar: A atuação do Psicólogo em Hospitais.
São Paulo: EPU, 1995. 112p.
CANTARELLI, A. P. S. Novas Abordagens da Atuação do Psicólogo no Contexto
Hospitalar. Rev. SBPH, Rio de Janeiro, v. 12 n. 2, p. 137-47, dez 2009. Disponível
em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rsbph/v12n2/v12n2a11.pdf >. Acesso em: 08 Jun
2014.
CESARINO, C. B.; CASAGRANDE, L. D. R. Paciente com insuficiência renal crônica
em tratamento hemodialítico: atividade educativa do enfermeiro. Revista Latino
Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 4, p.31-40, out 1998.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v6n4/13873>. Acesso em: 15 jun 2014.
FARIA, J. B.; SEIDL, E. M. F.; Religiosidade e Enfrentamento em Contextos de
Saúde e Doença: Revisão da Literatura. Psicologia: Reflexão e Crítica, Brasília,
v.18,
n.3,
p.381-389,
2005.
Disponível
em:
<
http://www.scielo.br/pdf/prc/v18n3/a12v18n3>. Acesso em: 18 jul 2014.
FARIAS, L. A. B. A produção brasileira sobre a atuação do psicólogo junto a
pacientes com insuficiência renal crônica em diálise: uma análise crítica. São
Paulo, 2012, 89p. Dissertação (mestrado em psicologia clínica). Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, São Paulo, SP, 2012.
FRANKL, V. E. Em Busca de Sentido. Rio de Janeiro: Editora Vozes. 1985. 186p.
GARCIA, T. P. A contribuição da utilização dos recursos artísticos e lúdicos
pelo psicólogo hospitalar no tratamento de pacientes renais no hospital do rim
e hipertensão. São Paulo, 2004, 43p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
em Psicologia). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, São Paulo,
SP, 2004.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: Editora
Elsevier 11ª Edição. 4ª tiragem. 2006. 1128 p.
KÜBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer. São Paulo: WMF Martins Fontes,
2011. 296p.
LHULLIER, C. Levantamento das idéias psicológicas presentes na Faculdade
de Medicina e na Faculdade de Direito no Estado do Rio Grande do Sul entre
1890 e 1950. Ribeirão Preto, 2003, 235p. Tese não-publicada (doutorado em
ciências na área de psicologia). Universidade de São Paulo, USP, Ribeirão Preto,
SP, 2003.
MADEIRO, A. C. et al. Adesão de portadores de insuficiência renal crônica ao
tratamento de hemodiálise. Acta paul. Enferm., São Paulo, v.23, n.4, p. 546-51, abr
2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010321002010000400016&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 14 jul 2014.
MARTINS, M. R. I.; CESARINO, C. B. Qualidade de vida de pessoas com doença
renal crônica em tratamento hemodialítico. Revista Latino Americana de
Enfermagem., , v. 13, n. 5, p. 670-676, set 2005. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/rlae/article/viewFile/2134/2225>. Acesso em: 25 Jun
2014.
MORAES, A. P. P.; Stress, sintomas físicos, psicológicos e enfrentamento de
situações estressoras em profissionais da saúde que atuam em hospitais.
Bauru, 2012, 91p. Dissertação (Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e
Aprendizagem)- Universidade Estadual Paulista, UNESP, Bauru, SP, 2012.
MOREIRA, N.; HOLANDA, A. Logoterapia e o sentido do sofrimento: convergências
nas dimensões espiritual e religiosa. Psico-USF., Curitiba, v.15, n.3, p.345-356,
set./dez. 2010. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/pusf/v15n3/v15n3a08.pdf>.
Acesso em: 05 de jul 2014.
NAKAO, R. T. Variáveis sociodemográficas, clínicas e psicológicas associadas
à adesão à hemodiálise. Ribeirão Preto, 2013, 112p. Dissertação de Mestrado.
Universidade de São Paulo, USP, Ribeirão Preto, SP, 2013.
NUNES et. al., Ansiedade, depressão e enfrentamento em pacientes internados em
um hospital geral. Psicologia, Saúde e Doenças, Bahia, v.14, n.3, p.382-388,
out/2013.
Disponível
em:
<http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/pdf/psd/v14n3/v14n3a02>. Acesso em: 15 jul.
2014.
RAVAGNANI, L. M. B.; DOMINGOS, N. A. M.; MIYAZAKI, M. C. O. S. Qualidade de
vida e estratégias de enfrentamento em pacientes submetidos a transplante renal.
Estudos de Psicologia, v.12, n.2, p.177-184, jun/ago, 2007. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/epsic/v12n2/a10v12n2.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2014.
RESENDE, M. C. et al. Atendimento psicológico a pacientes com insuficiência renal
crônica: Em busca de ajustamento psicológico. Psic. Clin., Rio de Janeiro, v.19, n.2,
p.87-99, out/2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pc/v19n2/a07v19n2.pdf>.
Acesso em: 02 Jun 2014.
RIELLA, M. C. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. Rio de
Janeiro : Editora Guanabara Koogan S.A. 1980. 656p.
SANTOS, C.T.; SEBASTIANI, R.W, 1996. Acompanhamento psicológico à pessoa
portadora de doença crônica. In: Angerami-Camon (org). E a psicologia entrou no
hospital. São Paulo: Pioneira, 2012, p.147-175.
SCHWARTZ, E. et al. As redes de apoio no enfrentamento da doença renal crônica.
Rev. Min, Enferm., n.13, v.2, p.193-201, abr/jun, 2009. Disponível em: <
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/179>. Acesso em: 06 ago. 2014.
SILVA, L. P. P.; O Percurso Histórico do Serviço de Psicologia do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre. Porto Alegre, 2006, 87p. Dissertação (mestrado em
psicologia), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre, RS,
2006.
SIMONE, M. C. L. Analítica dos Sentidos e Significados Atribuídos por Pessoas
Vivendo com Insuficiência Renal Crônica em Tratamento de Hemodiálise: Seus
Modos de Ser-no-Mundo/Transcendência. São Paulo, 2011, 79p. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Psicologia Clínica), Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, PUC-SP, São Paulo, SP, 2011.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2014a). Sobre o rim. Disponível em:
<http://www.sbn.org.br/>. Acesso em 04 de abril de 2014.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2014b). Insuficiência Renal
Crônica. Disponível em: <http://www.sbn.org.br/>. Acesso em 04 de abril de 2014.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2014d). Censo de Diálise.
Disponível em: < http://www.censo-sbn.org.br/censosAnteriores>. Acesso em 17 de
jul de 2014.
ZIMMERMANN, P. R.; CARVALHO, J. O.; MARI, J. J. Impacto da Depressão e
outros fatores psicossociais no prognóstico de pacientes renais crônicos. Revista de
Psiquiatria. Rio Grande do Sul, v.26, n.3, p.312-318, set/dez 2004. Disponível em.
<http://www.scielo.br/pdf/rprs/v26n3/v26n3a08>. Acesso em: 22 jul 2014.