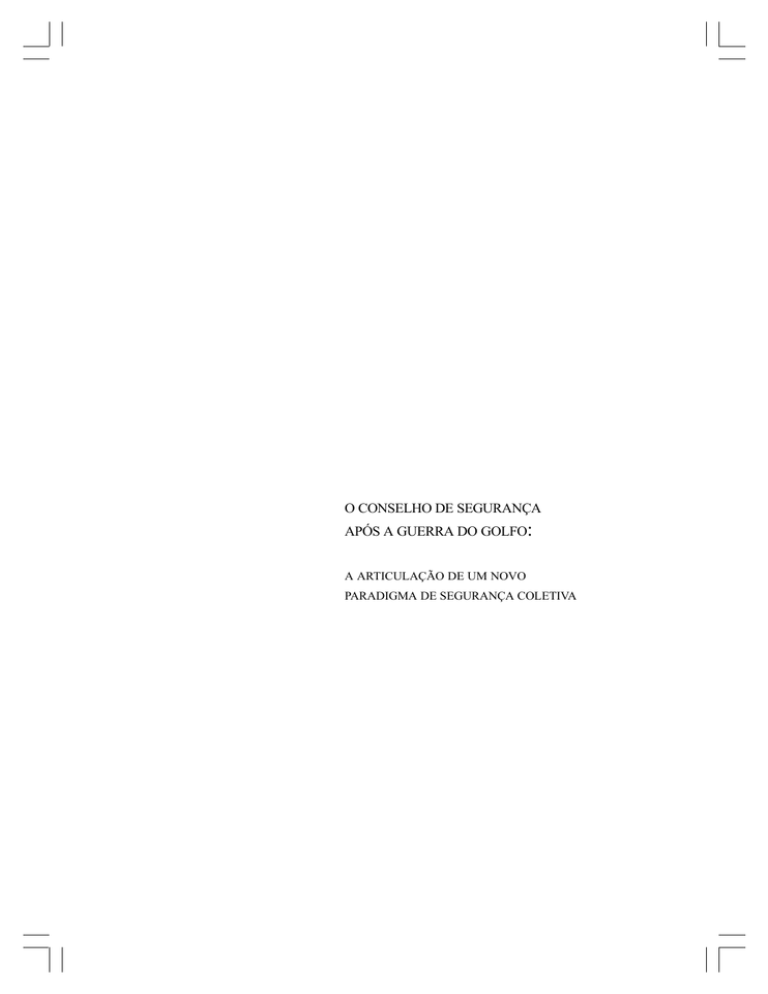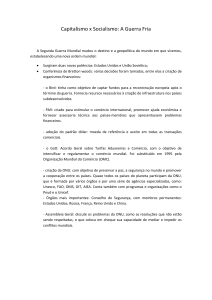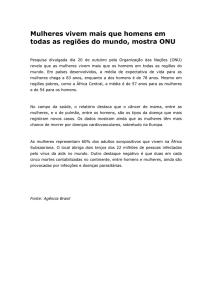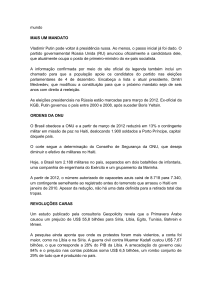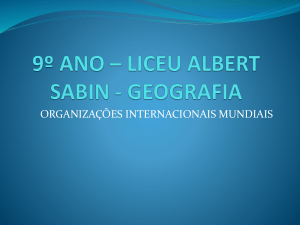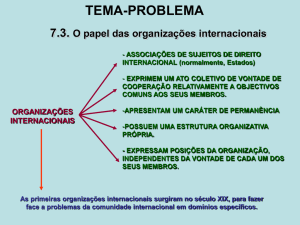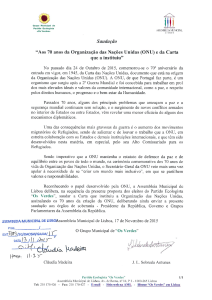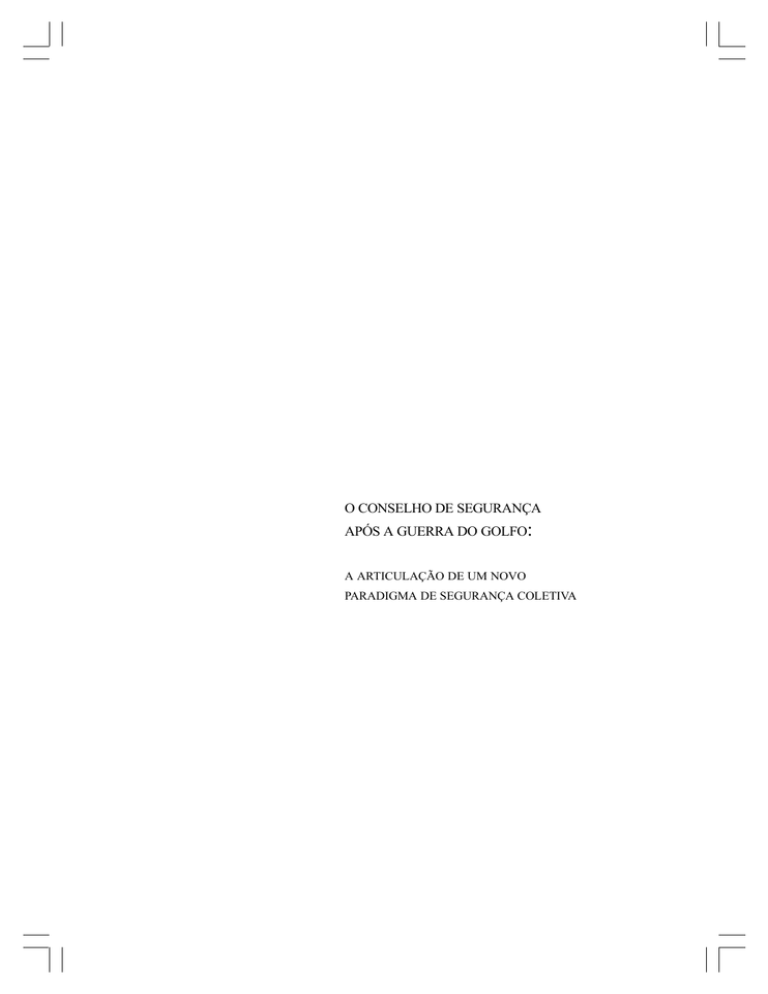
O CONSELHO DE SEGURANÇA
APÓS A GUERRA DO GOLFO:
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO
PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Ministro de Estado
Secretário-Geral
Embaixador Celso Amorim
Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães
FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO
Presidente
Embaixador Jeronimo Moscardo
INSTITUTO RIO BRANCO (IRBR)
Diretor
Embaixador Fernando Guimarães Reis
A Fundação Alexandre de Gusmão, instituída em 1971, é uma fundação pública vinculada ao
Ministério das Relações Exteriores e tem a finalidade de levar à sociedade civil informações
sobre a realidade internacional e sobre aspectos da pauta diplomática brasileira. Sua missão é
promover a sensibilização da opinião pública nacional para os temas de relações internacionais
e para a política externa brasileira.
Ministério das Relações Exteriores
Esplanada dos Ministérios, Bloco H
Anexo II, Térreo, Sala 1
70170-900 Brasília, DF
Telefones: (61) 3411-6033/6034/6847
Fax: (61) 3411-9125
Site: www.funag.gov.br
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
O Conselho de Segurança
após a Guerra do Golfo:
A Articulação de um novo
Paradigma de Segurança Coletiva
2a edição
Brasília, 2010
Direitos de publicação reservados à
Fundação Alexandre de Gusmão
Ministério das Relações Exteriores
Esplanada dos Ministérios, Bloco H
Anexo II, Térreo - 70170-900 Brasília – DF
Telefones: (61) 3411-6033/6034 - Fax: (61) 3411-9125
Site: www.funag.gov.br - E-mail: [email protected]
Capa:
Cícero Dias - Apoio Support - Paris, 1968 - ÓST
- 130 x 89 cm - Coleção do artista, Paris
Equipe Técnica:
Eliane Miranda Paiva
Maria Marta Cezar Lopes
Cíntia Rejane Sousa Araújo Gonçalves
Erika Silva Nascimento
Júlia Lima Thomaz de Godoy
Juliana Corrêa de Freitas
Programação Visual e Diagramação:
Juliana Orem e Maria Loureiro
Impresso no Brasil 2010
Patriota, Antonio de Aguiar.
O Conselho de Segurança após a Guerra do Golfo: a
articulação de um novo paradigma de segurança
coletiva / Antonio de Aguiar Patriota. 2. ed. ¯
Brasília : Fundação Alexandre de Gusmão, 2010.
232p.
ISBN: 978-85-7631-197-3
Tese apresentada no XXXIII Curso de Altos Estudos
do Instituto Rio Branco (1997).
1.
Política internacional. 2. Política externa. 3.
Nações Unidas – Conselho de Segurança. I. Título.
II. Título: a articulação de um novo paradigma de
segurança coletiva. III. Dauster, Jório. IV.
Sardenberg, Ronaldo Mota. V. Costa e Silva, Alberto
da. VI. Lima, Maria Regina Soares de.
CDU 327(00)
CDU 0612(100)ONU
CDU 341.123.043
Tese apresentada no XXXIII Curso de Altos Estudos do
Instituto Rio Branco (1997). Banca Examinadora:
Embaixador Jório Dauster (Presidente), Embaixador
Ronaldo Mota Sardenberg (Relator), Embaixador Alberto
da Costa e Silva (Vice-Presidente) e Professora Maria Regina
Soares de Lima.
Depósito Legal na Fundação Biblioteca Nacional conforme
Lei n° 10.994, de 14/12/2004.
Sumário
Introdução, 7
Capítulo 1: A Segurança Coletiva antes da Guerra do Golfo
(A) Antecedentes Históricos e Definições, 11
(B) A Segurança Coletiva na Criação das Nações Unidas, 18
(C) O Capítulo VII da Carta das Nações Unidas; Sistemas de Defesa
Determinados pela Bipolaridade; O “Capítulo VI e ½”; Medidas Adotadas
sob o Capítulo VII até a Guerra do Golfo, 24
Capítulo 2: A Guerra do Golfo e o Ressurgimento de Interesse pelo
Paradigma de Segurança Coletiva da Carta da ONU
(A) A Guerra do Golfo, prenúncio de um novo Conselho de Segurança?, 37
(B) A Reunião de Cúpula do Conselho de Segurança de Janeiro de 1992, 48
(C) A Agenda para a Paz do Secretário-Geral Boutros-Ghali, 56
Capítulo 3: A Invocação do Capítulo VII Após a Guerra do Golfo
(A) A Intervenção na Somália, 67
(B) O Caso da Ex-Iugoslávia, 81
(C) O Genocídio em Ruanda, 107
(D) A Questão do Haiti, 120
(E) Sanções, 137
Capítulo 4: AArticulação de um Novo Paradigma de Segurança Coletiva
(A) Os Fins, 151
(B) Os Meios, 163
(C) Os Atores, 173
(D) O Brasil, 183
Conclusão, 193
Notas, 197
Bibliografia, 219
Introdução
O agravamento da rivalidade ideológico-militar entre Washington e
Moscou interrompeu, em 1948, as negociações para a conclusão dos “acordos
especiais” que teriam permitido ao Conselho de Segurança dispor de “forças
armadas, assistência e facilidades, inclusive direitos de passagem, necessários
à manutenção da paz e da segurança internacionais”, segundo os termos do
Artigo 43 da Carta das Nações Unidas. A possibilidade de retomar essas
negociações voltou a existir com o fim da Guerra Fria e chegou a ser
contemplada por Moscou, durante os últimos meses de existência da União
Soviética. A Guerra do Golfo restabelecera o consenso entre os cinco
membros permanentes do Conselho de Segurança, inclusive no que se refere
à autorização de medidas coercitivas sob o Capítulo VII da Carta, abrindo
novas perspectivas para a instrumentação da segurança coletiva, conforme o
paradigma de Dumbarton Oaks.
Em janeiro de 1992, os Chefes de Estado e Governo dos países membros
do Conselho de Segurança chegaram a reafirmar seu compromisso com o
sistema de segurança coletiva da Carta para lidar com ameaças à paz e reverter
atos de agressão. Mas as circunstâncias claras de agressão contra a integridade
territorial de um Estado membro, que caracterizaram o episódio do Golfo,
não voltariam a reproduzir-se, e surgiriam, em contrapartida, desafios novos
na Somália, na ex-Iugoslávia, em Ruanda, no Haiti, cujo tratamento sob o
Capítulo VII pode ser analisado como a expressão de um processo não
7
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
sistemático de articulação de um novo paradigma de segurança coletiva por
decisões ad hoc do Conselho de Segurança.
Essas experiências, aliadas a outras na aplicação de sanções, apontam
no sentido de uma reformulação dos objetivos da segurança coletiva, que
passam a se definir não somente em função do combate a atos de agressão
internacionais e da redução dos níveis de violência interestatal, mas também
na atenção dispensada a manifestações de instabilidade no interior dos
Estados, sejam elas o produto de conflitos armados ou não. Os meios aos
quais o Conselho de Segurança tem recorrido para impor essa nova concepção
da segurança coletiva não parecem tampouco se orientar no sentido de uma
adesão estrita aos dispositivos da Carta, revelando, pelo contrário, que o
Artigo 43 permanece letra morta, enquanto o uso da força é delegado a
coalizões multinacionais, exércitos nacionais, operações de paz, ou à OTAN.
Não resta dúvida de que o Conselho de Segurança vive um momento de
vitalidade, que justifica afirmações como a do ex-Secretário-Geral BoutrosGhali em setembro de 1994 em Nova Délhi: “We, the United Nations
Organization, the Security Council, your country (...) are engaged in a
creative moment in history. We are trying to build the first true system of
collective security”.1 Mas pairam incertezas sobre os efeitos que a prática
recente do Conselho está tendo para a credibilidade da Organização, e não
está claro se o conceito de segurança coletiva se redefine segundo opiniões e
valores amplamente compartilhados, ou se desvirtua para a promoção de
interesses individuais.
Nos capítulos a seguir serão recordadas as etapas da evolução do
conceito de segurança coletiva que antecederam à formulação do Capítulo
VII da Carta, como prólogo a um exame de sua delimitação ao fim da II
Guerra Mundial e de sua aplicação a situações específicas, com ênfase nos
casos posteriores à Guerra do Golfo, a partir da qual, sob influência de
Boutros-Ghali e de sua “Agenda para a Paz”, o Conselho de Segurança
operou saltos quantitativos e qualitativos na autorização da coerção. A
Somália, a ex-Iugoslávia, Ruanda, Haiti são os cenários que, juntamente com
os alvos de sanções, fornecem o pano de fundo para a abordagem dos fins e
dos meios segundo os quais o Conselho de Segurança reinterpreta seu
mandato no que tange à autorização de medidas coercitivas sob o Capítulo
VII da Carta, aquele que define o sistema de segurança coletiva das Nações
Unidas. A identificação dos principais atores nesse processo se encerra com
o pensamento voltado para a participação direta que o Brasil continuará a ter
8
INTRODUÇÃO
nos trabalhos do Conselho de Segurança, quando regressar ao órgão em
janeiro de 1998, para cumprir seu oitavo biênio como membro não
permanente.
9
Capítulo 1
A Segurança Coletiva antes da
Guerra do Golfo
(A) Antecedentes Históricos e Definições
A formulação jurídica primeira da ideia de segurança coletiva se exprime
nos Artigos 10 e 16 do Pacto da Liga das Nações, segundo os quais cada
Estado membro se compromete a respeitar e preservar a integridade territorial
e a independência política de todos os membros da Liga (Artigo 10), e o
Estado que recorrer à guerra será sujeito a sanções e poderá ser coagido
militarmente por forças das partes contratantes (Artigo 16). Associada ao
Presidente norte-americano Woodrow Wilson, a concepção original de uma
organização mundial capaz de evitar a recorrência da guerra (no caso a I
Guerra Mundial), a partir de um esforço coletivo de preservação da paz
baseado no direito internacional, teria sido, segundo Henry Kissinger, de autoria
do Foreign Secretary britânico Edward Grey.1 Em carta datada de setembro
de 1915 ao Coronel House, assessor para assuntos de segurança do
Presidente Wilson, Grey embora representante de um país que durante
duzentos anos se pautara pela política do equilíbrio do poder - acenava com
a doutrina inovadora da segurança coletiva, movido menos por um repentino
impulso idealista do que pelo interesse em envolver os Estados Unidos na
defesa da velha ordem da Europa.
O esboço da concepção da Liga, que viria a ser incorporada ao Tratado
de Versalhes, foi apresentado por Wilson pela primeira vez em maio de 1916.
11
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
O Coronel House, encarregado, desde 1917, de preparar estudos sobre o
pós-guerra, trabalharia com um grupo de peritos recrutados, sobretudo no
meio universitário – e que funcionou à margem do Departamento de Estado
– na relação de um projeto, cujos parâmetros já estariam delineados quando
o estabelecimento de uma Sociedade Geral das Nações foi defendido por
Wilson como o último dos célebres “quatorze princípios básicos da justiça
internacional” em janeiro de 1918. Complementado por acréscimos britânicos
e franceses, seria esse o texto apresentado, em 1919, aos demais participantes
da Conferência de Paris, entre os quais o Brasil (que seria junto com 31
outros países, signatário original do Tratado de Paz e do Pacto criador da
Liga das Nações).
A ordem internacional concebida por Wilson, em que os interesses
nacionais são colocados a serviço de valores éticos, na adesão a um sistema
jurídico multilateral, representou uma ruptura revolucionária com séculos de
diplomacia europeia, fundamentada no equilíbrio entre os principais centros
de poder e na separação entre moral individual e coletiva. Não obstante, a
visão wilsoniana criaria um impacto suficientemente duradouro para se
transformar em um dos polos em torno dos quais se organizariam as relações
internacionais durante o restante do século, especialmente depois de criada a
Organização das Nações Unidas em 1945.
A convicção com que Wilson abraçou a causa da segurança coletiva e a
sobrevivência de sua visão permitem que se lhe reconheça senão a paternidade
da ideia, ao menos o título de “originator” que lhe atribui Kissinger.2 Na
realidade, os antecedentes da segurança coletiva poderiam ser buscados em
um passado mais longínquo. Desde que se esfacelara o sonho da monarquia
universal, com o fim da Guerra dos Trinta Anos, os tratados de Westfália
criaram a base jurídica para uma Europa de Estados soberanos, que situaria
a problemática da paz e da guerra em termos passíveis de serem descritos
com base em uma escala cujos dois extremos seriam os do realismo e o de
um idealismo internacionalista. Breves referências a Hobbes e Kant –
representantes axiomáticos desses extremos - podem ajudar a esquematizar
as marchas e contramarchas da evolução da noção de segurança coletiva.
Na Prússia do século XVIII, Emanuel Kant defendera a tese de que a
paz universal pode ser garantida por um sistema jurídico apoiado por todos
os Estados. Retomando a proposta do Abbé Saint-Pierre, que ao fim da
guerra de sucessão espanhola concebera uma organização de príncipes para
assegurar a “paz perpétua”, Kant imaginou uma aliança subscrita por todos
12
A SEGURANÇA COLETIVA ANTES DA GUERRA DO GOLFO
os povos, uma verdadeira liga de nações destinada a salvaguardar a liberdade
dos aliados e acabar com todas as guerras.3 Se a guerra não podia ser
simplesmente abolida, os perigos inerentes à beligerância deviam levar os
estados a se associar na busca da paz, da mesma forma que a luta de todos
contra todos havia instado o homem a se organizar em sociedades civis.
Se Kant é invocado como fonte de inspiração ao processo de
estabelecimento de mecanismos multilaterais para a promoção da paz, que
começou com as Conferências da Haia de 1899 e 1907 e desembocou na
constituição de organismos internacionais após cada um dos grandes conflitos
do século XX, a atitude inversa, de ceticismo ante a cooperação internacional
e atribuição de ênfase ao papel exercido pelo poder - sobretudo o militar nas relações entre Estados, costuma ser associada ao nome de Thomas
Hobbes. Contemporâneo da Guerra de Trinta Anos, Hobbes descreve o
estado natural do ser humano como de permanente luta de todos contra
todos para manter sua liberdade e, se possível, aumentar suas posses (“nasty,
brutish, and short” é o conhecido epíteto de Hobbes para descrever essa
existência primitiva). A alternativa possível é a vida em comunidade liderada
por um soberano – o “Leviathan” – que, por ser humano também, tenderá a
exercer autoridade ilimitada, provavelmente despótica, sobre os demais. Pouco
é dito no “Leviathan” sobre as relações entre comunidades, mas Bertrand
Russell comenta que Hobbes é incapaz de sugerir outra forma de relação
entre os Estados que a guerra e a conquista, “with occasional interludes”.4
Adotada a perspectiva de um “quarto pós-guerra”, sugerida por Rubens
Ricúpero para situar o pós-Guerra Fria5, poderíamos identificar três ondas
sucessivas – após Westfália – de busca da hegemonia pela coerção, seguidas
de tentativas de preservação da estabilidade e redução dos níveis de violência
pela articulação de mecanismos internacionais de cooperação. A ideia de
império, ressuscitada por Napoleão, propiciaria o surgimento de uma
diplomacia limitadora de ambições hegemônicas, a partir do Congresso de
Viena, pela substituição do exercício unilateral do puro poder nacional, do
início da era moderna, pela concertação coletiva. As potências europeias
formariam, no século XIX, um sistema, fundamentado em um autoproclamado
direito de intervenção, para proteger o status quo, que impediu a eclosão de
uma guerra continental por quase cem anos. A relativa homogeneidade dos
governos monárquicos interessados na preservação do sistema permitiu que
esse “Concerto europeu” funcionasse como um instrumento eficaz de
preservação da estabilidade, que não chegaria, entretanto, a constituir exemplo
13
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
de segurança coletiva - segundo análises como as de Flynn e Shcheffer.6
Poder-se-ia considerar, assim, que a segurança coletiva só viria a ser
experimentada após as duas tentativas de dominação europeia capitaneadas
por Berlim, neste século, quando as coalizões vitoriosas se dispuseram a
examinar novos métodos de administração da segurança internacional por
instituições multilaterais de expressão universal.
A propósito, a proliferação de referências à Paz de Westfália nos debates
sobre o pós-Guerra Fria parece decorrer, em boa parte, do sentimento de
que estaria em formação uma nova era, no que se refere ao papel
desempenhado pelo conceito de soberania na ordem mundial, seja no plano
estratégico/militar, econômico ou dos valores.7 Entretanto, superadas as
análises mais fantasiosas do chamado primeiro pós-Guerra Fria – o que vai
da queda do muro de Berlim à Guerra do Golfo8 – as reavaliações do conceito
de soberania motivadas pelo processo de crescente interdependência e
globalização do mundo contemporâneo, ausente a rivalidade ideológica lesteoeste, parecem apontar mais para sua erosão e mutação do que propriamente
para sua extinção. Samuel Huntington, por outro lado, sublinha o significado
da Paz de Westfália como penúltimo divisor de águas do ponto de vista da
evolução histórica dos conflitos (o último dos quais seria o do “clash of
civilizations” do mundo em gestação prenunciado pela crise da Bósnia).9
Cicely Wedgwood observa que a Guerra dos Trinta Anos representou uma
transição entre os conflitos religiosos do passado e os conflitos do futuro,10
que Huntington subdividirá em três fases (a primeira, até a revolução francesa,
opondo príncipes, monarcas absolutos e constitucionais, a segunda, até a
guerra civil espanhola, entre nações, e a terceira até a Bósnia, ideológica)11.
Os partidários da segurança coletiva seriam derrotados no entre guerras.
Nos EUA, o isolacionismo da maioria da Comissão de Negócios Estrangeiros
do Senado se recusou a ratificar o idealismo presidencial, em uma
manifestação da dialética realista/internacionalista que hoje, ainda, opõe os
congressistas responsáveis pelos atrasos no pagamento da contribuição norteamericana ao orçamento das Nações Unidas aos defensores do
multilateralismo da ONU. A ausência dos EUA da Liga das Nações impediria,
de saída, que a fórmula de segurança coletiva de Wilson se concretizasse em
acordo com o alcance universal de sua concepção. Os documentos do Senado
norte-americano denotam, em particular, que a obrigação de garantir a
integridade territorial e independência de todos os membros da Liga foi
considerada inaceitável e em contradição com a liberdade soberana dos
14
A SEGURANÇA COLETIVA ANTES DA GUERRA DO GOLFO
EUA.12 Tampouco a prerrogativa de aplicação de embargo aos infratores do
Pacto, entusiasticamente defendida por Wilson, recebeu acolhida favorável.
Figura, ademais, entre os motivos para a rejeição do Pacto o de que ele não
assegurava aos EUA o mesmo número de votos que ao Império Britânico –
que contava com o seu próprio e mais os dos domínios e colônias (Canadá,
Austrália, África do Sul, Nova Zelândia e Índia), reflexo da importância das
questões de procedimento para a viabilização de mecanismos coletivos de
preservação da segurança.
Dificuldades relacionadas ao equacionamento da variável hemisférica no
projeto de organização mundial merecem referência mais detida, por seu
papel central no processo de ratificação do Pacto. Wilson introduzira no
Pacto menção explícita à doutrina Monroe, não só por imaginar que estaria
contribuindo para sua aceitação interna, como por acreditar ele próprio que
os EUA deviam continuar a proteger o Hemisfério Americano de interferência
estrangeira, apesar de a filosofia da Liga não permitir, a rigor, o
reconhecimento de esferas de influência. Essa duplicidade de propósitos é
responsável por análises como a de Gaddis Smith em “The Last Years of the
Monroe Doctrine”, que reduzem o idealismo wilsoniano a um “hypocritical
cloak for traditional selfish purpose”.13 Como afirma Gaddis Smith, a
doutrina Monroe estava longe de ser um “entendimento regional”, como
pretendia o Artigo 21 do Pacto, tratando-se de uma declaração unilateral do
Governo norte-americano, invocada por sucessivas administrações
(especialmente a de Theodore Roosevelt) como justificativa para intervenções
na América Latina. Deixando de lado sua legitimidade no plano interamericano,
era inegável que a coerência da doutrina Monroe ficava comprometida a
partir do momento em que os EUA admitiam interferir em assuntos extrahemisféricos.
A verdade é que, em 1920, a maioria da opinião pública norte-americana
e do Congresso dos EUA preferiam a doutrina Monroe ao universalismo da
Liga. Alguns senadores condicionaram sua aceitação do Pacto à adoção de
reserva segundo a qual “The United States will not submit to arbitration
or inquiry by the Assembly or the Council of the League of Nations any
questions which in the judgment of the United States depend upon or
relate to its long-established policy, commonly known as the Monroe
doctrine; said doctrine is to be interpreted by the United States alone
and is hereby declared to be wholly outside the jurisdiction of said League
of Nations”.14 Entretanto, nem essa proposta, que Wilson considerou
15
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
inaceitável, seria capaz de arregimentar os votos necessários para a ratificação
do Pacto.
Os debates sobre a adesão norte-americana à Corte Permanente de
Justiça, enfrentariam resistência semelhante no Senado. O Pacto Briand-Kellog
de 1928, que condenava a guerra como um instrumento de política nacional
e promovia a solução pacífica de controvérsias, iniciativa conjunta dos EUA
e da França, só seria aceito pela Comissão de Relações Exteriores do Senado
no entendimento de que se preservava o direito à autodefesa, e,
especificamente, a doutrina Monroe como parte integrante da política nacional
de defesa e segurança. A não participação dos EUA na Liga das Nações,
frustrações crescentes com sua inoperância, as agressões japonesas contra
seus vizinhos na Ásia, a ameaça do nazismo/fascismo contribuíram para que,
no âmbito interamericano, emergisse uma aspiração por compromissos de
apoio recíproco na esfera da segurança.15
A possível contradição entre segurança coletiva e os chamados
“entendimentos regionais” do Artigo 21 do Pacto da Liga das Nações não
escapou ao ex-Secretário- Geral Boutros-Ghali, que, em conferência
pronunciada na Universidade de Upsala em 1968, mencionou a inexistência
de um mecanismo de integração de acordos regionais na lógica da Liga como
um dos elementos que a tornariam ineficaz e inadaptada à conjuntura
internacional da época, e abriria caminho para a formação de uma rede de
alianças e contra-alianças no período do entre guerras.16 O problema da
coexistência da segurança coletiva postulada em termos universais com
acordos de segurança territorialmente circunscritos permanece relevante até
hoje e se situa no cerne das diferentes interpretações dadas ao termo
“segurança coletiva”. Formulador moderno do realismo, Hans Morgenthau
definiu segurança coletiva de um ponto de vista não universal em “Politics
among Nations”, como um princípio gerador de uma obrigação moral e jurídica,
que transforma um ataque, por qualquer país, a um membro de uma aliança
em um ataque a todos seus membros.17
Henry Kissinger, contudo, insiste com particular clareza na diferença entre
alianças e segurança coletiva: “(...) alliances in which America participated
(such as NATO) were generally described as instruments of collective
security. This is not, however, how the term was originally conceived, for
in their essence, the concepts of collective security and of alliances are
diametrically opposed. Traditional alliances were directed against specific
threats and defined precise obligations for specific groups of countries
16
A SEGURANÇA COLETIVA ANTES DA GUERRA DO GOLFO
linked by shared national interests or mutual security concerns. Collective
security defines no particular threat, guarantees no individual nation, and
discriminates against none. It is theoretically designed to resist any threat
to the peace, by whomever might pose it and against whomever it might
be directed. Alliances always presume a specific potential adversary;
collective security defends international law in the abstract, which it seeks
to sustain in much the same way that a judicial system upholds a domestic
criminal code. In an alliance the casus belli is an attack on the interests of
the security of its members. The casus belli of collective security is the
violation of the principle of ‘peaceful settlement of disputes’ in which all
peoples of the world are assumed to have a common interest. Therefore,
force has to be assembled on a case by case basis from a shifting group of
nations with a mutual interest in ‘peacekeeping’ ”.18
O Dicionário de Ciência Política também define a expressão em termos
essencialmente globais, como a garantia da integridade territorial e da
independência de cada Estado por todos os Estados, com base em um acordo
prévio sobre o status a ser defendido, aceitação dos riscos envolvidos nesse
esforço e poder suficiente para lidar com qualquer combinação de Estados
que venham a desafiar o sistema.19 Por outro lado, se as definições de
segurança nacional em termos estritamente militares pareceriam hoje
demasiado estreitas, as redefinições de segurança coletiva como um conceito
predominantemente econômico ou ambiental não se impuseram
suficientemente para que o termo tenha perdido sua conotação
primordialmente estratégico/militar. Lincoln Bloomfield sugere uma definição
contemporânea que procura captar algo da ambiguidade do conceito no que
tange à universalidade, como “advanced commitment by the community
of nations, preferably as a whole, to enforce the UN’s strictures against
aggression and genocide by force, if necessary”.20 Valeria recordar que o
significado amplo do adjetivo “coletiva” acoplado à visão wilsoniana da
segurança internacional que inspiraria tanto a criação da Liga como da ONU,
não chegara a englobar, pelo menos em uma primeira etapa, os
responsabilizados pela I e II Guerra Mundiais – como atesta, por exemplo, a
presença das referências às “nações inimigas” que subsistem até hoje na Carta
da ONU. Inis Claude, em “Swords into Plowshares” apresenta a ideia de
segurança coletiva simplesmente como um substituto para a ordem
internacional do equilíbrio de poder.21 Ruth Russell constata, enfim, a
inexistência de acordo sobre o sentido exato de segurança coletiva.22
17
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Implícita ou mesmo explícita nas definições geograficamente estreitas ou
extensas da expressão está a importância da capacidade de coerção militar e
não militar (mediante sanções) de um sistema de segurança coletiva para que
seus fundamentos morais e jurídicos possam prevalecer. É nesse aspecto que
reside uma das diferenças fundamentais entre os paradigmas de segurança
coletiva da Liga das Nações e das Nações Unidas, a outra sendo a dos
sistemas de votação, por consenso no Conselho da Liga, e, por uma maioria
dos votos – inclusive o voto afirmativo dos cinco membros permanentes – no
Conselho de Segurança das Nações Unidas. Traço comum a ambos os
sistemas, em contrapartida, é a inaplicabilidade do princípio da segurança
coletiva a uma agressão cometida por potência dominante.
O sistema da Liga previa a possibilidade de autorização de recurso à
força militar coletiva, caso falhassem as sanções políticas comerciais e
financeiras do Artigo 16. O Conselho podia recomendar que as partes
contratantes contribuíssem com forças terrestres, navais ou aéreas para o
combate à agressão, mas era deixada aos Estados, individualmente, a decisão
sobre o uso da força. Dada a latitude interpretativa inerente aos dispositivos
acionadores da coerção, e em vista da exigência de tomada de decisões por
consenso, a Liga acabou se revelando inoperante, com raras exceções, a
principal delas havendo sido a das sanções aplicadas de 1935 a 1936 por 52
dos 59 Estados membros da SDN contra a Itália, após a agressão de Mussolini
contra a Etiópia. A China foi autorizada, pela Assembleia, a sancionar o Japão
em represália à ocupação da Manchúria. Não se esboçou, contudo, qualquer
iniciativa de ação militar conjunta sob o guarda-chuva da Liga.
(B) A Segurança Coletiva na Criação das Nações Unidas
A malfadada experiência da Liga das Nações e o nível traumático de
violência e destruição produzido pela II Guerra Mundial foram decisivos para
que, em Dumbarton Oaks, se procurasse elaborar um sistema internacional
mais eficiente no desestímulo e combate a atos de agressão. Um mês após a
ocupação nazista de Praga, em abril de 1939, Franklin Roosevelt invocaria –
por primeira vez desde Wilson – a existência de um vínculo entre a agressão
a países menores e a segurança dos EUA. No mesmo mês ele declararia
perante a União Pan-Americana que os interesses de segurança norteamericanos não cabiam mais nos limites da doutrina Monroe. Assim como
Wilson, Roosevelt passara a contemplar um engajamento mundial permanente
18
A SEGURANÇA COLETIVA ANTES DA GUERRA DO GOLFO
por parte dos EUA, mas sua concepção da estabilidade internacional garantida
pelos chamados “quatro policiais” (EUA, Reino Unido, União Soviética e
China), não exigia, em sua versão original, a criação de um organismo mundial.
Em seu discurso sobre as quatro liberdades, de janeiro de 1941, Roosevelt
se referiria à necessidade de um sistema permanente e amplo de segurança
geral. Na verdade, ele encarregara, desde o início da guerra, uma equipe sob
a supervisão de seu Secretário de Estado Cordell Hull – comandada pelo
assessor econômico de origem russa Leo Pasvolsky – de planejar a paz nos
campos da segurança, limitação de armamentos, relações econômicas e outras
formas de cooperação internacional. Foi necessário o ataque japonês contra
Pearl Harbor, em dezembro de 1941, no entanto, para que começasse a
emergir em Washington um consenso sobre a transformação da aliança contra
o Eixo em um agrupamento permanente de “Nações Unidas”.1
O internacionalismo de Cordell Hull e Leo Pasvolsky militou, sem dúvida,
a favor da criação de uma nova organização. Em Londres, Churchill acabou
abandonando sua visão de um sistema de arranjos regionais comunicáveis
entre si, menos por influência do “Foreign Office” sob Anthony Eden do que
por haver chegado à conclusão de que era a única forma de garantir a
participação norte-americana na defesa do ocidente europeu. A maior
preocupação do Primeiro-Ministro britânico, desde suas reflexões iniciais
sobre o pós-guerra, fora a de cercear a ação soviética na Europa.
Diferentemente de Roosevelt, por outro lado, Churchill queria garantir um
lugar proeminente para a França nos futuros acordos, e não estava convencido
da relevância que uma China enfraquecida, e em guerra civil, podia ter para a
estabilidade internacional. Ainda assim, procuraria, sem êxito, conciliar a ideia
dos quatro policiais com a da criação de um Conselho da Europa, objeto
principal de seu interesse. O Gabinete de Guerra britânico se inquietava,
particularmente, ante a perspectiva de que uma nova organização viesse a
acelerar o desmantelamento de seu império colonial, interpretação que
Roosevelt não se preocuparia em desfazer.
Stalin se manifestara desde a Conferência de Teerã em termos semelhantes
aos de Churchill, defendendo um Conselho europeu para assuntos de
segurança, dirigido conjuntamente por Washington, Londres, Moscou e um
quarto integrante. Entretanto, com o afastamento por Cordell Hull do
Subsecretário de Estado Sumner Welles, principal simpatizante do regionalismo
no Departamento de Estado, Roosevelt, Churchill e Stalin foram convergindo
em torno da ideia de um organismo aberto à participação geral, no qual um
19
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
diretório de potências deteria o controle sobre as decisões de segurança
coletiva. A liderança de Roosevelt, que fora instrumental para preservar a
aliança contra o nazismo, passaria a ser decisiva para o planejamento e a
execução da nova arquitetura internacional no plano da paz e segurança.
O tema da segurança coletiva dominou os debates entre Stettinius,
Cadogan e Gromyko, chefes das delegações dos EUA, Reino Unido e URSS
em Dumbarton Oaks. Esse trio negociou o texto básico, mostrado em seguida
aos chineses, que se transformaria no projeto de Carta da ONU examinado
pelos participantes da Conferência de São Francisco em abril de 1945. O
“possible plan for a General International Organization”, se converteu
na base principal para os trabalhos. Estabelecida a concepção multilateral
universal do organismo – do qual estariam inicialmente excluídas as potências
inimigas – os pontos que maior controvérsia geraram foram o da composição
do órgão responsável pelas questões de segurança, o “Executive Council” na
sua versão preliminar, e o da opção entre uma força internacional permanente
ou forças ad hoc a serem convocadas em caso de necessidade.2
Aos “quatro policiais” originais foi acrescentada a França, por insistência
britânica, que se tornaria o quinto membro permanente dotado de poder de
veto, de um Conselho de Segurança no qual se sentariam seis membros não
permanentes por períodos de dois anos, sem a reeleição imediata permitida
pelo Pacto da Liga. A União Soviética se opusera inicialmente à inclusão da
França entre os membros permanentes considerando que, assim como a China,
ela contribuíra muito pouco para o esforço de guerra. Roosevelt, que, como
se sabe, desejava ter o Brasil entre os membros permanentes, não concordou
imediatamente com a atribuição desse status à França, mas acabou aceitando,
assim como os soviéticos, que as propostas emanadas da Conferência
reservassem à França um lugar permanente no Conselho “in due course”.
Ante as objeções britânicas e soviéticas, Roosevelt não insistiu na participação
brasileira como membro permanente naquele momento, mas, segundo
anotações de Stettinius em seu diário, não desistira de “provide a place for
them eventually on the Council”.3 Apesar da intenção do Presidente e do
Secretário de Estado de reservar um assento permanente para o Brasil no
futuro órgão, os demais membros da delegação norte-americana e o próprio
Stettinius tinham dúvidas sobre o assunto e terminariam por convencer seus
superiores a deixá-lo de lado.
Os participantes em Dumbarton Oaks estavam de acordo, desde o início,
em dotar o novo organismo de ferramentas coercitivas, a capacidade de
20
A SEGURANÇA COLETIVA ANTES DA GUERRA DO GOLFO
“enforcement”, que viria a se converter no núcleo do Capítulo VII da Carta.
Os soviéticos foram os únicos a defender uma concepção impositiva da
solução pacífica de controvérsias, que, caso adotada, obrigaria eventuais
partes em uma controvérsia a aceitar medidas ditadas pelo Conselho sobre
quaisquer diferendos (questões de fronteira, por exemplo). Gromyko acabou
acatando, entretanto, a abordagem não coercitiva dos dispositivos que viriam
a figurar no Capítulo VI. A força só seria utilizada em última instância e em
casos de “agressão” – expressão defendida pela URSS – ou “ruptura da
paz” – como preferiam os britânicos, para os quais a palavra “agressão”
ficara associada negativamente à experiência da Liga. O entendimento entre
soviéticos e britânicos se daria mediante a retenção de ambos os termos, aos
quais se somaria o das “ameaças à paz”, o terceiro elemento desencadeador
de medidas coercitivas. O Conselho de Segurança seria chamado, pelo Artigo
39 da Carta da ONU a julgar se uma determinada situação internacional
poderia ser enquadrada sob uma dessas três circunstâncias, para poder
sancionar ou coagir militarmente um país sob o Capítulo VII. Na ausência de
definições dessas expressões na Carta, ou mesmo em seus “travaux
préparatoires”, entretanto, o julgamento do Conselho se tornaria menos
jurídico do que político, não havendo, na opinião de Cot e Pellet, um fio
condutor que permita uma classificação coerente das diversas situações
enumeráveis sob o Artigo 39.4 O Capítulo VI se aplicaria ao tipo de
“controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança
internacionais”, nos termos do Artigo 33 da Carta. Mas a falta de clareza na
distinção entre situações de ameaça à paz e aquelas que podem vir a se
transformar em ameaça à paz contribuiria para que a fronteira entre os
Capítulos VI e VII se revelasse, no futuro, algo porosa.5
Em que pese à disposição inicialmente favorável dos três em relação à
ideia de uma força policial internacional, eles já haviam desistido deste
paradigma quando chegaram a Dumbarton Oaks. Os norte-americanos
passaram a ver riscos na possibilidade de que tal força se convertesse em um
aparato superestatal capaz de se tornar ele próprio uma ameaça à paz (sem
falar na sua provável rejeição pelo legislativo); os soviéticos começaram a
considerar a ideia pouco prática (temendo talvez por sua esfera de influência
na Europa oriental em fase de consolidação), e Churchill, nunca chegara a ter
entusiasmo pela transformação da aliança militar do tempo de guerra em um
exército permanente. Não obstante, a ideia de criação de uma força aérea
conjunta das Nações Unidas dominaria a agenda do subgrupo encarregado
21
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
de assuntos militares, e só seria descartada por soviéticos e britânicos – para
alívio de Stettinius – após longos debates.
A fórmula que se revelou aceitável para todos foi a de forças aéreas,
marítimas e terrestres em estado de alerta, acionáveis pelo Conselho de
Segurança, com base em acordos específicos concluídos entre os Estados
membros e a Organização. Por sugestão britânica, uma Comissão de EstadoMaior, inspirada no comando das forças aliadas na II Guerra Mundial,
assumiria o controle militar de operações que viessem a ser autorizadas no
futuro. Os soviéticos favoreciam a participação de todos os membros do
Conselho de Segurança na Comissão de Estado-Maior, mas não objetaram
à proposta britânica de limitá-la aos cinco membros permanentes.
Segundo calcula Gromyko em suas memórias, Dumbarton Oaks foi
responsável por 90 por cento da versão definitiva da Carta da ONU.6 Em
Yalta, Churchill, Roosevelt e Stalin se entenderiam sobre a questão do veto,
descartando a proposta inicial anglo-americana, segundo a qual o voto de
um único membro permanente em desacordo com os demais não seria
obstáculo à tomada de decisões pelo Conselho de Segurança, opção
inaceitável para a URSS por razões óbvias. Prevaleceu a regra da unanimidade
dos membros permanentes para as decisões não processuais, havendo ficado
acordado em São Francisco que questões de procedimento seriam aquelas
assim consideradas pela unanimidade dos P-5.
Não tardaram a aparecer as manifestações de contrariedade por parte
daqueles que haviam sido excluídos do processo de Dumbarton Oaks. As
frustrações da América Latina, em particular, levariam à organização da
Conferência de Chapultepec, onde se forjariam novos compromissos de
segurança regional, no entendimento de que eles se harmonizariam com os
princípios e objetivos da Organização Internacional a ser criada, e na
expectativa de aperfeiçoamento subsequente de um esquema Hemisférico
mais formal - o que viria a se concretizar, em 1947, com o Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca, TIAR. A Ata de Chapultepec
estabelecia que um ataque a qualquer Estado era equiparável a um ataque
contra todos os Estados signatários da Declaração, e que, em caso de
agressão, tais Estados manteriam consultas para examinar as medidas a serem
adotadas.
Em decorrência de Chapultepec, reacendeu-se em Washington a
controvérsia provocada pelas referências à Doutrina Monroe no Pacto da
Liga das Nações. Montou-se um “lobby” liderado pelo futuro Secretário de
22
A SEGURANÇA COLETIVA ANTES DA GUERRA DO GOLFO
Estado John Foster Dulles e pelo Secretário da Guerra e ex-Secretário de
Estado, Henry Stimson, decidido a deixar claro na Carta da ONU que
potências extra-regionais não teriam direito de vetar iniciativas dos EUA nas
Américas. Stimson faria questão de lembrar que “even the League of Nations
accepted the Monroe doctrine and left it untouched” e prometer aos
internacionalistas do Departamento de Estado que “if this Administration
consents to an overruling of the Doctrine, they are in for trouble”.7 Cordell
Hull e Pasvolsky, por sua vez, temendo que o estabelecimento de um regime
especial para o Hemisfério Ocidental enfraquecesse a autoridade futura do
Conselho de Segurança, passaram a trabalhar para evitar que o projeto de
Dumbarton Oaks fosse reaberto em São Francisco.
Anthony Eden pôs fim à controvérsia, opondo-se às propostas de
emenda dos defensores da especificidade americana (“I did not come here
for the purpose of signing a regional agreement”).8 A delegação norteamericana, que por precaução de Roosevelt, incluía parlamentares, entre os
quais o influente Senador republicano Arthur Vandenberg, se conformou com
o reconhecimento da autodefesa do Artigo 51 e com as alusões a acordos e
entidades regionais dos Artigos 52, 53 (“nada na presente Carta impede a
existência de acordos ou de entidades regionais, destinadas a tratar dos
assuntos relativos à manutenção da paz e da segurança internacionais que
forem suscetíveis de uma ação regional, desde que tais acordos ou entidades
regionais e suas atividades sejam compatíveis com os Propósitos e Princípios
das Nações Unidas”) e 54, e não insistiu nas referências a Monroe. Na
interpretação de Vandenberg o sentido essencial de sua doutrina fora
preservado, na medida em que os EUA disporiam de direito de veto sobre
atividade extrema no hemisfério.
O Brasil considerou “satisfatório” o texto de Dumbarton Oaks, em sua
reação transmitida em novembro de 1944 ao Departamento de Estado.9 Na
Cidade do México, a Delegação brasileira participaria da formulação dos
sete elementos orientadores da atuação em São Francisco dos signatários da
Ata de Chapultepec (universidade como objetivo último da organização
internacional; necessidade de ampliação da definição dos objetivos da
organização; necessidade de definição dos poderes da Assembleia Geral;
ampliação da jurisdição e autoridade da nova Corte Internacional de Justiça;
necessidade de uma agência para a promoção da cooperação intelectual;
solução de conflitos interamericanos por seus próprios métodos e sistemas em harmonia com os da organização mundial; representação adequada da
23
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
América Latina no Conselho de Segurança). Opúnhamo-nos à concessão de
votos à Ucrânia e Bielorrússia, mas, em troca do levantamento das objeções
soviéticas à presença da Argentina em São Francisco, os países latinoamericanos como um bloco acederam ao quid pro quo proposto por Stettinius
(então promovido a Secretário de Estado) de admitir a participação das duas
repúblicas soviéticas contra luz verde de Moscou em relação a Buenos Aires.
Embora contrários por princípio ao veto, decidimos que “era necessário confiar
nas grandes potências” como afirmaria o Embaixador Leão Velloso em seu
discurso na I Sessão Ordinária da Assembleia Geral.10 Os esforços brasileiros
seriam no sentido de atenuar a rigidez do veto com a possibilidade de revisão
da Carta. A constatação de que as grandes potências não se mostrariam
dispostas a permitir a reabertura da discussão em torno do número de lugares
permanentes no Conselho de Segurança levaria Leão Velloso a abster-se de
levantar o assunto em São Francisco e registrar em carta ao Secretário de
Estado dos EUA “a decepção que poderia causar à opinião pública a exclusão
do Brasil”.11 A esse respeito Gaddis Smith observa que “[President] Vargas
(...) wanted a permanent seat for Brazil on the Security Council, claimed
that President Roosevelt had promised it, and was angry at the American
refusal to support his claim”.12
(C) O Capítulo VII da Carta das Nações Unidas; Sistemas de
Defesa Determinados pela Bipolaridade; o “Capítulo VI e 1/2”;
Medidas Adotadas sob o Capítulo VII até a Guerra do Golfo.
A entrada em vigor da Carta da ONU em 24 de outubro de 1945 abriu
um novo capítulo na História da segurança coletiva. Um instrumento
internacional destinado a aplicar-se à comunidade das nações como um todo
regulamentava com um grau de especificidade sem precedentes os termos e
condições para a autorização de ações coercitivas para a preservação da
paz. O fulcro dessa regulamentação era o Capítulo VII.
F. T. Liu retém os elementos básicos do sistema das Nações Unidas
para a preservação da paz e segurança internacional no seguinte parágrafo:
“The original system devised by the United Nations to ensure the
maintenance of international peace and security is outlined in Chapters
VI and VII of the Charter. Briefly it is meant to function in the following
manner. When a dispute arises between two governments, the parties
concerned are obliged, under Chapter VI, to seek a solution by peaceful
24
A SEGURANÇA COLETIVA ANTES DA GUERRA DO GOLFO
means, mainly by negotiation, conciliation, mediation and arbitration.
If the peaceful means should prove insufficient and the dispute escalates
into armed conflict, then Chapter VII comes into play. That Chapter,
which constitutes the core of the UN collective security system, stipulates
that in case of any threat to the peace, breach of the peace or act of
aggression, the Security Council may take enforcement measures to
restore peace, first non-military measures such as arms embargoes and
economic sanctions, and, in the last resort, the use of force.”1 Em linguagem
onusiana, o Capítulo VII chega a ser sinônimo de segurança coletiva.
O Capítulo VII da Carta da ONU atribui ao Conselho de Segurança o
monopólio sobre a autorização da coerção militar e não militar, excetuado o
direito individual ou coletivo à legítima defesa previsto pelo Artigo 51. As
decisões inspiradas nos dispositivos do Capítulo VII se distinguem das demais
decisões do CSNU essencialmente por não requererem o consentimento da
parte às quais elas se aplicam. As possibilidades de ação oferecidas pelo
Capítulo VII podem ser consideradas como manifestações de dois enfoques
distintos para restabelecer a paz: o do isolamento e o da intervenção. O
primeiro seria o das sanções, previstas pelo Artigo 41, que podem assumir
feições variadas, indo do isolamento diplomático, passando pelos embargos
de armas até chegar às sanções abrangentes, inclusive econômicas e
comerciais. O segundo seria o da ação coercitiva armada contemplada pelo
Artigo 42.2
Tanto a lógica do isolamento como a da intervenção conflitariam, em
princípio, com os preceitos de não intervenção nos assuntos internos dos
Estados consagrados no Artigo 2.7 da Carta e da igualdade soberana de
todos os membros da Organização do Artigo 2.1. O próprio Artigo 2.7,
entretanto, esclarece que o princípio da não intervenção “não prejudicará a
aplicação de medidas coercitivas sob o Capítulo VII”. Ao determinar que
uma situação trazida a sua atenção ameaça a paz internacional, o CSNU
tem, portanto, o poder de adotar decisões que desconsideram a soberania
da parte responsabilizada por tal ameaça e que, nos termos do Artigo 25, se
tornam ipso facto mandatórias para os demais Estados membros.
Os instrumentos de coerção a disposição do CSNU fazem parte de um
espectro contínuo que comporta desde medidas brandas de isolamento
diplomático até intervenções militares de grande escala. O paradigma original
de segurança coletiva formulado em Dumbarton Oaks previa, como visto
anteriormente, um sistema de arregimentação de forças armadas dos Estados
25
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
membros, bem como instituições e procedimentos para acioná-las em casos
graves de ameaça à paz, ruptura da paz ou atos de agressão. Em contraste
com o Pacto da Liga das Nações, a Carta não somente permitia que o CSNU
contemplasse o uso da força e facultava à ONU o direito de impor a paz
militarmente, como determinava nos Artigos 43, 45 e 47 do Capítulo VII a
adoção de preparativos para a convocação de exército internacional sob o
comando da ONU, em caso de necessidade.
A rivalidade entre Washington e Moscou, que erodiu progressivamente
a colaboração estratégica forjada durante a Guerra para o combate à Alemanha
nazista, interveio no momento em que se iniciavam as negociações e se definiam
planos para os acordos encomendados pelo Artigo 43. Em meados de 1947
já pareciam irreconciliáveis os enfoques norte-americano e soviético. A
discórdia na Comissão de Estado-Maior subordinada ao CSNU (o “Military
Staff Committee” do Artigo 47) se centrava na participação relativa de cada
um dos cinco membros permanentes na força internacional e em seu
dimensionamento global também. Os EUA queriam uma força composta por
duzentos mil soldados (vinte divisões), 84 destroyers, 90 submarinos e 3500
aviões de combate. Os números defendidos pelos soviéticos situavam-se em
patamar consideravelmente inferior: 12 divisões de infantaria, 24 destroyers,
12 submarinos, 900 aviões.3
Inquieta ante a perspectiva de uma preponderância norte-americana nas
eventuais intervenções militares que viessem a ser autorizadas pelo CSNU, a
União Soviética exigia - interpretando a Carta segundo um suposto “princípio
da igualdade” - que os P-5 contribuíssem com forças e material de um mesmo
nível quantitativo e qualitativo. Essa interpretação tinha implicações
particularmente decisivas para o componente aéreo (ao qual a Carta atribui
ênfase especial em situações de emergência, segundo os termos do Artigo 45),
já que as limitações da China nesse setor obrigariam os demais membros
permanentes a restringir suas contribuições. Esse, aliás, parecia ser o objetivo
da União Soviética, que, havendo consolidado sua influência no Leste da Europa,
não desejava estimular um poderio aeronáutico potencialmente desestabilizador
para seus interesses geopolíticos sob o esquema de segurança coletiva da ONU.
A tentativa de organização de um braço militar acionável pela ONU foi
abandonada em agosto de 1948. O assunto só voltaria a ser considerado 44
anos mais tarde, à luz do controvertido relatório do Secretário-Geral BoutrosGhali, “Uma Agenda para a Paz”, divulgado em julho de 1992 em resposta a
solicitação da cúpula de janeiro do mesmo ano.4
26
A SEGURANÇA COLETIVA ANTES DA GUERRA DO GOLFO
Durante esse hiato de tempo surgiram e se desenvolveram sistemas não
universais de segurança em torno das duas superpotências que dominariam o
cenário internacional até a extinção da União Soviética, os mais importantes
dos quais foram os criados pelo Tratado do Atlântico Norte de 4 de abril de
1949 e pelo Pacto de Varsóvia de 14 de maio de 1955. Em face da ONU, a
base jurídica invocada para justificar o estabelecimento da Organização do
Tratado do Atlântico Norte – verdadeira aliança militar em princípio
incompatível com um conceito de segurança coletiva global – foi o Artigo 51
da Carta, que admite medidas de defesa individual ou conjunta, desde que
preservadas as prerrogativas do CSNU na manutenção ou restauração da
paz.
O Tratado constitutivo da OTAN reconheceu explicitamente em seu Artigo
7 a responsabilidade primordial do CSNU pela preservação da paz e
segurança internacionais e deixou entreaberta, em seu Artigo 12, a possibilidade
de desenvolvimento de arranjos de segurança universais sob a Carta da ONU
após um lapso de dez anos de sua entrada em vigor. Entretanto, transcorridas
quase cinco décadas, e oficialmente desintegrado o Pacto de Varsóvia em 1o
de julho de 1991 (que, por sinal também prestava homenagem aos “propósitos
e princípios da Carta” em seus Artigos 1 e 4), a OTAN não parece evoluir no
sentido de uma autolimitação de sua capacidade militar em benefício de tais
arranjos de segurança universais. O que se constata são preparativos para a
ampliação de sua cobertura territorial, com a possível incorporação de novos
membros da antiga esfera de influência soviética (Polônia, Hungria e República
Tcheca seriam os primeiros) e uma redefinição de sua identidade, com a
assunção de funções de manutenção da paz que vão além dos objetivos de
defesa originais para os quais foi constituída. Richard Ullman frisa que a OTAN
foi criada não para o propósito de proporcionar segurança coletiva mas
“dissuasão”.5 Doug Bandow define o tipo de atuação da OTAN como uma
manifestação de “defesa coletiva”, que não pareceria impedir que queiram
transformá-la em uma “mini-ONU”,6 enquanto Edward Luck considera que
as tradições da OTAN não permitiriam, em princípio, que ela atuasse fora de
sua circunscrição.7 Essas citações denotam sobretudo a inexistência de um
consenso sobre o futuro da OTAN.
Interessante notar, por outro lado, que Boutros-Ghali, em estudo sobre
a OTAN publicado em 1950, assumiu a posição de que “le Pacte (de
l’Atlantique Nord’) n’est ni un accord, ni un organisme régional” no
sentido do Artigo 52 da Carta.8 Segundo sua análise, o Tratado do Atlântico
27
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Norte não explicita sua fundamentação jurídica no Capítulo VIII sobre Acordos
Internacionais, e nem poderia fazê-lo, uma vez que o Artigo 53 desse Capítulo
só contempla ação militar não autorizada previamente pelo Conselho de
Segurança quando dirigida contra um “estado inimigo” (os derrotados na II
Guerra Mundial), e a URSS sempre fora uma das “Nações Unidas”. Na
realidade, a fundamentação da OTAN no Capítulo VIII seria absurda, uma
vez que obrigaria seus integrantes a procurar obter autorização de um Conselho
de Segurança onde o alvo de seus planos militares dispunha de veto.
No âmbito Hemisférico, o Tratado Interamericano de Assistência
Recíproca (TIAR), assinado no Rio de Janeiro em 2 de setembro de 1947,
dera forma às recomendações de Chapultepec, em um ambiente de esfriamento
leste-oeste que transformou a cooperação em matéria de segurança e defesa
na região em mais uma frente de oposição ao comunismo soviético.9 O TIAR
representaria um elo em uma rede de tratados que incluiria os ANZUS,
SEATO, METO, CENTO e os acordos de defesa entre os EUA e o Japão,
as Filipinas e a Coreia do Sul respectivamente. Precursor da OTAN, o TIAR
inaugurou o recurso à fundamentação jurídica no Artigo 51 da Carta da ONU.
As Partes se comprometiam, ademais, a não recorrer à ameaça nem ao uso
da força, de qualquer forma incompatível com as disposições da Carta da
ONU, embora procurando resolver controvérsias entre si mediante os
processos vigentes no Sistema Interamericano, antes de referi-la à Assembleia
Geral ou ao Conselho de Segurança. Referência ao Artigo 54 do Capítulo
VIII no Artigo 5 do TIAR deixaria expressa a natureza ambígua do Tratado,
misto de acordo de autodefesa e entidade regional (o que seria evitado pela
OTAN).
A Carta da Organização dos Estados Americanos estabeleceria em seu
Capítulo VI sobre “segurança coletiva”, uma ponte com “as medidas e
processos” dos “tratados existentes sobre a matéria” e proclamaria a
competência da Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores
para auto convocar-se, sem prejuízo do disposto no TIAR. Mas, como
assinala o ex-Chanceler Guerreiro, a OEA não pode adotar medidas
coercitivas obrigatórias; elas são recomendadas e apenas dão cobertura à
ação de cada Estado membro, desqualificando-o como ato unilateral.10 A
intervenção na República Dominicana articulada pelos EUA em 1965 para
controlar a agitação política que se seguira à deposição de Juan Bosch –
acusado de permitir infiltração comunista no governo – exporia as contradições
inerentes ao regime interamericano então vigente.11 O Departamento de Estado
28
A SEGURANÇA COLETIVA ANTES DA GUERRA DO GOLFO
invocaria o Artigo 52 do Capítulo VIII para justificar a intervenção. A União
Soviética, entretanto, não deixaria de assinalar que uma intervenção como
aquela, supostamente situada no âmbito do Capítulo VIII que rege o
comportamento das entidades regionais, requeria autorização do Conselho
de Segurança, o que Moscou não tinha obviamente intenção de permitir que
acontecesse.12
Como se sabe, o Conselho de Segurança fica impedido de atuar quando
não existe consenso entre os cinco membros permanentes (Artigo 27.3).
Particularmente afetada pela divisão do mundo em dois blocos durante a
Guerra Fria ficaria a possibilidade de autorização pelo CSNU de medidas
coercitivas. Mesmo que o Conselho viesse a considerar a hipótese de ações
militares sob o Artigo 42, estava claro que elas não se conformariam ao
paradigma originalmente concebido, inclusive porque os requisitos
preparatórios para tal não haviam sido preenchidos.
Não obstante esses constrangimentos pode-se identificar alguns casos
de imposição de medidas coercitivas pelo CSNU durante a Guerra Fria: dois
casos de intervenção (Coreia e Congo) e dois de sanções (África do Sul e
Rodésia do Sul). O CSNU também procuraria impor a cessação de
hostilidades no Oriente Médio e no conflito Irã-Iraque por intermédio de
resoluções que se referiam ao Capítulo VII. Em outros casos, ainda, como
no das Malvinas em 1982, o cessar-fogo seria exigido sem alusão a dispositivo
específico do Capítulo VII, embora a referência da resolução 502 (1982) à
“ruptura da paz” a situasse naquele âmbito. Esses exemplos são ilustrativos
da capacidade de improvisação do CSNU, e de seu modus operandi, que
escapa a mecanismos independentes de controle e se autolegitima a cada
reinterpretação de seu próprio mandato com a criação de novos precedentes.
(Como declararia John Foster Dulles “The Security Council is not a body
that merely enforces agreed law. It is a law unto itself”).13
As resoluções que consideraram as situações na Coreia e no Congo
como ameaças à paz e segurança internacional emprestaram cobertura jurídica
multilateral ao emprego da força, com referências por vezes apenas indiretas
ao Capítulo VII. No caso coreano, o CSNU só foi capaz de chegar a um
acordo em virtude da ausência voluntária da URSS, em protesto à ocupação
por Taiwan do lugar que no entender soviético competia de direito à República
Popular da China. A resolução 83 de 27 de julho de 1950 (adotada por sete
votos favoráveis, um contrário – Iugoslávia – e com duas não participações –
Egito e Índia) se limitava a recomendar aos Estados membros que prestassem
29
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
a assistência necessária à República da Coreia para repelir a invasão nortecoreana. O emprego do verbo “recomendar” constituía alusão ao Artigo 39
– que, na escala de medidas progressivamente coercitivas previstas pelo
Capítulo VII, se situa antes das sanções mandatórias do Artigo 41, ou da
ação militar coletiva do Artigo 42. Pela resolução 84, adotada no mesmo
ano, o CSNU autorizava explicitamente a utilização da bandeira das Nações
Unidas pela força internacional de apoio à Coreia do Sul.
Diferentemente do que viria a ocorrer no Golfo, a responsabilidade pela
ação na Coreia não foi entregue a uma coalizão e sim a um único país, os
EUA (parágrafo operativo 3 da resolução 84), que forneceu mais da metade
dos contingentes armados e se reportava ao Conselho por intermédio do
Departamento de Estado em Washington. Weiss, Forsythe e Coate comentam
que o envolvimento da ONU na Coreia pode ser considerado um exercício
sui generis de operacionalização da segurança coletiva, que escapa a qualquer
classificação.14
O retorno da União Soviética ao Conselho, em agosto de 1950, impediria
a adoção de decisões subsequentes sobre a Coreia, e fez com que o bloco
ocidental tentasse ampliar a competência da Assembleia Geral (AGNU), para
contornar a paralisia do CSNU, com a iniciativa que se transformou na
resolução 377 (1950), denominada “Uniting for Peace”. A Carta confere
responsabilidade primordial ao CSNU para a preservação da paz e segurança,
mas atribui também à Assembleia Geral poderes de discussão, consideração
e recomendação (Artigos 10 e 11). A definição de sua competência no plano
de paz e segurança e seu relacionamento com o CSNU são sujeitos a
interpretações variáveis e, ainda hoje, geram controvérsia nos debates em
curso sobre a reforma da ONU.
O parágrafo essencial da “Uniting for peace” estipula que, se o CSNU
deixa de exercer suas responsabilidades com respeito a uma determinada
situação por falta de unanimidade entre os P-5, a AGNU considerará o assunto
e fará recomendações aos Estados membros para a adoção de medidas
coletivas, inclusive no que tange ao uso da força (resolução 377 - V - parte
I, parágrafo 3). O procedimento, que pode ser visto como uma alteração da
Carta sem recurso às cláusulas de emenda formal dos Artigos 108 e 109,
viabilizou a criação da Força de Emergência das Nações Unidas em Suez
(UNEF 1) em 1956 – neutralizando os vetos francês e o britânico no Conselho
– e seria invocado novamente durante a crise do Congo, quando Moscou
tentou substituir o comandante da Operação das Nações Unidas no Congo
30
A SEGURANÇA COLETIVA ANTES DA GUERRA DO GOLFO
(ONUC), cuja ação favorecera a tomada do poder pelo então Coronel
Mobutu.
A impossibilidade de estabelecimento de um sistema de “enforcement”
contribuiu indiretamente para o surgimento de esforços de manutenção da
paz por missões de observadores militares desarmados, forças de paz
levemente armadas ou uma combinação dos dois, com ou sem componentes
civis. As chamadas “operações de paz”, que hoje absorvem boa parte da
atenção do CSNU e recursos financeiros superiores aos do orçamento regular
da ONU, foram sendo concebidas de forma não sistemática com base em
parâmetros doutrinários destinados a assegurar seu caráter imparcial, tais
como a obtenção prévia do consentimento das partes e a admissão do uso
da força em último caso e em autodefesa, apenas.
A inexistência de dispositivo específico na Carta para fundamentar as
operações de paz levou Dag Hammarskjold a situá-las em um imaginário
“Capítulo VI e ½”. Apesar de seu caráter militar, essa modalidade de
intervenção havia sido concebida e aperfeiçoou-se como um instrumento não
coercitivo e não atentatório à soberania, características que excluiriam, em
princípio, seu aproveitamento para ações situadas no contexto da segurança
coletiva sob o Capítulo VII. Marrack Goulding, é o autor de uma definição
clássica do chamado “peacekeeping” como “United Nations field
operations in which international personnel, civilian and/or military, are
deployed with the consent of the parties and under United Nations
command to help control and resolve actual or potential international
conflicts or internal conflicts which have a clear international
dimension”.15
Entretanto, em 1961, no Congo, a ONUC ultrapassaria claramente o
marco conceitual do Capítulo VI para enveredar pelo do Capítulo VII. Com
a adoção da resolução 161 de 21 de fevereiro daquele ano (por 9 votos a
favor e a abstenção da URSS e da França), o Conselho autorizaria pela
primeira vez o uso da força por uma operação de paz. A resolução 146 de
agosto do ano anterior permitira a entrada da ONUC na província de Katanga
e se situara, de forma um tanto oblíqua, no Capítulo VII, mediante referência
ao Artigo 49 (“Os membros das Nações Unidas prestar-se-ão assistência
mútua para a execução das medidas determinadas pelo Conselho de
Segurança”).
A resolução 169, de novembro de 1961 (abstenções da França e Reino
Unido), autorizaria, enfim, ação vigorosa, “including the use of the requisite
31
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
measure of force” para a obtenção de uma série de objetivos, entre os quais
a deportação dos mercenários a serviço do líder Moise Tshombé da província
secessionista de Katanga. O Conselho só voltaria a permitir que uma operação
de paz usasse a força na Somália e na Bósnia sob outra justificativa de
autodefesa na década de 90, quando o fenômeno da transformação de uma
operação de paz do Capítulo VI, em uma intervenção com aspectos
coercitivos, passou a ser apelidado, algo pejorativamente, de “mission creep”.
Não deixa de ser significativo que o ex-Secretário-Geral Perez de Cuellar
haja declarado, em novembro de 1996, que no seu entender, a regulamentação
das operações de paz por meio de emenda à Carta constitui assunto prioritário
que deveria ter precedência sobre o temário organizacional dos Grupos de
Trabalho da Assembleia Geral sobre a Reforma do Conselho de Segurança e
sobre o Fortalecimento da ONU.16
Durante a Guerra Fria o CSNU autorizou a aplicação de sanções
mandatórias contra os regimes de minoria branca na Rodésia do Sul e da
África do Sul. Além de haverem sido as primeiras sanções aplicadas pelo
CSNU, esses casos também representariam as primeiras instâncias de
invocação pelo CSNU do Capítulo VII com respeito a questões passíveis de
serem consideradas como de jurisdição interna. Em ambos os casos, o
Conselho tentou agir com prudência maior do que a Assembleia Geral,
evitando caracterizar as situações como ameaçadoras à paz internacional.
De fato, como apontam Cot e Pellet, “on a souvent noté que dans ces deux
situations, Rhodésie et Afrique du Sud, c’est en fait le caractère intolérable
du régime qualifié de raciste que l’on voulait condamner et sanctionner”.17
O recurso a medidas coercitivas em resposta a situações julgadas atentatórias
aos direitos humanos, que, na época, contou com amplo respaldo dos países
em desenvolvimento, passaria a ser visto com desconfiança pelos países não
alinhados, ao se voltar contra países como a Líbia e o Iraque, sob a liderança
de países industrializados nos anos 90.
A questão da Rodésia do Sul foi trazida ao CSNU por um grupo de
países africanos alguns meses antes da declaração unilateral de independência
de Ian Smith, que foi condenada e considerada ilegal pela resolução 216 de
12 de novembro de 1965 (abstenção da França). Em 1965 o Reino Unido e
mais 28 Estados membros aplicaram sanções à Rodésia do Sul com base na
resolução 217, que recomendava o isolamento do regime de Ian Smith sem
chegar a sancioná-lo de forma impositiva. A resolução 221 autorizaria o Reino
Unido a impedir pela força, se necessário, o desembarque de navios
32
A SEGURANÇA COLETIVA ANTES DA GUERRA DO GOLFO
portugueses em Beira, Moçambique, suspeitos de carregarem suprimento de
petróleo para a Rodésia do Sul, declarando tal situação ameaçadora à paz. A
resolução 232 de dezembro do mesmo ano (abstenções de Bulgária, França,
Mali e URSS) imporia as primeiras sanções econômicas mandatórias, não
abrangentes.
As numerosas violações dessas últimas medidas e o agravamento da
situação de direitos humanos seriam mencionados na resolução 253 de 29
de maio de 1968 como justificativas para a imposição, por consenso, de
sanções econômicas abrangentes, cobrindo todo o comércio com a Rodésia
do Sul. Sistematicamente desrespeitadas pela África do Sul, essas sanções
permaneceram em vigor até que uma mudança de atitude sul-africana
contribuiu para a finalização dos acordos da Conferência Constitucional de
Lancaster House, em dezembro de 1979, preparando o terreno para o
estabelecimento de um governo de maioria negra no Zimbábue. A suspensão
definitiva das sanções foi decidida pela resolução 460 de 21 de dezembro de
1979 (abstenções da Tchecoslováquia e URSS).
Após a imposição do sistema do apartheid na África do Sul em 1948,
alguns países adotaram sanções unilaterais e o “Commonwealth” adotou
sanções coletivas. Em diversas ocasiões as Nações Unidas, via Assembleia
Geral, conclamaram os Estados membros a interromper voluntariamente seus
laços comerciais, culturais e diplomáticos com o regime racista de Pretória.
O Conselho de Segurança só agiu sob o Capítulo VII a partir de 1977,
quando foi decidida a imposição de um embargo à venda de armas e de
material militar aos sul-africanos. Embora a motivação óbvia da medida,
impulsionada pela África negra, fosse o repúdio internacional ao racismo, a
justificação oficial para a aplicação do embargo foi o temor de que a situação
na África do Sul degenerasse em conflito armado. O ex-Representante
Permanente do Reino Unido, Sir David Hannay, não deixaria de invocar o
precedente sul-africano para justificar o seu apoio à adoção da resolução
688 em abril de 1991, equiparando o tratamento dispensado por Saddam
Hussein às minorias curdas aos excessos do apartheid.18
O Conselho nunca chegou a impor sanções econômicas abrangentes
contra a África do Sul, em vista dos interesses que ligavam o país à economia
mundial como fornecedor importante de minerais estratégicos. Levantadas
em maio de 1994, após as eleições democráticas que possibilitaram a vitória
de Nelson Mandela pondo fim a quase meio século de discriminação
institucionalizada, as sanções contra a África do Sul não produziram os efeitos
33
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
perniciosos sobre a população civil como os de regimes mais recentes (no
Iraque ou Haiti, por exemplo). Não obstante, contribuíram indiretamente para
deslegitimizar a discriminação racial como forma de governo, ajudando a
viabilizar a verdadeira revolução pacífica que pôs fim ao apartheid.
Além desses casos, caberia mencionar a imposição de pelo menos duas
ordens de interrupção de hostilidades pelo Conselho de Segurança
mandatadas sob a cobertura do Capítulo VII. A resolução 54 de 15 de julho
de 1948 (voto contrário da Síria, abstenções de Argentina, Ucrânia e União
Soviética), determinou a existência de ameaça à paz no sentido estabelecido
pelo Artigo 39, quando irrompeu o primeiro conflito entre árabes e judeus
envolvendo o Egito, a Jordânia, o Líbano, a Síria e o recém-criado estado de
Israel. O descumprimento dos termos da trégua acarretaria a consideração
pelo Conselho de Segurança de “further action under Chapter VII of the
Charter”, mas sua supervisão foi entregue a uma equipe de observadores
sob o Capítulo VI que se transformaria na Organização para a Supervisão da
Trégua (UNTSO), criada em 1949.
A resolução 598 de 20 de julho de 1987, que impôs um cessar-fogo
imediato no conflito entre o Irã e o Iraque (adotada por consenso), foi
concebida com base nos artigos 39 e 40 do Capítulo VII, citados em seu
último parágrafo preambular. O desejo unânime dos membros permanentes
de por fim a oito anos de lutas sangrentas, viabilizado pela distensão lesteoeste da era Gorbatchev, marcou o aparecimento de uma modalidade de
consultas entre os P-5 que, como observa Edmundo Fujita, “evoluiu
gradualmente para a consolidação de fato de uma instância de escrutínio
prévio dos temas mais relevantes da agenda do Conselho pelos membros
permanentes”.19 A mobilização dos esforços diplomáticos conjuntos de
Moscou e Washington para por fim à guerra Irã-Iraque, prepararia o terreno
para a busca consensual de encaminhamento no Conselho de Segurança de
vários contenciosos da Guerra Fria, na América Central, Camboja,
Afeganistão, Angola, abrindo caminho para a cooperação durante a crise do
Golfo de 1990, que inauguraria, por sua vez, uma fase nova na tentativa de
operacionalização do conceito de segurança coletiva nas Nações Unidas.
Os Estados-Membros enfrentariam essa nova fase munidos de pouca
existência na imposição da paz pela força com base no Capítulo VII, em
decorrência dos impasses que haviam inviabilizado por quase meio século a
tomada das providências iniciais requeridas pelos Artigos 43 e 45.
Entrementes, os membros permanentes do CSNU – e as duas superpotências
34
A SEGURANÇA COLETIVA ANTES DA GUERRA DO GOLFO
em particular – gozariam de relativa liberdade para agir de forma unilateral
em suas respectivas esferas de influência e testariam os limites de seu poderio
fora delas. As incertezas jurídicas, políticas, militares, morais que o CSNU
enfrentou nos últimos cinco anos não teriam sido as mesmas se o paradigma
delineado em Dumbarton Oaks tivesse sido acionável. A Guerra do Golfo
reanimaria no espírito de alguns a vontade de dar conteúdo ao paradigma
original de segurança coletiva, mas, apesar da sugestão do Secretário-Geral
Boutros-Ghali em sua “Agenda para a Paz” de incentivar a conclusão de
acordos sob o Artigo 43, o debate sobre segurança coletiva se encaminharia
em outras direções.
35
Capítulo 2
A Guerra do Golfo e o Ressurgimento de
Interesse pelo Paradigma de Segurança
Coletiva da Carta da ONU
(A) A Guerra do Golfo, Prenúncio de um Novo Conselho de
Segurança?
A invasão do Kuwait pelo Iraque em 2 de agosto de 1990 confrontou o
Conselho de Segurança com uma crise internacional cuja inserção no contexto
do Capítulo VII era incontroversa: ato de agressão, ruptura da paz, recurso
à força contra a integridade territorial e independência política de um Estado
membro das Nações Unidas em desrespeito a princípio basilar da Carta
(artigo 2.4). A Missão do Brasil junto à ONU falaria da “clareza cristalina do
ato iraquiano de agressão”, que assegurava, por si só, ao Kuwait a proteção
dos mecanismos de manutenção da paz e da segurança contidos na Carta.1 A
resolução 678 de 29 de novembro abriria caminho para a intervenção armada
da coalizão liderada pelos EUA, ao cabo de um processo de isolamento
progressivo do Iraque, que pôs em ação toda a gama de recursos oferecidos
pelo Capítulo VII:
- exigência de retirada incondicional das forças iraquianas pela resolução
660 de 2 de agosto, com base nos Artigos 39 e 40;
- invocação do direito à autodefesa individual e coletiva assegurado pelo
Artigo 51, e aplicação de embargo de armas e sanções econômicas permitidos
pelo Artigo 41 – na resolução 661 de 6 de agosto;
37
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
- admissão do uso da força para garantir a vigência do regime de sanções,
pela resolução 665 de 25 de agosto;
- exame do impacto negativo causado pelas sanções em países terceiros
consoante o Artigo 50, pela resolução 669 de 24 de setembro;
- ampliação do regime de sanções a partir da interrupção mandatória do
tráfego aéreo com o Iraque e Kuwait ocupado, na linha das possibilidades
oferecidas pelo Artigo 41, pela resolução 670 de 25 de setembro.
O contexto dos Artigos 39 e 40, que, na cronologia do Capítulo VII,
antecede a imposição de sanções e se destina a prevenir um agravamento da
situação sem prejulgar os direitos e pretensões das partes, seria rapidamente
ultrapassado pela aplicação de sanções abrangentes, e, sobretudo, pela
admissão da coerção militar. Segundo o Capítulo VII, o Conselho de
Segurança pode contemplar o uso da força ao constatar que todos os outros
meios se revelaram “inadequados” - palavra essencial na rationale do Artigo
42. No caso do Golfo, contudo, análises como as de Weiss et al, estimam
que o CSNU passe a aceitar a ideia de intervenção militar antes de verificar
se as sanções se haviam revelado insuficientes ou inadequadas.2 Os EUA, na
verdade, haviam começado a planejar a guerra desde a ocupação do Kuwait
por Saddam Hussein, mercê da preocupação do Chefe do Estado-Maior,
General Colin Powell, com a proteção da Arábia Saudita. Após a
transformação do Kuwait na 19a província iraquiana em 8 de agosto, o
Presidente Bush teria decidido se preparar para a opção militar. Havia em
Washington quem julgasse que o recurso às armas podia basear-se na
resolução 661 de 6 de agosto, que já admitira a autodefesa com base no
Artigo 51. Mas prevaleceu a corrente que estimou necessário obter luz verde
do Conselho de Segurança a cada uma das etapas da escalada da pressão
sobre Bagdá.3
O ritmo desse processo foi ditado pelos contatos entre Washington e
Moscou, com a liderança soviética frequentemente procurando desacelerálo e manter viva a hipótese de entendimento político para a crise. A União
Soviética, que mantinha com o Iraque um Tratado de Amizade e Cooperação,
investira bilhões de rublos no país, onde se encontravam, ademais, alguns
milhares de assessores militares russos. A liderança soviética (sobretudo o
Chanceler Eduard Shevardnadze) não se sentiu obrigada a manifestar apoio
ao Iraque, por não haver sido advertida da iminência da invasão do Kuwait e
considerar que o uso ofensivo do material bélico transferido a Bagdá
38
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
descumpria entendimentos bilaterais. Por outro lado, o espectro do fracasso
soviético no Afeganistão e o medo da repercussão de um novo envolvimento
em conflito no mundo islâmico sobre as repúblicas centro-asiáticas faziam
com que Moscou resistisse à ideia de uma Guerra no Golfo. Yevgeny
Primakov, que fazia parte do círculo de assessores mais próximos de
Gorbatchev e dirigia, na época, o influente “Instituto de Economia e Relações
Internacionais”, mantinha há vinte anos relações amistosas com Saddam
Hussein, e se julgava capaz de convencê-lo a desocupar o Kuwait. Ao se dar
conta dos limites de sua influência sobre Bagdá, contudo, procurou abrir
espaço, mais teórico do que real, para tentativas de mediação pelo SecretárioGeral Perez de Cuellar.
O SGNU confessaria ao Embaixador Ronaldo Sardenberg em dezembro
de 1990 - enquanto transcorria a “pausa de boa vontade” de sete semanas
introduzida por insistência de Gorbatchev na resolução 678 – que considerava
um erro diplomático os EUA haverem caracterizado a agressão iraquiana
como uma controvérsia bilateral, concordando com o Representante brasileiro,
por outro lado, em que as resoluções do CSNU não chegavam a criar um
quadro para negociações.4 Esta percepção explica porque Perez de Cuellar
recusaria a Bush a utilização da bandeira da ONU pela coalizão. Como diria
Stanley Meiser, “he did not want a repeat of the Korean War model where
the American-led troops invoked the name of the UN but tolerated no
interference from the UN”.5
O Representante Permanente dos EUA junto à ONU, Thomas Pickering
terá recebido a maior parte dos projetos de resolução já redigidos por
Washington e, às vezes, já discutidos com os soviéticos, para debatê-los em
seguida com os dois outros membros permanentes integrantes da OTAN
(Reino Unido e França) e a China. Ian Johnstone frisa o caráter pouco
“coletivo” dos métodos de trabalho do Conselho durante a crise e aponta
par a atitude de “aquiescência passiva” dos membros não permanentes
enquanto a ONU autorizava pela primeira vez em sua História uma operação
militar para reverter um ato de agressão com a anuência dos cinco membros
permanentes.6 Shevardnadze tomara a precaução de visitar Pequim na
penúltima semana de novembro para se assegurar que “The Soviet Union
would not be embarassed by a chinese veto”, como relatam Talbott e
Beschloss7 (a abstenção chinesa na adoção da resolução 678 não obstaculizava
o consenso entre os membros permanentes, segundo a prática seguida desde
que a Corte Internacional de Justiça emitiu parecer, em 1971, de que a
39
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
abstenção de um dos membros permanentes pode ser interpretada como um
“concurring vote” no sentido do Artigo 27 (3), que estabelece as condições
para a aprovação de decisões pelo CSNU).8
Quando procurava convencer Moscou a apoiar a resolução que viria a
autorizar em 29 de novembro o emprego de “all necessary means” para
forçar o Iraque a sair do Kuwait, o Secretário de Estado James Baker
argumentaria que “we can’t have the UN go the way of the League of
Nations”, insinuando que os EUA estavam dispostos, no pós-Guerra Fria, a
investir na segurança coletiva universal.9 O ex-Subsecretário-Geral Brian
Urquhart se entusiasmaria, afirmando que ali estava “the first exercise in the
unanimous collective security that we’ve been talking about since the
days of Woodrow Wilson”.10 O Chanceler soviético Eduard Shevardnadze
exclamaria perante Assembleia Geral que “estamos novamente nos
comportando como Nações Unidas, (...) o estabelecimento de uma nova
forma de pensar a política mundial nos está permitindo começar a programar
as medidas de persuasão e ‘enforcement’ previstas na Carta”.11 Contrastando
um pouco com esse otimismo, Henry Kissinger comentaria que os historiadores
do futuro provavelmente tratariam a crise do Golfo mais como um caso especial
do que como um divisor de águas.12
Johnstone sugere que talvez a resolução 687 adotada em 3 de abril de
1991 – misto de tratado de paz, prolongamento das sanções em vigor e
imposição de rígidas condições para suspendê-las – possa ser considerado
um marco mais importante do que a Guerra do Golfo em si.13 Tentativa
ambiciosa de disciplinar o comportamento futuro de um país, a resolução
687 ampliaria, em particular, o horizonte de atuação do Conselho de
Segurança na esfera do desarmamento pelo viés da não proliferação, como
demonstra Lamazière em trabalho de exegese dos dispositivos de sua seção
“C”.14 Segundo o relato de Johnstone sobre as negociações da 687, a Arábia
Saudita e o Kuwait lideraram a campanha de enquadramento do Iraque em
um sistema punitivo sob a supervisão do Conselho de Segurança, com os
EUA e o Reino Unido assumindo a tarefa de formulá-lo. Um projeto inicial
foi mostrado à França, União Soviética e China, nessa ordem, ao longo do
mês de março. Quando um texto foi apresentado aos membros não
permanentes do Conselho em 28 do mesmo mês, os P-5 já haviam chegado
a um consenso sobre seus termos. Os membros do Movimento Não Alinhado
apresentaram uma série de propostas de emenda, que, em sua maioria seriam
rejeitadas.
40
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
A complexidade dos 26 parágrafos preambulares e 34 operativos da
resolução 687 justifica seu apelido de “mãe das resoluções”, como ficou
conhecida na ONU, em alusão irônica à exortação de Saddam Hussein para
que os iraquianos se preparassem para a “mãe de todas as guerras” nos dias
que antecederam à “tempestade no deserto”.15 A seção “A”, trata, inter alia,
da questão fronteiriça, a “B” estabelece zona desmilitarizada entre os dois
países, a “C” impõe medidas de neutralização do arsenal de armas de
destruição de massa do Iraque e monitoramento preventivo, as “D” e “E” se
ocupam da restituição dos bens apreendidos e da indenização do prejuízo
ocasionado pela invasão, a “F” mantém em vigor o regime de sanções imposto
pela resolução 661 e estipula condições para a modificação ou levantamento
de todas as restrições previstas nas resoluções relevantes, a “G” cuida da
repatriação dos cidadãos detidos pelas forças ocupantes e a “I” do cessarfogo.
Strobe Talbott assinalaria que, não obstante o avanço tecnológico da
coalizão que derrotou Saddam Hussein, sua ótica permanecera a da
preservação da santidade das fronteiras internacionais e proteção de noções
tradicionais de soberania, com base em uma filosofia de segurança coletiva
pouco diferente daquela idealizada 70 anos antes.16 Se é possível sustentar
que a reação do Conselho de Segurança à situação no Golfo se pautou por
uma concepção tradicional da segurança coletiva até a intervenção armada
permitida pela resolução 678, o cessar-fogo da resolução 687 apontou para
direções novas em pelo menos três áreas, a saber: a) a demarcação de
fronteiras; b) o desarmamento e controle de armamentos e c) o esquema de
compensação.
Os dispositivos da resolução 687 sobre demarcação de fronteiras foram
mencionados por Cuba, Iêmen e Equador como razão para não votarem a
favor daquele projeto. Além dos EUA, várias delegações latino-americanas
(eventualmente o Brasil também) deixariam claro seu entendimento de que o
Conselho de Segurança não dispõe de competência para corrigir fronteiras,
sublinhando a natureza excepcional do parágrafo operativo 3 da resolução
687, que solicitava ao Secretário-Geral “to make arrangements with Iraq
and Kuwait to demarcate the boundary between Iraq and Kuwait, drawing
on appropriate material (…) and report back to the Security Council
within a month”. O Embaixador Pickering dos EUA declararia a esse respeito
que “The United States does not seek, nor will it support, a new role for
the Security Council as the body that determines international
41
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
boundaries. Border disputes are issues to be negotiated directly between
States or resolved through other pacific means of settlement available”.17
Mesmo assim, uma comissão encarregada de examinar o material
pertinente, inclusive os mapas britânicos mencionados na resolução, foi
composta por um representante do Iraque, outro do Kuwait e três peritos
selecionados pelo SGNU. Ausente o representante iraquiano – que abandonou
sob protestos o exercício por considerá-lo tendencioso – a Comissão transferiu
para o Kuwait uma base naval desocupada e alguns poços de petróleo entre
Safwan e Batin, anteriormente sob a jurisdição de Bagdá, preservando,
contudo, o acesso do Iraque ao Golfo. Inicialmente relutante em demarcar a
fronteira marítima, a comissão acabou deliberando sobre o assunto e
recomendando uma linha de demarcação fundamentada em uma combinação
de critérios jurídicos e práticos. As resoluções 773 e 833 acolheriam aqueles
resultados, sem, contudo “aprová-los”, dadas as mencionadas objeções.
A Comissão Especial das Nações Unidas (UNSCOM) foi
responsabilizada pela inspeção, destruição e monitoramento de longo prazo
dos programas iraquianos de armas químicas, biológicas e de mísseis de um
alcance superior a 150 quilômetros. Os EUA, determinados a obter a
destruição dos vetores capazes de atingir Israel, haviam pleiteado a inutilização
dos mísseis de até 120 km de alcance. Os soviéticos estavam dispostos a
conviver com mísseis de até 300 km, mas concordaram em limitar o alcance
aos 150 km, que satisfez ambas as partes. O Diretor-Geral da Agência
Internacional de Energia Atômica (AIEA) foi encarregado pela imposição
das obrigações imputadas ao Iraque na área nuclear. Os objetivos da
resolução 687 seriam perseguidos pelo Conselho de Segurança, com a
assistência da UNSCOM e do Diretor-Geral da AIEA, mediante um trabalho
desenvolvido em três etapas: uma fase de inspeção e coleta de informações
para uma avaliação detalhada da capacidade iraquiana; uma fase de eliminação
de armas de destruição de massa e das fábricas para sua produção; e a
organização de um sistema de monitoramento e verificação contínua para
evitar a aquisição de tais armas no futuro.
A Comissão de Compensação foi instituída como um órgão subsidiário
do Conselho de Segurança, composto pelos quinze membros do CSNU,
tomando decisões por consenso. A Comissão funciona como um órgão político
de avaliação de perdas e danos que procura responder às queixas que lhe
são transmitidas por Governos em nome de seus nacionais. Calcula-se que o
pagamento das compensações poderá levar mais de trinta anos, em vista da
42
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
queda nas receitas iraquianas. Uma vez suspensas as sanções, trinta por cento
da receita petrolífera do Iraque será transferida para o fundo de compensação.
Esquemas que poderiam permitir a Bagdá voltar a exportar quantidades
limitadas de petróleo para aliviar a situação humanitária no país foram
propostos inicialmente pelas resoluções 706 e 712, mas nunca vieram a ser
implementados por haverem sido julgados excessivamente intrusivos pelo
Iraque. Mais recentemente o Secretário-Geral Boutros-Ghali alcançou um
entendimento com Bagdá para a criação da resolução 986 (1995), que
permitirá ao Iraque exportar até um bilhão de dólares de petróleo a cada
noventa dias.
Esse quadro resumido de três principais atribuições do Conselho de
Segurança na preservação da paz no Golfo servem como ilustração de
iniciativas experimentais que ampliam em várias direções o raio de ação do
CSNU e reforçam seu papel no tratamento de questões com as quais o
órgão não costumava se envolver, sobretudo aquelas relacionadas ao
desarmamento e não proliferação. Não bastaria ao Iraque retirar-se do
território ilegalmente ocupado e reparar os danos causados: seria necessário,
como assinala Lamazière, que Bagdá tranquilizasse a comunidade internacional
acerca de suas intenções pacíficas.18 O Almirante Mário César Flores
sintetizaria o episódio do Golfo como “muito mais uma guerra de liquidação
de hegemonia de risco em área crítica, legitimada pela ONU ante a impotência
da URSS, do que um mero restabelecimento do statu quo ante”.19 Assim
como viria a ocorrer por exemplo na criação dos Tribunais para a exIugoslávia e Ruanda, o Conselho de Segurança se servia dos poderes do
Capítulo VII para exercer sua criatividade como garante de uma ordem
baseada na segurança, reinterpretando seu próprio mandato na preservação
da paz internacional.
Algumas considerações adicionais poderão contribuir para completar
esta apresentação sucinta do conflito do Golfo como o produto de
circunstâncias especiais, que repercutiria de forma duradoura, mesmo assim,
na ação subsequente do Conselho de Segurança.
De antemão, a coincidência singular entre a Guerra do Golfo e a derrocada
da União Soviética não pode deixar de ser salientada, por haver criado uma
dinâmica particularmente cooperativa entre Washington e Moscou, que não
se reproduziria necessariamente no futuro com a sucessão da URSS pela
Federação Russa. Strobe Talbot e R. Beschloss não cessam de frisar a
importância da colaboração do Chanceler soviético Eduard Shevardnadze
43
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
com o governo norte-americano nas várias etapas do tratamento da crise do
Golfo pelo Conselho de Segurança.20 O Presidente norte-americano e seu
Secretário de Estado se haviam convencido de que os EUA precisariam
legitimar uma eventual ação militar no Golfo pelo Conselho de Segurança
para preservar a unidade de uma coalizão heteróclita (indispensável ao
financiamento do custoso empreendimento), obter a cooperação da Arábia
Saudita onde ficariam estacionadas centenas de milhares de tropas norteamericanas e garantir apoio do congresso. A União Soviética vivia o seu
colapso, com Gorbatchev ora se comportando como um liberal para manter
suas amizades no Ocidente industrializado, ora endurecendo suas posições
para agradar a velha guarda comunista e combater secessionistas. Em um
ambiente de virtual perda de controle do governo central sobre os
acontecimentos na periferia da URSS, conforme confessaria o ex-Embaixador
Bessmertnykh ao Vice-Secretário de Estado Eagleburger, os EUA contaram
com os préstimos de Shevardnadze em vários momentos críticos para:
desativar tentativa de Primakov de introduzir vinculação entre a solução do
problema do Kuwait com a questão palestina (Shevardnadze conseguiria
impedir inclusive que os soviéticos tabulassem um projeto de resolução
propondo uma Conferência internacional para o Oriente Médio idealizada
por Primakov); convencer Gorbatchev não só a concordar com a presença
de centenas de milhares de soldados norte-americanos a 700 milhas da União
Soviética na Arábia Saudita, como conferir legitimidade à ação militar de
uma coalizão liderada pelos EUA em uma parte do mundo de interesse
estratégico para Moscou, onde o equivalente a 17.5 bilhões de dólares haviam
sido gastos em assistência militar soviética desde 1986.21 É verdade que
Gorbatchev, lograria adiar a tomada de várias decisões no CSNU para tentar
articular uma solução política, e foi responsável pelas sete semanas de trégua
entre o ultimato da resolução 678 e o início da operação “desert storm”,
havendo obtido dos EUA que substituíssem o uso da palavra “força” pelo
célebre “all necessary means” no parágrafo operativo 2 da 678. Mas a
dinâmica que viabilizou a aprovação de uma dúzia de resoluções pelo CSNU
mal camuflava o enfraquecimento definitivo da União Soviética e a emergência
de uma realidade unipolar no âmbito estratégico/militar. A invocação da
segurança coletiva por Baker, Shevardnadze e outros pode ser interpretada,
nesse contexto, como uma folha de parreira, um subterfúgio para encobrir a
capitulação Soviética e legitimar uma intervenção concebida unilateralmente
e implantada e financiada plurilateralmente.
44
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
A União Soviética procurou obter dos EUA o reativamento da esquecida
Comissão de Estado-Maior do Artigo 47 da Carta em seu esforço por
caracterizar o cerco militar a Saddam Hussein como um exercício de
implantação da segurança coletiva do Capítulo VII. Sobre essa tentativa,
(que surgiu desde a negociação da resolução 665) Talbot e Beschloss
observam que “Moscow had long been attempting to revive this moribund
UN committee as a means of enhancing Soviet influence.22 The hard
liners felt that involving the committee in the Gulf crisis might give the
Soviet Union an effective veto over a US military attack on Baghdad”.
Embora os norte-americanos hajam visto algum mérito na ideia, como forma
de atrair Moscou ao combate a Bagdá, pesou mais a resistência em permitir
que o Ministério da Defesa soviético viesse a se tornar co-partícipe na direção
estratégica da operação militar.
Como se sabe, a operação “tempestade no deserto” não poderia
haver sido conduzida sem o planejamento cuidadoso e tecnologicamente
sofisticado de um Estado-Maior militarmente desenvolvido. Em contraste
com a lógica diplomática do acionamento da segurança coletiva embutida
no Capítulo VII, que se manifesta por uma escalada de ameaças crescentes
até transpor o umbral da coerção armada, a operação contra o Iraque foi
fruto de um processo independente de preparação de um contra-ataque
que, ao invés de seguir instruções do Conselho de Segurança arrastou o
órgão em sua direção. Nesse sentido, é relevante o comentário de Mário
César Flores segundo o qual “a ONU enfatiza mais o gradualismo prudente
(...) do que a ação imediata em força, mesmo quando há ameaça
generalizada à vida humana ou à tranquilidade regional (...). O Conselho
de Segurança não é um órgão adequado para a rápida tomada de decisões
de suma gravidade como é o caso de uma intervenção militar”.23 A
experiência de países integrantes da coalizão em exercícios conjuntos
sob a égide da OTAN e a capacidade de coleta de informação estratégica
da aliança também seria fundamental. Como observaria Gwyn Prins, “The
U.N. coalition was, in practice, as the world knows, NATO ‘out of
area’”.24 A OTAN forneceu um apoio logístico e de comunicações sem o
qual os aliados não poderiam ter agido com a mesma eficiência e rapidez.25
Como afirmaria Hippler “The smooth coordination between the allies
in the Gulf War has of course now proved that such large-scale
operations by NATO member states outside the NATO area will not
need (...) formal sanctioning”.
45
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
A questão da proporcionalidade entre o ato cometido pelo Iraque e a
punição que lhe foi imposta levaria a uma rápida desagregação da coalizão.
Os “all necessary means” não estabeleciam restrições quaisquer sobre a
intensidade ou duração dos combates e equivaliam a um cheque em branco,
utilizável pelo comando da coalizão sem controle do Conselho. A superioridade
tecnológica dos coaliados lhes permitiria sair do confronto com 200 baixas,
número relativamente reduzido comparado aos 50.000 a 150.000 mortos
iraquianos, segundo diferentes avaliações. A cisão norte-sul no interior da
coalizão se agravaria com a declaração por EUA, França e Reino Unido de
zonas de exclusão sob pretexto de proteger as populações curdas e xiitas, a
partir da resolução 688 (examinada no subcapítulo 3(A)), adotada dois dias
depois do cessar-fogo definitivo da 687 e sem relação qualquer com o ato
que autorizara ação coercitiva contra Bagdá.
Resolvida a crise, apenas o núcleo formado por Washington, Londres e
Paris continuaria a agir em harmonia (em 1996 até a França tomaria sua
distância, deixando de reconhecer a zona de exclusão aérea no norte do
Iraque). Ficava assim exposto o que já se suspeitava, ou melhor, como
confessaria Margaret Thatcher em sua autobiografia “The Path to Power”:
“Saddam Hussein had not got away with it – though he did get away (...)
because, contrary to the experience of the League of Nations, America
had asserted herself as the international superpower it was her destiny
to be, and self-confident and well-armed states such as Britain and
France had acted in support”.26 A ex-Primeira-Ministra britânica revelaria
ademais que “I was convinced that the action taken was both right and
necessary and that the West, or as we tactfully preferred to describe it,
the international community, would prevail over Saddam Hussein and
reverse Iraq’s aggression Kuwait”.27
O Conselho de Segurança vivia desde 1988 um primeiro renascimento,
havendo facilitado soluções pacíficas para as crises herdadas da Guerra Fria
no Afeganistão, no Camboja, na América Central, e durante a Guerra do
Golfo ele passou a se situar no centro de todas as atenções nas Nações
Unidas. Mas a falta de influência dos membros não permanentes do Conselho
e dos demais membros da Organização nos seus processos decisórios
provocaria questionamentos sobre a legitimidade do órgão e alimentaria o
surgimento de reivindicações por maior transparência, que convergiriam
eventualmente no debate sobre a reforma do Conselho de Segurança, iniciado
na 48a Assembleia Geral. Essas frustrações levariam o então Embaixador do
46
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
Egito junto à ONU e atual Chanceler Amr Moussa a declarar que “the
renaissance of the United Nations is a false renaissance”, reflexo de um
sentimento de que as Nações Unidas se haviam convertido em um instrumento
para a política externa norte-americana. Até o cauteloso Embaixador da Índia
Chinmaya Gharekhan comentaria que “there is a perception in the United
Nations, widespread throughout, that the United States used the Security
Council”.28
Coalizão comandada sem a bandeira das Nações Unidas, ação militar
que pôs em prática mecanismos de coordenação e coleta de informações
aperfeiçoados no seio da OTAN, iniciativa idealizada unilateralmente pelo
Conselho de Segurança Nacional e pelo Estado-Maior do Exército dos EUA,
a intervenção no Golfo, pode ser vista como manifestação de um hiato crescente
entre o paradigma original de segurança coletiva da Carta e um cenário mundial
em transição para a pós-bipolaridade. Tornada possível pela desestruturação
da URSS, pela desorientação do não alinhamento, por um ato cristalino de
agressão condenado pela virtual totalidade dos membros da ONU, pela
timidez da China após Tian An Men, a Guerra do Golfo foi, em certa medida,
como diz Kissinger, mais um caso à parte do que um divisor de águas. Não
obstante, ela influenciaria a ação subsequente do Conselho de Segurança,
particularmente no ponto final que impôs ao expansionismo de Saddam
Hussein com a resolução 687, e despertaria um interesse inusitado pelo
trabalho do órgão, trazendo o debate sobre segurança coletiva para o topo
da agenda internacional. O Conselho de Segurança se transformaria, nos
anos seguintes, no coração das Nações Unidas como queriam Roosevelt e
Stalin, mesmo se a experiência do Golfo não terá necessariamente preparado
nem os membros permanentes nem os temporários para os desafios a serem
enfrentados a partir de então na Somália, na Bósnia, em Ruanda.
Um possível retorno ao paradigma original de segurança coletiva havia
sido contemplado seriamente por pelo menos um membro permanente do
Conselho de Segurança – a União Soviética – com sua tentativa de reativar a
Comissão de Estado- Maior do Artigo 47. No debate geral da 45a Assembleia
Geral, o Chanceler Shevardnadze insistiria no assunto, ao sustentar que o
Conselho de Segurança não tinha condições de se desincumbir adequadamente
de suas funções sem se guiar pelas recomendações daquele subórgão. No
que viria a ser o penúltimo discurso da União Soviética ante a AGNU,
Shevardnadze defendeu enfaticamente os dispositivos do Capítulo VII,
revelando a inconformidade de Moscou com o que se articulava no Golfo: “if
47
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
the Military Staff Committee had worked properly, if appropriate
agreement had been concluded between the Council and its permanent
members and if other organizational aspects of countering threats to
peace had been worked out, there would be no need for individual States
to act unilaterally”.29 A delegação soviética se dizia disposta a concluir os
acordos apropriados com o Conselho de Segurança e manifestava confiança
na disposição dos outros membros permanentes em fazer o mesmo. No
entender de Shevardnadze, o Conselho devia começar a reativar a Comissão
de Estado- Maior e proceder a um estudo dos aspectos práticos da
arregimentação de contingentes militares nacionais para servir sob sua
autoridade em caso de necessidade.
Tal postura não seria reafirmada, entretanto, pela Federação Russa sob
Boris Yeltsin e, embora viesse a ser considerada como uma hipótese de trabalho
por alguns governos, pelo Secretariado e pelo meio acadêmico, sairia aos
poucos de pauta. Enquanto isso se intensificava um processo experimental,
não sistemático, pouco transparente de articulação de um paradigma diferente
de segurança coletiva. Aos poucos se ampliaria o horizonte de pretextos
desencadeadores de ações coercitivas, segundo uma interpretação nova da
finalidade da segurança coletiva, que passaria a incluir o combate à instabilidade
regional, ou mesmo interna, causada por crises humanitárias, sociais,
econômicas e institucionais. Concomitantemente seriam empreendidas
experiências variadas no que se refere aos instrumentos ou meios de
implantação da segurança coletiva, pela delegação da coerção militar a
operações supostamente de paz – mas eventualmente de guerra (UNOSOM
II na Somália, UNPROFOR na Bósnia), pela autorização do uso da força a
um único país (os EUA na Somália), e pelo emprego de forças “multinacionais”
em Ruanda e no Haiti. Uma disposição em integrar esforços de segurança
regionais – os da OTAN, sobretudo – no sistema da ONU faria também
parte desse panorama, que, entre outras consequências, tenderia a esmaecer
a fronteira conceitual entre os Capítulos VI e VII da Carta.
(B) A Reunião de Cúpula do Conselho de Segurança de janeiro de
1992.
Em janeiro de 1992 o Conselho de Segurança das Nações Unidas,
reunido pela primeira vez em nível de chefes de Estado e Governo, se
regozijava ante “as melhores perspectivas para alcançar a paz e segurança
48
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
internacionais desde a criação da Organização das Nações Unidas”.1 A
declaração final da reunião de cúpula incluía um novo compromisso com o
sistema de segurança coletiva previsto na Carta de São Francisco para lidar
com ameaças à paz e reverter atos de agressão. A Guerra do Golfo
restabelecera a cooperação entre os cinco membros permanentes do Conselho
(P-5), ressuscitando interesse pela temática da segurança coletiva – no sentido
universal do termo – que permanecera refém das tensões da bipolaridade
durante quase meio século. Ao lado de Li Peng, François Mitterrand, John
Major e George Bush, participava da cúpula de janeiro de 1992 o Presidente
da Federação Russa, Boris Yeltsin, ocupante da bancada que por quarenta e
sete anos pertencera à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – extinta
apenas um mês antes em 24 de dezembro de 1991. Como assinala Fujita, os
membros permanentes haviam sido expeditos em determinar que a nova
Federação Russa fosse a sucessora legítima do assento pertencente à antiga
União Soviética, evitando com isso uma complexa e possivelmente desgastante
discussão jurídica que poderia chegar a envolver emenda à Carta.2
O recém eleito Secretário-Geral da ONU Boutros-Ghali inaugurava seu
mandato sob o signo do fim definitivo da Guerra Fria e em contexto de
renovada fé da comunidade internacional na capacidade de a Organização
lidar com ameaças à paz, após o restabelecimento da integridade territorial
do Kuwait. Os cinco anos de Boutros-Ghali no cargo coincidiram com um
período de adaptação da ONU às novas circunstâncias mundiais, marcado
por uma intensificação da atividade do Conselho de Segurança, em que as
distinções jurídicas e práticas entre a filosofia coercitiva do Capítulo VII e a
não coercitiva do Capítulo VI seriam submetidas a múltiplas interpretações.
O fim da Guerra Fria não teve seu Congresso de Viena, nem seu Versalhes
nem seu Dumbarton Oaks ou São Francisco. Mas a Reunião de Cúpula do
Conselho de Segurança de janeiro de 1992 pode ser vista como o grande
encontro multilateral celebratório de uma nova era, tornada possível pela
dupla vitória norte-americana contra a União Soviética e contra a agressão
iraquiana. Representante da potência vencedora, o Presidente George Bush
não apresentaria ao Conselho de Segurança nem um plano de revolução
diplomática em quatorze pontos, como fizera Wilson em Versalhes, nem uma
reformulação da utopia internacionalista matizada pelo realismo dos “quatro
policiais” de FDR. A retórica grandiloquente da “nova ordem mundial” de
Bush, que marcara a euforia inicial da derrota imposta a Saddam Hussein, já
cedera lugar, àquela altura, a um discurso menos ambicioso, atento ao refluxo
49
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
isolacionista da opinião pública conservadora nos EUA – o ano era eleitoral.
Bush nunca chegara a apresentar um programa detalhado para sua “nova
ordem” e a imprecisão da ideia se prestava a enfoques variados, entusiasmando,
entre outros, os segmentos mais idealistas e liberais do espectro político.
Margaret Thatcher, cuja perfeita sintonia com o Partido Republicano norteamericano não precisa ser sublinhada, definiria sua própria versão da nova
ordem como “pax americana in the camouflage of United Nations
resolutions” e deploraria o fato de que “too many commentators and politicians
are prepared to deduce quite the opposite”.3 Além do mais, os efeitos
desestabilizadores das forças centrífugas na ex-União Soviética e na exIugoslávia começavam a ocupar espaço crescente nas primeiras páginas da
imprensa internacional, disputando lugar com o desastre endógeno da Somália
(tanto a ex-Iugoslávia como a Somália já estavam então sob embargos de
armas decretados pelo CSNU). A relativa irrelevância estratégica daqueles
conflitos e a dificuldade em distinguir os avatares do bem e do mal em cenários
tão remotos, impedia que a receita do Golfo fosse aplicada a tais situações.
Joseph Nye comentaria que, pouco após as declarações de Bush ao cabo da
Guerra do Golfo sobre “novos métodos de trabalho com outras nações,
solidariedade contra a agressão” etc. “the White House words about a new
world order had slowed to a trickle”.4
A cúpula do Conselho de Segurança ocorreu em meio à sensação de
ajuste nas camadas tectônicas das relações internacionais responsável
por frases como “the most hopeful period in the history of modern
interstate relations”, de Richard Rosecrance, em artigo contemporâneo
ao evento publicado na revista “Foreign Affairs”.5 Mas faltou à reunião
de cúpula uma liderança. Presidida pelo Primeiro-Ministro John Major
que acabava de assumir suas funções em Londres e aparecia como um
novato na cena internacional, assistida por um Boris Yeltsin ansioso por
ser aceito como um parceiro pleno do Ocidente, por um Mitterrand em
fim de carreira e por um Li Peng acossado pela condenação internacional
aos acontecimentos de Tian An Men, a cimeira se revelaria palco de
manifestações de expectativas um tanto desencontradas entre um norte
assertivo e um sul descoordenado. O novo Secretário-Geral BoutrosGhali, a quem seria encomendado um relatório sobre a capacidade das
Nações Unidas nas áreas da diplomacia preventiva, estabelecimento da
paz (“peacemaking”) estava ainda se adaptando ao seu escritório no
38o andar do prédio do Secretariado.
50
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
Em contrapartida, o último relatório anual sobre os trabalhos da
Organização de Javier Perez de Cuellar, apresentado alguns meses antes à
46a Assembleia Geral, fazia algumas reflexões perceptivas – e que, em
retrospecto, se revelam equilibradas e até corajosas – sobre as questões
essenciais ante as quais se encontravam as Nações Unidas ao fim de meio
século de tensões leste-oeste e na ante-sala do confronto com as novas forças
de fusão e fissão que estavam sendo liberadas. Perez de Cuellar falava da
relevância duradoura da filosofia da Carta e das credenciais únicas da
Organização como veículo universal para orientar as redefinições do futuro.
Ao se referir à ação “extraordinária” do Conselho de Segurança na defesa
do Kuwait, justificou as 14 resoluções que haviam sido tomadas, como
decisões que haviam obedecido a um “step by step and considered approach
to the use of its (the Council’s) powers under Chapter VII”.6 Mas também
alertou para o fato de que a reação do CSNU à crise do Golfo não se ativera,
a rigor, nem aos ditames do Artigo 42 nem à sequência do Capítulo VII. O
Conselho autorizara o uso da força “on a national and coalition basis”, o
que, em face dos custos da operação e da capacidade militar requerida lhe
parecera “inevitável”. Não obstante, aquela experiência devia, no seu entender,
ser seguida de uma reflexão coletiva sobre o recurso futuro aos poderes
investidos no Conselho sob o Capítulo VII. Em particular, a questão da
proporcionalidade do uso da força e a necessidade de se evitar que o recurso
ao Capítulo VII fosse exageradamente prolongado (“overextended”),
precisavam ser consideradas no âmbito de um debate sobre o estabelecimento
de algum tipo de mecanismo de controle de intervenções militares legitimadas
pelo Conselho de Segurança. Os efeitos das sanções sobre terceiros países,
bem como o seu impacto sobre a população do país alvo – que pode não ter
meios para alterar a política agressiva que levou à imposição das sanções –
mereciam atenção cuidadosa. A plena utilização dos bons ofícios do SecretárioGeral, dos acordos regionais e da Corte Internacional de Justiça eram
igualmente mencionados, além das demais possibilidades oferecidas pelo
Capítulo VI e dos esforços de diplomacia preventiva. O ex-Secretário-Geral
trazia à baila, enfim, o problema espinhoso da necessidade de se preservar a
confiança dos povos de todas as culturas e procedências geográficas no
trabalho da ONU, e não contar apenas com o endosso daqueles que se
sentem satisfeitos com o status quo.
A declaração adotada pelos quinze países (além dos cinco permanentes,
Áustria, Bélgica, Cabo Verde, Equador, Hungria, Índia, Japão, Marrocos,
51
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Venezuela e Zimbábue) começava com um capítulo intitulado “A Time of
Change”. Seus dois primeiros parágrafos aludiam, respectivamente ao fim
da Guerra Fria e à recuperação pelo Kuwait de sua soberania, em decorrência
de ação da comunidade internacional sob a autoridade das Nações Unidas.
A penúltima frase dessa parte introdutória equiparava certas “causas não
militares de instabilidade, nos campos econômico, social, humanitário e
ecológico a ameaças à paz e segurança” – a palavra “internacional” havendo
sido omitida. Um capítulo de seis parágrafos elevava a importância das
questões de desarmamento e controle de armamentos de destruição em massa
para a agenda do Conselho de Segurança identificando, em particular, a
proliferação de todas as armas de destruição em massa como ameaças à paz
e segurança internacionais. Em um capítulo de três parágrafos intitulado
“commitment to collective security” era reafirmado o compromisso dos
membros do Conselho com o sistema de segurança coletiva da Carta. O
capítulo insistia na importância da Carta e do direito internacional para a
solução pacífica de controvérsias e manifestava preocupação especial com
atos de terrorismo internacional.
Embora o compromisso com a segurança coletiva deixasse claro que ele
se referia ao sistema da Carta, a singularização de ameaças específicas – de
ordem militar e não militar – orientava tal compromisso em direções novas. A
“plasticidade interpretativa”7 à qual se prestavam os dispositivos da Carta
sempre deixara aberta a possibilidade de adaptações de percurso para o
significado de “ameaças à paz”, mas à luz de casos concretos, geográfica e
temporalmente determinados. As tentativas de definição, no abstrato, de termos
incluídos na Carta haviam sido empreendidas seja de forma preliminar e técnica
por órgãos especializados, como a Comissão de Direito Internacional, ou
pela Assembleia Geral, de composição plenária, como no caso da palavra
“agressão”.8 A novidade consistia, portanto, em plasmar, sem consulta aos
membros da organização como um todo, e sem vínculo a uma ameaça
imediata, uma concepção particular da segurança internacional capaz de
facilitar o acionamento do Capítulo VII para combater a proliferação horizontal
de armas de destruição de massa e lidar com crises humanitárias ou de
violações de direitos humanos, até mesmo em casos de conflito interno sem
impacto óbvio sobre a segurança regional ou internacional. O precedente
estabelecido com a resolução 688 de 5 de abril de 1991, que outorgara ao
Secretário-Geral um mandato amplo para levar adiante esforços humanitários
na proteção dos curdos no Iraque, passaria a ser invocado pelos porta52
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
vozes da defesa do indivíduo contra os abusos do Estado, em seu intuito de
associar a afirmação de valores morais aos mecanismos multilaterais de
promoção da paz e segurança internacionais.
Esse enfoque correspondia, sobretudo, às prioridades de uma vertente
mais idealista e liberal do mundo desenvolvido, cuja expressão radical (mesmo
se bem intencionada) alienou as parcelas da comunidade internacional que,
por sua fragilidade econômica ou política, seriam os alvos naturais de um
suposto “dever de ingerência”. A ideologia por trás da ampliação do leque de
ameaças à paz para nelas incluir os campos humanitário, ambiental, dos direitos
humanos, estava particularmente associada à militância de atores não
governamentais nos países mais desenvolvidos e sua maior ou menor influência
sobre seus respectivos governos. Um dos expoentes maiores desse idealismo,
o Bernard Kouchner dos médicos sem fronteiras, resumiria o sentimento de
seus correligionários naquele momento nos seguintes termos: “l’unanimité
née du conflit avec l’Irak a pu sembler fugitivement le prélude a un
gouvernement des consciences du monde”.9
Ao mesmo tempo, representantes do conservadorismo, como Margaret
Thatcher, desinclinados a trocar a realpolitik pela moralpolitik, viam naquele
momento uma oportunidade para a consecução de objetivos estratégicos
como a promoção intensificada da não proliferação e o combate a regimes
ameaçadores do status quo, como os do Iraque, Líbia ou Coreia do Norte.
Uma manifestação extrovertida dessa atitude seria a de Charles Krauthammer,
ao postular “American strength and will (...) to lead a unipolar world
unashamedly laying down the rules of world order and being prepared
to enforce them”.10
Os polos constituídos pelo idealismo dos que desejariam por a segurança
coletiva a serviço de causas moralmente elevadas e o do realismo absoluto,
contrário, em última análise, ao multilateralismo, parece haverem se aliado –
advertidamente ou não – no estabelecimento de prioridades para a declaração
final, em detrimento do que poderia ser descrita como uma atitude mais
equidistante dos dois polos, que teria possivelmente se concentrado em
algumas das questões mencionadas por Perez de Cuellar e levantadas pelo
Chanceler Shamuyarira do Zimbábue (ausente Robert Mugabe), como: a
aplicação uniforme de critérios para o acionamento de medidas coercitivas; a
elaboração de uma doutrina para as operações de paz; a operacionalização
do Artigo 50 (relativo ao impacto das sanções sobre terceiros países); o
exame de diferentes alternativas capazes de garantir uma supervisão de
53
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
medidas coercitivas militares pelo CSNU, seja pela reativação da Comissão
de Estado-Maior, seja por outro meio; a ampliação do Conselho; o
equacionamento das variáveis econômicas e sociais, humanitárias e ecológicas
na área coberta pela segurança coletiva; a inserção da responsabilidade
individual por atos contrários à paz e segurança da humanidade no contexto
da elaboração de um código penal internacional em harmonia com o trabalho
do Conselho de Segurança; o fortalecimento do papel da Corte Internacional
de Justiça na promoção da paz etc.
O Presidente George Bush, em sua intervenção, oscilaria entre a
temática da “sanctity of the individual” e a da não proliferação,
particularmente no Iraque (a Líbia também é mencionada em seu
discurso).11 Em uma interpretação unilateral das resoluções aprovadas
por iniciativa norte-americana contra o Iraque, Bush afirma que “no
normalization is possible as long as Saddam Hussein remains there,
remains in power”. A expressão segurança coletiva não é empregada em
momento qualquer por Bush, que conclui, mesmo assim, com a afirmação
de que “in the Gulf, in concert, we responded to an attack on the
sovereignty of one nation as an assault on the security of all. So let
us make it our mission to give this principle the greatest practical
meaning in the conduct of nations”.12 Ficavam abertas praticamente
todas as opções de ação ou inércia em face de crises futuras. Stephen
John Stedman em artigo sobre o nascimento de um “novo
intervencionismo” após a Guerra do Golfo, comentaria que George Bush
“never resolved whether he was a realist or a liberal”.13 O momento
se prestava àquela ambivalência, na medida em que o fim da Guerra Fria
havia criado condições para a reconciliação de correntes que haviam
permanecido divididas nos EUA durante décadas: a do idealismo
wilsoniano e a do anticomunismo conservador, cujo denominador comum
era a disposição intervencionista. O novo contexto permitia que os exdefensores da Guerra do Vietnã e seus opositores de consciência se
associassem, assim, no combate aos estados demonizados como o Iraque,
a Líbia, a Coreia do Norte, tanto por motivações estratégicas como por
preceitos morais. Segundo Stedman, esse neo-intervencionismo tenderia
a interpretar a Guerra do Golfo “as a watershed of international
cooperation and consensus. It should they believe, serve as a model
for a new system of global collective security (...), unshackled from
ideological polarization, to deter any act of interstate and internal
54
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
aggression”.14 A realidade do “momento unipolar”, no entanto, não
parecia exigir um esforço apressado de articulação de um novo sistema
de segurança coletiva.
Lafer e Fonseca Jr. falariam do “despreparo da comunidade internacional,
especialmente das grandes potências, para a proposição de soluções políticas
globais no plano das instituições, face à rapidez da falência do socialismo
real” e comentariam que “não se apresentaram receitas institucionais acabadas,
como as que nasceram depois da I Guerra em Versalhes, e da II Guerra em
São Francisco, não só porque o fim da Guerra Fria não trouxe um direito
novo como não foi possível identificar com clareza o diagnóstico dos defeitos
da ordem anterior”.15 A falta de um projeto catalisador do novo potencial de
entendimento internacional terá levado François Mitterrand a advertir que a
segurança coletiva logo se tornaria um conceito vazio se não fossem criadas
rapidamente condições para seu aprimoramento e atualização. Nesse sentido
propôs a utilização plena dos meios conferidos pela Carta e anunciou a
disposição francesa de colocar em estado de alerta um contingente de 1000
efetivos para operações de paz, convocáveis em apenas 48 horas.16 Essa
oferta vinha acompanhada da sugestão adicional de que a Comissão de
Estado-Maior fosse reativada para assumir as funções de comando estratégico
que lhe são atribuídas pelo Artigo 47. A iniciativa de Mitterrand se anteciparia
aos esforços de constituição de forças em regime de standby e dos
contingentes de reação rápida que, dada a persistente inviabilidade de
negociação dos acordos especiais do Artigo 43, se transformariam em mais
uma fórmula para suprir o natimorto paradigma original de segurança coletiva.
Ao misturar as forças de reação rápida e a Comissão de Estado-Maior,
Mitterrand estava ou insinuando que tais contingentes poderiam ser utilizados
para missões coercitivas, ou sugerindo que a Comissão passasse a funcionar
como um Estado-Maior para operações de paz, em qualquer um dos dois
casos reinterpretando a Carta à sua maneira.
Mitterrand terá demonstrado maior preocupação com o futuro da
segurança coletiva universal do que Boris Yeltsin. Quando o líder russo se
referiu ao tema foi para situá-la em um contexto “pan-europeu” ou então
propor, de forma irrealista, a criação de um sistema de “defesa global” baseado
na combinação dos complexos militares da Rússia e dos EUA.17 Li Peng,
por sua vez, constatou que a velha ordem se havia extinguido e que uma nova
ainda não havia emergido, deixando claro, entretanto, que o futuro reservaria
um papel protagônico para seu país ao anunciar o advento da
55
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
“multipolarização”.18 A China se erigiria em defensora da soberania nos países
em desenvolvimento e de uma concepção relativista dos direitos humanos
que se exime de julgar países sem levar em conta sua “História e condições
nacionais”. O Japão e a Índia sinalizariam seu interesse em atualizar a
composição do Conselho de Segurança (assunto abordado também por
Marrocos, Venezuela e Zimbábue), com Miyazawa acenando com a
possibilidade de participação japonesa em operações de paz e suscitando a
questão financeira,19 e Narasimha Rao aconselhando o CSNU a observar as
mesmas normas e padrões que costumam ser exigidos da comunidade
internacional e defendendo um regime consensual de não proliferação
irmanado ao objetivo do desarmamento nuclear.20 A temática do
desenvolvimento e de sua relação com a paz, lembrada por Equador,
Venezuela, Cabo Verde, Zimbábue, entre outros, ficaria submersa na profusão
de referências a questões de desarmamento e não proliferação ou de direitos
humanos. Ainda assim, a Declaração reconhecia, em sua última frase, que “a
paz e a prosperidade são indissociáveis e que uma paz duradoura e a
estabilidade requerem uma cooperação internacional efetiva para a erradicação
da pobreza e a promoção de uma vida melhor para todos com mais
liberdade”.21
Cinco meses mais tarde, Boutros-Ghali divulgaria o relatório
encomendado pela Declaração. Esforço ambicioso, embora confuso, de
organizar o debate sobre questões de segurança nas Nações Unidas, o
documento do Secretário-Geral se tornaria, não obstante, referência
indispensável ao processo de articulação de um conjunto novo de ideias sobre
a segurança coletiva, formulando de maneira mais específica algumas das
ideias presentes na Cúpula de janeiro de 1992 e apresentando sugestões
concretas, sem se limitar pelas práticas que a Organização desenvolvera em
seu primeiro meio século de existência.
(C) A Agenda para a Paz do Secretário-Geral Boutros-Ghali.
“Uma Agenda para a Paz: diplomacia preventiva, estabelecimento da
paz e manutenção da paz”, intitula-se o relatório circulado com data de 17 de
junho de 1992 em resposta à solicitação formulada pelos Chefes de Estado
e Governo (ou seus representantes pessoais) dos países membros do Conselho
de Segurança no início do ano.1 Consta que o Secretário-Geral dedicou pelo
menos quarenta horas a revisar o projeto inicial de cinquenta e duas páginas
56
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
que lhe foi submetido pelo então Subsecretário-Geral Petrovsky, o ex-Vice
Chanceler de Mikhail Gorbatchev. Segundo o articulista Paul Lewis do New
York Times, o entusiasmo russo diante do texto se explicava em função da
influência de Petrovsky no seu preparo.2 A acolhida russa terá sido
compartilhada em alguma medida pelos países nórdicos, mas contrastou com
o apoio qualificado do Reino Unido, da França e dos EUA, as reticências de
grande parte do mundo em desenvolvimento e a desaprovação chinesa.
O parágrafo 43 da Agenda para a Paz propunha, como fizera
Shevardnadze durante a Guerra do Golfo, que os Estados membros
examinassem a hipótese de negociar acordos para o fornecimento ao
Conselho de Segurança de tropas e outras formas de assistência militar, em
conformidade com a letra do Artigo 43, não apenas de maneira ad hoc mas
em base permanente. As circunstâncias políticas prevalecentes haviam
eliminado os obstáculos à plena implantação da Carta e a mera existência de
tais forças adquiriria um poder de dissuasão contra agressores potenciais,
particularmente aqueles dotados de forças militares “of a lesser order”.
Admitida a limitação de tais contingentes no combate a um exército de maior
porte dotado de armamento sofisticado, o Secretário-Geral recomendava,
não obstante, que o CSNU iniciasse negociações para a efetivação do Artigo
43, com a concorrência da Comissão de Estado- Maior, cuja composição
poderia ser ampliada para acomodar participantes adicionais aos P-5 (tal
como defendera Gromyko em Dumbarton Oaks). Boutros-Ghali precisava
que a atividade da Comissão de Estado-Maior devia permanecer situada no
contexto do Capítulo VII, rejeitando a insinuação francesa de que ela fosse
aproveitada para assumir funções de planejamento e comando de operações
de paz.
Um subcapítulo explicitava que as forças do Artigo 43 se concentrariam
na resposta a casos claros de agressão iminente ou efetiva, ao contrapor que
a ONU - frequentemente chamada a garantir o respeito a acordos de cessarfogo - não podia utilizar as forças de manutenção da paz, em sua conceituação
tradicional, para exercer com autoridade esse papel, e sugerir que uma nova
categoria de missões providas de armamento pesado fosse criada para tal
fim. Essas “unidades de imposição da paz” situariam sua ação no contexto
do Artigo 40 do Capítulo VII (o das medidas provisórias que não prejudicam
os direitos ou pretensões, nem a situação das partes interessadas) e ficariam
sob o comando do Secretário-Geral, da mesma forma que as operações de
paz.
57
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Independentemente do mérito de tais propostas, o fato de elas haverem
sido incluídas na seção do documento denominada “peacemaking” causava
em si certa perplexidade. Boutros-Ghali justificava essa inclusão, no parágrafo
45 de seu relatório, sob a alegada inexistência de uma divisão clara entre o
estabelecimento da paz ou “peacemaking” e a manutenção da paz ou
“peacekeeping”. Esse remanejamento de vocábulos no interior do léxico da
paz e segurança internacional desenvolvido pela ONU parecia desconsiderar
a distinção fundamental da Carta entre a solução pacífica de controvérsias
do Capítulo VI e as respostas coercitivas à agressão e ameaças à paz do
Capítulo VII, reinterpretando o mandato do Conselho de Segurança em um
sentido militarizante. Thomas Weiss comentaria que “the most significant
departures in the report are organized somewhat surprisingly and
confusingly, under the rubric of peacemaking” acrescentando
didaticamente que “The usual notion concerns such peaceful measures as
mediation and good offices, outlined in Chapter VI of the UN Charter”
e se referindo à reformulação de Boutros-Ghali como “an unusual stylistic
presentation, one which confuses readers and decisionmakers”.3
Algumas outras ideias do relatório merecem ser mencionadas por suas
implicações para a temática da segurança coletiva. Se, por um lado, as
ferramentas coercitivas do Capítulo VII eram misturadas aos utensílios não
coercitivos do “peacemaking”, por outro lado Boutros-Ghali acenava com
a possibilidade de redefinir os parâmetros consagrados de atuação das
operações de paz ao afirmar textualmente que “peacekeeping is the
deployment of a United Nations presence in the field, hitherto (grifo
nosso) with the consent of all the parties concerned”.4 Como assinala
John Gerard Ruggie, ali estava uma sinalização clara de que a ONU não
descartava a possibilidade de posicionar cascos azuis sem o consentimento
local, em certas situações.5
Em 1992 as operações de paz da ONU estavam na ordem do dia.6
Enquanto treze operações de paz haviam sido estabelecidas de 1945 a 1987,
um total de quatorze novas operações haviam sido criadas desde 1988 –
quando lhes fora concedido o prêmio Nobel da Paz. Naquele ano o número
de tropas da ONU se multiplicara por quatro e o orçamento de
“peacekeeping” aumentara de 700 milhões de dólares, no ano anterior, para
2.8 bilhões. Uma profusão de operações “multidimensionais”, segundo a
categorização de Shashi Tharoor, estava levando a organização a uma “crise
de excesso de credibilidade”.7 Os dias da patrulha de linhas de cessar-fogo
58
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
pelas operações de paz “tradicionais” haviam sido superados, com a atribuição
de uma série de novas funções aos soldados da ONU, tais como a supervisão
eleitoral, o monitoramento de direitos humanos, a administração civil e o
desempenho de tarefas policiais civis. As forças armadas em diferentes partes
do mundo viam os exercícios de manutenção da paz da ONU como uma
forma de demonstrar sua utilidade no ambiente pós-Guerra Fria, como
comentaria o ex-Assessor Militar do Secretariado, General Maurice Baril
(Canadá).8
Mas o quadro de relativa tranquilidade e consenso dentro do qual se
havia chegado a uma situação de indiscutível prestígio da manutenção da paz
por forças da ONU começava a enfrentar turbulência. O problema resultava,
em parte, da recalcitrância de partes que se haviam teoricamente
comprometido a respeitar acordos livre e previamente alcançados – e cuja
implantação a ONU deveria facilitar – exemplificada pela desobediência dos
Khmer Rouge no Camboja, ou na UNITA em Angola aos termos dos acordos
de Paris e Bicesse respectivamente. Como observa Stepen John Stedman, o
desenrolar dos acontecimentos no Camboja, em Angola e no Saara Ocidental,
revelaria que o compromisso de uma das partes, que viabilizara a presença
da ONU naqueles países, fora meramente “tático”.9 Uma alternativa para
lidar com tais situações de desonestidade crônica consistiria no
desenvolvimento de “testes de sinceridade”, como sugere Stedman, por meio
da aplicação de certos critérios capazes de ajudar a estabelecer a existência
de condições suficientemente estáveis para a manutenção da paz por
operações da ONU. Outra alternativa consistiria em admitir que a ONU
“castigasse” a parte desrespeitosa de um acordo ou compromisso. Tanto a
idealização de “unidades de imposição da paz” como o abandono de
interpretações restritivas do consentimento das partes parecem haver sido
motivadas por uma inclinação favorável a essa segunda opção.
Já se delineavam àquela altura, de outra parte, os dilemas éticos com
que se confrontariam as forças de paz ante o desvio de assistência humanitária
pelos Chefes de clã somalis, a limpeza étnica na Bósnia e na Croácia, o
genocídio em Ruanda. A inexistência de acordos a serem implantados, ou
mesmo de canais diplomáticos para a preservação de uma atitude geral de
respeito à presença da ONU nesses locais, ameaçava transformar os cascos
azuis em partícipes involuntários em guerras civis ou reféns em potencial. Ao
escamotear a distinção entre formas pacíficas e coercitivas de solucionar
diferendos, a Agenda para a Paz criava um ambiente tolerante ao uso da
59
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
força nesses cenários, que, na falta de uma doutrina coerente para seu
emprego, acabaria levando a Organização a sofrer revezes e perder
credibilidade em um futuro não distante.
A ideia de que o recurso mais desimpedido a formas militarizadas e
coercitivas de preservação da paz internacional fortaleceria a Organização e
o Conselho de Segurança está refletida em diversas postulações da Agenda
para a Paz e poderia ser considerada um dos fios condutores do documento.
Além dos aspectos acima mencionados, a importância atribuída à ideia do
posicionamento preventivo de forças, no interior do subcapítulo sobre
diplomacia preventiva, enfatizava a modalidade militarizada da prevenção
em detrimento da diplomática. Um extenso subcapítulo sobre organismos e
arranjos regionais, sublinhava a flexibilidade oferecida pela Carta para a
definição de tais arranjos e encorajava o desenvolvimento de esforços
complementares entre a ONU e esses grupos, permitindo que “associações
ou entidades, organizações criadas por tratados, antes ou depois da fundação
da ONU, para a segurança mútua ou defesa” entre outras, fossem aceitas
como organismos regionais em sentido lato. Estava aberta a brecha para que
alianças, como a OTAN, viessem a ser tratadas como um organismo sob o
Capítulo VIII (enquanto a OTAN, como já se viu, foi criada com base no
direito à autodefesa do Artigo 51 do Capítulo VII). Boutros-Ghali aduzia
que, se no passado certos arranjos regionais haviam sido estabelecidos para
suprir a inoperância do sistema de segurança coletiva universal, e suas
atividades “could on occasion work at cross-purposes with the sense of
solidarity required for the effectiveness of the world Organization”, em
uma era de renovadas oportunidades eles podiam prestar grandes serviços,
“desde que suas atividades fossem empreendidas em conformidade com os
objetivos e princípios da Carta e sua relação com a ONU governada pelo
Capítulo VIII”. O objetivo não parecia ser o de restringir o escopo da
cooperação da ONU naquele âmbito, nem o de cobrar uma vinculação jurídica
estrita entre diferentes tipos de entidades regionais e o Capítulo VIII. A atuação
da OTAN na Bósnia, primeiramente como o braço armado da “United
Nations Protection Force” (UNPROFOR), e – após os acordos de Dayton
– como a “Implementation Force” (IFOR) autorizada pelo Conselho de
Segurança a cumprir sua missão sob o Capítulo VII, completaria a virtual
normalização de relações entre a ONU e uma aliança defensiva, cujo tratado
constitutivo só lhe permitia, a rigor, agir para a proteção do território de seus
membros em caso de ataque a um deles.
60
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
A famosa declaração do parágrafo 17 do relatório sobre “o ocaso da
era da soberania absoluta e exclusiva” pode ser vista como outro elemento
nesse desenho geral de fortalecimento da capacidade de ação coercitiva,
imposição da paz pela força, revisão do princípio do consentimento.10
A preocupação louvável do Secretário-Geral com a segurança do pessoal
da ONU em diferentes missões de paz (que levaria à elaboração de uma
convenção internacional sobre o assunto), também se inscrevia, de certa forma,
na ideologia anteriormente descrita: se a ONU toma partido em lutas internas,
relativiza a soberania alheia e organiza unidades para impor a paz pela força,
ela tenderá a enfrentar riscos maiores no plano da segurança de seu pessoal.
As chamadas operações de paz de segunda geração, em que as forças da
ONU viriam a distribuir ajuda humanitária sob fogo cruzado, monitorar zonas
de exclusão de tráfego aéreo, caçar o General Aideed na Somália, exporia o
pessoal da Organização a manifestações de hostilidade sem precedentes,
levando Shashi Tharoor a admitir que o capital acumulado pelos êxitos na
Namíbia, na América Central, até certo ponto no Camboja, se desvalorizara
rapidamente ocasionando abruptamente uma “crisis of too little credibility”.11
Interessante notar que a Convenção sobre a Proteção do Pessoal das Nações
Unidas de dezembro de 1994 optaria por excluir de seu campo de aplicação
as operações autorizadas pelo Conselho de Segurança sob o Capítulo VII
(Artigo 2). A imposição da paz pela força por pessoal das Nações Unidas
deixaria de merecer, na convenção, qualquer referência legitimadora.
A ideia da “construção da paz após o conflito” (“post-conflict peacebuilding”) seria proposta como um conceito adicional ao tripé constituído
pela diplomacia preventiva, o estabelecimento e a manutenção da paz. O
PCPB, como ficaria conhecido, se distinguiria dos esforços tradicionais de
promoção de desenvolvimento por tratar-se de um empreendimento de
inspiração política, encarado pelo prisma mais imediatista da preservação da
paz e da segurança. Menos controvertida do que outras propostas da Agenda
para a Paz, a ideia coadunava-se com o enfoque – defendido por países em
desenvolvimento – segundo o qual as raízes das crises políticas no terceiro
mundo devem ser buscadas sobretudo em sua fragilidade econômica e social.
Mas surgiriam divergências a respeito do grau de responsabilidade dos
diferentes órgãos da ONU na reconstrução pós-conflito, já que para um
grande número de delegações o assunto se enquadrava na esfera de
competência mais ampla da consideração pela Assembleia Geral da temática
do desenvolvimento econômico e social.
61
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
A Agenda para a Paz tentou apresentar algumas propostas criativas para
ajudar a Organização a regularizar sua situação financeira ou pelo menos
reduzir a distância entre as tarefas cada vez mais dispendiosas que lhe eram
atribuídas e a escassez de recursos para cumpri-las. A situação se agravaria
consideravelmente após as eleições legislativas para o Congresso norteamericano de 1994 das quais sairia vitorioso o partido republicano, que
passaria a condicionar o pagamento de atrasados dos EUA, principal
contribuinte e devedor, a reformas administrativas e revisões no sistema de
arrecadação de contribuições para os orçamentos regulares e de operações
de paz da ONU. Mas o acúmulo de débitos como forma de pressionar a
Organização fazia parte de um perfil de ambivalência dos EUA em relação às
Nações Unidas, cuja origem, segundo Benjamin Rivlin, se situa no desencanto
dos segmentos mais conservadores do espectro político norte-americano –
inclusive em representantes do partido democrático como o Senador Patrick
Moynihan – com a formação, nos anos setenta, de maiorias automáticas
constituídas por países do terceiro mundo e pelo bloco comunista em desafio
a interesses de Washington e seus aliados (sobretudo Israel).12 Durante o
período Reagan, os EUA reduziriam anualmente suas contribuições ao
orçamento regular. Com o fim da Guerra Fria e o episódio do Golfo a “nova
ordem mundial” de Bush parecia anunciar um ambiente de apoio bi-partidário
nos EUA às Nações Unidas, capaz de se traduzir em um cumprimento mais
assíduo de suas obrigações financeiras. Esse consenso desapareceria,
entretanto, com a morte de dezoito “rangers” do exército norte-americano
pelas milícias do General Aideed que, para citar novamente Rivlin, “unleashed
a firestorm in the US Congress, the American media, and the public.
Public sentiment was overwhelmingly anti-UN, and the prestige of the
United Nations plummeted to an unprecedented low”.13 O SecretárioGeral conseguiria convencer o CSNU a estabelecer um fundo de reserva
para o estabelecimento automático de operações de paz, mas as finanças da
ONU se ressentiriam cada vez mais da atmosfera anti-Nações Unidas nos
EUA, que impediria, em última análise, a reeleição de Boutros-Ghali.
Ironicamente, a reviravolta anti-ONU nos Estados Unidos podia ser
interpretada, até certo ponto, como decorrência da posta em prática do
intervencionismo militarista subjacente a vários parágrafos da Agenda para a
Paz.
A problemática financeira não deixa de ser relevante para a temática da
segurança coletiva em mais de um aspecto. As experiências negativas na
62
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
Somália, na Bósnia, em Ruanda levariam os EUA a rever sua posição em
relação às intervenções da ONU de forma geral e a insistir cada vez mais em
uma reforma das práticas administrativas da Organização. Nesse contexto,
uma alternativa que se afirmaria por seu modo de financiamento em bases
voluntárias e por não envolver problemas de estruturas de comando a cargo
do Secretariado, seriam as forças multinacionais. Washington passaria a ver
na atribuição de um lugar permanente para o Japão e a Alemanha no Conselho
de Segurança, ademais, uma forma de transferir para Tóquio e Bonn parte
da responsabilidade financeira que recaía sobre os EUA.
A agenda para a Paz pretendeu consolidar o consenso internacional que
ocasionara a primeira reunião de cúpula na História do Conselho de
Segurança, segundo um movimento duplo e simultâneo de retorno à Carta de
São Francisco e de busca de sua transcendência em direções inexploradas.
Nos meses seguintes a sua divulgação o documento de Boutros-Ghali seria
debatido pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Segurança, pelo Comitê
Especial de Operações de Paz, pelo Comitê Especial da Carta, pela imprensa,
pelo meio acadêmico. O consenso de janeiro de 1992 sofreria fraturas mas
não se romperia de todo. A Cúpula comemorativa do cinquentenário da
Organização, em 1995, permitiria à Assembleia Geral viver um momento ao
mesmo tempo de reafirmação e de autocrítica, em sentido semelhante ao das
postulações mais realistas, e matizadas pela experiência, do Suplemento à
Agenda para a Paz de janeiro de 1995.14
As sugestões relacionadas ao Artigo 43 e à criação de unidades de
imposição da paz foram recebidas com reserva pela maioria das delegações,
a partir do debate geral da 47a Assembleia Geral, e acabariam sendo aos
poucos relegados ao esquecimento. Segundo a análise de Bo Huldt, da Escola
Superior de Guerra da Suécia “while the debating states’ spokesmen
recognized the very legitimate ambition of the Secretary-General to
prelaunch the collective security system of the UN once the Cold War
had gone, the enthusiasm for the reactivation of the Charter’s Article
43, involving special UN agreements on national forces placed at the
disposal of the organization for enforcement operations, was far from
overwhelming”.15 Afora o endosso sem maiores restrições da Federação
Russa, mesmo os nórdicos e canadenses, prontos - em teoria - a contemplar
a negociação de acordos de Artigo 43, hesitavam em fazê-lo sem antes haver
resolvido questões sensíveis, como aquelas atinentes à participação dos
fornecedores de tropas no processo de tomada de decisões sobre sua
63
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
mobilização, ao papel futuro da Comissão de Estado-Maior, ao consentimento
do Estado fornecedor a que suas tropas fossem utilizadas para eventuais
ações coercitivas etc. Embora não se disputasse a assertiva do SGNU, de
que a ameaça do uso da força em última instância lastreia a credibilidade das
Nações Unidas como garante da segurança internacional, a reação dos países
desenvolvidos, com mais longa trajetória em matéria de participação em
intervenções da ONU, se orientaria no sentido do oferecimento voluntário
de forças em regime de standby mas não para ações de enforcement.
Adicionalmente, esses países demonstrariam interesse em desenvolver a
capacidade de ação da ONU para a promoção de direitos humanos,
repatriamento de refugiados, assistência eleitoral, econômica, social. Os
nórdicos, por exemplo, desenvolveriam uma doutrina própria de intervenção
em situações como as acima apontadas que, embora preservando a filosofia
da imparcialidade e do consentimento, admitiria o uso da força não somente
em autodefesa mas também para o cumprimento do mandato da missão. A
ideia era a de que, obtida a luz verde das partes para uma intervenção de
cunho humanitário, as forças da ONU teriam o direito de empregar meios
coercitivos para cumprir objetivos específicos como a entrega de mantimentos
a populações carentes ou o acompanhamento de refugiados até um destino
seguro, por exemplo.
A reação dos EUA combinaria um apoio decidido ao fortalecimento da
capacidade de atuação da ONU na esfera do peacekeeping com a defesa
de um papel para o Conselho de Segurança no enforcement da não
proliferação. George Bush falaria também em “operações robustas de
assistência humanitária”, mas deixaria de se comprometer com os esquemas
concebidos por Boutros-Ghali para dotar a Organização de contingentes
militares para ações de Capítulo VII. Bush confessaria, em seu último discurso
como Presidente, em West Point, não estar certo de que os EUA deveriam
reagir a “every outrage of violence”, revelando reservas em relação ao
neointervencionismo, que não chegariam a se explicitar inteiramente.16
O apoio indiscriminado da Federação Russa aos pontos mais
controvertidos da Agenda para a Paz pode parecer surpreendente à primeira
vista, mas faz sentido se examinado pela ótica de uma potência que acabava
de ser amputada de vários atributos do poder estratégico, como território,
população, recursos materiais e militares. As admoestações de Boutros-Ghali
sobre os limites da autodeterminação e contra o micro-nacionalismo só podiam
agradar a um poder central russo em luta por sua afirmação na Tchetchênia,
64
A GUERRA DO GOLFO E O RESSURGIMENTO DE INTERESSE PELO PARADIGMA
no Daguestão, nas Ossétias. A noção de fim da soberania absoluta convinha
também a Moscou, facilitando a intervenção russa no seu entorno imediato,
inclusive para proteção de suas minorias nos países bálticos e na Ásia Central.
A ênfase na não proliferação contribuiria para a desnuclearização da Ucrânia,
da Bielorrússia e do Cazaquistão e sua adesão, como países não nucleares,
ao TNP. A reativação das negociações para a efetivação do Artigo 43 e o
acionamento da Comissão de Estado- Maior, talvez ajudasse a evitar novas
Guerras do Golfo, em que o planejamento e a execução da operação militar
autorizada pelo Conselho de Segurança ficaram inteiramente a cargo dos
EUA, com a eventual ajuda de Londres e Paris. As unidades de imposição
da paz não seriam, como admitia Boutros-Ghali, empregadas contra potências
de maior porte, e poderiam se revelar úteis na consolidação da esfera de
influência russa em seu “near abroad”. Em discurso perante a 47a AGNU, o
ex-Chanceler russo Kozyrev afirmaria que “se os meios políticos fracassam,
a força pode e deve ser utilizada para separar partes em conflito, proteger
direitos humanos e restaurar a paz (...)”. Essa declaração, coincidentemente,
era seguida de referências aos problemas na Ossétia, na região de Dniestr, na
Abcássia, no Nagorno Karabakh e no Tadjiquistão.17
No extremo oposto se situava a China, que, atenta para o verdadeiro
cinturão sísmico em fase de acomodação de terreno dos Bálcãs à Ásia Central,
que chegava perto de suas fronteiras, passaria a assumir uma postura cada
vez mais contrária à coerção nas relações internacionais. Nas palavras do
Chanceler Qian Qichen, em setembro de 1992: “em nossa opinião a força
não deveria ser utilizada nem como último recurso na busca de soluções para
um problema, por mais complicado que ele seja; (...) os Estados soberanos
são os sujeitos do direito internacional e constituem a base das Nações Unidas;
(...) a proteção da soberania estatal deve ser um princípio fundamental da
nova ordem mundial”.18 Com essa reação Pequim se protegia do ressurgimento
de um hegemonismo russo assumindo bandeiras que a aproximavam do mundo
em desenvolvimento, e se posicionava para dar configuração concreta à
“multipolaridade” da qual se considerava desde já um dos polos.
Conforme a avaliação da Missão do Brasil junto à ONU “os países em
desenvolvimento, por verem com natural reserva a ampliação da capacidade
intervencionista da ONU, quase sempre exercida em cenários meridionais,
optaram de modo geral (no debate geral da AGNU) por formulações de
apoio genérico, cautelosas ou matizadas à Agenda para a Paz”.19 Os países
em desenvolvimento defenderiam, assim, o respeito aos princípios da Carta,
65
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
a preservação e ampliação das prerrogativas da Assembleia Geral, a renúncia
a métodos hegemônicos e discricionários de exercício do poder mundial, a
democratização do processo decisório e dos mecanismos de representação
vigentes nas Nações Unidas e especificamente, no Conselho de Segurança.
Desnecessário frisar que não mereceram apoio dos países do Sul nem as
propostas de conteúdo autoritário, nem as reinterpretações de conceitos de
soberania e consentimento. O Movimento Não Alinhado, sob a presidência
da Indonésia, redescobriria uma voz mais combativa e criticaria o que se lhe
afigurava como uma ordem do pós-Guerra Fria “where world affairs are
run by a small group of powerful nations”.20
O Brasil preparava-se em fins de 1992 para voltar a participar do
Conselho de Segurança após três anos de ausência. Nas diversas instâncias
em que a Agenda para a Paz do Secretário-Geral seria discutida,
participaríamos ativamente da defesa de um multilateralismo orientado para a
construção de uma ordem internacional mais justa, respeitosa do direito
internacional, democrática, tolerante e não violenta. Promoveríamos o conceito
de “construção da paz preventiva” (“preventive peace-building”), por
intermédio de ações de fomento do progresso econômico e social e
conseguiríamos mobilizar o Secretariado e os Estados membros na elaboração
e discussão de uma “agenda para o desenvolvimento”. A Missão junto à
ONU concluiria seu resumo dos debates sobre a Agenda para a Paz na 47a
Assembleia Geral, assinalando que o documento continuaria a se entrelaçar
com as discussões mais amplas sobre o advento de uma “nova ordem mundial”
no contexto do “balizamento de um novo modelo de segurança coletiva”
para o pós-Guerra Fria.21 A aplicação de medidas justificadas sob o Capítulo
VII a novos tipos de desafios na Somália, na Bósnia em Ruanda e no Haiti,
transformariam o Conselho de Segurança em um verdadeiro laboratório, onde
experiências concretas revelariam dificuldades práticas na aplicação dos
preceitos teóricos emanados da reunião de cúpula de 1992 e da Agenda
para a Paz.
66
Capítulo 3
A Invocação do Capítulo VII após a Guerra
do Golfo
(A) A Intervenção na Somália
O envolvimento do Conselho de Segurança na crise da Somália se dá
desde o início sob o signo do Capítulo VII, com a imposição de um embargo
de armas pela resolução 733 de 23 de janeiro de 1992, um ano após o
colapso do Governo do ditador Siade Barre em janeiro de 1991. A resolução
733 foi aprovada por consenso, assim como o seriam as resoluções
subsequentes autorizando medidas coercitivas, em particular, a 794 de 3 de
dezembro de 1992 – que legitimou a intervenção norte-americana para a
proteção das operações de assistência humanitária (a United Task Force on
Somalia ou UNITAF também conhecida como “Operation Restore Hope”)
– e a 814 de 26 de março de 1993, que atribuiu à Operação das Nações
Unidas na Somália (UNOSOM II) a responsabilidade pela manutenção de
um ambiente de segurança no país em substituição à UNITAF. O consenso
que presidiu à tomada de decisões inéditas pelo Conselho sobre o emprego
da coerção militar por razões humanitárias em uma guerra civil, e chegaria a
autorizar o Secretário-Geral a tomar “all necessary measures” contra os
responsáveis pelos ataques à UNOSOM II que resultaram na morte de 23
soldados paquistaneses, não impediria que, em dezembro de 1995, relatório
preparado pela Unidade das Lições Aprendidas do Departamento de
Operações de Paz do Secretariado sobre a experiência da Somália
67
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
constatasse que o uso da força em certas circunstâncias pode ser
“contraproducente” e admitisse que aspectos controvertidos da ação na
Somália haviam repercutido negativamente sobre a credibilidade da ONU.1
A Somália podia ter se convertido no teatro ideal para a demonstração
do acerto da concepção de segurança coletiva que amplia o leque
desencadeador da coerção militar para abarcar situações de crise humanitária
ou de violações de direitos humanos e delega a aplicação da força
coletivamente autorizada a exércitos nacionais ou a tropas da ONU. A
intervenção determinada pelo Conselho de Segurança para a proteção da
população civil em um país falido, sem Governo, em estado de virtual anarquia
hobbesiana teria comprovado a obsolescência das noções tradicionais de
soberania e a inutilidade do apego rígido à regra do consentimento como
requisito para a presença de forças onusianas. Mas ao expor tropas norteamericanas e forças da ONU à violência, a Somália se transformaria
repentinamente em um sinal (a ser seguido por outros) da necessidade de
uma reflexão mais aprofundada sobre o futuro da segurança coletiva em um
ambiente internacional em mutação.
O enquadramento de uma situação de instabilidade interna no contexto
do Capítulo VII não foi, a rigor, inaugurado pela Somália. Como vimos, as
sanções impostas à Rodésia do Sul e África do Sul, embora justificadas sob
a alegada ameaça que tais situações representavam para a segurança regional,
constituíram antes manifestações de repúdio internacional ao racismo
institucionalizado de Salisbury e Pretoria do que medidas destinadas a reverter
ou prevenir atos de agressão ou de ruptura da paz. O antecedente do combate
internacional ao apartheid seria invocado por Stanley Hoffmann na defesa
de um direito de intervenção, calcado na base jurídica proporcionada pelo
Capítulo VII, para a promoção de valores morais e humanitários: “it is high
time that the principle the UN has applied only to South Africa be
generalized. No state should be able to claim that the way it treats its
citizens is its sovereign right if this treatment is likely to create
international tensions”.2
O caso da África do Sul seria lembrado nas semanas que se sucederam
à Guerra do Golfo, no contexto dos debates que levaram à adoção pelo
CSNU da resolução 688 de 5 de abril de 1991 (votos contrários de Cuba,
Iêmen e Zimbábue e abstenções de China e Índia) – que, por sua vez, passou
a ser vista como precedente para a ação na Somália. A resolução 688, embora
sem referência explícita ao Capítulo VII, considerara a repressão dos curdos
68
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
pelo Iraque uma ameaça à paz e segurança internacionais e solicitara ao
Secretário-Geral que utilizasse todos os recursos a sua disposição para
“atender urgentemente às necessidades críticas dos refugiados”. O Embaixador
britânico afirmara, na ocasião, que “it has been argued in our debate that
this action is in some way outside the scope of the Security Council, that
it is an entirely internal matter. (...) For one thing, Article 2, paragraph
7, an essential part of the Charter, does not apply to matters which,
under the Charter, are not essentially domestic, and we have seen human
rights - for example in South Africa - defined in that category”.3 O
Embaixador Alarcon de Cuba defenderia a posição contrária, nos seguintes
termos: “os poderes específicos do Conselho estão consignados nos Capítulos
VI, VII, VIII e XII. Esses quatro Capítulos não incluem questões de ordem
humanitária. A Carta dedica o Capítulo IX a essas questões. Os redatores da
Carta estabeleceram claramente no Artigo 60 do Capítulo IX que a
responsabilidade pelo tratamento dessas questões recai sobre a Assembleia
Geral. O Conselho de Segurança não tem direito de violar o princípio da não
intervenção e de interferir nos assuntos internos de um Estado. Ele não tem
direito de interferir indevidamente em assuntos que recaem sob a competência
de outros órgãos da Organização”.4 Uma postura intermediária seria defendida
pelo Embaixador Ayala Lasso do Equador, para quem o Conselho era
competente para adotar medidas que infringem o Artigo 2 (7) apenas na
medida em que a repressão aos curdos produzisse repercussões internacionais,
o que era o caso, já que a Turquia e o Irã estavam sendo invadidos por
refugiados.5 Ao referir-se a problemas com refugiados, o Equador tocava
em um elemento que adquiriria importância crescente para a inserção de
questões humanitárias no contexto da segurança internacional e que levaria
David Scheffer a falar de uma nova política de “containment” no pós-Guerra
Fria, não mais do comunismo e sim de refugiados.6
Sem prejuízo da competência da Assembleia Geral para lidar com
problemas de direitos humanos ou humanitários, a reunião de cúpula de janeiro
de 1992 se encarregara, como vimos, de equiparar as causas não militares
de instabilidade – e as humanitárias entre elas – às ameaças à paz e segurança.
A tendência política, em fase de consolidação no CSNU não era, portanto, a
de autolimitar seu escopo de atuação por considerações jurídicas como as
do Embaixador de Cuba. O Brasil, ao ser sondado sobre sua eventual
disposição em contribuir com efetivos para a formação do corpo de guardas
das Nações Unidas incumbido de implantar a resolução 688 se absteria de
69
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
fazê-lo, por considerar duvidosa a base para aquela iniciativa do SecretárioGeral. Telegrama da Missão do Brasil junto à ONU de 26.06.91 observaria
a esse respeito que os guardas “constituíram um remédio excepcional, onde
considerações políticas, humanitárias e de segurança acabaram por sobreporse aos princípios de não intervenção e respeito à soberania, em circunstâncias
excepcionais. Resta verificar se a excepcionalidade não virá a firmar-se como
nova regra, mercê do desgaste progressivo que vem sofrendo nos últimos
tempos os princípios tradicionais de direito internacional em razão de práticas
questionáveis de certos estados”.7
Como lembra Srobe Talbott, mesmo se a punição imposta ao Iraque
pela resolução 687 inovava em relação a práticas anteriores, ela se inscrevia
ainda em um marco geopolítico tradicional: “A usual the world community
was focusing on the threat of aggression across borders”. Em contrapartida,
com a adoção da resolução 688 o Conselho de Segurança teria dado um
passo “a step - and a very small, uncertain one at that - toward redefining
its interests and obligations to take account not just of what happens
between and among nations but what happens inside them as well”.8
A essa altura talvez coubesse uma digressão sobre a diferença entre
direitos humanos e assuntos humanitários. Ao abordar a questão, Weiss,
Forsythe, Coate comentam que a distinção entre os dois pode estar mais
no ângulo de visão do observador do que na realidade. Não obstante, eles
distinguem entre “actions supposedly undertaken because persons have
a human right to them, and actions undertaken because they are
humane – whether persons are fundamentally entitled to the actions
or not”.9 Em um sentido amplo a assistência humanitária se aplica tanto a
desastres sociais provocados pelo homem como pela natureza.
Historicamente, contudo, o direito humanitário se desenvolveu como um
ramo do direito aplicável em situações de conflito, o que não seria o caso
em relação à proteção dos direitos humanos. O direito humanitário, cujos
antecedentes podem ser buscados em Rousseau e Vattel, ganhou ímpeto
com o trabalho da Cruz Vermelha na promoção de um conjunto de
instrumentos internacionais que foram sendo ampliados e atualizados até a
negociação, na década de 70, dos Protocolos I e II às Convenções de
Genebra de 1949, que por sua vez ampliavam e consolidavam o direito
anterior de Genebra e da Haia. Ao privilegiar a solução de diferendos por
meios pacíficos e admitir o recurso à força apenas em última instância, seja
em legítima defesa seja em decorrência de uma ação coletiva de preservação
70
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
da paz, tanto a filosofia da Liga das Nações como a da Carta da ONU não
se compatibilizavam com o enfoque jurídico do jus in bello adotado pelo
direito humanitário. Assim, as organizações internacionais que sucederam à
I e à II Guerra mundial optaram por não adentrar o terreno do
estabelecimento de regras a serem observadas em situações de conflito
armado (mesmo se a Assembleia Geral adotaria resoluções sobre assistência
humanitária em geral), tarefa que permaneceu sob a égide do Comitê
Internacional da Cruz Vermelha, que se encarregaria de monitorar a aplicação
das Convenções de Genebra e de seus Protocolos. Em relação ao caso da
Somália, que nos interessa de imediato, vale ressaltar que o Protocolo II
sobre a proteção de vítimas em conflitos armados não internacionais prega
a não interferência no conflito ou nos assuntos internos ou externos do
território onde ocorre o conflito.10 O Protocolo II silencia, ademais, sobre
a questão da responsabilidade coletiva ou individual por eventuais violações
a seus dispositivos e não atribui, tampouco, qualquer papel a terceiras partes
na verificação de sua aplicação. Embora houvesse farta evidência de que,
na Somália, os líderes faccionais estavam manipulando a distribuição de
alimento à população civil, o que constituiria uma violação do Artigo 14 do
Protocolo II, esta atitude não chegava a justificar represália ou incriminação
judicial, nos termos do Protocolo. Segundo o Artigo 18 a prestação de
assistência alimentar e médica a vítimas em situações de conflito não
internacional deve se pautar, ao contrário, pelo consentimento prévio da
parte envolvida, pelo respeito ao princípio da imparcialidade, e pelo
tratamento indistintamente isento das partes em litígio. Interessante notar,
no entanto, que a Cruz Vermelha divulgaria um dia após a autorização da
intervenção norte-americana, pela resolução 794, comunicado afirmando
que “an improvement in security conditions is essential: the very
survival of the Somali population is at stake”.11
Em dezembro de 1991 a Assembleia Geral adotara, por outro lado, a
resolução 46/182, que visava fortalecer a capacidade de prestação de
assistência humanitária emergencial das Nações Unidas. A resolução defendia
o respeito à soberania, integridade territorial e unidade nacional do país alvo,
mas também afirmava que “humanitarian assistance should be provided
with the consent of the affected country and in principle on the basis of
an appeal by the affected country”. Desnecessário frisar que o “should” e
o “in principle” não excluíam a prestação de assistência sem consentimento
e na ausência de um pedido explícito pela parte afetada.
71
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
A atividade multilateral na promoção de direitos humanos é um universo
à parte. De forma esquemática é possível observar que o preâmbulo da Carta
da ONU reafirma a fé nos direitos fundamentais do homem, o Artigo 1o (3)
se refere à cooperação internacional para promover e estimular o respeito
aos direitos humanos, o Artigo 55 relaciona a criação de condições de bemestar e estabilidade ao respeito universal e efetivo dos direitos do homem, e,
pelo Artigo 56, todos os membros da Organização se comprometem a agir
em cooperação com esta, em conjunto ou separadamente, para a realização
dos propósitos do Artigo 55. A Declaração Universal de 1948 e os pactos
de 1966 sobre direitos civis e políticos e sobre direitos econômicos, sociais e
culturais procuraram tornar mais específico o compromisso genérico e vago
de respeito aos direitos humanos da Carta (vale recordar que a Carta foi
negociada antes de se ter conhecimento da extensão dos crimes perpetrados
pelos nazistas contra judeus e outras minorias durante a Guerra). Nem Churchill
nem Truman desejavam incluir na Carta da ONU objetivos ambiciosos na
área dos direitos humanos, o primeiro por temer que linguagem muito assertiva
comprometesse a preservação do status quo colonial, o segundo por entender
que a discriminação racial legalizada em partes dos EUA colocava o país em
situação vulnerável nesse âmbito. Quem mais defenderia os direitos humanos,
curiosamente, seria Stalin.
Anualmente cerca de um terço das resoluções adotadas pela Assembleia
Geral lidam com questões de direitos humanos. Embora a condenação de
determinadas práticas e dos responsáveis por elas represente uma forma de
pressão incômoda que pode contribuir para limitar as violações mais
flagrantes, não há como negar que, na ausência de sanções coercitivas, o
poder da retórica permanece relativo. A defesa da competência da Assembleia
Geral em matéria de direitos humanos pode, em suma, ser uma forma
disfarçada de impedir que violações maciças que agridem a consciência
internacional (como as do apartheid) venham a acionar os dispositivos
coercitivos do Capítulo VII.
Encerrando este parêntese, não resta dúvida de que o desvio de alimentos
a populações famintas, pelo motivo que for, constitui uma aberração ignóbil,
seja tal comportamento visto como violação de um direito humano à nutrição,
seja ele considerado uma infração das regras humanitárias aplicáveis às
populações civis em situação de conflito armado. Em nenhum dos dois casos
estaria necessariamente aberta, contudo, a porta para a coerção militar imposta
individual ou coletivamente. A distinção entre a motivação humanitária ou de
72
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
proteção de direitos humanos para a justificação de intervenções coercitivas
como a da UNITAF ou da UNOSOM II é, em suma, destituída de sentido
operacional, como sugerem Weiss, Forsythe e Coate.12 Ao autorizar uma
intervenção sem consentimento prévio dos atores que de fato ou de direito
controlavam o território somali e admitir o uso da força para imposição de
condições de segurança, o Conselho de Segurança estava se pronunciando
não sobre a natureza da catástrofe no Chifre da África para inseri-lo no
contexto jurídico mais adequado e sim interpretando aqueles acontecimentos,
segundo um julgamento político, como uma ameaça à paz e segurança
internacionais, forma, tolerada pela Carta, de se eludir o princípio da não
intervenção em assuntos internos.
A invocação do Capítulo VII pelo CSNU no caso da Somália vinculouse preponderantemente à crise humanitária, em detrimento de um esforço
paralelo e sustentado de solução dos problemas políticos responsáveis pelo
caos. Os sinais de agravamento do processo de implosão do Estado somali
eram discerníveis desde o fim da década de 80. Uma sociedade agrária,
etnicamente homogênea, mas habituada a sistemas descentralizados de
convivência, organizados em torno de clãs (três famílias principais subdivididas
em até vinte clãs), a Somália sofreu uma primeira desestruturação com o
colonialismo britânico no século XIX – que se concentrou no norte (a
“Somaliland”), e subsequentemente pela presença italiana, que, durante a
época do fascismo, impôs formas particularmente repressivas de governo. A
independência, obtida em 1960, foi incapaz de estabelecer vínculos efetivos
entre a sociedade e o Estado.13 O regime ditatorial de Siade Barre – instaurado
em 1969 quando o país voltou-se para a União Soviética e passou a se
chamar “República Democrática” – tentou adotar uma ideologia nacionalista
pansomali, que ficou fortemente abalada após a derrota na guerra do Ogaden
contra a Etiópia em 1977. O conflito marcou uma troca de afiliações, com o
regime etíope de Mengistu Haile Mariam abraçando o marxismo e a Somália
passando a receber ajuda norte-americana. Formas crescentemente brutais
de governo caracterizaram o período que se seguiu, com Siade Barre
procurando sufocar tendências secessionistas dos Issaqs no norte e manipular
os demais clãs para permanecer no poder, enquanto a oposição clandestina
concentrava sua energia na tentativa de expulsá-lo. Quando Siade Barre deixou
Mogadício em princípios de 1991, nenhum movimento ou coalizão foi capaz
de se afirmar como poder nacional legítimo. Segundo Lyons e Amatar “when
the state finally collapsed, it left behind little but the wreckage of distorted
73
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
traditions and artificial institutions, a vacuum that the most ruthless
elements in the society soon filled”.14
Durante a década de 80 Washington transferiu o equivalente a 500 milhões
de dólares em assistência militar à Somália, além de haver prestado outras
formas de auxílio econômico ao Governo Barre, juntamente com o Governo
italiano, que não se materializaram evidentemente em projetos benéficos para
a população como um todo. Em 1988, quando o fim da Guerra Fria retirava
importância estratégica do país e ante os sinais de endurecimento do regime,
o Congresso norte-americano determinou a suspensão da assistência. Embora
Washington dispusesse de informação sobre a debilitação institucional na
Somália no início da presente década “lack of media attention and an
agenda already overloaded with humanitarian crises in the Balkans, Iraq
and, ostensibly, the former Soviet Union distracted State Department
officials from giving proper attention to Somalia prior to July 1992”
segundo relata Jeffrey Clark.15
Em meados de 1990 a Itália tentou um esforço de mediação e, em
dezembro do mesmo ano, encorajou o então Ministro egípcio Boutros-Ghali
a se reunir no Cairo com Siade Barre e líderes da oposição. Mas não foi
possível evitar a violência generalizada na capital somali que determinaria a
evacuação do pessoal diplomático em 5-6 de janeiro de 1991. Após a fuga
de Siade Barre em 27 de janeiro, Djibuti tentaria incentivar a organização de
um governo de coalizão em uma conferência de paz mal sucedida. Os EUA
rejeitariam propostas de incluir a Somália na agenda do Conselho de
Segurança durante o ano de 1991. Quando o assunto foi trazido ao Conselho,
nas primeiras semanas da gestão Boutros-Ghali, os EUA tentariam enfraquecer
a linguagem da resolução 733 adotada com base em projeto apresentado
por Cabo Verde, que, além de impor o embargo de armas, atribuía ao SGNU
um mandato para obter um cessar-fogo em contato com todas as partes no
conflito.
Embora a Somália seja frequentemente citada como exemplo de estado
falido, sem lideranças legitimamente constituídas capazes de dialogar com
representantes da comunidade internacional, os dois principais líderes da
resistência anti-Barre, Mohamed Farah Aideed e Ali Mahdi que controlavam
diferentes setores de Mogadício há mais de um ano, foram considerados
suficientemente representativos em princípio de 1992 para serem convidados
a Nova York por Boutros-Ghali para assinar um cessar-fogo na ONU. A
consolidação do cessar-fogo, por ação mediadora do Representante do
74
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
Secretário-Geral James Jonah, em março de 1992, estabeleceu uma trégua
que, em retrospecto, poderia haver sido aproveitada para a negociação de
um acordo político. Como sublinham Lyons e Samatar, entretanto,
“international policymakers focused primarily on the cease-fire as a
means to facilitate humanitarian operations rather than as the first step
in a broader strategy to promote political reconciliation to fill the vacuum
of authority”.16
A resolução 751 de abril de 1992 – que não se insere no marco do
Capítulo VII – decidiria estabelecer a Operação das Nações Unidas para a
Somália (a UNOSOM, que passaria mais tarde a ser conhecida como
UNOSOM I), com base nos preceitos tradicionais de imparcialidade e
consentimento das partes, para monitorar um plano de emergência humanitária
a ser implementado em nove semanas, conforme proposto pelo SGNU. O
posicionamento das tropas necessárias para a implementação do plano
permaneceria em suspenso durante vários meses, entretanto, em virtude de
relutância norte-americana em permitir seu deslocamento. Jeffrey Clark chama
atenção para a aparente contradição entre o apoio substancial dos EUA ao
financiamento da ação humanitária da Cruz Vermelha (que àquela altura
dedicava 50% de seu orçamento à Somália) e as hesitações da delegação
norte-americana dos EUA no Conselho de Segurança.17
Essa atitude começaria a mudar em julho depois de um telegrama
dramático do Embaixador dos EUA em Nairóbi descrevendo os horrores na
Somália, que coincidiria com editoriais alarmistas no New York Times e com
moções no Congresso iniciadas pelos Senadores Nancy Kassebaum e Paul
Simon. Em agosto o Presidente Bush autorizou uma missão de fornecimento
de alimentos por meio de um airlift que deveria suprir diretamente áreas do
interior, ludibriando os controladores do aeroporto de Mogadício. Em
setembro chegaram finalmente à Somália os 500 soldados paquistaneses da
UNOSOM I. Mas a catástrofe já ultrapassava então a escala que determinara
as primeiras ações do CSNU, com a assistência alimentar sendo roubada
por milícias espalhadas pelo país e a fome se alastrando (calcula-se que 80%
dos alimentos estavam sendo roubados e que 300.000 pessoas já haviam
morrido de inanição).
Em 21 de novembro de 1992 o Conselho de Segurança Nacional reuniuse em Washington para estudar a situação, e alguns dias mais tarde o Secretário
de Estado interino, Lawrence Eagleburger, transmitiria a Boutros-Ghali a
disposição norte-americana de intervir militarmente. O relatório do Secretário75
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Geral de 30 de novembro preparava o terreno para uma resolução autorizando
a força norte-americana: “la situation en Somalie s’est détériorée au point
qu’elle ne se prête plus à la formule du maintien de la paix”.18 Uma das
opções propostas pelo SGNU consistia em “une opération coercitive à
l’échelle de tout le pays, que serait entreprise par un groupe d’États
Membres autorisés à cet effet para le Conseil de Sécurité”. E conforme
explicava Boutros-Ghali “À ce propos, je voudrais informer les membres
du Conseil que le 25 novembre j’ai reçu la visite de M. Lawrence
Eagleburger (...) qui m’a indiqué que si le Conseil de Sécurité décidait
d’autoriser les Etats membres à faire usage de la force (...) les EtatsUnis seraient disposés à prendre la tête de l’organisation et du
commandement d’une opération de cette nature”.19 A resolução 794 de 3
de dezembro acolheria a oferta dos EUA e repetiria a expressão “all necessary
means” no parágrafo operativo 10, vinculando-a ao estabelecimento de um
ambiente seguro para as operações de alívio humanitário.
Logo surgiram desentendimentos sobre o mandato a ser cumprido pela
força criada pela resolução 794, a UNITAF. O Secretário-Geral queria que
os norte-americanos assumissem funções político-militares para a cessação
de hostilidades e desarmamento das facções. As administrações Bush, e
posteriormente Clinton, que não escondiam seu desejo de permanecer o
mínimo possível no país, expressavam seus objetivos em termos puramente
humanitários. Mas como observa Richard Conroy “there could be no such
thing as a purely humanitarian intervention for Somalia. Even a narrowly
conceived humanitarian mission was political in Somalia’s context
because it denied the clans the ability to manipulate food as a tool of
political control”.20
John Gerard Ruggie sublinha a confusão doutrinária que prevaleceu
durante a intervenções autorizadas pela ONU na Somália.21 O General Colin
Powell definira a missão das forças norte-americanas em termos de “an
overwhelming force applied decisevely over a limited period of time,
after which the remaining political and humanitarian tasks would be
handed off to the United Nations”.22 Mas por incentivo da nova
administração Clinton, a resolução 814 de 26 de março de 1993, adotada
sob o Capítulo VII, expandiria o mandato da Missão da ONU (rebatizada
UNOSOM II) para nele incluir o desarmamento das facções tribais, o que
aumentava o seu envolvimento militar e sua vulnerabilidade. Boutros-Ghali,
enquanto isso tentava manter as tropas norte-americanas no terreno.
76
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
A situação se deterioraria rapidamente. Um grupo de soldados
paquistaneses foi surpreendido por uma emboscada ao realizarem uma
inspeção não anunciada em um depósito de armas vizinho à estação de rádio
de Aideed. O incidente de 5 de junho, em que morreram 23 soldados, levaria
o Conselho de Segurança a adotar a resolução 837, no dia seguinte, que
autorizaria a UNOSOM II a tomar “todas as medidas necessárias contra os
responsáveis pelo ataque”, ou, nas palavras de Ruggie, “implicitly authorized
a manhunt for General Aidid and an offensive against his clan leaders”.23
A Embaixadora dos EUA, Madeleine Albright passaria a se referir a Aideed
em termos depreciativos, e a ONU, abandonando qualquer pretensão de
imparcialidade, ficaria sem condições de levar adiante o processo diplomático
de Adis Abeba, conduzido pelo negociador nomeado pelo Secretário-Geral,
Lansana Kouyaté, que estabelecera a estratégia a mais completa até então
montada para promover a reabilitação política da Somália.
Com o interesse da opinião pública norte-americana se transferindo para
a captura de Aideed, quatrocentos soldados rangers e forças antiterroristas
“Delta” equipados com helicópteros “cobra” subordinados diretamente ao
Comando Central norte-americano em Tampa, Flórida, passariam a agir de
forma autônoma, instigados pelo Representante Especial das Nações Unidas
Jonathan Howe (EUA). Entrementes países que contribuíam com tropas para
a UNOSOM II, como a Itália, que não haviam dado sua anuência a uma
alteração semelhante no mandato original da ex-operação de paz, ameaçaram
retirar unilateralmente seus nacionais, aumentando o clima de confusão. O
Primeiro-Ministro Carlo Ciampi acusaria a ONU de haver montado uma
operação militar que passara a constituir um fim em si mesmo, sem levar em
conta a opinião dos que a desempenhavam. Em setembro a administração
Clinton começava a questionar a utilidade de seus próprios esforços, após os
incidentes em que tropas norte-americanas mataram o Ministro da Defesa de
Aideed e mais cerca de setenta pessoas, provocando tumulto entre a
população, que por sua vez resultou na morte de quatro jornalistas e soldados
nigerianos e paquistaneses a serviço da ONU. Segundo o jornalista do Los
Angeles Times Stanley Meiser, o Secretário de Estado Warren Christopher
entregaria um documento secreto ao SGNU, por ocasião da abertura da 48a
Assembleia Geral, propondo que fosse tentado o estabelecimento de um
cessar-fogo em Mogadício, seguido de um acordo político com a facção de
Aideed, e de entendimentos com a Etiópia e a Eritréia para o exílio do
General.24 Christopher teria assegurado Boutros-Ghali que os “rangers”
77
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
permaneceriam no terreno até que os responsáveis pelo assassinato das tropas
da ONU fossem capturados. Boutros-Ghali responderia alguns dias mais
tarde por carta, que não via possibilidade de a Etiópia ou a Eritréia
convencerem Aideed a partir e insistiu no desarmamento dos clãs e
permanência das forças estrangeiras.
Em 3 de outubro os rangers tentaram atacar o Hotel Olympic onde se
suspeitava que estivessem vários assessores importantes de Aideed,
provocando um tiroteio em que 18 norte-americanos morreram, 84 ficaram
feridos e um piloto de helicóptero foi capturado. Um soldado da ONU morreu,
sete sofreram ferimentos e entre os somalis 312 morreram e 800 foram
atingidos. Imagens transmitidas pela televisão de um soldado norte-americano
morto, sendo arrastado pelas ruas, e de outro feito prisioneiro traumatizariam
os EUA. O Embaixador Ronaldo Sardenberg, que presidia o Conselho de
Segurança em outubro de 1993, afirmaria que, com os violentos incidentes
do dia 3, “foi posta definitivamente em cheque a presunção da validade política
do uso da força para impor a paz na Somália”. Participante central nos debates
que então se travaram no CSNU, Sardenberg acrescentaria que “a reação
do Conselho a esses acontecimentos foi, no essencial, de choque; agudizaramse as divergências entre o Secretário-Geral Boutros-Ghali e o Governo dos
EUA; os ocidentais, com os norte-americanos à frente, explicitaram suas
intenções com relação à retirada de seus efetivos da Somália; começou-se a
falar da necessidade de uma solução regional para o problema, congelou-se
ou adiou-se o debate sobre o fundo da questão no próprio Conselho”.25
O Brasil na presidência do Conselho procuraria influir no sentido de uma
revitalização do processo de reconciliação nacional a partir de um enfoque
mais político e menos militar. O processo de Adis Abeba passaria a ser
boicotado por Aideed, entretanto. Tentativa de apaziguar as lideranças
beligerantes e comprometê-las com outros atores políticos não combatentes
na configuração de um novo arranjo institucional para o país, o processo de
Adis Abeba deixaria de interessar a um Aideed fortalecido pelo desalento em
que haviam caído as tropas dos EUA e da ONU e pela perspectiva de
desengajamento progressivo da comunidade internacional na Somália.
O Presidente Clinton surpreenderia o Secretário-Geral com o anúncio
da retirada das tropas norte-americanas até março de 1994. Já de
conhecimento daquela decisão, o Conselho de Segurança adotaria a resolução
897, que autorizava a redução gradual dos efetivos da UNOSOM II e
eliminava de seu mandato as atribuições relacionadas ao desarmamento dos
78
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
beligerantes. Os EUA passaram a defender a extinção da UNOSOM II e se
abstiveram na votação da última renovação de seu mandato, quando a
Embaixadora Albright declarou que “in the face of Somali intransigence
and unwillingness to reach political agreement, the U.N. cannot continue
to maintain 15,000 troops in Somalia and spend over 2,5 million a day”.26
O Conselho decidiria, por consenso, autorizar a retirada da UNOSOM II
antes do fim de março de 1995. Apesar dos percalços que haviam marcado
a presença de tropas estrangeiras no país, o Departamento de Operações de
Paz consideraria que “the withdrawal from Somalia was conducted in an
exemplary way and can be considered an organization masterpiece”.27
Seminário organizado pela Unidade de Lições Aprendidas do
Departamento de Operações de Paz após a saída da ONU da Somália,
revelou opiniões divergentes sobre a experiência do uso da força naquele
cenário. Três grupos principais de atitudes foram identificadas: a) alguns
participantes consideraram que, desde que haja consentimento das partes no
nível estratégico, a força, empregada taticamente, pode ser uma ferramenta
importante para o trabalho de manutenção da paz da ONU; b) um outro
grupo considerou que a manutenção da paz (“peacekeeping”) é incompatível
com a coerção (“enforcement”), e os dois não podem funcionar
simultaneamente; c) uma terceira corrente foi de opinião que não se pode
generalizar e cada situação exige um tratamento especial.
Mas o Secretariado tentaria extrair lições mais específicas para o futuro
da segurança coletiva. A primeira seria a de que “the United Nations is not
yet capable of launching a large-scale enforcement action”. Uma segunda
conclusão estabeleceria que, no futuro, quando for necessário organizar uma
operação do Capítulo VII, “it should be done either by a single State, as
occurred in Rwanda in France’s Operation Turquoise, or by a coalition
of States, as was done early in Haiti”.
Outras lições poderiam ter sido extraídas que não figuram no relatório
da referida Unidade. A tese de que as operações de paz devem se ater aos
parâmetros tradicionais da imparcialidade, do consentimento das partes e do
uso da força sai reforçada, em última instância, da experiência na Somália,
havendo ficado claro o absurdo da utilização de operações de paz para
missões coercitivas. Decorre desta constatação por sinal, que os países
contribuintes de tropas precisam ter um canal adequado de comunicação
com o Conselho de Segurança para serem capazes de decidir se mantêm ou
não suas tropas em uma determinada operação quando seu mandato evolui
79
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
em sentido não necessariamente antecipado. Não ficaria provado, por outro
lado, que situações de emergência humanitária ameaçam a paz internacional:
os problemas políticos e sociais da Somália não se alastraram aos países
vizinhos e os econômicos são endêmicos na África. Ficaria evidente, em
contrapartida, que uma intervenção coercitiva determinada pelo Conselho
de Segurança é sempre vista no país ou região alvo como um fato político,
mesmo que se insista na sua justificativa humanitária. Claro também ficaria
que, sem uma ação diplomática eficaz para lidar com as tensões que deram
origem ao problema humanitário, o Conselho de Segurança não consegue,
pela força, reconstituir sociedades dilaceradas.
Nos EUA a experiência na Somália criaria uma atitude de desconfiança
generalizada em relação a intervenções da ONU e levaria à elaboração de
novas diretrizes para a eventual participação de tropas em operações de paz.
A administração Clinton não se preocupou em desfazer a impressão,
amplamente disseminada entre setores do Congresso e da imprensa, de que
os embaraços sofridos pelos EUA na Somália deviam ser imputados à ONU.
Se é verdade que – diferentemente do ocorrido na operação militar contra o
Iraque – as forças norte-americanas mobilizadas pela resolução 794 (a
UNITAF) deviam permanecer em coordenação com as forças da ONU na
Somália, e por extensão com o Secretário-Geral e com o Conselho de
Segurança, o abalo da opinião pública decorria de ações levadas a cabo
pelos “rangers” que não tinham vínculo qualquer com a UNOSOM II. Até a
ação do Haiti, Washington se esquivaria de nova participação direta em
intervenções da ONU.
Os países em desenvolvimento, os africanos especialmente, se deixaram
seduzir pela ideia de que uma intervenção internacional legitimada pelo CSNU
na Somália representava tratar o Sul de forma não discriminatória. BoutrosGhali incentivou esta percepção ao fazer declarações como a de que “the
West is more interested in the rich mans’s war in Bosnia than in the Somali
catastrophe”.28 Mas, em que pese ao alívio humanitário tornado possível
pela UNITAF e pela UNOSOM, a intervenção na Somália acenderia um
debate sobre os estados “falidos”, com a ventilação de ideias como a de
reformulação do sistema de tutela da ONU para lidar com tais situações, ou
soluções outras de cunho neocolonialista que minariam o consenso inicial sob
o qual a crise fora tratada no Conselho de Segurança.
Tanto do ponto de vista do motivo desencadeador das medidas de segurança
coletiva (o humanitário), como dos meios utilizados para a coerção (a UNITAF
80
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
e a UNOSOM II), as Nações Unidas tentaram aplicar um paradigma inovador
na Somália com resultados, na melhor das hipóteses, controvertidos. Ao invés de
provar o acerto da filosofia intervencionista da Agenda para a Paz, a Somália
evidenciou a necessidade de uma reflexão mais aprofundada e realista sobre a
questão da responsabilidade coletiva em matéria de emergência humanitária,
particularmente em conflitos não internacionais. O Embaixador Celso Amorim se
referiria a esse desafio ao declarar perante o plenário da 51a Assembleia Geral
que: “a proliferação de situações de emergência humanitária exige uma definição
da responsabilidade coletiva em face da fome, da doença, da brutalidade. (...) Os
Estados membros devem tentar desenvolver um entendimento comum capaz de
estabelecer quando a resposta internacional a essas situações pode ser deixada a
cargo da Assembleia Geral, e quando o Conselho de Segurança precisa ser
ativado em vista de aspectos especificamente da alçada da segurança internacional.
Neste contexto, será necessário pensar em critérios passíveis de ajudarem a
determinar quando uma situação ameaça a paz internacional (...). Se a segurança
internacional parece ameaçada, mas a situação não é absolutamente clara,
parâmetros objetivos deverão ser estabelecidos para determinar quando não são
admissíveis medidas coercitivas. E quando a coerção for contemplada, e o
consentimento das partes deixar de ser um requisito, sua cooperação deverá ser
buscada, mesmo assim, por questão de princípio, já que sem esta cooperação as
possibilidades de êxito serão reduzidas”.29
A autorização do uso da força por operações de paz passou a ser apelidada
de transposição da “linha de Mogadício” depois do que ocorreu na Somália,
vindo a ser descrita como um ponto sem retorno a ser evitado a todo custo
por Sir Michael Rose, o ex-Comandante da Força de Proteção das Nações
Unidas (UNPROFOR) na Bósnia: “In Somalia it has been well
demonstrated that it was the move by the UN Force from peacekeeping
to war-fighting which so terminally damaged the prospects of the Mission.
The Somalia Mission, as in Bosnia, had the primary purpose of sustaining
the population through the delivery of humanitarian aid. Like the River
Styx, once crossed it is not possible to retrace one’s steps across what
has become known as ‘the Mogadishu line’”.30
(B) O Caso da Ex-Iugoslávia
O desmembramento da Iugoslávia ainda não fora reconhecido
internacionalmente quando o Conselho de Segurança decidiu, por consenso,
81
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
impor um embargo de armas pela resolução 713 de 25 de setembro de 1991,
ao que ainda era a República Federal Socialista da Iugoslávia (RFSI). Na
realidade a Eslovênia e a Croácia haviam declarado sua independência em
junho, mas a Comunidade Europeia no contexto da Conferência presidida
por Lord Carrington tentaria abrir espaço diplomático capaz de preservar a
federação ou encontrar outra forma pacífica de solucionar a crise. A ordem
do dia nas chancelarias europeias e na norte-americana era a preservação da
RFSI. Qualquer sinalização contrária seria interpretada em Moscou como
instigação ao esfacelamento da URSS, que, embora já em curso, só se
consumaria em dezembro daquele ano. Em 8 de outubro o Secretário-Geral
Perez de Cuellar nomeou o ex-Secretário de Estado Cyrus Vance seu enviado
pessoal para a Iugoslávia. Por seu intermédio foram negociadas as condições
para o posicionamento de uma força de paz na ONU em território Croata –
o primeiro cenário de lutas intestinas graves – pela resolução 724 de 15 de
dezembro de 1991. Apesar das resistências da minoria sérvia na Croácia, foi
criada pela resolução 743 de 21 de fevereiro de 1992 uma Força de Proteção
das Nações Unidas (UNPROFOR) cujo mandato, entretanto, não fazia
referência ao Capítulo VII. A partir da resolução 758 de 8 de junho de 1992
a UNPROFOR se implantaria nas partes da Bósnia sob controle
governamental e, preventivamente, também na Macedônia depois de adotada
a resolução 795 de 11 de dezembro de 1992. Subsequentemente a
UNPROFOR seria substituída por três forças separadas, a partir de 31 de
março de 1995 (resoluções 981, 982 e 983), que seriam extintas, por sua
vez, com instalação da Força de Implementação da OTAN (IFOR), criada
pelos Acordos de Dayton de novembro de 1995.
A UNPROFOR destinava-se originalmente a desmilitarizar as quatro
áreas de proteção na Croácia (enclaves onde havia maioria ou forte presença
sérvia) proporcionar segurança para a assistência humanitária, particularmente
em Sarajevo e outras partes da Bósnia, e impedir que o conflito contaminasse
a Macedônia. Mas, em que pese ao formato tradicional de imparcialidade
que presidiu à sua criação, a instalação da UNPROFOR em palco de batalhas
entre sérvios, croatas e muçulmanos, sem que tivesse sido negociado
previamente um acordo de paz, a exporia a ataques dos grupos beligerantes
nas Repúblicas da Croácia e da Bósnia-Herzegóvina, levando o Conselho
de Segurança a introduzir ingredientes coercitivos a seu mandato original de
“peacekeeping”. A parte sérvia na Bósnia, que não consentira ao
desdobramento de forças da ONU nas porções de território por ela ocupada,
82
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
passaria a hostilizar abertamente a UNPROFOR, ao tornar-se o alvo principal
da coerção. A imposição de sanções econômicas abrangentes contra a recém
formada República Federal da Iugoslávia (Sérvia e Montenegro) pela
resolução 757 de 30 de maio de 1992 (abstenção da China) já singularizara
a responsabilidade de uma, entre as novas repúblicas da ex-Iugoslávia, pela
instabilidade nos Bálcãs. O Conselho de Segurança não reconheceria a
reivindicação da RFI (Sérvia e Montenegro) de suceder automaticamente a
RFSI e recomendaria à Assembleia Geral que impedisse ao novo governo
em Belgrado de participar tanto dos trabalhos da AGNU como do ECOSOC.
Em contrapartida, as independências da Eslovênia, Croácia e BósniaHerzegóvina seriam aceitas por consenso em maio de 1992 e a da exRepública Iugoslava da Macedônia em abril de 1993 (no entendimento de
que seria negociado um acordo com a Grécia sobre o nome e outros elementos
definidores da identidade do novo país). Sanções dirigidas exclusivamente à
parte sérvia no interior da República da Bósnia-Herzegóvina, impostas pela
resolução 942 de 23 de setembro de 1994 (abstenção da China)
responsabilizariam uma das partes pela persistência do conflito na Bósnia.
Embora não seja fácil distinguir entre vítima e agressor nos Bálcãs, a parte
sérvia se converteria no objeto do isolamento e da coerção sobretudo por
haver ficado associada às piores atrocidades da política espúria da “limpeza
étnica” (praticada em maior ou menor grau por croatas e muçulmanos
também). Os relatórios do Relator Especial da Comissão de Direitos
Humanos, Tadeusz Mazowiecki, pintariam um quadro de violações maciças
por todas as partes no conflito mas atribuíam “primary responsibility (...)
on the Serbian authorities in de facto control of certain territories in
Bosnia and Herzegovina and in the United Nations Protected Areas in
Croatia”.1 O Comando do Exército Nacional Iugoslavo (o JNA) e a liderança
política da Sérvia era também identificada como responsável. Acresce que
tanto os sérvios da RFI, como os da Bósnia e da Croácia eram os maiores
interessados em redesenhar as fronteiras das repúblicas iugoslavas, e criar
uma “grande Sérvia” em desafio à Declaração de Helsinki sobre Segurança e
Cooperação na Europa que proibia a alteração das fronteiras europeias pela
força – o que fazia com que aparecessem como a parte agressora. É verdade
que as divisões entre as repúblicas constitutivas da ex-RFSI não tinham sido
necessariamente traçadas para se transformar em fronteiras internacionais, o
que se aplicava também, por sinal, ao mapa da ex-União Soviética. Uma vez
reconhecidas internacionalmente, contudo, as fronteiras não podiam ser
83
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
ajustadas segundo pesos e medidas variáveis, ou seja, se fosse criada uma
grande Sérvia, por que não uma grande Albânia, uma grande Croácia, uma
grande Macedônia, uma grande Armênia, uma Federação Russa incluindo a
Crimeia? Desnecessário sublinhar o poder de desestabilização de um processo
de renegociação geral de fronteiras na Europa oriental, no Cáucaso e na Ásia
Central. A preservação das antigas fronteiras internas passaria a se apresentar
aos olhos de muitos como a única alternativa ao caos, em uma mímica da
atitude da Organização da Unidade Africana em relação às fronteiras herdadas
da época colonial na África.
Além de haver permitido a aplicação de sanções mandatórias, o Capítulo
VII seria invocado pela resolução 770 de 13 de agosto de 1992 (abstenções
de China, Índia e Zimbábue) para autorizar os Estados membros, individual
ou coletivamente a tomar “all measures necessary” para o provimento de
assistência humanitária a Sarajevo e outras regiões da Bósnia. Mas essa tarefa
seria eventualmente transmitida à UNPROFOR pela resolução 776 de 14 de
setembro de 1992 (mesmas três abstenções). A resolução 816 de 31 de
março de 1993, que decidiu o estabelecimento de uma zona de proibição do
tráfego aéreo sobre a Bósnia (abstenção da China), fazia referência ao Capítulo
VII e abria uma primeira porta para eventual ação da OTAN na região. A
criação de zonas protegidas (“safe areas”) em torno de localidades com
concentração de população muçulmana na Bósnia, como Sarajevo, Bihac,
Gorazde, Srebrenica, Tuzla e Zepa (resoluções 819, 824 adotadas por
consenso e 836, com abstenção da Venezuela e Paquistão, de abril, maio e
junho de 1993 respectivamente) e os arranjos concluídos entre o Secretariado
da ONU e a OTAN para proteção do status dessas zonas - seja mediante
apoio defensivo aos cascos azuis (“close air support”) seja por ações
punitivas (“airstrikes”) – introduziriam elementos adicionais de coerção militar
nos termos de referência da UNPROFOR. As dificuldades de atuação da
UNPROFOR eram multiplicadas pela presença de grupos armados fora do
controle de autoridades políticas reconhecidas. Marrack Goulding observaria
a esse respeito que “This problem will grow as the organization becomes
involved more frequently in internal conflicts. It is one of the impulses
pushing it strongly in the direction of a greater readiness to use force”.2
A criação de um Tribunal para julgar os responsáveis pelas violações do
direito humanitário na ex-Iugoslávia pela resolução 827 de 25 de maio de
1993, acrescentaria uma nova variedade de iniciativa sob o Capítulo VII às
diversas que estavam sendo aplicadas, sem que a soma destas parcelas
84
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
chegasse a representar uma ação conjunta de “enforcement” dirigida contra
o regime de Slobodan Milosevic em Belgrado ou contra Radovan Karadzic
e sua “República Srpska” em Pale. Os Acordos de Dayton seriam
implementados por via de resoluções do Conselho de Segurança que também
invocariam o Capítulo VII, inaugurando uma modalidade de pacificação com
elementos de “coerção consentida”, subscrita pelas lideranças sérvia, croata
e bósnia, estando os soldados da Força de Implementação da OTAN (IFOR)
autorizados a usar força para impor o cumprimento dos termos do plano de
paz.
Até a substituição da UNPROFOR pela IFOR, em fins de 1995, o
Conselho de Segurança adotou quase noventa resoluções e um número
equivalente de declarações presidenciais. Mas, como observaria o exRepresentante Especial do Secretário-Geral para a ex-Iugoslávia, Yasushi
Akashi, essa profusão de manifestações não logrou determinar o curso dos
acontecimentos, e o Conselho acabou, em grande medida, se limitando a
reagir de forma ad hoc a pressões da mídia, tentando impedir que se criasse
a impressão de que a ONU não estava lidando com a tragédia humanitária.3
Ainda segundo Akashi, as frequentes mudanças de enfoque para lidar com a
crise “prompted a gradual transformation of UNPROFOR from a Chapter
VI operation to something not quite an enforcement operation but quite
close to it. However, at no point were the troops deployed equipped for
anything more than traditional peacekeeping, and their rules of
engagement did not evolve to reflect their changing roles. UNPROFOR,
thus, became a classic example of ‘mission creep’”.4 O binômio perda da
imparcialidade e vulnerabilidade militar, não obstante o aparato da OTAN
como retaguarda, acabaria provocando crises de graves proporções para a
ONU, com a tomada de dezenas de reféns - inclusive observadores militares
brasileiros – pelas forças sérvias na Bósnia em 1994 e em 1995. Na opinião
de Akashi, os ataques aéreos da OTAN de 26 de maio de 1995 contra
posições bósnio-sérvias “tipped the Bosnian serbs over the brink into seeing
the UN as the enemy”.5 O ex-Chanceler britânico David Owen, que,
juntamente com Cyrus Vance e Thorvald Stoltenberg, comandou o exercício
mediador conjunto ONU/Comunidace Europeia (União Europeia a partir de
1993) da Conferência Internacional sobre a ex-Iugoslávia, comentaria que
“The UN in Bosnia-Herzegovina stretched the boundaries of its mandate
to the limit, particularly that between Chapter VI and Chapter VII
military action”.6 Na sua opinião, as intervenções humanitárias como as que
85
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
foram montadas para proteger os curdos, os somalis e os bósnios passarão a
ser vistas com crescente ceticismo no futuro devido à virtual impossibilidade
de se preservar a imparcialidade em tais ações. Como ocorrera na Somália,
a tentação do recurso a formas progressivamente mais coercitivas de atuação
para fazer face a problemas humanitários aumentaria na ex-Iugoslávia, à
medida em que cresceria a frustração dos membros do Conselho com sua
impotência diplomática. Mais uma vez o Conselho pareceria estar
transformando o problema humanitário em uma questão de segurança
internacional ao invés de enquadrar a assistência humanitária na moldura de
uma ação de solução pacífica de controvérsias ou de responsabilidade coletiva.
Esta reversão de prioridades levaria o Representante Permanente da Argélia
a declarar que “the Security Council short of denying its mandate and
relinquishing its mission, cannot confine itself to the role of an accessory
to humanitarian organizations. As we see it the opposite is what should
be happening”.7
Vale esclarecer, por outro lado, que o Conselho de Segurança hesitou
entre os Capítulos VI e VII e entre a imparcialidade para poder ministrar
ajuda humanitária eficazmente e a parcialidade para não parecer coonestar
as atrocidades atribuídas aos sérvios porque – acertadamente ou não – as
potências em condições de liderar uma ação militar coletiva não estavam
dispostas a fazê-lo. É verdade que a presença da Federação Russa entre os
cinco membros permanentes não permitia que a tendência do Conselho de
Segurança de se alinhar com as vítimas mais óbvias da agressão – ou seja
Sarajevo e, em menor grau, Zagreb – fosse levada às últimas consequências.
Mas, abstração feita das afinidades russo-sérvias, cujos símbolos mais
evidentes são a comunhão cristã ortodoxa e o uso do alfabeto cirílico, Mats
Berdal aponta para duas ordens de motivos que fizeram com que deixasse
de existir disposição entre os P-5 para combater com as armas a tentativa
sérvia de impedir que as antigas fronteiras internas da ex-Iugoslávia se
transformassem em fronteiras internacionais.8 Em primeiro lugar nem os EUA,
nem o Reino Unido nem a França (e a China muito menos) estavam prontos
a assumir o que Berdal descreve como “an open-ended commitment not
underpinned by any compelling political or national interest that could
sustain public support”.9 Sabia-se que as dificuldades do terreno e a
capacitação militar dos sérvios ocasionariam baixas numerosas. Em segundo
lugar, a complexidade das questões suscitadas pela crise – no centro das
quais situava-se a tensão entre o princípio de que as fronteiras não devem ser
86
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
modificadas pela força e o direito das minorias à autodeterminação – tendiam
a criar divergências múltiplas no seio do Conselho e da comunidade
internacional como um todo.
Diferentemente do que ocorrera no Golfo, não se configurava nos Bálcãs
um caso de agressão destituído de ambiguidades (afinal o conflito começara
no interior de um país e só se internacionalizou a partir de 1992), nem parecia
existir interesse material estratégico comparável àquele despertado pelas
reservas petrolíferas do Kuwait. Por outro lado, havia uma ameaça mais
clara à paz regional/internacional do que na situação da Somália e existia um
perigo real de que o conflito se propagasse aos Estados vizinhos pela lógica
das afinidades étnicas e religiosas, que aproximava gregos e russos aos sérvios
ortodoxos, aliava albaneses, turcos, sauditas, iranianos e o mundo islâmico
em geral aos muçulmanos da Bósnia, do Sandjak e do Kossovo, e associava
o Vaticano, a Áustria e os católicos alemães à Croácia. Para ilustrar o caráter
divisivo da segunda ordem de fatores apontados por Berdal, e seu potencial
desestabilizador, basta lembrar que Grécia e Turquia ambos pertencem à
OTAN, recordar a luta anti-nazista que uniu Londres e Paris aos sérvios
durante a II Guerra Mundial, ter em mente os elos entre os Ustasha prónazistas de Zagreb e o III Reich e a influência de uma minoria croata católica
de algumas centenas de milhares de pessoas na RFA.
Ainda que se defenda a posição de que havia justificativa na ex-Iugoslávia
para uma ação militar coercitiva sob o Capítulo VII contra os sérvios, a
ausência de um braço armado da ONU e das instituições de comando
necessárias para acioná-lo teriam levado, como no Golfo, à delegação da
tarefa a uma coalizão dos dispostos (as “coalitions of the willing” às quais
se referem, entre outros, Lincoln Bloomfield). Entretanto a indisposição dos
membros permanentes em assumir o papel de organizadores de uma ação
militar fez com que se esperasse da UNPROFOR que ela fosse capaz, pelo
menos, de diminuir o nível da violência, e, quem sabe, dar tempo para que se
negociasse um acordo político. A UNPROFOR contribuiu para a negociação
de numerosos cessar-fogos, manteve o aeroporto de Sarajevo aberto
permitindo que a cidade fosse reabastecida, ajudou populações vulneráveis
a sobreviver, consertou estradas. Mas a UNPROFOR não estava equipada,
nem em termos de material militar nem de doutrina, para impedir violações
em grande escala de preceitos do direito humanitário e muito menos para por
fim à guerra. Na opinião de John Gerard Ruggie, “this growing misuse of
peacekeeping does more than strain the United Nations materially and
87
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
institutionally. It has brought the world body to the point of outright
strategic failure.”10 William Pfaff iria um passo além ao afirmar que “the
United Nations has lost its military credibility in the Yugoslav affair” e
concluir que, em casos semelhantes no futuro, quem deverá tomar a dianteira
é a OTAN.11
Conforme se examinará a seguir, vários enfoques estratégicos distintos,
por vezes superpostos, por vezes contraditórios entre si, determinaram as
posições adotadas pelos principais atores nos esforços para administrar o
caos balcânico do início da década de 90. Washington e Bruxelas começariam
juntos por tentar evitar a secessão nos Bálcãs, mas bifurcariam por caminhos
diferentes após o reconhecimento diplomático da Eslovênia e da Croácia,
que, por sua vez, levou a Bósnia-Herzegóvina e a Macedônia a também
deixarem a federação. Note-se que as duas últimas não tinham intenção de
se tornarem independentes e resistiram à ideia, em um primeiro momento,
por temer o tipo de guerra inter-étnica que de fato veio a ocorrer. O
reconhecimento internacional das novas repúblicas balcânicas havia sido
desaconselhado pelo Secretário-Geral Perez de Cuellar e por Lord Carrington,
mas a influência do partido social cristão (CSU) e do Frankfurter Allgemeine
Zeitung faria com que Helmut Kohl, assistido pelo Vaticano, convencesse os
demais membros da CE e dos EUA a agir em sentido contrário. Não são
poucas as análises da crise que responsabilizam a pressa alemã em reconhecer
a Croácia pela eclosão da guerra. Segundo Misha Glenny “a RFA unificada
mal andava e já queria correr”.12 Um dos principais assessores de Vance e
Stoltenberg na ICFY (International Conference on the Former Yugoslavia)
B. G. Ramcharan considera o reconhecimento precipitado “the crucial
strategic mistake”.13
Avessos ao envio de tropas, os EUA sob a administração Clinton
defenderiam, após algum imobilismo, o chamado “lift and strike” – composto
de levantamento seletivo do embargo de armas para dar à Bósnia condições
mais equânimes de combate e de “airstrikes” da OTAN contra posições
sérvias. Washington passaria a pregar uma política de “containment” do conflito
e tentaria fortalecer, juntamente com a Alemanha, a posição geopolítica da
Croácia. Como resume Ramcharan, o comportamento dos EUA incluía uma
dose de realismo (ditado pelos militares que não queriam assumir o
compromisso de impor a paz pela força), de idealismo (estimulado por
personalidades como o Vice-Presidente Al Gore e pela opinião pública) e de
“lurching”, ou seja, hesitação entre os dois. O Reino Unido e a França temiam
88
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
que o comportamento de Washington pusesse a perder a atitude cooperativa
da Federação Russa, inviabilizasse a ação apaziguadora da operação de paz
e transformasse – como efetivamente ocorreria – seus soldados em reféns
dos sérvios. Entrementes os britânicos desenvolviam sua doutrina do “wider
peacekeeping”, com base em uma interpretação flexível dos ditames
tradicionais aplicáveis ao uso da força nas operações de paz, enquanto a
França articulava o conceito das “safe areas” e corredores humanitários.
Segundo John Gerard Ruggie, a filosofia britânica do “wider
peacekeeping” é a que melhor descreve a participação da ONU na Bósnia.14
A doutrina britânica parte do princípio de que a diferença entre as operações
de paz e a ação coercitiva do Capítulo VII se define essencialmente em termos
do fator “consentimento” e não do nível de violência ou do tipo de equipamento
militar. Ao distinguir entre o consentimento operacional e o tático, a doutrina
admite o uso da força não somente em defesa própria como para assegurar
a implementação do mandato da missão. Mas, apesar de contar com o
consentimento dos governos legítimos na ex-Iugoslávia, a UNPROFOR não
conseguiria garantir por ações táticas nem sua própria defesa nem
necessariamente a de seu mandato. Insuficientemente armadas e posicionadas
de forma difusa as tropas da ONU permaneceriam à mercê de ações
desestabilizadoras sérvias, particularmente depois que, por insistência norteamericana, aviões da OTAN atacariam posições leais a Karadzic.
A França quis organizar a prestação de assistência humanitária segundo
um sistema de proteção a certas áreas particularmente vulneráveis. Em 4
de junho de 1993 o Conselho de Segurança adotou a resolução 836 que
ampliaria o mandato da UNPROFOR para conferir-lhe a missão de
proteger essas áreas. O comando da UNPROFOR calculou que precisaria
de 34 mil homens, mas se resignou em procurar obter 7.600. Nove meses
mais tarde apenas 5 mil haviam sido reunidos, número que se revelaria
francamente insuficiente e não impediria que dezenas de pessoas
continuassem a morrer diariamente em vários dos enclaves, nem que
milícias sérvias ocupassem Srebrenica e Zepa em 1995. Por outro lado,
embora as áreas protegidas devessem em princípio ser desmilitarizadas,
o fato é que a resolução 836 nunca foi regulamentada, o que permitiria ao
exército muçulmano reagrupar forças e lançar uma ofensiva a partir da
área de Bihac em 1994, quando começou – ajudado pelos croatas (e
pelos EUA) - a recuperar dos sérvios território suficiente para assegurarlhes 51% do país nos acordos de Dayton.
89
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
O papel dos EUA no conflito merece exame mais detido por sua influência
nas oscilações do Conselho. A experiência do Vietnã havia consolidado no
estamento militar norte-americano – até as crises da Somália e da Iugoslávia
– a doutrina do “all or nothing”. A ideia era aplicar força militar preponderante
para “shock, demoralize and defeat opponents” como aconteceria no Golfo,
e evitar situações, como a do Vietnã, em que a presença militar norte-americana
fora aumentando aos poucos sem alcançar seus objetivos estratégicos e erodiu
a legitimidade política daqueles que ela visava proteger e apoiar.15 A força
total só seria empregada em situações capazes de afetar de forma substantiva
os interesses de Washington. Desinclinado a se envolver em conflito interno
em uma Europa oriental em fase de perda de importância estratégica com o
fim da Guerra Fria, o Secretário de Estado James Baker passou o 21 de
junho de 1991 em Belgrado tentando persuadir as seis repúblicas constituintes
e o Primeiro-Ministro Markovic a encontrar um modus vivendi. Mas era
tarde. Em 25 de junho, a Eslovênia e a Croácia declarariam suas
independências, e começariam os enfrentamentos armados. Na Eslovênia a
luta foi de curta duração, mercê da virtual ausência de minorias sérvias em
seu território; na Croácia a presença de uma minoria sérvia (representando
11% da população) psicologicamente vinculada a Belgrado e militarmente
competente seria apoiada por intervenção das forças armadas federais nas
primeiras ações de “limpeza étnica”, de combate e desalojamento de
populações croatas em Vukovar.
Dias depois Gorbatchev atemorizaria Bush em relação ao secessionismo
iugoslavo e suas implicações para a URSS. Como relatam Talbott e Beschloss:
“He referred ominously to the civil war that for weeks had been consuming
Yugoslavia. Since Bush was interested in visiting Kiev, Gorbachev wanted
him to consider the possibility that Ukrainian secessionism might lead
to a Yugoslav-type civil war - only spread across eleven time zones and a
territory dotted with nuclear weapons”. O recado foi bem recebido, levando
Bush a declarar em Kiev que “freedom is not the same as independence.
America will not support those who seek independence in order to replace
a far-off tyranny with a local despotism. They will not aid those who
promote a suicidal nationalism based on ethnic hatred”.16
A resolução 713 que impôs o embargo de armas em setembro de 1991
foi aprovada por consenso, constituindo reconhecimento unânime no Conselho
de Segurança de que o conflito iugoslavo ameaçava a paz e segurança
internacionais e que os beligerantes deviam abandonar o recurso à força.
90
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
Mas aos poucos o mundo islâmico, com apoio norte-americano, passaria a
defender com crescente insistência a suspensão do embargo de armas em
relação à Bósnia, sob a alegação de que Sarajevo, como principal vítima do
conflito (o que até a Croácia reconhecia), tinha direito a exercer seus direitos
de autodefesa sob o Artigo 51 da Carta. Na Assembleia Geral foram adotadas
resoluções que admitiam o princípio do direito bósnio à auto-defesa. No
Conselho, entretanto, após uma discussão acalorada em 29 de junho de 1993,
seria rejeitado o projeto de resolução propondo o levantamento seletivo do
embargo circulado originalmente por Cabo Verde, Djibuti, Marrocos,
Paquistão e Venezuela (além dos cinco co-patrocinadores apenas os EUA
votaram a favor, enquanto Brasil, China, França, Hungria, Japão, Nova
Zelândia, Federação Russa, Espanha, Reino Unido se abstiveram). Entre a
adoção da resolução 713 em fins de 1991 e meados de 1993 os EUA
operaram um ajuste de sua política para os Bálcãs que não parecia à primeira
vista previsível e que seria sucedido por outros.
Durante o ano eleitoral de 1992 os EUA tentaram se esquivar da exIugoslávia, encorajando a Europa a exercer sua liderança. O então
Representante Permanente junto à ONU, Embaixador Thomas Pickering,
resumiria a posição dos EUA em meados de 1992 nos seguintes termos: “if
Europe leads we will follow. If Europe does not lead, we will also follow”.17
Mesmo assim, pela resolução 781 de outubro de 1992 o Conselho decretaria
uma “no fly zone” sobre a Bósnia e o Presidente Bush manifestaria intenção
de assegurar sua implementação, se necessário, com a força aérea norteamericana.
David Owen estima que Bush teria apoiado o plano de acomodação
territorial das três comunidades na Bósnia por ele proposto juntamente com
Cyrus Vance nos primeiros dias de 1993, semanas antes de Bill Clinton assumir
a presidência.18 O plano previa a restituição de parte do território conquistado
pelos bósnios sérvios aos muçulmanos, dividindo o país em 10 circunscrições,
três sob o controle respectivo de croatas, sérvios e islâmicos e a capital
neutralizada. Uma campanha de imprensa nos EUA, entretanto, acusaria o
plano de aceitar os ganhos obtidos com a “limpeza étnica” (mesmo se ele
atribuía aos sérvios menos território do que planos subsequentes, inclusive o
de Dayton). Apoiado pelos países europeus, pela Croácia, pela Federação
Russa e pela RFI, o plano Vance-Owen – que incluía um conjunto de
princípios, um mapa e um acordo de paz – estava a ponto de ser aceito pelos
bósnios sérvios e pelo governo bósnio quando foi praticamente inutilizado
91
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
pela morna acolhida que recebeu do novo Secretário de Estado Warren
Christopher. O New York Times noticiaria em primeira página que a Casa
Branca “will not push muslims to accept Bosnia peace plan”, levando o
Presidente Alija Izetbegovic a apostar em um apoio menos retórico dos EUA
à causa muçulmana e a emperrar o processo de paz.19
O plano de paz nunca receberia um aval pleno do Conselho de Segurança,
embora a resolução 820 de 17 de abril de 1993 (a mesma que apertou o
cerco das sanções a Belgrado) o tenha elogiado. Washington começaria a
exercer sua liderança com o “joint action programme” de Christopher e
Kozyrev, o estabelecimento – sob auspício norte-americano – da Federação
Bosníaca-Croata, a constituição de um “Grupo de Contato para a exIugoslávia” integrado pelos EUA, Alemanha, França, Reino Unido e
Federação Russa e o esforço negociador do Subsecretário de Estado Richard
Holbrooke que levou os beligerantes a Dayton, Ohio. A preocupação em
impedir que o atoleiro da ex-Iugoslávia afetasse negativamente as perspectivas
de reeleição do candidato democrata nas eleições de 1996 seria decisiva
para que o governo norte-americano passasse a dialogar com os sérvios e se
dispusesse, através da OTAN, a mandar tropas para os Bálcãs. Owen não
esconde sua contrariedade com aqueles desenvolvimentos e se refere à forma
como Washington se distanciou de seu plano de paz em termos ásperos:
“They (the United States) promised to come up with an alternative policy
over the next few weeks, but in the meantime seemed intent on killing
off a detailed plan backed by all their allies and close to being agreed by
the parties. It was by any standard of international diplomacy outrageous
conduct”.20 Como afirma Ramcharan, Cyrus Vance e seu parceiro Owen
foram vítimas do temor da nova administração em ser identificada com a do
ex-sulista e democrata Jimmy Carter, que não fora capaz de se reeleger. Por
outro lado, o próprio formato da Conferência sobre a ex-Iugoslávia, com
sua presidência partilhada entre a ONU e a Comunidade Europeia,
desagradava a Warren Christopher, que a via como um mecanismo montado
para facilitar a universalização de posições europeias. Christopher passaria,
em suma, a ignorá-la para grande frustração de seu ex-Chefe Vance.
O plano Vance-Owen previa uma força das Nações Unidas para ser
“imposto” às partes. Henry Kissinger já observara em fevereiro de 1992 que
“if a Bosnian settlement is to be just it will have to be imposed”.21 O exSubsecretário-Geral Marrack Goulding, em palestra de março de 1993 na
qual estabeleceu uma tipificação do trabalho da ONU no campo da
92
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
manutenção da paz, referiu-se especificamente à missão que teria sido atribuída
a forças das Nações Unidas na Bósnia segundo a concepção original do
plano Vance-Owen, e que acabou sendo delegada, pelos acordos de Dayton
(negociados pelo ex-assessor de Kissinger, Richard Holbrooke) a forças da
OTAN. Goulding introduziria o assunto com a advertência de que a ideia de
imposição coercitiva de um cessar-fogo por forças internacionais, o “ceasefire
enforcement” não constitui, a rigor, “peacekeeping”, acrescentando que “I
include it because it is currently under active discussion in the Bosnian
context and because it illustrates the extent to which, in the public and
the political mind at any rate, peacekeeping’s evolution is taking it accross
the threshold into peace-enforcement”.22
Os militares norte-americanos não estavam dispostos a aceitar uma força
de implementação que não fosse da OTAN. Em fevereiro de 1993 Clinton
anunciaria que, caso se chegasse a um entendimento negociado aceitável
para todas as partes da Bósnia, os EUA se prontificariam a fazer parte de um
arranjo de implementação a ser executado primordialmente pela OTAN, mas
ao qual poderiam aderir outros países, e a Federação Russa em especial.
Na tentativa de reconciliar realismo e idealismo moralista, surgiu a política
do “lift and strike”. Os europeus estavam persuadidos que o levantamento
do embargo de armas ao invés de fortalecer a parte muçulmana provocaria
ataques sérvios em escala sem precedentes, agravando a guerra. Mas os
EUA pareciam preferir, em uma primeira fase de sua política para os Bálcãs,
a ideia de liderar um ataque aéreo contra uma eventual investida sérvia, e
deixar os combates terrestres aos europeus, a contemplar o deslocamento
de soldados norte-americanos para assistir na implementação de um plano
de paz. Esse comportamento norte-americano não seria bem aceito por
Londres, Paris e Moscou, embora agradasse o mundo islâmico e aos turcos
em particular.
Mas a reunião do Conselho de Segurança de 29 de junho de 1993, em
que o projeto de resolução propondo o levantamento do embargo de armas
em benefício da Bósnia foi derrotado, demonstrou a inviabilidade multilateral
daquela política. O Embaixador Mérimée da França lembraria que o
levantamento seletivo do embargo de armas para beneficiar a Bósnia
contradizia frontalmente o conceito de “zonas de segurança”, co-patrocinado
pelos EUA poucas semanas antes e endossado pelo Conselho.23 O
Embaixador Vorontsov da Rússia afirmaria que o levantamento do embargo
teria o efeito de inviabilizar as operações da ONU na Bósnia.24 A delegação
93
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
chinesa àquela altura já havia começado a levantar objeções de forma
crescentemente desenvolta contra a aplicação de medidas sob o Capítulo
VII, em geral – no que constituía rejeição não só da postura norte-americana
como independência em relação aos demais membros permanentes (a China
fora responsável pela linguagem na resolução 836 segundo a qual o uso da
força para a proteção das “safe areas” só podia ser contemplado em
“autodefesa”; se abstivera na votação da resolução 816 relativa à proteção
pela força, se necessário, da “no fly zone”; se abstivera inclusive na votação
da resolução 757 que impusera sanções econômicas à RFI). A Grã-Bretanha
lamentaria a desunião do Conselho, ao declarar que “we regret this in
particular because the unity of this Council in handling what is recognised
by all as being the most complex and difficult international issue that
has faced the Council in recent years is an absolute prerequisite to
achieving results”.25
Não foi o desejo de preservar a união do Conselho de Segurança e sim
o quadro político interno que voltaria a alterar a rationale da posição norteamericana. Após a vitória do partido republicano nas eleições legislativas de
fins de 1994, o executivo passaria a rever sua estratégia e dedicar maior
atenção à ex-Iugoslávia. A tentativa de aproximar croatas católicos e bósnios
muçulmanos, isolando os sérvios, motivou a iniciativa que levaria à assinatura
na Casa Branca, em maio de 1994, do acordo para o estabelecimento de
uma federação entre as regiões da República Bósnia e Herzegovina com
maioria de população islamizada e croata. Paralelamente, segundo fonte do
Secretariado, Washington passaria a admitir violações unilaterais do embargo
de armas para beneficiar Sarajevo e Zagreb e aceitaria inclusive que fontes
supridoras terceiras, até mesmo iranianas, armassem os bósnios. A criação
do Grupo de Contato em 25 de abril do mesmo ano reunindo os EUA, o
Reino Unido, a França, a Federação Russa e a Alemanha retiraria da ICFY
a iniciativa diplomática e se transformaria em uma antecâmara de acomodação
de posições entre quatro, dos cinco membros permanentes do Conselho,
que esvaziaria o papel da ONU e do CSNU na busca de solução para o
conflito. O Grupo de Contato estabeleceria um plano de divisão territorial da
Bósnia entre a federação croata-muçulmana e a entidade sérvia que atribuiria
aos primeiros 51% do país, e 49% aos segundos, a mesma repartição
percentual que acabaria sendo aceita em Dayton (que, ironicamente, dava
mais território aos sérvios do que os 43% do plano Vance-Owen). O mapa
do Grupo de Contato acabaria sendo parcialmente implementado pelas armas,
94
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
com os bósnios sérvios expulsando muçulmanos e soldados da UNPROFOR
de Srebrenica e Zepa, e ofensiva croata e muçulmana – assistida por
telecomunicações norte-americanas – desalojando bósnios sérvios de posições
na parte ocidental do país. O Presidente croata Franjo Tudjman, por sua vez,
ocuparia a Krajina em agosto de 1995, sob o olhar complacente da
comunidade internacional, obrigando 150.000 sérvios residentes naquela parte
da Croácia há trezentos anos a buscar novo endereço. Ataques aéreos da
OTAN ajudariam a manter os bósnios sérvios na defensiva mas não permitiriam
aos croatas/muçulmanos adquirir mais do que os 51% de terras que lhes
tinha sido reservados pelo plano do Grupo de Contato. Estavam dadas as
condições para que Richard Holbrooke pressionasse Milosevic, Tudjman e
Izetbegovic a aceitar uma paz imposta por quem tinha condições de fazê-lo.
Nos EUA começavam a surgir análises como a do General Charles Boyd
que abriam mão da demonização de uma das partes: “to think clarity about
the former Yugoslavia that exists rather than the one the US
Administration would prefer and then to speak with honesty about it
will be very difficult given the distance this government had traveled
down the road of Serb vilification and Muslim and Croat approval. But
until the US government can come to grips with the essential similarities
between Serb, Croat and Muslim and recognize that the fears and
aspirations of all are equally important, no effective policy can possibly
be drafted that would belp produce an enduring peace”.26
Na avaliação de Ruggie “the major powers held very different precepts
regarding the appropriate form of UN military intervention in the Bosnian
conflict (…) if these precepts were not entirely at cross-purposes, they
decidedly did not add up to a coherent and sustainable doctrine”.27
O papel desempenhado pela OTAN é de particular interesse para um
exame da tentativa de resposta coletiva à crise dos Bálcãs. A desintegração
da Iugoslávia tornou-se o principal foco de atenção da OTAN em 1992.
Segundo Lawrence Kaplan a mobilização da recém-criada força de reação
rápida ou de outro tipo de força de intervenção aliada chegou a ser cogitada.28
Havia entre alguns membros europeus da OTAN um sentimento de que o
reconhecimento da independência da Croácia pela Comunidade Europeia
precipitara a guerra, o que obrigava os europeus a assumir responsabilidade
pelo fim do conflito. Mas a distinção entre agressor e vítima se prestava a
interpretações políticas divergentes no seio da Organização e os aliados
acabariam por considerar que seu interesse coletivo não estava em jogo. A
95
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Alemanha, em particular, permaneceria impedida de atuar por preceito
constitucional, representando obstáculo à atuação conjunta da OTAN como
aliança. Não obstante, por ocasião da cúpula da Conferência sobre Segurança
e Cooperação (CSCE, hoje OSCE), realizada em julho de 1992, os membros
da OTAN decidiram se coordenar com a União da Europa Ocidental (WEU)
para planejar uma ação conjunta no Adriático de monitoramento das sanções
e do embargo de armas.
Um precedente foi estabelecido quando em janeiro de 1993 as Nações
Unidas e a OTAN entraram em contato para estabelecer os planos de
implementação da “no-fly zone” autorizada pela resolução 781 (abstenção
da China). O plano entrou em vigor em abril de 1993 transformando-se no
primeiro exemplo oficial de participação da OTAN em zona de guerra fora
de seu território de defesa conforme definido no Artigo 6 do Tratado do
Atlântico Norte. Como admitiria Kaplan, contudo, “such a role for NATO
in the Balkans would fit a pattern that had been developing since the
Gulf War two years before”.29 O General Shalikashvili, que detinha na época
o Comando Aliado Supremo na Europa, alardearia o envolvimento da OTAN
na ex-Iugoslávia referindo-se à presença de navios da aliança no Adriático,
ao apoio proporcionado por sistemas aéreos de “early warning”, à presença
de elementos de um corpo de Estado-Maior nas cercanias de Sarajevo. Nas
suas palavras “all these things were unheard of when we were debating
whether NATO should have an out-of-area role. Today they are taken
for granted”.30
Mas o que começou como um exercício relativamente não controvertido
de cooperação entre a organização internacional e a aliança norte-atlântica
se transformaria em uma relação difícil quando a OTAN foi incumbida de
velar pelas áreas protegidas na Bósnia. O ex-Comandante da UNPROFOR
na Bósnia Sir Michael Rose comentaria a esse respeito que “humanitarian
aid delivery and military enforcement backed by NATO jets do tend to
lie uneasily together”. O sistema de autorização apelidado de “dupla chave”
que requeria a anuência do Secretário-Geral da ONU a possíveis ataques
aéreos punitivos da OTAN, e o regime de acionamento de apoio aéreo
defensivo pelo Representante do SGNU, Yasushi Akashi, se revelaria um
permanente pomo de discórdia, no Conselho, entre os membros permanentes
da Europa ocidental e os EUA. Apesar de pertencerem à OTAN, França e
Reino Unido insistiram no caráter político de qualquer decisão relativa a
airstrikes e na preservação da autoridade decisória do Secretário-Geral,
96
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
em oposição aos EUA. A Federação Russa, por sua vez, tentaria, sem êxito,
defender a noção de que o Secretário-Geral devia consultar os membros do
Conselho de Segurança antes de autorizar ataques aéreos. A cautela de Akashi
e Boutros-Ghali foi mal compreendida pela Embaixadora Albright, e pode
ser considerado um dos fatores do distanciamento entre a Representante
Permanente dos EUA e o SGNU que lhe terá custado a reeleição. Mas, de
um modo geral, Gwyn Prins fala de um choque cultural entre a ONU e a
OTAN, que ficou ilustrado pelo exaspero do General Morillon, Comandante
do componente francês da força de reação rápida da OTAN, com o
Secretariado da ONU “the way I understood my mission was to oppose
everything to do with ethnic cleansing. We could mediate, but we had to
be resolutely opposed to the perpetrators of ethnic cleansing. New York’s
understanding was this angel-ism, this illusion that we could remain
passive...”31 A esse respeito Prins comenta que a divergência entre Morillon
e a ONU é sintomática de algo mais do que uma diferença de estilos “it is
about the future of international peace operations after the cold war”.32
O comando da UNPROFOR se opusera em março de 1993 à adoção
da resolução 816 que colocava claramente a zona de proteção aérea sob a
égide do Capítulo VII (“all necessary measures in the airspace of the
Republic of Bosnia and Herzegovina, in the event of further violations,
to ensure compliance with the ban on flights”), antecipando os riscos para
os cascos azuis. Apesar das inúmeras violações do espaço aéreo (mais de
quatro mil em dois anos e meio), as ações punitivas seriam limitadas a um
mínimo por interferência das Nações Unidas. Mesmo assim quatro caças
sérvios foram derrubados em fevereiro de 1994. Os procedimentos para
proteger com a força aérea da OTAN as áreas de segurança foram finalizados
depois do trágico incidente em que sessenta e oito civis morreram e duzentos
ficaram feridos em um ataque de morteiro ao mercado de Sarajevo. Akashi
autorizaria alguns poucos ataques cirúrgicos, como os de abril de 1994 em
Gorazde, mas vetaria um número muito maior. Em agosto e setembro aviões
da OTAN destruiriam tanques perto de Sarajevo, após haver advertido os
sérvios para evitar que houvesse feridos. Quando a parte sérvia lançou uma
ofensiva na região da “área de segurança” de Bihac, a OTAN bombardeou
um campo de pouso em Udbina, na Croácia, e destruiu vários mísseis
antiaéreos na Bósnia. Em maio de 1995 repetiu-se a mesma sucessão de
eventos, com provocações sérvias dando lugar a airstrikes da OTAN, que
seriam logo suspensos depois da tomada de trezentos e setenta reféns da
97
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
UNPROFOR, inclusive observadores militares brasileiros. Por fim, durante
duas semanas em setembro de 1995, a OTAN intensificou seus ataques como
forma de preparar o terreno (literalmente) para a solução territorial a ser
imposta.
Enquanto o Conselho de Segurança atua de forma não sistemática e se
abstém de desenvolver uma doutrina própria, a OTAN, os EUA, o
Secretariado também – como veremos adiante, elaboram preceitos
interpretando livremente experiências recentes para tirar lições para o futuro.
A experiência nos Bálcãs levou a OTAN a estabelecer uma doutrina
própria para operações de apoio à paz, a “NATO doctrine for peace support
operations”, documento de 11 de dezembro de 1995, cuja introdução
esclarece que “where practical it is harmonized with national doctrines
and UN policies”.33 Menção explícita é feita à necessidade de uma decisão
sob o Capítulo VII para que o uso da força seja autorizado. Mas, ao mesmo
tempo, a doutrina estipula que “peacekeeping may be authorized under
either Chapter VI or VII”, o que constitui um desvio em relação à prática
normalmente seguida pela ONU, excetuados os casos da Somália e da exIugoslávia. O interessante é que, apesar das avaliações negativas sobre a
utilização de operações de paz para missões coercitivas naqueles dois cenários,
a OTAN dá por estabelecido que peacekeeping é compatível com
enforcement. Outro aspecto relevante se refere ao capítulo sobre operações
humanitárias, tidas como uma modalidade à parte de intervenção que, em
certos casos, deve estar apta a recorrer à força para implementar seu mandato.
Os EUA já em maio de 1994 haviam concluído a PDD-25 (Presidential
Decision Directive-25), que adotava uma visão restritiva das circunstâncias
em que as forças armadas norte-americanas deveriam se envolver em
operações multilaterais ou apoiá-las. A participação norte-americana deveria
ficar sujeita, em princípio, a um comando dos EUA e os motivos capazes de
justificar uma intervenção (de paz ou coercitiva) incluíam casos de agressão
militar, desastres naturais, subversão da democracia, violações de direitos
humanos, atentados a interesses nacionais. A existência de uma estratégia
para terminar a intervenção também era considerada essencial. Os seis
principais tópicos da PDD-25 eram resumidos da seguinte forma: 1)
estabelecer uma política disciplinada e coerente em relação ao apoio e eventual
participação dos EUA em operações de paz específicas (com ênfase em uma
participação “seletiva” para torná-la “efetiva”); 2) reduzir custos, tanto o
percentual pago pelos EUA como o custo global das operações (a política se
98
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
definiu em termos de uma redução da contribuição ao orçamento para
operações de paz de 31,7% para 25%); 3) definir uma política de comando
e controle capaz de preservar para os EUA o comando de qualquer operação
com presença militar norte-americana “em larga escala”, sem excluir a
possibilidade de posicionar tropas sob um comando estrangeiro por decisão
presidencial; 4) reformar a capacidade de informação, planejamento, logística,
comando e controle das Nações Unidas; 5) aprimorar os mecanismos de
financiamento pelo governo dos EUA (com o Departamento de Defesa se
responsabilizando pelo financiamento de operações que envolvem unidades
de combate); 6) criar melhor cooperação entre o executivo, o congresso e o
público em relação a operações de paz. A PDD-25 declarava enfaticamente
que os EUA não apóiam um exército regular da ONU. O documento intitulado
“peace operations” de dezembro do mesmo (conhecido também como “Field
Manual 100-23”) detalhou as diretrizes do PDD-25, invocando tanto
antecedentes multilaterais como unilaterais, e citando, como exemplo, as
situações enfrentadas pela ONU no Congo e na Somália, e a experiência dos
EUA no Panamá.34 Ao incorporar o termo “peace enforcement”, os EUA
deixou patente sua disposição em preparar-se para enfrentar com mais
eficiência situações como as que desafiaram a UNITAF, a UNOSOM II e a
UNPROFOR. O objetivo das missões de “peace enforcement” foram
definidos como sendo “the restoriation and maintenance of order and
stability, protection of humanitarian assistance, guarantee and denial of
movement, enforcement of sanctions, establishment and supervision of
protected zones, forcible separation of belligerent parties, and other
operations as determined by the authorizing party”. Ao comparar
“peacekeeping” e “peace enforcement”, o FM 100-23 tratou nos seguintes
termos do consentimento e da imparcialidade: “in peacekeeping operations
belligerent parties consent to the presence and operations of peacekeeping
forces, while in peace enforcement consent is not absolute and force
may be used to compel or coerce; in peacekeeping impartiality is more
easily maintained, while the nature of peace enforcement strains the
perception of impartiality on the part of the peace enforcement force”.
No sentido antecipado pela Agenda para Paz, a OTAN é tratada no documento
como uma organização regional, a mesmo título que a OEA, a OUA ou a
OSCE. Diferentemente da doutrina da OTAN, o documento norte-americano
não cria a categoria de “humanitarian operation”, atendo-se à terminologia
menos inovadora de “peace operations in support of humanitarian
99
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
assistance”. Entre os princípios orientadores das operações de assistência
humanitária figuram o de que ela não deve adiantar agendas políticas ou
sectárias, nem tomar partido, e também é citado o de que “where
humanitarianism and sovereignty Clash, sovereignty should defer to the
relief of life threatening suffering”.
O ex-Secretário-Geral Kofi Annan, quando ainda chefiava o
Departamento de Operações de Paz, elaborou também um conjunto de ideias
que representam uma reinterpretação criativa do papel na ONU na
preservação da paz e segurança internacionais à luz das experiências na
Somália e na Bósnia. Partindo do princípio de que as Nações Unidas precisam
confrontar a realidade de que crises como aquelas não podem ser tratadas
com os instrumentos habituais da manutenção da paz, Annan propôs, em
primeiro lugar, a criação de uma “serious capacity for the lawful gathering
and analysis of intelligence, so that we understand the crisis in which we
are about to intervene and are able to anticipate how it is likely to
develop”. Adicionalmente ele defende o estabelecimento de “appropriate
capabilities upon deployment: the right force structure to carry out the
mandate and to protect the operation”. Suas ideias sobre o “consentimento
induzido” cujo objetivo é descrito como sendo o de “intimidate recalcitrants
into cooperating” soam francamente radicais, embora sejam temperadas
por constatações como a de que “while intimidation can in some (but
certainly not all) circumstances put a clamp on violence, at least for a
while, it is not useful in promoting lasting reconciliation”.35 Não é dito se
esta evolução doutrinária pode ser enquadrada nos atuais dispositivos da
Carta, em caso afirmativo sob quais deles, em caso negativo quais as emendas
que devem ser contempladas.
Outras avaliações são possíveis. Sir Michael Rose, o ex-comandante da
UNPROFOR em Sarajevo, conclui, por exemplo, que “the clear lesson
here is that unless it has the mandate to act like an invading force, a
Mission can only operate with the consent of all parties to the conflict.
That is, it must remain impartial and neutral in the way it conducts its
business, and that when it is obliged to use force, it does so within the
normal rules for the use of force common to any peacekeeping
operation”.36 O relatório da “Commission on Global Governance”, publicado
por ocasião do 50o aniversário das Nações Unidas, sublinharia, por sua vez,
que “it is absolutely essential to cultivate an international environment
in which the use of force remains the last possible means of resolving
100
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
disputes, particularly when that action is being authorized on the basis
of humanitarian considerations. Both ethical and practical considerations
dictate an approach that elevates persuasion, conciliation, and arbitration
above coercion, and non-violent coercion above the use of force”.37
Dentre as medidas de segurança coletiva adotadas pelo Conselho de
Segurança em relação à ex-Iugoslávia talvez as mais eficazes e, em retrospecto,
mais justificadas hajam sido as sanções, e especialmente as econômicas
aplicadas a Belgrado. Não obstante as violações de variada natureza que
sofreram, e admitido o efeito pernicioso que elas têm sobre populações civis
e terceiros países, é inquestionável que um fator decisivo para o surgimento
de uma disposição negociadora em Belgrado – e por extensão Pale – foi a
promessa de levantamento das sanções, aventada pela primeira vez pelo
Presidente Mitterrand a Slobodan Milosevic em meados de 1994. A ameaça
de reimposição de sanções permanece um elemento de pressão sobre os
sérvios, assim com a resistência dos EUA a aceitar que a RFI volte a assumir
na Assembleia Geral e no ECOSOC o assento que foi da RFSI.
A questão do uso da força para fins de assistência humanitária ficou
mais, e não menos, controvertida depois da Bósnia. As conotações pejorativas
do “mission creep” juntaram-se à imagens negativas associadas à “Mogadishu
line” na formação de um vocabulário que parecia refletir um mal-estar
crescente ante o fenômeno do uso da força por operações de paz. A presença
da OTAN fora de sua circunscrição territorial suscitou, de forma mais
acentuada do que no Golfo, a questão da relação entre a aliança defensiva e
a segurança coletiva universal sob responsabilidade do Conselho de
Segurança. Não ficaria claro, em particular, se, em situações futuras, a OTAN
recorreria ao uso da força, fora de sua área de defesa, apenas com a
autorização expressa do Conselho de Segurança, como se requer dos arranjos
regionais inseridos sob o Capítulo VIII, ou se os aliados manteriam abertas
outras opções como a da invocação da auto-defesa sob o Artigo 51 para se
posicionar “out of area”.
A questão do recurso ao Capítulo VII para a administração da justiça
penal, enfim, levanta incertezas que ficaram expressas nas intervenções da
delegação brasileira tanto quando da criação do Tribunal Internacional para
a ex-Iugoslávia, como de seu similar para Ruanda. Aceita como manifestação
de repúdio da consciência internacional a violações particularmente inaceitáveis
do direito humanitário, os Tribunais podem ser vistos como iniciativas que –
enquanto não é estabelecido um Tribunal Penal Internacional – se justificam
101
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
pela excepcionalidade dos crimes que lhe deram origem. Mas a criação dos
Tribunais também pode considerada um ato “imprudente” no sentido indicado
pelo ex-Chanceler Ramiro Guerreiro quando ele afirma que o Conselho de
Segurança dispõe dos poderes excepcionais do Capítulo VII para prevenir
guerras prováveis ou acabar com elas e não para “suprir deficiências dos
meios de ação coletiva que visem à proteção dos direitos do homem, à
ecologia, à restauração da democracia representativa, aos fins humanitários
etc.”38 A Missão do Brasil junto à ONU assinalaria que “o estabelecimento
do Tribunal Internacional mediante decisão do Conselho de Segurança não
encontra fundamento legal adequado no Capítulo VII ou em outra seção da
Carta das Nações Unidas.”39 O Brasil chamaria atenção do CSNU para o
fato de que o Conselho de Segurança, sendo ele próprio um órgão cujos
poderes não são originários – mas a ele delegados pelo conjunto dos Estados
membros da ONU – não pode atribuir a um órgão subsidiário poderes que a
ele próprio não foram atribuídos. As intervenções brasileiras sinalizaram as
objeções jurídicas ao que se afigurava como uma ampliação inconstitucional
das competências do Conselho de Segurança, sem contudo deixar de
consignar nosso interesse em contribuir de forma positiva para que não
permanecessem impunes os graves crimes cometidos na ex-Iugoslávia. Caberia
acrescentar o raciocínio de Stephen John Stedman, segundo o qual a
comunidade internacional só devia assumir o compromisso de julgar crimes
de guerra quando houver descartado a hipótese de vir a negociar com a
liderança suspeita, como seria o caso, por exemplo, se ela estivesse sendo
objeto de uma ação coercitiva militar sob o Artigo 42. No caso da Sérvia
cabe a pergunta de Stedman “would a peace be more likely reached if
some Serbians understand that a price of that peace will be their
punishment for war crimes?”40 A resposta é evidentemente negativa, e
explica porque os EUA não incluíram entre as funções da força da OTAN
responsável pela implementação dos acordos de Dayton o dever de aprisionar
os suspeitos de crimes de guerra indiciados pelo Tribunal da Haia para a exIugoslávia.
O tumulto internacional provocado pelo fim da República Federal
Socialista da Iugoslávia pode ainda não haver chegado a seu termo. Um
Subdiretor do Departamento de Assuntos Políticos do Secretariado que
testemunhou o conflito, (e pede para não ser citado) observa que a associação
entre croatas e muçulmanos na Bósnia só sobreviverá por pressão externa,
uma vez que os croatas nutrem desprezo ainda mais profundo que os sérvios
102
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
pela população islamizada dos Bálcãs. A mesma fonte, que não hesitou em
descrever os croatas como “neonazistas”, estima que será mais fácil os
islâmicos desenvolverem uma coabitação cooperativa com os sérvios, pois,
em última análise, a RFI não tem interesse em se converter em um estado
etnicamente puro por desejar reter as províncias do Kossovo – onde os
sérvios mal chegam a 10% da população – e da Vojvodina – onde há forte
presença húngara. A Bósnia idealmente poderia se transformar em uma
Confederação Helvética mas também pode sobreviver a duras penas como
um Líbano. A ideia de confederar a Federação Bosníaca-Croata à Croácia
propriamente dita foi praticamente abandonada. Mas os sérvios bósnios
poderão evoluir no sentido de um arranjo confederado com Belgrado. Se os
croatas da Bósnia decidem fazer o mesmo com Zagreb qual será o futuro da
comunidade islâmica da Bósnia?
Para Bernard Henri Lévy a Bósnia se converteu no equivalente emocional
da Espanha dos anos trinta.41 Samuel Huntington considera essa comparação
apropriada, e acrescenta que “in an age of civilizations Bosnia is everyone’s
Spain. The Spanish Civil War was a war between political systems and
ideologies, the Bosnian War a war between civilizations and religions.
(...) After four years the Spanish Civil War came to a definitive end with
the victory of the Franco forces. The wars among the religious
communities in the Balkans may subside and even halt temporarily but
no one is likely to score a decisive victory, and no victory means no end.
The Spanish Civil War was a prelude to World War II. The Bosnian War
is one more bloody episode in an ongoing Clash of civilizations”.42
A análise de Huntington pode ajudar a iluminar a natureza das forças em
luta no conflito balcânico, mas não mostra um caminho claro para transcendêlas. Admitida sua interpretação do atual cenário mundial, seria plausível antever
uma ordem internacional organizada em esferas de influência, com o
renascimento da filosofia do equilíbrio do poder e o desaparecimento da
noção de segurança coletiva tal como surgida no início do século e
desenvolvida pela ONU. Em um ambiente de lealdades determinadas pela
participação de atores soberanos em “civilizações”, Huntington situa no cerne
da possibilidade de preservação da influência do Conselho de Segurança a
questão de sua composição permanente: “the most obvious, most important,
and probably most controversial issue concerns permanent membership
in the U.N. Security Council. (...) Over the longer haul either changes
are made in its membership or other less formal procedures are likely to
103
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
develop to deal with security issues, even as the G-7 meetings have dealt
with global economic issues”.43
Mas a transcendência deve ser buscada também no campo dos valores.
A crise na ex-Iugoslávia constituiria um campo de aplicação particularmente
fértil para a promoção da tolerância como um valor-chave para o
encaminhamento da construção de uma ordem internacional mais justa, como
propõem Lafer e Fonseca Jr.,44 e como efetivamente tem procurado defender
a delegação brasileira em sua atuação em relação ao tema no Conselho de
Segurança e na Assembleia Geral. Seja na presidência do Comitê de Sanções,
ocupada durante dois anos, seja nos debates formais e informais e nos contatos
com as partes direta e indiretamente envolvidas, o Brasil contrastou sua própria
experiência histórica de coexistência harmoniosa entre populações de etnias
variadas e múltiplas confissões ao exemplo de intolerância dos Bálcãs. Essa
mesma experiência explica nossas reservas em relação ao enfoque subjacente
aos acordos atualmente em fase de implementação, que submetem à lógica
da incompatibilidade entre etnias e acabam por reforçar as cisões entre
muçulmanos, cristãos e ortodoxos, bosníacos, croatas e sérvios. Como
afirmado pelo Embaixador Celso Amorim em dezembro de 1995, “persuaded
by our own historical legacy that fruitful coexistence among people of
different religious, racial and cultural backgrounds is viable and natural,
we consistently and vigorously rejected the twisted logic of the ethnic
borderline. This logic has yet to be defeated in the Balkans as it was
during World War II in Europe, and as it has been overcome, with the
active assistance of the United Nations, in South Africa. (...) It is now up
to the leaders and the peoples who have lived through this nightmare to
create a new environment, through tolerance and respect for diversity”.45
Brasília, que estabelecera relações diplomáticas com a Croácia e a Eslovênia
em dezembro de 1992, só faria o mesmo em relação à Bósnia em 6 de
dezembro de 1995, depois de firmados os Acordos de Dayton.
Pode-se afirmar com alguma convicção que a parte islâmica na Bósnia
é a que maior compromisso com a pluralidade étnica e religiosa manifesta,
mesmo se para sobreviver ela tem aceito a assistência de fundamentalistas
radicais. Ivo Banac, da Universidade de Yale, frisa que o Presidente bósnio,
Alija Izetbegovic “consistently has championed a secular, multinational
Bosnian state, in which the rights of the three constituent communities
would be guaranteed and protected”. O mesmo Banac sustenta que a
destruição de mesquitas (90% das que existiam nas áreas ocupadas pelos
104
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
sérvios na Bósnia foram destruídas) “represents a cultural reversion to
pre-Enlightenment ideational modes”, uma regressão a formas de
comportamento que não eram vistas nos Bálcãs desde o século XVIII.46 A
atitude protetora dos EUA em relação aos muçulmanos emerge, nesse
contexto, como digna de respeito, e em sintonia com preocupações éticas
que tocam de perto à consciência brasileira. Mesmo se a postura de
Washington na crise da ex-Iugoslávia evoluiu de acordo com as prioridades
de uma agenda política interna, mesmo se as oscilações de sua política
podem ter retardado ao invés de favorecido a adoção de medidas efetivas
de controle da violência, a disposição norte-americana em defender
Izetbegovic constitui um exemplo de solidariedade transcivilizacional que
merece ser incentivada pelos que não desejam um mundo dividido em bases
étnico-religioso-culturais. Merece reflexão o fato de estar em pauta no
conflito dos Bálcãs um valor que pode ser defendido sem restrições por
uma amostragem representativa da comunidade internacional e que
transcende as linhas das civilizações e do grau de desenvolvimento
econômico. Reconhecidas as dificuldades de transposição da defesa de
um valor para o plano diplomático, a causa da pluralidade cultural étnica e
religiosa, da tolerância, em suma, poderá aglutinar um conjunto diversificado
de atores internacionais, e preencher, para boa parte do mundo em
desenvolvimento, um espaço que ficou vazio com o fim da descolonização
e do apartheid na África do Sul.
O Brasil foi capaz de manter um nível adequado de diálogo com as
diferentes partes do conflito, sem assumir um perfil excessivamente elevado e
incompatível com nossa posição de espectador relativamente distante do teatro
do conflito, nem abdicar de defender o respeito às normas e princípios da
Carta e promover a tolerância. Ante a visível desorientação dos membros
permanentes, impunha-se cautela e equilíbrio. Se a defesa da pluralidade
cultural nos aproximava do discurso de Washington e Sarajevo, a resistência
ao uso da força nas relações internacionais impediu que nos aliássemos ao
mundo islâmico e aos EUA na questão do levantamento do embargo de armas,
aproximando-nos, até certo ponto, da posição chinesa que combateu a
proliferação de referências ao Capítulo VII. Como co-participantes na
UNPROFOR, estivemos sempre ativamente envolvidos nas condutas do
Secretariado e Presidência do Conselho com os contribuintes de tropas, onde
frequentemente sustentamos posições próximas dos países com mais
numerosos contingentes, em particular França e Reino Unido. Na presidência
105
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
do Comitê de Sanções o Brasil agiu com equilíbrio suficiente para preservar
a confiança dos membros do Conselho e também de Belgrado.
Resta saber se a ONU está inerentemente desaparelhada para lidar com
conflitos complexos como o da ex-Iugoslávia, ou se no futuro situações
análogas terão que ser tratadas em “grupos de contato” ou solucionadas sob
o comando de uma única potência, como aconteceu em Dayton, com o
Conselho de Segurança aguardando pelos resultados das negociações para
coonestá-las. Por um lado, Dayton pode ser interpretado como fenômeno
de uma ordem unipolar, com os EUA assumindo individualmente a liderança
na resolução de conflitos que o Conselho de Segurança não consegue resolver
ou e impedido de resolver por essa mesma potência. Mas diferentemente do
que ocorre com o Oriente Médio, por exemplo, a ONU se envolveu de
forma direta nas tentativas de reconciliação nos Bálcãs, seja na copresidência
da ICFY, seja pelo papel de ponto focal que o Conselho assumiu para a
imposição e levantamento de sanções e para decisões importantes que
mantiveram uma forte presença internacional na ex-Iugoslávia e, em certos
casos, legitimaram o uso da força. Não fossem as mudanças frequentes na
posição norte-americana, o Conselho de Segurança poderia ter avançado
mais decididamente em direção à paz com base no plano Vance-Owen. A
interferência da política interna dos EUA na atividade do Conselho, que acabou
contribuindo para que os beligerantes chegassem a um acordo em Dayton, é
responsável também, paradoxalmente, pela incapacidade em que se encontrou
o Conselho de haver facilitado um acordo antes.
B.G. Ramcharam observa que o Conselho de Segurança adquirira a
pretensão de ser capaz de lidar com as mais sérias ameaças à paz e segurança
internacionais depois da Guerra do Golfo e que esta pretensão sofreu um
duro golpe com a crise da ex-Iugoslávia.47 Dentro da multiplicidade de
exercícios de avaliação da resposta internacional à crise da ex-Iugoslávia,
e do papel que coube à ONU desempenhar, nem todas se preocupam em
preservar distinções importantes contidas na Carta da ONU, em particular
as que diferenciam entre a ação sob o Capítulo VI e sob Capítulo VII, e
nem todas apontam em direção ao fortalecimento do multilateralismo. Se o
somatório dessas reinterpretações não chega a fazer emergir uma nova
definição consensual de segurança coletiva, parece possível afirmar que o
caminho já trilhado não está levando a um retorno à ortodoxia da Carta e
que está em curso um processo incipiente de articulação de um novo
paradigma.
106
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
(C) O Genocídio em Ruanda
O Conselho de Segurança contemplou pela primeira vez o recurso ao
Capítulo VII com respeito à situação em Ruanda em 20 de abril de 1994,
quando Boutros-Ghali sugeriu, como alternativa a duas outras opções não
coercitivas, que fossem enviados ao país tropas em número suficiente para
impor um cessar-fogo, e restabelecer a ordem.1 As outras opções eram ou
reduzir a capacidade da UNAMIR – a Missão de Assistência das Nações
Unidas para Ruanda criada em outubro do ano anterior em atendimento a
solicitação das partes em litígio – ou retirá-la do país. O Conselho decidiu,
em um primeiro momento, reduzir para 270 homens a composição da
UNAMIR. A Embaixadora norte-americana Madeleine Albright estava
decidida a fazer de Ruanda o primeiro teste da nova política presidencial, a
“PDD-25” que limitava as possibilidades de envolvimento dos EUA em
conflitos que não afetassem interesses vitais dos EUA e adotava uma atitude
mais restritiva em relação a operações de paz da ONU de modo geral. Como
ela declararia ao Comitê de Assuntos Estrangeiros do Congresso “sending
a UN force into the maelstrom of Rwanda without a sound plan of
operations would be folly”.2 A magnitude da violência que tomou conta do
país, semanas após o acidente aeronáutico em que morreram em condições
algo misteriosas o Presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana e seu homólogo
do Burundi, levaria o Conselho de Segurança a reexaminar sua posição em
17 de maio, ampliando o mandato da UNAMIR, aumentando o número de
seus integrantes para 5500 homens, e impondo um embargo de armas sob o
Capítulo VII. Referência ao Capítulo VII figuraria novamente na resolução
929 de 22 de junho de 1994, que autorizaria a criação do que acabou sendo
chamada de uma “operação multinacional de finalidade humanitária”, a
chamada “opération turquoise” comandada pela França, objeto de abstenção
brasileira. A resolução 929, que só obteve 10 votos favoráveis (as outras
abstenções foram de China, Nigéria, Nova Zelândia e Paquistão) justificava
a necessidade de intervenção “multinacional” em razão do agravamento da
situação humanitária e da lentidão nos preparativos para a obtenção do número
de tropas necessário para o reforço da UNAMIR. O eufemismo dos “all
necessary means” inaugurado pela resolução 678 foi novamente empregado
para consignar a natureza impositiva da intervenção, o que se tornava
necessário em vista da oposição vocal a sua realização por parte da Frente
Patriótica de Ruanda (RPF) que já começava a dominar todo o território
107
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
ruandense e acusava os franceses de parcialidade em favor das forças do exGoverno de maioria Hutu e das milícias a elas aliadas, sobre as quais pesava
a responsabilidade pela matança da população de origem Tutsi e elementos
moderados da própria etnia Hutu. Ainda sob o Capítulo VII seria estabelecido
em novembro de 1994 um Tribunal Internacional, contra a vontade da
delegação de Ruanda, que participou como membro não permanente do
Conselho em 1994 e 1995.
Em contraste com o que acontecera na Somália e na ex-Iugoslávia, a
questão de Ruanda fora trazida ao Conselho de Segurança inicialmente sob
o signo da reconciliação entre o Governo de maioria Hutu e a chefia da RPF.
Incidentes fronteiriços opondo os dois grupos desestabilizaram o nordeste
de Ruanda, em outubro de 1990, e voltariam a se produzir em fevereiro de
1993, quando já estavam em curso as negociações patrocinadas pela OUA
e pelo Governo tanzaniano que desembocariam nos acordos de Arusha. Em
22 de junho de 1993 seria adotada a resolução 846 que criava, a pedido dos
governos de Kigali e Kampala, uma Missão Observadora Uganda-Ruanda
(UNOMUR) para ser posicionada ao longo da fronteira comum, do lado
ugandense. Em 5 de outubro de 1993, a resolução 872 atenderia a solicitação
conjunta do Governo de Ruanda e da RPF ao criar uma operação de paz
para assistir as partes na implementação do Acordo de Paz de Arusha, que,
além de prever um cessar-fogo, estabelecia, em seis protocolos detalhados,
condições para o repatriamento de refugiados, reformulação integrada das
forças armadas e partilha do poder. Os Acordos concluídos em 4 de agosto
de 1994 culminavam um processo de dois anos de consultas promovidas
pela OUA e acompanhadas pela ONU. Representantes da RPF e do Governo
vieram pessoalmente a Nova York para persuadir o Conselho a criar a
UNAMIR, no que só podia ser interpretado como sinal encorajador de
conciliação política, que parecia colocar os ex-combatentes ruandenses em
uma categoria menos belicosa do que seus similares na Libéria ou em Angola.
O acirramento das tensões tradicionais entre a maioria Hutu e a minoria
Tutsi na região africana dos “grandes lagos” data da época colonial.
Primeiramente os alemães (de 1908 até 1916), e posteriormente os belgas –
que ocuparam a área durante a I Guerra Mundial e viriam a administrá-la sob
um mandato da Liga das Nações depois transferido para a ONU – se serviram
da população Tutsi (ou Watusi como foi conhecida), criadora de gado e
guerreira, para dominar as terras do então chamado Ruanda-Urundi.
Governados como parte do Congo belga até 1960, Ruanda e Burundi se
108
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
tornariam independentes em 1962. Um sistema de coexistência que perdurara
por centenas de anos seria desagregado pela política colonial de favorecimento
do grupo que, por seus traços finos e estatura esguia, foi considerado por
Gobineau como aparentado aos arianos.3 A rivalidade racial latente se
intensificaria com o surgimento de uma elite administrativa Tutsi e com a
institucionalização de um sistema de designação étnica na documentação de
identidade individual. Como afirma James Fenton “it had taken two
generations of colonialism to turn what had been an antagonism between
two peoples who nevertheless lived together intimately and productively
into a passionate racial hatred”.4
A descolonização na África despertou um nacionalismo Hutu antagônico
não só aos belgas como aos Tutsi. O massacre de vinte mil Tutsi nos anos
que precederam à independência provocaram um êxodo da elite minoritária,
que está na origem da formação de uma diáspora anglófona em Uganda e na
América do Norte (os Hutu permaneceriam francófonos). Até os anos oitenta
a relativa estabilidade do país fez com que Ruanda, apesar de seu regime
político ditatorial de partido único, fosse capaz de atrair cooperação externa,
particularmente de países de língua francesa (inclusive Canadá). Em 1988 os
Tutsi no exílio se aliaram à dissidência interna – composta inclusive por
representantes da etnia majoritária – formando a Frente Patriótica de Ruanda
que acabaria por tomar o poder após haver sido vítima de tentativa organizada
de extermínio por radicais Hutu.
A ansiedade francesa ante a perspectiva de um avanço da anglofonia na
África terá levado Paris a estender um apoio militar e econômico substancial
à ditadura de Juvenal Habyarimana. Conforme comenta Gérard Prunier, a
liderança ruandesa interpretaria o interesse francês em manter sua influência
linguística e política na África subsaariana como fonte incondicional de apoio
ao Governo em Kigali.5 Quando os acordos de Arusha confrontaram os
elementos mais antidemocráticos com a obrigação de acomodar os Tutsi em
um Governo de Transição que precederia as eleições livres programadas
para até fins de 1995, começou a se organizar um núcleo de resistência a
toda e qualquer reforma. Esta ala considerava que as negociações em Arusha
haviam favorecido a RPF, que comparecera com uma plataforma unívoca,
enquanto a representação governamental se apresentara dividida. Surgiria,
assim, no partido governamental e nas forças armadas a ideia de completar a
tarefa, tentada no período pré-independência, de acabar de vez com o
problema Tutsi.
109
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Em janeiro de 1994 Habyarimana foi confirmado na presidência, em
consonância com o previsto em Arusha, para por em marcha o processo de
transição a ser concluído em um período de dois anos. O cronograma de
instalação das instituições transitórias, entretanto, começou a sofrer atrasos.
Ao regressar da capital da Tanzânia, em 6 de abril, o Presidente se havia
comprometido a anunciar a formação de um governo de transição do qual
participariam cinco ministros do RPF tão logo chegasse a Kigali.
Independentemente da questão étnica, a expectativa de ter que acomodar os
expatriados Tutsi representava um inquestionável desafio para um país agrário
e economicamente frágil, conhecido pelas mais elevadas taxas de densidade
demográfica do continente africano. A morte dos Chefes de Estado de Ruanda
e Burundi em 6 de abril de 1994, em um acidente aparentemente provocado,
desencadearia uma onda de assassinatos de motivação étnica, política e
indiretamente econômica, em que morreriam mais de oitocentos mil pessoas,
enquanto três milhões se deslocariam internamente ou para países vizinhos.
De uma população Tutsi ruandesa de cerca de um milhão, sobreviveram menos
de duzentos mil.
Por qualquer critério de avaliação, os acontecimentos de 1994 em Ruanda
se enquadrariam sem dificuldade no Artigo II da Convenção sobre a
Prevenção e a Punição pelo crime do Genocídio de 1948, que define o crime
em termos de “ato cometido com a intenção de destruir em sua totalidade ou
em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso”.6 O Artigo VIII da
mesma Convenção estabelece que qualquer parte contratante poderá instar
os “órgãos competentes das Nações Unidas a tomar as medidas julgadas
apropriadas para, de acordo com a Carta, prevenir e suprimir os atos de
genocídio enumerados no Artigo III”, que, por sua vez, inclui itens como a
incitação direta e pública ao genocídio, a conspiração ou a cumplicidade na
perpetração de tais atos. O relatório do “Committee on Global
Governance” considera que a Convenção sobre o Genocídio (que em 1994
havia sido ratificada por 114 países, inclusive o Brasil) se refere implicitamente
ao Conselho de Segurança em seu Artigo VIII.7 No entender do Comitê,
enquanto o CSNU tem se permitido alguma latitude na interpretação do que
consistiriam situações passíveis de justificar intervenção nos assuntos internos
dos Estados membros sob pretexto de que ameaçam a paz e segurança
internacionais, o Conselho já estaria autorizado pela Convenção de 1948 a
se mobilizar contra situações como a perseguição de Hitler contra os judeus
ou a eliminação dos Tutsi pelas forças armadas de Ruanda e milícias a elas
110
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
aliadas em 1994. No cumprimento do mandato que lhe outorgara as
resoluções 912 e 918 a UNAMIR acolheu a população civil que buscou a
proteção da ONU, e agiu em autodefesa contra grupos que tentaram ameaçála nesses locais protegidos. Mas relatório sobre Ruanda publicado, em
dezembro de 1996, pela Unidade de Lições Aprendidas do Departamento
de Operações de Paz reconhece que “in fact, there was a certain reluctance
among Council members to acknowledge that the problem in Rwanda
was one of genocide”.8
A imprensa internacional, no entanto, respondeu ao que se passava nos
grandes lagos africanos com o mesmo interesse concentrado (e, segundo
seus críticos, insensível ao contexto político regional) que dispensara à fome
na Somália e à limpeza étnica na Bósnia – o que levaria a Embaixadora Albright
a se referir à rede de televisão CNN como o décimo sexto membro do
Conselho. Na sua condição de africano, o Secretário- Geral Boutros-Ghali
ficaria em posição incômoda para explicar a relativa inação da ONU, e não
esconderia, em particular, sua frustração com a demora em obter reforços
para a UNAMIR. Em 8 de junho, pela resolução 925, o Conselho de
Segurança aprovou as propostas apresentadas pelo SGNU que tentavam
dar um sentido de urgência à expansão da operação de paz. Mas em carta
dirigida ao Presidente do Conselho de Segurança em 20 de junho BoutrosGhali se queixaria de que “none of those Governments possessing the
capacity to provide fully trained and equipped military units have offered
so far to do so for the implementation of the Security Council’s resolutions
to deal with the situation in Rwanda”.9 O SGNU afirmava ademais que “it
is evident that, with the failure of member States to promptly provide the
resources necessary for the implementation of its expanded mandate,
UNAMIR may not be in a position, for about three months, to fully
undertake the tasks entrusted to it by those resolutions”.
Esta carta já era do conhecimento do Representante Permanente da
França, Embaixador Mérimée, quando foi divulgada. Embora o anteprojeto
de resolução de autoria francesa que viria a autorizar a “opération turquoise”
antecedesse a carta de alguns dias, seu primeiro parágrafo operativo dava as
boas vindas a suas recomendações. Coincidentemente o parágrafo 12 da
carta de Boutros-Ghali convidava o Conselho de Segurança a consider “the
offer of the Government of France to undertake, subject to Security
Council authorization, a French-commanded multinational operation
in conjunction with other member States, under Chapter VII of the
111
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Charter of the United Nations to assure the security and protection of
displaced persons and civilians at risk in Rwanda”.10 Boutros-Ghali
lembrava que uma operação daquele tipo fora por ele mencionada como
uma possibilidade a ser estudada no mês de abril, e recordava também o
precedente da UNITAF na Somália, talvez pouco atento para as más
recordações em que aquela iniciativa ficara envolta.
Como assinalou o Embaixador Sardenberg em telegrama de 18 de junho
de 1994, Ruanda se apresentava dividida por dois tipos simultâneos de conflito
que se interpenetravam: uma luta militar pelo poder de estilo clássico, na qual
se defrontavam o Governo e seu exército controlado pelos Hutus e as forças
rebeldes da Frente Patriótica Ruandesa, de grande predominância Tutsi mas
com alguma participação Hutu.11 Por outro lado verificava-se um violentíssimo
conflito étnico no qual as milícias ligadas ao governo vinham literalmente
massacrando a minoria Tutsi. O veredito do telegrama era no sentido de
julgar Ruanda “um caso claro de genocídio”. Sardenberg acrescentava que
“em consequência desse conflito a tradicional influência belga, de raiz colonial”
vem sendo rapidamente extirpada, ao passo que a França luta para manter e
talvez ampliar sua presença. Enquanto aquela sempre prestigiou o lado Tutsi
– que funcionou como feitor colonial – a última buscou apoiar o Governo
contra as forças rebeldes, mantendo durante anos um batalhão em Kigali”.12
Sem desmerecer o propósito francês de querer proteger seus sócios Hutu de
atos de vingança, a suspeita de que Paris estava usando um pretexto
humanitário para por em marcha uma intervenção política não seria aplacada
pelos acontecimentos subsequentes.
O Ministro da Defesa belga, Leo Delcroix, seria um dos primeiros a
manifestar suas reservas em 16 de junho de 1994: “la France a pris parti
(...) beaucoup plus que notre pays, c’est pourquoi l’initiative française
doit être observée avec la prudence nécessaire”.13 A imprensa belga já
levantara a hipótese de que o atentado contra o avião em que viajava
Habyarimana fora perpetrado por dois militares franceses. Segundo a edição
de 17 de junho de 1994 do jornal Le soir de Bruxelas “il apparaît presque
certain désormais que l’avion a été abattu par un missile portable,
vraisembleblement un SAM. (...) Cependant de l’avis de tous les
coopérants et observateurs belges et étrangers, il est hors de question
que les deux tirs de roquette qui ont abattu l’avion aient pu être l’oeuvre
de militaires rwandais: ces derniers n’ont jamais été formés à ce type
d’exercice. L’hypothèse la plus souvent retenue jusqu’à présent était celle
112
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
de ‘mercenaires’ non identifiés. Un témoignage venant de Kigali, qui
rejoint sur certains points l’état actuel de l’enquête menée en Belgique
par l’auditorat militaire (...) assure que l’avion dans lequel se trouvaient
le président Habyarimana et son collègue Burundais aurait été abattu
par deux militaires français au service de la CDR (Coalition pour la
Défense de la République), les ultras du ‘Hutu power’ accusés d’avoir
pris la tête des massacres ultérieurs. (...) La France (...) demeure le dernier
pays à pouvoir intervenir sans susciter d’arrières pensées et finalement
risque d’aggraver encore la situation”.14 O interesse belga na estória não
decorria unicamente de seu papel de ex-potência colonial protetora dos Tutsi,
mas sobretudo do fato de que os dois militares franceses haviam sido vistos
envergando uniformes do exército da Bélgica, circunstância que estaria por
trás do assalto em que morreram dez cascos azuis belgas, e provocou a
retirada unilateral por Bruxelas de seu contingente na UNAMIR.
Quando Paris decidiu intervir em Ruanda com o apoio de Boutros-Ghali
a RPF já detinha o controle da metade oriental do país e estava a ponto de
controlar todo seu território. Informações publicadas na imprensa belga dão
conta de que militares franceses estavam cercados por forças hostis da RPF
e sugerem que a operação turquesa tinha por objetivo principal resgatá-los.
Declarações à jornalista C. Braeckmann por parte de representante da RPF
dão conta de que “la France était au courant sinon complice des plans du
génocide: l’entraînement des commandos a été assurée par les français,
ce sont eux qui leur ont fourni les armes: 80% des que nous avons saisies
sur les forces gouvernementales sont d’origine française. (...) Nous
disposons d’informations suivant lesquelles des militaires français
seraient traqués dans des camps militaires à Kigali et nous croyons que
l’opération actuelle a aussi pour but de les faire sortir. Nous croyons
même que c’est cela La raison déterminante de l’opération prévue, c’est
pour cela qu’il faut aller si vite.”15
De fato, no dia seguinte à adoção da resolução dois mil franceses e
algumas dezenas de senegaleses já estavam em Ruanda. Nove dias mais
tarde a operação turquesa estabeleceria uma “zona de proteção humanitária”
na região sudoeste do país ainda não controlada pela RPF. O Financial Times
de 7 de julho de 1994 assinalaria a propósito que “France’s decision to
create civilian safe havens in Rwanda has set the stage for another foreign
military entanglement in Africa of unknown duration and unpredictable
results” e admitia o que já passara a ser um sentimento amplamente
113
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
compartilhado que: “the plan, backed by Mr. Boutros-Ghali, but not
endorsed by an increasingly uneasy Security Council, lays France open
to charges that its humanitarian intervention was a thinly veiled disguise
to prop up the collapsing regime of a former military client”.16
Com a vitória das forças da RPF foi decretado um cessar-fogo em 18
de julho e formado um governo de união nacional que, excetuados alguns
incidentes episódicos, não tem revelado um comportamento sistematicamente
retaliatório. A expedição francesa deixaria o país antes de expirar o prazo de
dois meses estipulado pela resolução 929.
O Brasil acompanhou com extrema atenção aqueles desenvolvimentos
surpreendentes. Como assinalaria o Embaixador Sardenberg, os projetos de
expansão de influência francesa na África não eram apenas percebidos pela
Bélgica e visavam também outros países, e em particular vários lusófonos
(Guiné-Bissau, Cabo Verde e Angola especialmente).17 O número significativo
de abstenções e a escassa adesão africana à iniciativa lançavam dúvidas sobre
sua legitimidade e impedia que a operação sequer pudesse ser designada
como “multinacional”. Editorial do New York Times afirmaria precisamente
que “so prevalent is unease about the French offer that five Security
Council members (China, Nigeria, New Zealand, Brazil and Pakistan)
abstained, and the resolution mustered only one vote more than the
necessary nine”. E acrescentava: “Rwanda’s other neighbors (a exceção
era o Zaire) are wary of the French bid; they remember how often the
Foreign Legion has intervened to prop up strongmen in Africa -including
Rwanda in 1990”.18
O discurso brasileiro na sessão do Conselho de 22 de junho de 1994
que adotou a resolução 929 declarava que, por princípio, o Brasil considera
que o CSNU deve fazer o possível para evitar invocar os poderes
extraordinários do Capítulo VII da Carta. Alusão era feita ao fato de que a
parte prestes a se declarar vitoriosa em Ruanda se opunha à missão francesa.
Era lembrado que a experiência da Somália não permitia que fossem ignoradas
as dificuldades inerentes ao posicionamento simultâneo de uma operação de
paz e uma operação coercitiva em um dado cenário.19
A “opération turquoise” não contribuiu para favorecer um consenso a
respeito do papel das intervenções ditas humanitárias. Dorinda Dallmeyer
analisa com frieza as consequências nefastas para a credibilidade do Conselho
de Segurança de ações humanitárias coercitivas que acabam se revelando
um subterfúgio para a promoção de interesses nacionais ou “hidden agendas”:
114
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
“the doctrine of humanitarian intervention is not only subject to criticism
that it can be used as an instrument of oppression of the weak by the
strong but also to the complaint that the doctrine is more broadly open
to abuse, manipulation and rationalization”.20 Dallmeyer aponta, além do
mais, para o perigo inerente ao agravamento da sensação, no mundo em
desenvolvimento, de exclusão do processo em curso de formulação de
argumentos morais ou normativos definidores de intervenções justificadas. O
trágico da operação turquesa reside no fato de que uma situação unanimemente
repudiada pela comunidade internacional e que poderia ter sido um fator de
congregação internacional, deu ensejo a uma intervenção supostamente
humanitária, cujos objetivos políticos não conseguiriam permanecer
camuflados. A operação foi recebida com cinismo, incentivando a percepção
segundo a qual os novos conceitos intervencionistas constituem formas
paternalistas ou neo-colonialistas de administração das relações internacionais
por um diretório desenvolvido, insensível às causas profundas dos conflitos
no mundo em desenvolvimento e indiferente a suas aspirações por progresso
social e econômico.
As perguntas dirigidas por Jim Whitman da Universidade de Cambridge
ao Conselho de Segurança adquirem, neste contexto, particular ressonância:
“are we ever likely to see the phrase “all necessary means” employed in
respect of resources rather than military licence? Is the attention given
to ‘end states’ part of the same impulse to ‘frame emergencies’?”21 Em
sua introdução a uma coletânea de artigos apropriadamente intitulada “After
Rwanda”, Whitman critica de forma talvez excessivamente impiedosa as
consequências desafortunadas – para os países alvo de intervenção –
resultantes dos objetivos políticos mal definidos ou deliberadamente ambíguos
das iniciativas que combinam funções civis humanitárias e coerção militar. Na
sua avaliação o modelo de intervenção que permite a um país líder o recurso
aos “all necessary means” como as da França em Ruanda e dos Estados
Unidos no Haiti “underscore the fact that the UN is without the means to
exercise political control over every military operation it mandates, thus
undermining its perceived legitimacy”.22
Perceptivos também são seus comentários relacionados à tensão entre o
imperativo da ação em situações emergenciais e a dificuldade (ou falta de
interesse) em definir objetivos de mais longo prazo, bem como a resistência
por parte das nações desenvolvidas em elaborar uma estratégia para lidar
com problemas estruturais, como os do desenvolvimento. Merecedor de
115
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
reflexão se afigura, a esse respeito, o argumento elaborado por Jon Bennett
no sentido de que o “humanitarismo” do Norte pode constituir uma forma de
desengajamento em relação ao Sul, e sua afirmação de que “the growth in
humanitarian relief lies at the very centre of policies reflecting a profound
change in North-South relations”.23 A ênfase atribuída ao trabalho do
Conselho de Segurança e o relativo descaso com que os demais órgãos da
ONU são vistos por algumas potências do mundo industrializado pareceriam
corroborar este enfoque.
Sucedeu em Ruanda um fenômeno que o Conselho de Segurança não
previu. Quando, em novembro de 1994, 5500 tropas da UNAMIR estavam
finalmente instaladas no país, o genocídio já havia passado e um novo governo
assumira o poder em Kigali. Aos olhos da nova administração a justificativa
para a presença da ONU de que um ponto de vista de considerações de
segurança não fazia sentido, agora que o pior havia acontecido, quase um
milhão de pessoas haviam morrido e a ordem fora restabelecida. As novas
autoridades em Kigali só não hostilizaram a UNAMIR inicialmente por
esperarem que ela fosse capaz de ajudar na reconstrução do país. Mas, em
que pese à retórica de Boutros-Ghali sobre “post-conflict peace-building”,
o comando da UNAMIR foi obrigado a explicar repetidamente ao novo
presidente, Pasteur Bizimungu, e ao homem forte do regime, Paul Kagame,
que só o Representante Residente do PNUD e as agências especializadas
poderiam ajudar Ruanda a se reorganizar econômica e socialmente. Enquanto
isso, paradoxalmente, a generosidade da comunidade internacional se
canalizava para a prestação de assistência humanitária aos campos de
refugiados em Goma, no vizinho Zaire, e outras localidades, onde se haviam
instalado elementos “génocidaires” das antigas forças governamentais. O
relatório da Unidade de Lições Aprendidas do DPKO admite que “the
expanded UNAMIR, once fully deployed, had the technical capability, in
its doctors, engineers, telecommunications technicians and logistics (...)
to perform peace-building tasks. The inhibition lay in the mandate, as
senior officials were constantly reminded that the military technicians
and their equipment were financed by assessed contributions to support
UNAMIR and not the Government and people of Rwanda. That task
was development oriented, they were told, and the responsibility for that
lay with the specialized agencies, which operate on the basis of voluntary
contributions”.24 O General Roméo Dallaire (Canadá), comandante da
UNAMIR, relata, ademais, que começaram a surgir conflitos abertos entre a
116
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
ONU e as ONGs sobre como lidar com os membros das forças do governo
deposto e suas famílias, e que a inexistência de uma cadeia hierárquica nítida
entre os diferentes atores internacionais no terreno só fazia aumentar o
desencanto das autoridades da RPF com sua presença.25 Enquanto a
complexidade do panorama não permitia estabelecer com facilidade o curso
de ação adequado de um ponto de vista moral, e apesar de a UNAMIR
haver contribuído em alguma medida para apaziguar o ambiente, além de
haver consertado estradas e prestado outros serviços, o Governo RPF nunca
encararia a UNAMIR como um parceiro e acabaria insistindo em sua retirada,
para certo embaraço do Conselho de Segurança, o que viria a acontecer em
8 de março de 1996.
Como se sabe, as forças da RPF revelariam novamente sua competência
estratégico-militar ao romperem o cerco mantido nos campos de refugiados
no Zaire por radicais Hutu interessados em montar uma contra-ofensiva, e
permitir que pelo menos seiscentos mil refugiados “inocentes” regressassem
a Ruanda em fins de 1996. Com esta proeza militar, o regime de Kigali
conseguiu evitar que fosse posta em movimento uma intervenção sob o
Capítulo VII concebida pelo Canadá – que chegou a ser autorizada pelo
Conselho de Segurança – e que parecia à luz dos elementos de juízo
disponíveis, justificar-se em razão da ameaça que a instabilidade nos campos
de refugiados estava gerando para a paz regional.
Diante da dimensão da catástrofe humanitária em Ruanda, do genocídio
de que foram vítima os Tutsi, é possível defender, como o Committee on
Global Governance, que o Conselho de Segurança tinha base jurídica, para
exercer sua liderança política e moral na imposição de medidas destinadas a
por fim à violência. A reação esboçada por intermédio da UNAMIR, embora
insuficiente, não terá necessariamente comprometido a autoridade do
Conselho, na medida em que o desenlace militar da crise, determinado pelos
próprios ruandenses, parece haver instalado no poder em Kigali uma equipe
com condições de controlar a situação interna e adquirir legitimidade nacional
e internacional. O levantamento do embargo de armas que fora imposto pela
resolução 918 representa um gesto de confiança por parte da comunidade
internacional em relação ao atual regime em Kigali. Em contrapartida, a
autorização conferida pela resolução 929, sob o Capítulo VII, para uma
intervenção “multinacional humanitária” que se revelou pelo contrário nacional,
parcial e inspirada em uma agenda política não declarada, permanece
controvertida. Ruanda passou a figurar junto à Somália e a ex-Iugoslávia
117
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
entre os casos de recurso a medidas do Capítulo VII em que a sabedoria do
Conselho na admissão do uso da força é passível de questionamento.
O problema da punição dos responsáveis pelo genocídio continuará a
ser determinante para a estabilização de Ruanda. Tendo criado o Tribunal
Internacional para a ex-Iugoslávia o Conselho de Segurança não podia se
esquivar de contemplar tratamento análogo para os crimes cometidos na região
dos grandes lagos africanos. Por casualidade, Ruanda havia sido eleito para
participar dos trabalhos do Conselho de Segurança como membro não
permanente no biênio 1994-1995. Assim que a RPF assumiu o governo em
Kigali e passou a ocupar o assento no Conselho, que estivera até então em
posse do governo de maioria Hutu, o Representante Permanente de Ruanda
se manifestou a favor do estabelecimento de um tribunal internacional para
julgar os suspeitos dos assassinatos. Aquela atitude se alteraria, contudo, a
partir do momento em que a delegação de Ruanda se daria conta de que as
posições de Kigali não seriam necessariamente levadas em conta, em particular
no que se referia ao seu desejo de incluir a pena de morte nos estatutos de
um tribunal. A delegação de Ruanda votou contra o estabelecimento do
Tribunal Internacional cuja criação foi decidida, com referência ao Capítulo
VII, pela resolução 955 de 8 de novembro de 1994 (abstenção chinesa). Em
vista do caráter excepcional da brutalidade que se alastrara em Ruanda, o
Brasil não se opôs à criação do Tribunal e procuraria estimular um diálogo
construtivo entre o Representante de Ruanda e os membros do Conselho
mais ativos na sua promoção, de modo a permitir que ele viesse a ser
constituído em bases consensuais. A exemplo do ocorrido no tocante ao
tribunal sobre a ex-Iugoslávia, entretanto, questionaríamos a competência do
Conselho de Segurança para estabelecer ou exercer jurisdição criminal
internacional, cientes de que, no futuro, a única forma de se evitar a proliferação
de tribunais ad hoc será a negociação de um Tribunal Penal Internacional
pela Assembleia Geral.
A avaliação da Unidade de Lições Aprendidas sobre as perspectivas de
êxito do Tribunal é dúbia. Como afirma seu relatório “it has been suggested
that the Tribunal will not be able to try more than a handful of the top
organizers of the genocide. These people will be detained in conditions
far superior to those that exist in the prisons of Rwanda today where
thousands are interned without due process, on a mere suspicion of being
involved. The organizers of the genocide prosecuted by the Tribunal will
also not be subjected to the same sentence that has already been passed
118
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
on others, far lower in rank and culpability, that were alleged to be
involved – the death sentence.”26 Notícias provenientes de Ruanda
posteriores ao regresso dos refugiados que se encontravam no Zaire, indicam
que o Governo está limitando ao mínimo os casos de aplicação de pena de
morte. Mas, como afirma o Vice-Presidente e Ministro da Defesa – e, como
se sabe, artífice das vitórias militares do RPF – Paul Kagame “Maybe you
create an atmosphere where things are stabilized first. Then you go for
those you must go for. Others you can even ignore for the sake of
gradually leading a kind of peaceful coexistence. It will not be easy to
balance the demands for justice and for order. In between these two
intentions there are problems – there are the feelings of the people”.27
Uma crise maior está em gestação na região que a Sra. Elizabeth
Lindenmayer, assessora do Secretário-Geral Kofi Annan, chama de “Bálcãs
da África”, que poderá repercutir em uma região extensa que inclui o Zaire,
Uganda e o Sudão.28 Como informou o Monde Diplomatique, uma “alliance
hétéroclite” se formou entre o ex-governo responsável pelo genocídio em
Ruanda, o regime de Mobutu Sese Seko, os islamitas sudaneses
crescentemente isolados internacionalmente e os antigos oficiais do regime
Idi Amin Dada.29 A política francesa de apoio ao governo Mobutu e aos Hutu
esteve diretamente em conflito com o aumento da ajuda militar norte-americana
aos opositores dessa aliança heteróclita. As repercussões dessa rivalidade
para o resto do sul do continente não podem ser subestimadas e constituem
um elemento a mais em um quadro de instabilidade regional que pode se
agravar. As crises africanas continuarão a desafiar o Conselho de Segurança
e não faltarão oportunidades para que alguns de seus membros ou o
Secretariado se sintam tentados a recorrer a métodos militares coercitivos,
por razões humanitárias ou outras. Iniciativas como a que os EUA estão
promovendo com o apoio de um número preponderante de anglófonos – a
chamada “African Crisis Response Force” são vistas com desconfiança pela
França e suscitam indagações que serão examinadas no subcapítulo 4 (B).
Nenhuma estratégia para por fim ao estado crônico de crise que se instaurou
em várias partes da África será bem sucedida sem uma estratégia de
desenvolvimento econômico e social. Entrementes, o conselho de
interlocutores que vem acumulando experiência na região, como o Brasil em
Moçambique e Angola, se torna valioso para o estabelecimento de uma política
que, em consulta com a OUA e lideranças da região, seja capaz de reverter
a onda de violência dos últimos anos.
119
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
(D) A Questão do Haiti
Em 21 de dezembro de 1992 o Secretário-Geral da Organização dos
Estados Americanos, Embaixador João Clemente Baena Soares, dirigiu carta
ao Secretário-Geral das Nações Unidas em que o consultava sobre a
possibilidade de aplicação universal de um embargo militar e comercial contra
o Haiti.1 Ao fazer uma série de reflexões de natureza jurídica, a carta indagava
ao SGNU se seria possível evitar que tais sanções fossem autorizadas sob o
Capítulo VII. A mensagem de Baena Soares se inscrevia no contexto da
implementação das recomendações adotadas pela Reunião Ad Hoc de
Chanceleres da OEA de 13 de dezembro, que adotara resolução
encarregando o Secretário-Geral da OEA a “procurar uma solução pacífica
para a crise haitiana e, em contato com o Secretário-Geral das Nações Unidas
examinar a possibilidade e a conveniência de levar a situação do Haiti ao
conhecimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas a fim de
conseguir a aplicação universal do embargo comercial recomendado pela
OEA”.2 A OEA e a ONU haviam colaborado em 1990 na observação das
eleições haitianas que deram vitória a Jean Bertrand Aristide pela maioria
expressiva de 67% do eleitorado. Mas a expectativa de que a incipiente
democracia haitiana viesse a abrir um novo capítulo na conturbada História
do país – pondo fim à chamada “parenthèse” de cinco anos de instabilidade
política que sucedera ao colapso da dinastia ditatorial dos Duvalier – havia
sido amputada pelo golpe de estado em 30 de setembro de 1991 comandado
pelo General de Divisão Raoul Cédras, comandante das forças armadas do
Haiti. A OEA assumiria a liderança da condenação internacional ao regime
ilegal de Cédras, com base no “Compromisso de Santiago com a Democracia
e a Renovação do Sistema Interamericano”, adotado em junho do mesmo
ano, pondo em marcha, pela primeira vez, os mecanismos de coordenação
em nível ministerial previstos pela resolução 1080 sobre o fortalecimento da
democracia representativa. A Assembleia Geral da ONU acompanharia e
apoiaria as medidas adotadas pela OEA, e, em atendimento a convite expresso
na resolução 594 do Conselho Permanente, representantes da ONU viriam
a se unir aos esforços da OEA na proteção dos direitos humanos e na
promoção das instituições democráticas, associando-se no empreendimento
conjunto da Missão Civil Internacional para o Haiti (MICIVIH), criada pela
resolução 47/20B da AGNU. Em fins de 1992 as repetidas tentativas frustradas
de diálogo com o regime Cédras, patrocinadas pela OEA, levaram o
120
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
Presidente Aristide e o sistema interamericano à conclusão de que as sanções
regionais eram insuficientes e que apenas o isolamento por meio de sanções
militares e econômicas universais mandatórias seria capaz de pressionar as
autoridades de fato em Porto Príncipe a restituir o poder ao Presidente legítimo
e internacionalmente reconhecido no Haiti.
Os termos da carta de Baena Soares a Boutros-Ghali refletiam a
apreensão de alguns membros da OEA ante a perspectiva de
caracterização do problema haitiano como uma ameaça à paz
internacional, quando – para citar o ex-Chanceler Ramiro Guerreiro –
“nem a República Dominicana se sentia ameaçada”.3 A delegação do
México, por exemplo, indicara ao Conselho Permanente reunido em 10
de novembro de 1992 que “México está convencido de que, conforme
la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la Carta de
nuestra Organización, la situación en Haití no se inscribe como una
amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales”, e advertia que qualquer interpretação naquele sentido
era inaceitável.4 Boutros-Ghali não respondeu à pergunta do SecretárioGeral da OEA sobre a viabilidade de se evitar a invocação do Capítulo
VII, talvez porque a hipótese de aplicação de sanções fora do âmbito do
Artigo 41 do Capítulo VII comportasse problemas delicados: como tornar
mandatórias para os Estados membros sanções que não haviam sido
impostas sob o Capítulo VII? Como evitar a criação de um precedente
que viesse a tornar os parâmetros do Capítulo VII irrelevantes na aplicação
de sanções futuras? Ficaria patente, além do mais, no papel coadjuvante
que desempenhou para possibilitar a intervenção militar multinacional de
setembro de 1994, que Boutros-Ghali não chegara a se sensibilizar ante
a preocupação da OEA em procurar limitar ao mínimo o enquadramento
do caso haitiano no sistema de segurança coletiva da ONU. Entrementes
o ex-Chanceler da Argentina Dante Caputo foi nomeado enviado especial
para a crise haitiana, primeiramente pelo Secretário-Geral da ONU em
11 de dezembro de 1992 e, logo depois, pelo da OEA, em 13 de janeiro
de 1993. Baena Soares salientaria o precedente de coordenação entre a
OEA e o organismo mundial estabelecido por meio da designação de
Caputo em seu depoimento sobre a crise em “Síntese de uma gestão
(1984-1994).5
Caputo tentaria negociar um acordo com Cédras baseado em três pontos
principais: o retorno de Aristide, a nomeação de um Primeiro-Ministro para
121
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
chefiar um governo de concórdia nacional e um entendimento sobre a questão
da anistia. Este último elemento, que viria a fazer parte do Acordo de
Governor’s Island de julho de 1993, seria considerado o ponto central da
barganha, segundo Mark Danner: a comunidade internacional e os EUA
particularmente assistiriam Aristide a voltar a Porto Príncipe – apesar de sua
retórica anterior intensamente anti-norte-americana – mas, diferentemente
do que ocorreu na ex-Iugoslávia, não se exigiria que os militares fossem
julgados pelos assassinatos e demais atrocidades cometidas contra seguidores
de Aristide.6 Não chegava a ser segredo que a Agência Central de Informações
(CIA) tinha laços com os militares haitianos e considerava Aristide
emocionalmente instável e ideologicamente suspeito.7
Apesar de Bill Clinton haver recebido Aristide na Casa Branca em 16 de
março de 1993 e ter em seguida nomeado um enviado especial para o Haiti
(Lawrence Pezzullo), a crescente pressão internacional sobre o regime
ilegítimo não foi capaz de fazê-lo aceitar a proposta inicial de Caputo. Em 7
de junho o Representante Permanente do Haiti dirigiria carta ao Presidente
do Conselho de Segurança em que, após condenar o obstrucionismo das
autoridades de fato, solicitava que as sanções a elas aplicadas no âmbito da
OEA e endossadas pela Assembleia Geral, se tornassem universais e
mandatórias, atribuindo prioridade ao estabelecimento de um embargo de
armas e munições e de produtos petrolíferos.8
A perspectiva do isolamento internacional levou Cédras a reconsiderar
sua indisposição ao diálogo. Em 21 de junho de 1993 ele aceitou convite de
Dante Caputo para vir a Nova York. Um mês mais tarde, Cédras e Aristide
assinariam o acordo de “Governor’s Island”, que determinava a devolução
do poder ao Presidente Aristide em 30 de outubro, e o Pacto de Nova York
que estabelecia uma trégua de seis meses para uma transição pacífica. Em
agosto de 1993 o Conselho de Segurança suspendeu as sanções, pela
resolução 861 do dia 27, e aprovou o envio de um escalão avançado de
peritos civis e militares, pela resolução 862 do dia 31. A resolução 867 de 23
de setembro de 1993 aprovaria as recomendações do Secretário-Geral para
o estabelecimento de uma Missão das Nações Unidas no Haiti (UNMIH)
cuja composição poderia chegar a alcançar 567 monitores policiais e até
setecentas tropas, acrescidas de sessenta treinadores militares. Em meados
de outubro, contudo, desmoronaria todo o curso de ação mapeado a partir
do verão setentrional. No dia 11, duas semanas antes da data prevista para a
volta de Aristide, o navio norte-americano Harlan Country que transportava
122
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
200 soldados norte-americanos, munidos de armas leves, foi impedido de
atracar em Porto Príncipe. Manifestações orquestradas pelo regime militar
se alastraram ao resto do país provocando a partida dos observadores da
ONU e da OEA. O Embaixador Sardenberg, comentaria que “esta situação
altamente instável levou-me a uma atuação intensa, na Presidência, junto ao
chamado grupo de amigos do Secretário- Geral para o Haiti (EUA, França,
Canadá e Venezuela) e junto ao grupo de países de nossa região. Várias
vezes, dirigi-me à imprensa para reafirmar a importância do Acordo da Ilha
dos Governadores, condenar os acontecimentos em Porto Príncipe, inclusive
os assassinatos então ocorridos, reafirmar a necessidade de uma solução
democrática para a crise. Os trabalhos do Conselho confirmaram, neste caso,
ser politicamente essencial, em questões de paz e segurança ligadas à América
Latina e ao Caribe, associar os países da região e a OEA ao processo
negociador dos projetos de resolução. Evidenciou-se também a delicadeza
da tarefa de harmonizar as ações das Nações Unidas e da Organização dos
Estados Americanos em problemas desse tipo”.9
Ante a recusa dos líderes do golpe em honrar os acordos, firmados em
julho, o Conselho de Segurança decidiu, pela resolução 873 de 13 de outubro,
reimpor as que haviam sido suspensas, e, pela resolução 875 de 16 do mesmo
mês, autorizar um bloqueio naval para garantir a imposição das sanções.
Como forma de qualificar a referência ao Capítulo VII no tratamento da
questão do Haiti pelo Conselho de Segurança, o Brasil insistira desde o início
em sublinhar o caráter “único e excepcional” das circunstâncias haitianas. A
resolução 841 de 16 de junho de 1993 que veio a aplicar embargo de armas
e de petróleo incluíra parágrafo preambular que associava a ameaça à paz
internacional na região às “unique and exceptional circumstances” do caso.
O mesmo aconteceria com relação ao estabelecimento do bloqueio naval
decretado em 16 de outubro de 1993 e em resoluções subsequentes sob o
Capítulo VII. O Representante Permanente do Brasil esclareceria perante o
Conselho de Segurança quando da adoção da resolução 875 que: “It was
thus out of grave concern and a sense of urgency impressed on us by the
seriousness of the latest events in Haiti that, yesterday and today, we
have faced the need to address a unique and exceptional situation with
equally exceptional and unique measures, particularly the authorization
for Member States to use measures that may include the halting of inward
maritime traffic, with the exclusive purpose of enforcing the sanctions
related to oil and arms established in resolutions 841 (1993) and 873
123
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
(1993)”.10 Sardenberg precisaria que o bloqueio se destinava a impor medidas
originalmente emanadas da Organização dos Estados Americanos e contava
com a anuência explícita do governo legítimo do Haiti, conforme refletido no
preâmbulo da resolução. O Brasil concluiria, ainda assim, que aquela decisão
não constituía um precedente, ao lembrar que a região latino-americana se
orgulhava, com razão, de uma tradição diplomática baseada no respeito à
solução pacífica de controvérsias e no não uso da força nas relações
internacionais. A propósito, Ian Johnstone se refere em seu estudo intitulado
“The aftermath of the Gulf War” à liderança exercida pelo Brasil no contexto
das negociações que levaram à adoção da resolução 841.11
Em 30 de outubro de 1993, o dia previsto em “Governor’s Island”
para o retorno de Aristide, o Presidente do Conselho de Segurança leu
declaração condenando as autoridades militares por não haverem honrado
seus compromissos, deplorando a perpetuação da insegurança política no
país e demonstrando disposição de intensificar o regime de sanções. O
pequeno grupo de monitores da MICIVIH, que Cédras concordou em
readmitir no Haiti em fins de janeiro de 1994, reportaria um aumento acentuado
nos atos de violência política. Membros das forças armadas e seus auxiliares
do “Front Révolutionnaire Pour L’Avancement et le Progrès d’Haiti”
(FRAPH) eram os responsabilizados pelas agressões. A nomeação pelos
militares de um presidente provisório, em desrespeito aos entendimentos
alcançados sob a égide do Representante Especial Dante Caputo em Nova
York, levaria o Conselho a ampliar o campo de aplicação das sanções para
incluir itens como transporte aéreo e contato com membros do governo militar
e suas famílias, pela resolução 917 de 6 de maio de 1994.
O efeito das sanções e o agravamento das tensões políticas provocariam
um êxodo maciço de refugiados em direção à Flórida nos meses de junho e
julho de 1994. A essa altura, como afirmaria o Embaixador dos EUA no
Haiti, William Swing, o aumento dramático no número de refugiados
provenientes do Haiti proporcionaria um “forte ímpeto” para uma intervenção
norte-americana.12 Relatório da Associação das Nações Unidas dos EUA (a
organização não partidária UNA/USA) acrescentaria que “restoring
democracy in Haiti and putting an end to years of glaring human rights
abuses in that country also (grifo nosso) fit the U.S. foreign policy objective
of promoting peace through democratization and increased economic
ties between and among nations in the Western Hemisphere”.13 Em outras
palavras, o problema primordial era o dos refugiados. Ironicamente, um país
124
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
que durante a Guerra Fria nunca chegara a despertar em Washington
preocupações capazes de levar a preparativos para uma intervenção militar,
como ocorrera na vizinha República Dominicana, se transformava agora em
alvo de interesse estratégico. Essa reviravolta na atitude do governo norteamericano seria sintetizada em termos gráficos por Gaddis Smith: “America’s
fear of impoverished blacks had replaced fear of subversive reds”.14
Em relatórios sucessivos desde a interrupção do desdobramento da
UNMIH, em outubro de 1993, o SGNU informara o Conselho sobre a
inexistência de condições para a reativação da Missão da ONU. Não obstante,
o mandato da UNMIH foi sendo renovado, enquanto oito navios norteamericanos, um canadense, um argentino e um holandês mantinham o cordão
sanitário em volta da ilha para impedir violações do regime de sanções, e
monitores eram posicionados na fronteira com a República Dominicana. Os
acontecimentos na ONU se acelerariam a partir da resolução 933 de 30 de
junho que, referindo-se à Reunião Ad Hoc dos Chanceleres da OEA de 9 de
junho de 1994, realizada em Belém do Pará, encomendaria ao SecretárioGeral um relatório, a ser elaborado em quinze dias, com recomendações
para o fortalecimento do mandato da UNMIH. Em Belém, onde Aristide se
encontrara com o Presidente Itamar Franco, o Chanceler Celso Amorim
salientara em seu discurso de encerramento a condenação da Reunião Ad
Hoc de Chanceleres à “intimidação e o terror praticados pelas autoridades
responsáveis pela interrupção da democracia” e defendera o reforço do
embargo com a efetiva suspensão dos vôos comerciais e o congelamento
dos ativos financeiros do regime de fato e de seus partidários. Mas Amorim
também manifestara a esperança de que “proximamente nos possamos rejubilar
de uma solução pacífica para a situação no Haiti”.15
Entretanto, o Secretário-Geral Boutros-Ghali em seu relatório sobre a
reconfiguração da UNMIH interpretaria o mandato que lhe fora conferido
pela resolução 933 como um convite para propor diferentes opções de
intervenção militar sob o Capítulo VII.16 Seu relatório havia sido confeccionado
com a concorrência de Dante Caputo, ao que tudo indica em consulta com o
governo dos EUA.17 Privilegiava-se no documento do SGNU a ideia de um
enfoque em duas fases, segundo o qual um ambiente seguro e estável seria
obtido primeiramente por uma força multinacional ou “interamericana”
autorizada pelo Conselho de Segurança sob o Capítulo VII, que seria
substituída, em uma segunda fase, pela UNMIH conforme originalmente
concebida pela resolução 867 e que – lembrava o relatório – já gozava do
125
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
consentimento das autoridades de direito. Boutros-Ghali argumentava que a
presença da UNMIH no Haiti, em atendimento à vontade do Conselho
expressada pela resolução 933, só era viável em cooperação com outra
“entidade” cuja capacidade e procedimentos permitiriam o desdobramento
oportuno de tal força. Não se cogitava lançar mão de uma nova iniciativa
diplomática ou aumentar o isolamento do regime ilegal, por exemplo.
Interessante notar que documento divulgado pelo Departamento de
Informação Pública da ONU de dezembro de 1994 sobre as atividades de
manutenção da paz da ONU, ao referir-se ao relatório de 15 de julho faz
abstração das diferentes opções apresentadas pelo Secretário-Geral e
simplifica a situação afirmando que “the Secretary-General supported action
under Chapter VII of the Charter by a multinational force in order to
ensure the return of the legitimate President and to assist the legitimate
government of Haiti in the maintenance of public order”.18
Se, em um primeiro momento, a crise haitiana contribuíra indiretamente
para congregar o sistema interamericano em torno de uma afirmação uníssona
de sua reencontrada vocação democrática, a transferência da questão para o
Conselho de Segurança acabaria por cindir o hemisfério em um grupo de
países partidários da intervenção militar e outro grupo que ou contemplaria
aquela alternativa com reservas, ou se oporia a ela, em nome do apego da
região aos preceitos da não intervenção nos assuntos internos dos Estados e
da solução pacífica de controvérsias. Entre os primeiros se encontravam os
EUA apoiados pela Argentina e pelos caribenhos anglófonos; entre os
segundos, Brasil, Cuba, México, Uruguai e Venezuela para citar apenas os
que se expressaram publicamente na sessão de 31 de julho de 1994 do
Conselho de Segurança, a que adotou a resolução 940, com abstenção de
Brasil e China. O Brasil, aliás, se absteria em relação a três resoluções
subsequentes que se refeririam em termos elogiosos à força multinacional
(944, 948 e 964) duas vezes das quais em companhia da Federação Russa
(944 e 964) e uma das quais sozinho, no que constituiu um comportamento
sem precedentes em nossa longa história de participação nos trabalhos do
Conselho de Segurança.19
A resolução 940 delegaria à força multinacional sob comando unificado
o recurso a “todos os meios necessários” para restaurar a legitimidade
institucional no país e facilitar a partida da liderança militar. A resolução 944
de 29 de setembro de 1994 (abstenção de Brasil e Federação Russa) que
tomou nota do desdobramento “pacífico” da força multinacional em 19 de
126
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
setembro referiu-se ainda ao Capítulo VII, desta feita para sinalizar que as
sanções seriam levantadas no dia após o regresso do Presidente Aristide ao
Haiti. Em 15 de outubro, a resolução 948 (abstenção do Brasil) registraria,
enfim, seu retorno ocorrido naquele mesmo dia e anunciaria a suspensão das
sanções, encerrando oficialmente a inserção da situação do Haiti sob o Capítulo
VII da Carta da ONU.
Em 7 de setembro o General Shalikashvili prestaria ao Presidente Clinton
informações detalhadas sobre o plano de operações da força multinacional
comandada pelos EUA. Uma delegação norte-americana oficial liderada pelo
ex-Presidente Jimmy Carter e integrada pelos Senadores Sam Nunn e pelo
General Colin Powell manteria contatos com a liderança militar em Porto
Príncipe nos dias 17 e 19 de setembro e os persuadiria a partir. Em 19 de
setembro 21.000 soldados norte-americanos desembarcariam no Haiti,
seguidos por tropas e policiais de 27 outros países. Em 30 de janeiro de
1995 o Conselho de Segurança determinaria, pela resolução 975, a existência
de um ambiente seguro e estável, abrindo caminho para o posicionamento da
UNMIH. Em 31 de março de 1995 seria feita a transferência de autoridade
para o comando da UNMIH, que contaria com um contingente de 2.400
tropas norte-americanas (pouco mais de um terço de sua capacidade máxima
de 6.000 homens) e seria comandada pelo General Joseph Kinzer das Forças
Armadas dos EUA. O restabelecimento de Aristide no poder se dera sem
derramamento de sangue e a transição da MNF para a UNMIH dentro de
um período de seis meses e sem sobressaltos. No entanto, o Conselho de
Segurança não se ativera estritamente às recomendações das Reuniões
Ministeriais Ad Hoc da OEA que haviam enfatizado o aspecto “pacífico” da
solução para a crise, ao haver admitido o uso da força sob o Capítulo VII.
A atuação diplomática brasileira terá contribuído para preservar alguma
coerência entre a expectativa original da OEA ao transmitir o assunto para o
CSNU e a evolução independente a que o tema foi submetido naquele órgão.
Mas o episódio do Haiti exporia a dificuldade em reconciliar os avanços na
definição de uma solidariedade continental para o acionamento da ação
coletiva hemisférica em defesa da democracia com as ferramentas coercitivas
do Conselho de Segurança. A excepcionalidade do caso haitiano não impediu
que fosse criado precedente de ameaça do uso da força para a “imposição”
da democracia, e voltasse a ser utilizado, com a bênção do Secretariado, o
expediente da “força multinacional” como instrumento da segurança coletiva.
Ao contemplar pela primeira vez na história da organização o uso da força
127
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
contra um país americano, o Conselho de Segurança confrontou os países da
região com a necessidade de esclarecer melhor a relação entre a coordenação
regional no trato de crises políticas – seja de ruptura do processo democrático
interno ou mais verdadeiramente internacionais – e o papel da ONU em
apoio à diplomacia da região. Embora a ação coletiva no Haiti não possa
efetivamente ser associada às intervenções que Washington promoveu na
América Latina, de forma unilateral e por seus próprios interesses, seja
inspirados pela doutrina Monroe seja no embate contínuo da Guerra Fria,
como afirmou Ricardo Seitenfus em artigo na Folha de São Paulo em 4 de
agosto de 1994,20 o fato de a resolução 940 não haver contado com o
consenso regional sublinha a necessidade de integração mais adequada dos
mecanismos regionais de promoção da paz no trabalho do Conselho de
Segurança, em uma fase de redefinições como a atual.
A abordagem da crise internacional do Haiti pelo Conselho de
Segurança despertou e continua a despertar opiniões variadas e divergentes
tanto no ambiente interamericano, como no seio da comunidade internacional,
no interior de alguns de seus membros, ou entres esses e o Secretariado da
ONU. O Departamento de Operações de Paz encara a intervenção da
Força Multinacional liderada pelos EUA como um êxito militar que permitiu
a implementação dos Acordos da Ilha dos Governadores e foi capaz de
evitar os problemas organizacionais enfrentados na Somália. O Funcionário
responsável pelo Haiti no DPKO (o russo M. Grachev), embora sob a
ressalva de que prefere não julgar se a intervenção tinha ou não justificativa,
observa que “the Americans demonstrated the highest quality of discipline
on how to conduct an operation under UN auspices”.21 Nos EUA não
chega a haver um consenso sobre os méritos da intervenção. Henry Kissinger
afirmaria que “On Haiti I belong to those who have publicly said it was
not a good idea to get the United Nations involved, because Article 51
was designed to have this sort of issue handled by the regional
organizations. In the past the United States has taken the position that
in matters of the Western Hemisphere, the OAS was the organization
that should be used and to not permit outside military forces to be
introduced as part of a peacekeeping mission”.22 O New York Times
chegou a afirmar, após a adoção da resolução 940, que “the
administration’s strained interpretation of the U.N. Charter to classify
the Haitian situation as a threat to regional peace and security damages
the U.N.’s legitimacy and invites trouble”.23
128
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
O diplomata chileno Heraldo Muñoz observaria, por sua vez, que “se os
governos latino-americanos vacilam em autorizar a coerção externa em nome
da democracia, sua cautela não é inexplicável, tendo em vista que a América
Latina testemunhou durante quatro décadas como os EUA procuravam muitas
vezes promover interesses estratégicos estreitos em nome da democracia”.24
No Brasil a postura de abstenção em face da resolução 940 chegou a ser
criticada como um ato de “anti-americanismo primário” por Ricardo Seitenfus
que assumiu posição abertamente favorável à intervenção.25 O Embaixador
Ramiro Guerreiro, pelo contrário, sustentaria que não havia no caso do Haiti
sequer base para a imposição pelo Conselho de Segurança de embargo
comercial obrigatório, e muito menos para ação militar.26
No cerne da crise haitiana se situa a questão de saber se caminhamos em
direção a um mundo em que a segurança coletiva e a segurança regional se
complementam harmoniosamente ou se a segurança coletiva universal será
colocada a serviço de hegemonias regionais, com a ONU ajudando a legitimar
a divisão do mundo em esferas de influência. Para os países da América
Latina, e particularmente para o Brasil e para a Argentina que participaram
do processo diplomático de encaminhamento da crise nas Nações Unidas, o
Haiti postulava o problema nevrálgico da relação com os EUA no Conselho
de Segurança. O acima citado editorial do New York Times intitulado “a UN
license to invade Haiti” manifestaria preocupação com “the unhealthy habit
of licensing great-power spheres of influence. In recent weeks the Security
Council has commissioned France to send troops to Rwanda and
endorsed Russia’s ‘peacekeepers’ in Georgia. Now the US is authorized
to lead an invasion on Haiti. Such crude power politics damages the
UN’s standing as an organization valuing the sovereingty of all its member
States”.27 Por outro lado, a modalidade multilateralizada de intervenção em
defesa de um governante unanimemente reconhecido como legítimo pela região
e pelo mundo, embora concebida e comandada pelos EUA em resposta a
uma agenda política até certo ponto interna, contrastava favoravelmente com
ações unilaterais anteriores no Panamá e em Granada – no passado recente
– ou no próprio Haiti – em passado mais longínquo. O desafio enfrentado
pelo Brasil no tratamento do problema do Haiti consistiu em procurar preservar
uma relação complementar e a mais harmoniosa possível entre a coordenação
regional e a das Nações Unidas, por um lado, e tentar encontrar um equilíbrio
entre o esforço em minimizar a tendência dos membros permanentes do
Conselho de Segurança a utilizar a ONU para a promoção de seus interesses
129
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
individuais, sem com isso incentivá-los indiretamente a cair no unilateralismo.
O apreço demonstrado pelo governo Aristide tanto em relação ao papel
desempenhado pelos EUA como pelo Brasil no encaminhamento da questão
pelo Conselho de Segurança talvez se deva, mais uma vez, às circunstâncias
únicas e excepcionais da crise, mas não pode deixar de ser interpretado em
um sentido positivo. A atitude do Representante Permanente do Haiti após as
abstenções brasileiras no Conselho de Segurança não deixam dúvidas quanto
à satisfação de seu governo em verificar que a intervenção militar para restituir
a legitimidade institucional podia conviver com a afirmação regional dos
princípios da não intervenção nos assuntos internos e da solução pacífica de
controvérsias.
O discurso do Ministro das Relações Exteriores do Brasil em Belém
havia deixado claro que, mesmo após a adoção da resolução 933, o Brasil
não pensava em colocar a UNMIH a reboque de uma intervenção militar
sob o Capítulo VII. Não obstante, a delegação do Brasil em Nova York
nunca chegou a rechaçar o enfoque em duas etapas proposto por BoutrosGhali, que previa, em sua primeira fase, o possível uso da força. A ideia de
uma coalizão militar comandada pelos EUA agindo no Hemisfério americano
não agradava a grande maioria da América Latina, mas é possível argumentar
que o Artigo 48 da Carta permitia a criação de tal força.28 Ao determinar que
“a ação necessária ao cumprimento das decisões do Conselho de Segurança
para manutenção da paz e da segurança internacionais será levada a efeito
por todos os Membros das Nações Unidas ou por alguns deles, conforme
seja determinado pelo Conselho de Segurança” o Artigo 48 admite a hipótese
de forças multinacionais. O essencial, no caso, seria garantir o controle do
Conselho sobre as ações da coalizão, o que não chegara a acontecer no
Golfo, nem em Ruanda. O argumento de que inexistia ameaça à paz
internacional se enfraquecera, de certa forma, diante do consenso com que
as resoluções impondo sanções ao regime Cédras haviam sido adotadas no
Conselho de Segurança, o que podia ser interpretado como um aval tácito –
apesar do caráter excepcional do caso – para a subsequente adoção de
medidas coercitivas militares. Mas do ponto de vista da OEA, e do Brasil, as
sanções haviam sido impostas para pressionar o governo ilegítimo a negociar
uma saída diplomática para a crise e não para preparar uma intervenção. A
esse respeito, o relatório da UNA/USA reconheceria que “far from acting
as a tool of coercive diplomacy, the use of sanctions in this case hastened
military intervention, the very outcome they were designed to prevent”.29
130
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
O óbvio interesse de Aristide na iniciativa se somava às complexidades
jurídicas e políticas do caso, inviabilizando uma oposição frontal à intervenção
multinacional. Isto não significava que não se devesse procurar refletir no
texto da resolução que viesse a autorizá-la a especificidade das circunstâncias
e preservar o controle do Conselho de Segurança sobre as etapas a serem
cumpridas pela MNF e pela UNMIH. Antes mesmo de conhecer o teor do
projeto de resolução norte-americano, o Brasil formularia um conjunto de
apreciações, em um documento informal, que demonstravam uma disposição
realista ao diálogo, sem chegar a representar um endosso não qualificado à
intervenção. Dentre os principais pontos defendidos pelo Brasil no “nonpaper” distribuído aos quinze membros do CSNU figuravam com
proeminência, além do reconhecimento do caráter único e excepcional do
caso, a necessidade de um pronunciamento formal de Aristide em favor da
ação militar, o emprego de linguagem talhada especificamente para a situação
haitiana e a objeção ao uso da expressão “all necessary means” utilizada em
circunstâncias que não guardavam semelhança sequer remota com as do Haiti,
previsão de um prazo para o término da primeira fase da operação (aquela
levada a cabo pela força multinacional), coordenação adequada entre a força
multinacional e a UNMIH, limitação da participação de tropas norteamericanas na UNMIH a um terço de seus efetivos em conformidade com as
práticas seguidas pelas Nações Unidas nas demais operações de paz.
Ficaria claro, entretanto, que a delegação norte-americana não desejava
uma negociação pormenorizada dos termos da resolução. Como relataria o
Chefe da Missão junto à ONU, “a Embaixadora Albright postergou repetidas
vezes as consultas informais em torno do assunto, ao mesmo tempo em que
sua administração enviava emissários especiais às capitais das principais
delegações interessadas para obter seu assentimento antecipado ao envio da
força multinacional”.30 O apoio do Brasil, “as a leader in the hemisphere”
foi considerado essencial pelo Presidente Bill Clinton em carta de 23 de julho
enviada ao Presidente Itamar Franco. Clinton precisaria que “none of us
want to use force to end this crisis, but the authority to do so as an
international community will send a powerful message to the coup leaders
in Haiti”.31 A carta seria entregue em Brasília por seu emissário Peter Tarnoff
juntamente com um memorandum que expressava respeito pelas posições
brasileiras ao afirmar que “I realize that you are also concerned about the
precedent this operation might set in the Hemisphere. We understand
and respect those concerns, which are shared throughout the Western
131
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Hemisphere. I can assure you that the situation in Haiti is unique. We do
not foresee this particular combination of circumstances happening again.
For example, a democratically-elected government was deposed by a
small minority. In addition, under our proposal, the UN will endorse the
operation at each step”. O memorandum manifestava apreço pela
participação brasileira em operações de paz da ONU, particularmente em
Moçambique, e reiterava a esperança de que “Brazil will use its leadership
role to ensure that both phases of the effort the UN Secretary-General
recommended to restore democracy to Haiti are truly multilateral in
character”. Os parágrafos finais, contudo, não deixavam dúvidas quanto
aos objetivos reais da gestão: “Brazil can best demonstrate its leadership
and act to ensure that the multilateral character of the effort to restore
democracy in Haiti by agreeing to participate in both the initial coalition
and the follow-on UN force”.32
Como comenta o Embaixador Sardenberg na citada avaliação de 1o de
agosto “parece ter havido, ao longo do processo uma tendência da delegação
norte-americana a subestimar as preocupações brasileiras”. Esta tendência
não pode ser atribuída a qualquer sinal equívoco emitido por Brasília, que
sempre expusera suas posições de forma leal em todas as fases do tratamento
da questão no Haiti pelo Conselho. O mais provável, portanto, como sugere
Sardenberg, é que a Embaixadora Albright tenha sido induzida pelo
Representante Permanente da Argentina, Embaixador Emilio Cárdenas, a
minimizar as reservas do Brasil e do Grupo Latino-Americano. A Missão do
Brasil junto à ONU afirmaria que “o primeiro sinal claro de que a percepção
argentino-norte-americana não estava em sintonia com a realidade ocorreu
na reunião do GRULAC realizada no dia 28 de julho, quando todas as
delegações que ali intervieram, à exceção de Granada e da própria Argentina,
manifestaram, com diferentes ênfases, dificuldades com o anteprojeto dos
“amigos” (a Venezuela, por sinal, se auto-excluiria temporariamente do grupo
de amigos deixando de co-patrocinar a resolução 940).33
Ao haver revelado que posição singular no continente era a da Argentina,
a reunião do GRULAC colocaria o Brasil em posição relativamente confortável
para explicar sua abstenção na sessão formal do Conselho, na medida em
que deixava de haver dúvida sobre quem, naquele momento, era o porta-voz
da região. A Representante Permanente dos EUA, em contrapartida, não se
referiria à excepcionalidade do caso haitiano, mencionando, ao contrário, o
Kuwait e Ruanda como precedentes: “the resolution before us meshes well
132
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
with our policy, and that of the Council, of subjecting proposed new
peace operations to rigorous review. Phase one builds on the precedents
of Kuwait and Rwanda. Phase two establishes a United Nations mission
of modest size, with a clear and achievable mandate, operating in a
relatively secure environment, with the consent of the Government, for
a finite period of time”.34
Em colóquio realizado em maio de 1996, do qual participaram, entre
outros, Henry Kissinger e John Ruggie, a Embaixadora Albright citaria o caso
do Haiti como exemplo de conjugação bem sucedida entre os conceitos de
“peacekeeping” e “peacemaking” (este último em sua acepção coercitiva):
“on the issue of peacekeeping versus peacemaking (...) there has been a
genuine evolution about what is doable in those avenues, and [we] have
figured out very much of what might be called a new kind of flexible
response, which is that we know how to mix and match now. That there
are operations, for instance, that Begin with a multinational force and
then are handed over to a UN force. Haiti is an example of that”.35 O
Professor John Ruggie, por sua vez, argumentaria que “We need to identify
what we wish to do as a nation and international community about a
whole array of emerging conflicts resulting from the collapse of state
structures and organizations that will be with us for an entire generation
to come”. E acrescentaria em resposta direta a Albright que “Mixing and
matching doesn’t go far enough. It seems to me one needs to develop
consensus among a small group of relevant states who are willing to
subscribe to some collective goals to develop joint doctrine, to establish
joint training exercises, so that when troops do ultimately get sent to
those conflict areas, they have some idea of what they are supposed to
do when they hit the ground”.36 Se o intercâmbio entre Albright e Ruggie é
ilustrativo do que este trabalho identifica como um processo em curso de
articulação de um novo paradigma de segurança coletiva, parece necessário
acrescentar que, no mesmo colóquio, a atual Secretária de Estado deixaria
dúvidas sobre seu grau de comprometimento com o conceito de segurança
coletiva universal quando afirmou que “when vital US national interests
are concerned, everybody in the Administration has made very clear
they would be handled unilaterally”.37
Mas caberia complementar que, de acordo com informações publicadas
pelo New York Times em 22 de setembro de 1996, a concepção primeira da
intervenção no Haiti era a de uma ação militar unilateral, e que a ideia de
133
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
torná-la multinacional e levá-la ao CSNU foi de Albright. Um memorandum
do Departamento de Estado chegaria a afirmar que seria insensato (“folly”)
procurar obter no Conselho de Segurança autorização para a intervenção
militar que Washington começava a considerar necessária. Os Secretários de
Estado, Warren Christopher, e da Defesa, William Perry, compartilhavam
aquela opinião. Albright, entretanto, declararia ao Presidente Clinton que “if
I have the authority, I think I can do it”, e, como arremataria o jornal,
“she did it”.38
Ao admitir e encorajar o concurso das Nações Unidas para lidar com
crises na região centro-americana desde o início dos anos noventa – na
Nicarágua e em El Salvador em particular – Washington já manifestara
disposição em multilateralizar o tratamento de questões políticas em uma região
tradicionalmente situada em sua esfera de influência hegemônica.39 Gaddis
Smith chega a sugerir que a operação “just cause” contra o General Noriega
no Panamá em dezembro de 1989 pode ter constituído o último ato unilateral
norte-americano no hemisfério em futuro previsível.40 Durante seu primeiro
ano na Casa Branca, Clinton combateu os congressistas que queriam impedir
o envio de forças norte-americanas ao Haiti, mas embora o executivo quisesse
manter aberta a opção da invasão, o governo permaneceria dividido e, na
prática, se comportaria como se estivesse impedido de intervir. Quem
caracterizaria de forma perceptiva o fenômeno deste novo tipo de resistência
a intervir unilateralmente seria o Embaixador Emilio Cárdenas da Argentina
ao concluir que “the most powerful states (...) today have a large capacity
to kill with a small capacity do die”.41
Uma série de interesses conflitantes afetariam nos EUA a formulação de
uma política concatenada em relação ao Haiti. Além do “Black caucus” no
congresso, que se aliava a Aristide e desejava apertar o cerco das sanções
aplicadas a Cédras, os Departamentos de Defesa e Justiça se preocupavam
principalmente com os “boat people”, o Departamento de Estado não confiava
nos motivos de Aristide e a Casa Branca temia o efeito da migração haitiana
sobre o eleitorado da Flórida. As alegações de Aristide de que a CIA havia
apoiado o golpe de estado não contribuíam para aplacar as suspeitas daqueles
que o consideravam um “leftist madman”, como observa Pamela
Constable.42 Depois de haver recebido dezenas de milhares de refugiados (e
encaminhado boa parte deles para a base de Guantânamo) o Governo Bush
decidira em maio de 1993 autorizar a guarda costeira a repatriar todos os
haitianos interceptados em alto mar sem entrevistá-los antes para verificar se
134
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
eram vítimas de perseguição política. Durante a campanha presidencial, Bill
Clinton prometera conceder asilo, ao menos temporário, aos refugiados, mas
a liderança do partido democrata não chegaria a abraçar a causa do fim do
repatriamento forçado e, apesar da movimentação de grupos de defesa de
direitos humanos, decisão da Corte Suprema de junho de 1993 permitiria
que o novo Presidente continuasse com a política de restituição forçada
praticada pela administração anterior. Esse comportamento, entretanto,
solapava, como observa Constable, os próprios objetivos declarados de
restabelecimento da democracia no Haiti ao corroborar a alegação das
autoridades de fato no sentido de que não havia perseguição política na ilha.
Por outro lado, essa política expunha Clinton a acusações de “double
standard”, uma vez que o direito de asilo acordado aos cubanos estava
sendo negado aos haitianos. Comentadores como Constable denunciariam,
com algum alarde, o que estava sendo considerado por muitos “a disregard
for the law as well as the values that have long made the United States
a haven for the world’s oppressed peoples”.43
Este pano de fundo explica porque a solução proporcionada pelo
Conselho de Segurança haja sido considerada um triunfo em Washington,
levando Strobe Talbott a afirmar que, no Haiti, os EUA ensaiaram uma
combinação emblemática de realismo e idealismo, ao lograrem associar a
proteção das fronteiras norte-americanas com a defesa da democracia
(“idealpolitik as realpolitik”).44
Resta saber se o último ato do drama haitiano já terá sido encenado. A
UNMIH, cuja presença no país era prevista para durar até fevereiro de 1996,
teve seu prazo prorrogado por mais seis meses (prorrogáveis por mais dois)
sob a nova designação de “United Nations Support Mission in Haiti”
(UNSMIH). As extensões de mandato foram objeto de negociações tensas
entre os patrocinadores da presença da força de paz e a delegação chinesa –
na prorrogação inicial – e chineses e russos na seguinte. A China, que não
tem relações diplomáticas com o Haiti, valeu-se de seu poder de veto no
CSNU para neutralizar qualquer ativismo de Porto Príncipe a favor de Taiwan
na ONU, obtendo concessões adicionais para limitação do tamanho e duração
da UNSMIH e levando os canadenses a assumirem parte de seu financiamento
em bases voluntárias. Os russos, que apoiaram a intervenção comandada
pelos EUA com base na lógica das esferas de influência ressaltada pelo editorial
do New York Times de 2 de agosto de 1994, já se confessam francamente
indispostos a endossar a permanência de uma operação de paz das Nações
135
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Unidas para garantir a estabilidade institucional de um pequeno país caribenho.
Por insistência russa a última prorrogação de mandato da UNSMIH só foi
aceita por incluir cláusula que admite no máximo uma última prorrogação de
dois meses. O Embaixador Lavrov da Federação Russa afirmaria perante o
Conselho de Segurança em 5 de dezembro de 1996 que “it is our profound
conviction that the situation in that country (Haiti) did not and does not
represent a threat to international or even regional peace and security. It
has lost the specific characteristics on account of which we once agreed
to the deployment of a United Nations peacekeeping operation there”.45
Enquanto isto os EUA parecem estar montando um aparato independente
de segurança e apoio ao governo haitiano “com a anuência relutante de Porto
Príncipe”, segundo o New York Times de 17 de setembro de 1996. O
articulista Larry Rohter advertiria então que “the likelihood that the United
States will undertake additional ventures to protect its political
investment still appears high, and so does the potential for divergences
with the United Nations”.46 O Presidente René Préval, cuja base de poder
não parece ser sólida, tem aceito de bom grado a proteção norte-americana,
mas o ex-Presidente Aristide tem manifestado contrariedade. O problema
principal, segundo o secretariado, consiste na desmobilização do antigo
exército que deixou de ter emprego e continua a ter armas. O Secretariado
estima, não obstante, que o atual governo goza de legitimidade. As perspectivas
de consolidação da democracia haitiana repousariam, assim, na capacidade
da atual liderança de manter a violência sob controle e promover o
desenvolvimento econômico e social do país.
Samuel Huntington considera o Haiti um país sem parentes, um vizinho
indesejado nas Américas de características étnicas, culturais e linguísticas que
o distanciam tanto da América Latina como do Caribe anglófono e da América
do Norte.47 Como em várias de suas afirmações categóricas, Huntington
deixa de levar em conta que os haitianos descendem da mesma etnia africana
do Benin que deixou marcas profundas na Bahia, e que, apesar da relativa
distância que separa Salvador de Porto Príncipe, existe uma afinidade natural
entre suas populações.48 Ainda que se admita a excentricidade do Haiti, que
a mais de um título pode ser visto como um enclave africano nas Américas, o
fato de ele se haver transformado em exemplo vivo de uma solidariedade
regional em prol da democracia merece ser valorizada em si como testemunho
da vitalidade dos laços inter-étnicos e interlinguísticos que unem as nações
do Hemisfério. Entretanto, a dificuldade que o sistema interamericano enfrentou
136
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
para dar significado operacional a suas intenções, e a relativa facilidade com
que o Conselho de Segurança conseguiu fazê-lo refletem tanto o novo ativismo
do CSNU do pós-Guerra Fria como ilustram o que Heraldo Muñoz chama
de “deterioração que foi sofrendo ao longo dos anos o sistema de segurança
interamericano”.49
Ao mesmo tempo, a falta de controle da região sobre o rumo que pode
tomar a consideração de uma questão regional depois de submetida ao Conselho
de Segurança das Nações Unidas, como ocorreu no caso do Haiti, deve servir
de advertência para o futuro. Nesse sentido se sobressai a relevância de
instrumentos de segurança sub-regionais como os do Protocolo do Rio de
Janeiro de 1942, que tem permitido a seus garantes sul-americanos (Argentina,
Brasil e Chile) administrar com os EUA a crônica tensão entre Equador e Peru,
em ambiente de fortalecimento da confiança na região e desta com Washington.
Mais relevante talvez seja o exemplo de ação mediadora por parte do Brasil no
episódio da tentativa de golpe no Paraguai em abril de 1996, que levou o
MERCOSUL a introduzir em seu quadro institucional uma cláusula “democrática”
para contemplar a suspensão temporária do pacto dos Estados membros onde
haja interrupção da ordem institucional democrática. A entrada em vigor do
Protocolo de Washington contribuirá, enfim, para desincentivar os eventuais
desafios à ordem democrática no Hemisfério pela ameaça de suspensão do
infrator de sua participação na OEA.
(E) Sanções
O Artigo 16 do Pacto da Liga das Nações forneceu a base para a
elaboração do Artigo 41 da Carta da ONU que prevê a adoção de medidas
não militares de pressão sobre uma parte responsabilizada por ato de agressão,
ruptura da paz ou ameaça à paz. Os dispositivos do Pacto deixavam a cada
Estado membro a iniciativa de impor as sanções. Nos casos da agressão
italiana contra a Abissínia e do conflito sino-japonês, os membros da Liga
foram autorizados a sancionar os agressores, mas, como afirmam Cot e Pellet
“des raisons de politique internationale incitaient certains Etats à
ménager l’Italie et, par conséquent, à ne pas appliquer avec rigeur la
politique de sanctions”, ou em relação ao Japão “les priorités de l’heure
n’étaient plus à l’application de telles mesures”.1 Em contraste com aquela
experiência, a Carta da ONU estabeleceu que tais medidas deveriam ter um
caráter obrigatório. Pode-se afirmar, assim, que a comunidade internacional
137
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
só adquiriu a capacidade de impor sanções coletivamente depois da II Guerra
Mundial.
O Artigo 41 da Carta não emprega o termo “sanções”, mas as medidas
que ele contempla costumam ser designadas de forma genérica por esse termo,
sejam elas embargos (proibição de exportações para o país alvo), boicotes
(proibições de importações), restrições de ordem financeira ou de
relacionamento cultural ou esportivo.
A divisão bipolar do mundo que quase paralisou a ação do Conselho de
Segurança até a década atual impediu, como sublinham Cot e Pellet, que se
desenvolvesse um regime de observação comumente acordada dos
dispositivos da Carta no que se refere às sanções, favorecendo um
comportamento orientado mais pela conveniência política do que por
considerações jurídicas.2 A primeira instância de invocação do Artigo 41
apresentou dupla originalidade, na medida em que não visava um Estado
membro da ONU – mas uma entidade territorial cuja independência não era
reconhecida – em uma situação que podia ser considerada como um conflito
interno na colônia britânica da Rodésia do Sul. A África do Sul pode ser
considerado o primeiro Estado membro da ONU contra o qual foram
aplicadas sanções. Condenada pela Assembleia Geral desde 1963, Pretória
só viria a ser objeto de sanções mandatórias sob o Capítulo VII a partir de
novembro de 1977. Embora em ambos os casos o motivo real para as sanções
fosse a organização política interna dos regimes de minoria branca na África
austral, e, em um deles o alvo não fosse sequer um país de independência
internacionalmente reconhecida, não houve um debate jurídico aprofundado
no Conselho de Segurança sobre a admissibilidade daquelas medidas.3
A proliferação de regimes de sanções pode ser considerada uma das
características mais visíveis da intensificada atividade do Conselho de
Segurança após a Guerra do Golfo. Desde que o Conselho de Segurança
após a Guerra do Golfo. Desde que o Conselho de Segurança estabeleceu
sanções contra o Iraque, medidas autorizadas sob a alçada do Artigo 41 do
Capítulo VII foram impostas à Iugoslávia, Somália, Líbia, Libéria, Haiti, Angola
(UNITA), Ruanda e Sudão. Com a suspensão das sanções contra a exIugoslávia, Haiti e Ruanda, permanecem em vigor sanções contra o Iraque,
Somália, Líbia, Libéria, Angola (UNITA) e Sudão. Desses todos o regime
de sanções aplicado ao Iraque é sem dúvida o mais abrangente e intrusivo de
todos, como foi visto no capítulo 2 (A). O embargo de armas aplicado contra
a Iugoslávia passou a vigorar para os cinco países em que ela se desmembrou
138
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
(Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, República Federal da Iugoslávia
– Sérvia e Montenegro – ex-República Iugoslava da Macedônia), sendo
que, posteriormente, sanções comerciais abrangentes foram aplicadas contra
a República Federal da Iugoslávia (suspensas parcialmente quando Belgrado
fechou suas fronteiras com as partes da Bósnia ocupadas pelos sérvios) e à
parte sérvia da Bósnia. As sanções contra a ex-Iugoslávia foram definitivamente
terminadas em 1o de outubro de 1996.
Quando o Secretário-Geral Boutros-Ghali divulgou seu Suplemento a
uma Agenda para a Paz em janeiro de 1995, como aporte aos debates sobre
a Organização que se travariam naquele ano de seu cinquentenário, uma seção
dedicada às sanções refletia um sentimento amplamente disseminado,
sobretudo entre os países em desenvolvimento, mas também entre os europeus
orientais que sofriam os efeitos das sanções contra a ex-Iugoslávia, de que
era necessário meditar de forma aprofundada sobre o fenômeno.
John Stremlau comentaria que o aumento repentino no recurso ao Artigo
41 pelo Conselho de Segurança nos últimos cinco anos “was based on neither
doctrine nor precedent and reflects not international law but the minimal
consensus that was politically possible in each case”.4 Uma série de
inovações seriam introduzidas nos regimes mais abrangentes impostos ao
Iraque, Iugoslávia e Haiti; a Líbia e o Sudão, sancionados por alegado apoio
a ações terroristas, seriam objeto de medidas de isolamento diplomático e
restrições a intercâmbio aéreo; em Angola, armas e petróleo seriam negados
à parte identificada como contrária à paz, enquanto Somália, Ruanda e Libéria
permaneceriam sujeitos a embargos de armas. Os motivos que desencadeariam
a invocação do Artigo 41 seriam de ordem variada, com casos de agressão
internacional incontestáveis como o do Iraque, convivendo não somente com
situações em que uma parte era responsabilizada por instabilidade interna
como no caso da Bósnia (sérvios) e de Angola (UNITA), mas também com
o combate ao terrorismo na Líbia e no Sudão, e com a adoção de embargos
de armas para diminuir a violência em guerras civis na Somália, Libéria,
Ruanda.
As circunstâncias que levaram à imposição de sanções ao Iraque,
Somália, ex-Iugoslávia, Ruanda e Haiti já havendo sido examinadas nos quatro
subcapítulos anteriores, restaria esclarecer as da Líbia, Libéria, Angola e
Sudão.
A associação entre segurança coletiva e terrorismo foi propositalmente
incluída na declaração do Conselho de Segurança reunido em nível de Chefes
139
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
de Estado e Governo de janeiro de 1992 para lidar com situações como a
que levou à imposição de sanções contra o regime líbio do Coronel Gaddafi
dois meses mais tarde. Ante os sinais de envolvimento de funcionários do
governo líbio nos atentados que derrubaram o vôo 103 da Pan Am e o vôo
772 da Union de transports aériens (UTA), segundo os resultados das
investigações que vinham de ser divulgadas, o Conselho de Segurança adotou
a resolução 748 de 31 de março de 1992 sob o Capítulo VII, determinando
que a recusa líbia em cooperar com o CSNU no estabelecimento da
responsabilidade pelos atentados constituía uma ameaça à paz e segurança
internacionais. A resolução só obteve dez votos favoráveis, provocando
abstenções de Cabo Verde, China, Índia, Marrocos e Zimbábue, e estabeleceu
sanções que incluíam, além de um embargo de armas, a proibição de venda
à Líbia de aviões, peças de reposição para aeronaves, serviços de manutenção
e serviços ou produtos utilizados na construção de campos de aviação. A
resolução também dispunha sobre a redução no número e nível de pessoal
diplomático nas missões líbias no exterior. As sanções foram ampliadas pela
resolução 883 de 11 de novembro de 1993 (voto favorável do Brasil,
abstenções de China, Djibuti, Marrocos e Paquistão), que aumentou a pressão
sobre Trípoli para que cooperasse com os EUA, Reino Unido e França no
julgamento dos responsáveis pelos atentados – no caso do vôo 103 da Pan
Am a exigência era que eles fossem julgados na Escócia onde caiu o avião. A
resolução impunha o congelamento de ativos líbios no exterior, e proibia a
exportação para a Líbia de uma lista de produtos anexa que incluía equipamento
para refinar e exportar petróleo.
A esse respeito o ex-Chanceler Ramiro Guerreiro observaria que “por
mais que o governo líbio nos desagrade, esse tipo de ação (...) não parece
próprio do Conselho que não é, de maneira alguma, um tribunal judiciário. É
possível, e mesmo provável, que a Líbia submetesse seus nacionais, no caso,
a uma jurisdição penal internacional”.5 A Líbia manifestou disposição de
submeter os suspeitos de envolvimento no atentado a um terceiro país, mas
Washington e Londres insistem na exigência original.6 As sanções,
entrementes, permanecem em vigor.
Quando o Conselho de Segurança decidiu autorizar um embargo de armas
aplicável à Libéria pela resolução 788 de 19 de novembro de 1992, o conflito
interno opondo a “National Patriotic Front of Liberia (NPLF)” e a “United
Liberation Movement in Liberia for Democracy (ULIMO)” já mergulhara
o país na violência há quase três anos. A Comunidade Econômica de Estados
140
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
da África Ocidental (ECOWAS) assumira a responsabilidade principal pelo
apaziguamento da mais antiga república africana, com o Conselho de Segurança
se limitando a apoiar os esforços sub-regionais, liderados por Nigéria e Gana.
A resolução 788 decretou um embargo de armas e equipamento militar, com
exceção do material destinado à presença da ECOWAS no país. Os mais de
setecentos mil refugiados liberianos em países vizinhos – representando um
terço da população total – e as ramificações da crise na adjacente Serra
Leoa levaram o Conselho a considerar que a situação na Libéria constituía
ameaça à paz e segurança internacionais “particularly in West Africa as a
whole”. Pelos acordos de Cotonou de julho de 1993 as Nações Unidas
passaram a assistir o grupo de monitoramento da ECOWAS (ECOMOG)
com o estabelecimento da Missão Observadora das Nações Unidas na Libéria
(UNOMIL). Sucessivos acordos de cessar-fogo alternaram com episódios
sangrentos em 94, 95 e 96, não se podendo antecipar com confiança que as
eleições previstas para 1997 porão fim aos combates, ou ao embargo de
armas. A Libéria costuma ser incluída na categoria de estados falidos africanos,
onde rivalidade entre grupos que aspiram ao poder está se encarregando de
destruir os últimos vestígios da administração estatal. A falta de recursos
materiais do esforço de manutenção da paz da ECOWAS e a pouca
credibilidade internacional da liderança da Nigéria (ela mesma ameaçada de
sanções) no processo de reconciliação liberiana são complicadores adicionais.
A pobreza e os tênues laços de países como Libéria, Somália, Ruanda com a
economia internacional fazem com que eles deixem de ser vistos como
possíveis alvos para sanções mais abrangentes. Não obstante, no Burundi,
iniciativa sub-regional dos países vizinhos está isolando economicamente o
país e aumentando a pressão sobre a minoria Tutsi que retomou o poder
após golpe militar em agosto de 1996. O Conselho de Segurança tem
ameaçado o Burundi com a imposição de sanções, mas não chegou a adotar
decisão final nesse sentido.
O Conselho de Segurança só veio a tomar decisão sob o Capítulo VII
em relação à guerra civil angolana em setembro de 1993, quando impôs um
embargo de armas, material militar, petróleo e produtos petrolíferos
especificamente dirigido contra a União para a Independência Total de Angola
(UNITA). Na ocasião o único precedente de singularização de uma parte no
interior de um país como alvo de sanções fora o dos Khmer Rouge no
Camboja – embora, naquele caso, tivesse sido a Assembleia Geral que
adotara a decisão. Subsequentemente a parte sérvia da Bósnia se transformou
141
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
também em alvo de sanções individualizadas. A resolução 864 de 15 de
setembro de 1993 determinou que, como resultado das ações militares da
UNITA em desrespeito aos resultados eleitorais obtidos no contexto do
processo de paz de Bicesse, a situação em Angola se convertera em ameaça
à paz e segurança internacionais. Com exceção de uma série de pontos de
entrada definidos pelo Governo Angolano, em lista submetida ao SGNU, o
território angolano ficava sujeito às sanções anti-UNITA.7 As sanções contra
a UNITA não teriam sido possíveis não fosse o reconhecimento em maio do
mesmo ano do governo do MPLA pelos EUA – para o quê o então Chanceler
Fernando Henrique Cardoso terá exercido um importante papel persuasivo
em visita oficial a Washington – e o fim do apoio de Pretoria a Savimbi, com
a transferência do poder na África do Sul para Nelson Mandela. O efeito da
alteração na postura norte-americana e sul-africana somado ao impacto das
sanções terão pesado decisivamente para a assinatura do Protocolo de Lusaca
pela UNITA em novembro de 1994. Atrasos na implementação de seus
dispositivos, entretanto, impediram a suspensão das sanções e, em mais de
uma ocasião, ressuscitaram no Conselho a ameaça de implementação do
parágrafo 26 da resolução 864, o qual “expresses its readiness to consider
the imposition of further measures under the Charter of the United
Nations, including, inter alia, trade measures against the National Union
for the Total Independence of Angola and restrictions on the travel of its
personnel”. A resolução 1098 de 27 de fevereiro de 1997 voltou a mencionar
o parágrafo acima citado em contexto de renovada pressão sobre Savimbi
para cumprir as etapas remanescentes de Lusaca.
O Sudão tornou-se o mais recente alvo de sanções do Conselho de
Segurança em decorrência das suspeitas de que estaria mantendo em seu
território os responsáveis pelo atentado contra o Presidente do Egito,
perpetrado em 26 de junho de 1995 durante a cúpula da OUA em Adis
Abeba. Com abstenções de China e Federação Russa, a resolução 1054 de
26 de abril de 1996 determinou a imposição sob o Capítulo VII de reduções
na lotação das missões do país no exterior e restrições ao movimento de
diplomatas sudaneses. Ante a recusa sudanesa em extraditar os supostos
terroristas e alegações de envolvimento de funcionários governamentais do
país no planejamento de outros atentados, a resolução 1070 de 26 de junho
de 1996 (mesmas abstenções) adotou medidas adicionais de restrição ao
tráfego aéreo com o Sudão. A ação governamental sudanesa em apoio a
movimentos islâmicos na África negra e seus vínculos com milícias ugandenses,
142
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
com os refugiados Hutu e com Mobutu colocam o Sudão “no centro de
uma guerra regional” segundo Le Monde Diplomatique de fevereiro de
1997. Artigo assinado por Gerard Prunier comenta que “l’ultime pièce du
dispositif anti-Khartoum – après les premières sanctions prises par les
Nations Unies en avril 1996 – vint des Etats-Unis. Washington annonça
que 20 millions de dollars d’équipements militaires ‘non-meurtriers’ (...)
allaient être donnés à l’Ouganda, à l’Éthiopie et à l’Erythrée”.8
Enquanto no período da Guerra Fria as sanções aplicadas à África do
Sul e Rodésia do Sul pareciam ter um valor simbólico intrínseco, os regimes
de sanções mais recentes tem feito parte de um conjunto de medidas que
frequentemente se conjugam com a presença de uma operação de paz ou
missão observadora da ONU, esforços diplomáticos paralelos da ONU em
coordenação com organismos regionais e sub-regionais, ou mesmo ações
coercitivas militares. O sentido de urgência na imposição e verificação das
sanções também se alterou. A resolução 418 (1977) que adotou o embargo
de armas contra a África do Sul só cobrava um relatório do Secretário-Geral
sobre sua implementação para sete meses mais tarde. Em comparação, a
resolução que impôs sanções contra a Líbia exigia um relatório após 45 dias,
e a que sancionou a RFI dentro de 22 dias.
Com a multiplicação das sanções, inúmeras dificuldades que não faziam
parte das preocupações dos Estados membros passaram a receber crescente
atenção, como a questão dos efeitos não intencionais das sanções no país
alvo, os efeitos sobre países terceiros e a necessidade de operacionalizar a
possibilidade de consulta facultada pelo Artigo 50 da Carta, problemas
relacionados à verificação e a violações, além de uma série de tópicos
processuais. Essas questões foram debatidas nos vários Comitês que
gerenciam os regimes de sanções, no Conselho de Segurança e nos Grupos
de Trabalho da Assembleia Geral sobre uma Agenda para a Paz e sobre a
Reforma do Conselho de Segurança e nos Grupos de Trabalho da Assembleia
Geral sobre uma Agenda para a Paz e sobre a Reforma do Conselho de
Segurança.
O Subgrupo sobre Sanções do GT sobre uma Agenda para a Paz, em
particular, funcionou como caixa de ressonância para toda a gama de
inquietações dos Estados membros sobre o tema das sanções, havendo sido
palco de manifestações de uma nítida e arraigada divisão norte-sul no
tratamento do assunto. Sob a presidência do Brasil, o Subgrupo conseguiu,
não obstante, reunir o consenso dos participantes em torno de algumas
143
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
conclusões gerais, negociadas ao longo de 1996, que podem ser consideradas
um máximo denominador comum entre as posições díspares defendidas na
Assembleia Geral sobre a matéria. Com base no capítulo sobre sanções do
Suplemento a uma Agenda para a Paz de janeiro de 1995, atenção prioritária
seria conferida aos efeitos não intencionais – humanitários e sobre terceiros
países – mas seriam considerados também aspectos de procedimento, entre
os quais o da problemática da suspensão das sanções.
Em uma reversão de papéis, o mundo ocidental desenvolvido tem
assumido um tom de superioridade moral ao justificar a aplicação de sanções
a regimes como os do Iraque, Líbia e Sudão, que contrasta com a resistência
de vários de seus integrantes (em particular Washington e Londres) em
permitir, no passado, que o Conselho e Segurança sancionasse o racismo
institucionalizado na África austral. Como observa Stremlau: “ironically the
major western powers that were so often accused by the developing
countries of wrongly interfering in internal affairs staunchly resisted
using economic sanctions to challenge racism and other human rights
abuses in South Africa that affronted their own most cherished values”.9
O tratamento da questão das violações também se presta a uma
percepção de que estão em jogo pesos e medidas diferenciados. EUA e
Reino Unido costumam insistir na importância de sistemas de monitoramento
e verificação de implementação de sanções, e minimizar a relevância das
exceções humanitárias e da instrumentalização de mecanismos para compensar
terceiros países por perdas incorridas, ambas causas caras aos não alinhados.
Entretanto, há indícios de que os EUA não só toleraram como incentivaram
violações do embargo de armas à Bósnia e Croácia. Segundo fonte do
secretariado que pede para não ser citada, os americanos chegaram a fazer
“air drops” de material de emprego militar na Bósnia. Segundo David Owen
“The morality of the arms embargo was being discussed as a matter of
high principle, while the Bosnian Muslims pretended that they had no
arms, the Croatians kept very quiet about the arms they were collecting
and passing on, and both were manufacturing them. (...) a pragmatic
relaxation of the arms embargo developed and there was never any purist
enforcement action. A number of governments have helped arm the
Croats, and, through the Croats the Muslims. The Russian government
in comparison by and large maintained the arms embargo against the
serbs”.10 Por outro lado, sobre as sanções econômicas contra a RFI Owen
tem a dizer o seguinte: “Serbia had a virtually open border with Macedonia
144
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
and Albania, both of which developed a thriving black market business,
particularly in breaching oil sanctions. (...) [there were] gaping holes in
the oil embargo whether on the Danube, the Romanian, Bulgarian or
Macedonian border or on the Montenegrin coast on the Adriatic where
oil is coming in by tankers”.11 Sobre as sanções aplicadas pela OEA ao
Haiti, Pamela Constable observa que “the US government, which carries
enormous political weight within the OAS and Haiti, bears particular
responsibility for squandering its power to make the embargo function.
The Bush administration, overly sensitive to pressure from American
investors in Haiti, greatly delayed or only partially enacted the full range
of sanctions at its disposal”.12
O problema da duração das sanções e das condições para seu término
também tem estimulado uma dinâmica confrontacionista entre o norte e o sul,
além de dividir os membros permanentes. O levantamento das sanções contra
o Iraque, em particular, se tornou refém de interpretações divergentes a
respeito do objetivo da resolução 687, que já poderiam ter criado uma crise
mais séria no CSNU não fosse o fato de Saddam Hussein acabar, por suas
próprias provocações, consolidando o consenso contra Bagdá no Conselho.
Na ausência de uma data para seu fim, as sanções permanecem em vigor até
decisão em contrário, e basta que um único membro permanente não esteja
disposto a suspendê-las para que continuem intactas (o veto de que dispõem
os P-5 para impedir que um regime de sanções acabe é às vezes chamado de
“reverse veto”). Vale recordar o considerável mal-estar na ONU resultante
das declarações do Vice Assessor para Segurança Nacional da administração
Bush, Robert Gates, sobre as sanções contra o Iraque: “Saddam is
discredited and cannot be redeemed. His leadership will never be accepted
by the world community and, therefore, Iraqis will pay the price while he
remains in Power. All possible sanctions will be maintained until he is
gone. Any easing of sanctions will be considered only when there is a
new government”.13 Como se sabe, a resolução 687 não contém exigências
dessa natureza. Segundo Stanley Meiser, as declarações de Gates pegaram
até a Missão dos EUA junto à ONU de surpresa, e podem haver provocado
a substituição do Embaixador Thomas Pickering em Nova York.14 Não
obstante, aquela interpretação unilateral viria a ser defendida também pelos
britânicos.15 Ian Johnstone descreve esta questão aparentemente processual
com sugestão para resolvê-la: “the reverse veto phenomenon effectively
gives each of the five permanent members power to decide unilaterally
145
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
whether the conditions for lifting sanctions have been met. To limit the
discretion each of the five is able to exercise, resolutions imposing
sanctions should be drafted to permit as impartial an assessment as
possible of whether the conditions have been met”.16
A China passou a defender com grande determinação a alteração dessa
mecânica. No Subgrupo sobre sanções, a delegação chinesa insistiu na
necessidade de se limitar a duração das sanções a um período
predeterminado, após o qual o Conselho decidiria se prorroga, modifica ou
termina um regime específico. Admitida a ideia chinesa, os P-5 disporiam de
veto para impedir que sanções permanecessem em vigor além do prazo inicial
estipulado (assim como sucede com relação aos mandatos das operações de
paz por exemplo), o que inquieta o Reino Unido e os EUA. Curiosamente a
França, que se alinhava com os ocidentais nesse particular, contemplou a
possibilidade de estabelecer uma duração inicial fixa para as sanções contra
o Sudão recentemente impostas pelo CSNU. O Subgrupo não conseguiu,
contudo, ir além de um reconhecimento genérico da importância da duração
das sanções, registrando que elas não devem se prolongar desnecessariamente.
As sanções econômicas podem afetar menos os responsáveis pela política
que as motivou do que a população civil, particularmente crianças e idosos.
No Haiti, calcula-se que ao findar 1993 mil crianças por mês morriam em
decorrência do regime de sanções. A faculdade de saúde pública da
Universidade de Harvard estima que mais de 560 mil crianças podem ter
morrido no Iraque, desde que sanções econômicas foram aplicadas em 1991.17
Embora exceções de natureza humanitária costumem ser incluídas nos regimes
de sanções abrangentes, cabe aos Comitês de Sanções processar os pedidos
de isenção para exportações desses produtos. No caso da República Federal
da Iugoslávia os pedidos se situaram na casa dos 2.000 (dois mil) em 1992,
passando para 34.000 (trinta e quatro mil) em 1995.18 Esta quantidade não
só sobrecarregou o secretariado, como parece ser indicativa de um padrão
de desvio sistemático de importações supostamente para fins humanitários
que pode haver alimentado negócios vultosos. Embora haja acordo em que
o processamento dos pedidos de exportação de produtos para fins
humanitários devam ser considerados com celeridade, a manipulação deste
comércio por “máfias” suscita questões éticas que acabam militando a favor
da utilização parcimoniosa de sanções econômicas, mesmo se a crescente
interdependência econômica mundial contribui para torná-las um instrumento
eficaz de pressão quando empregado criteriosamente.
146
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
O Pacto da Liga das Nações já reconhecia as possíveis consequências
negativas que a imposição de sanções poderia ter sobre países terceiros,
mas sem chegar ao nível de especificidade do Artigo 50 da Carta que prevê:
“no caso de serem tomadas medidas preventivas ou coercitivas contra um
Estado pelo Conselho de Segurança, qualquer outro Estado, Membro ou
não das Nações Unidas, que se sinta em presença de problemas especiais de
natureza econômica, resultantes da execução daquelas medidas, terá o direito
de consultar o Conselho de Segurança a respeito da solução de tais
problemas”. Petições motivadas pelas sanções contra a Rodésia do Sul foram
submetidas à ONU por dois países, em relação à Iugoslávia por oito países,
e em relação ao Iraque por vinte e um países. Mas enquanto os países afetados
buscam medidas concretas que ajudem a compensá-los por suas perdas
materiais, a maioria dos países desenvolvidos considera que o Artigo 50 só
estabelece uma obrigação de manter “consultas” e resiste às várias propostas
que vêm sendo apresentadas sobre o particular, como a criação de fundos
compensatórios, mecanismos para compensação automática por perdas
incorridas etc. Com o fim das sanções contra a RFI, os países mais ativos na
reivindicação de medidas para a operacionalização do Artigo 50, como Ucrânia
e Bulgária poderão perder a motivação em defender esta causa nos diferentes
foros onde ela tem sido examinada – como o Comitê da Carta, a VI Comissão,
o GT sobre Agenda para a Paz. Resta saber se o grupo de países afetado
pelas sanções contra o Iraque, que inclui europeus, asiáticos e latinoamericanos, continuará a pressionar para dar um sentido material ao Artigo
50. A conclusão de acordo entre o Secretariado e o governo do Iraque para
permitir a implementação da resolução 986 que admite a venda de petróleo
para a aquisição de alimentos, tende a restabelecer um fluxo maior de comércio
com Bagdá que poderá repercutir favoravelmente junto às economias desses
países.
Não existe um consenso sobre a utilidade das sanções para a consecução
dos objetivos que as motivaram. No caso da ex-Iugoslávia as sanções
econômico-comerciais contra Belgrado parecem haver tido um papel
importante em convencer o Presidente da Sérvia, Slobodan Milosevic, a trocar
a luta armada pela negociação. A habilidade do Presidente François Mitterrand
na adequada conjugação de ameaças de ampliação das sanções com
promessas de levantamento junto à parte sérvia é reconhecida por David
Owen em seu relato sobre a guerra nos Bálcãs como um fator decisivo na
aceitação por Belgrado do mapa do Grupo de Contato e, subsequentemente,
147
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
dos acordos de Dayton. Em relação ao Iraque, há quem considere que não
foi dado tempo suficiente para permitir que as sanções inicialmente dirigidas
contra Bagdá surtissem efeito e evitassem a guerra. O consenso inicial para a
implementação do regime sem precedentes imposto pela resolução 687 ao
Iraque já deu sinais de estar se rompendo, embora a duplicidade iraquiana
haja, em mais de uma ocasião, contribuído para reconstituí-lo (como, por
exemplo, quando movimentos de tropas em direção ao Kuwait em outubro
de 1994 silenciaram França, China e Federação Russa no momento em que
começavam a se interessar em discutir o levantamento, ou quando, alguns
meses mais tarde, foram descobertas quantidades industriais de precursores
para armas biológicas que haviam sido escondidas por Saddam Hussein).
No caso haitiano, o governo de fato só veio a ser diretamente atingido quando
foram aplicadas medidas financeiras e diplomáticas que congelavam seus ativos
no exterior e impediam seus deslocamentos bem como os de seus familiares.
Com o acúmulo de experiência na aplicação de sanções pelas Nações Unidas,
a eficácia de sanções financeiras especialmente concebidas para penalizar
alvos específicos são cada vez mais encaradas como as que melhor atingem
seus objetivos e menos afetam as populações civis.
Os casos acima resumidos e a breve apresentação de algumas das
questões mais candentes no atual debate sobre as sanções mandatadas pelo
Conselho de Segurança demonstram que, assim como ocorre com relação a
ações coercitivas militares, as ações não militares sob o Capítulo VII se têm
beneficiado de uma considerável latitude interpretativa tanto no tocante aos
motivos invocados para sua aplicação como no referente às formas que
assumem e a sua duração. Embora aos olhos de muitos países em
desenvolvimento as sanções estejam perdendo legitimidade, é possível manter
a posição de que o expediente em si é neutro, e sua imposição não precisa
ser o prenúncio de ações militares mais enérgicas e podem contribuir, pelo
contrário, para a solução pacífica da contenda que as originou. O fato de as
principais potências militares estarem dispostas a cooperar para limitar a
quantidade de armamento em vários dos conflitos que têm sido trazidos à
atenção do Conselho de Segurança, representa em si uma atitude que
contrasta favoravelmente com o prolongamento e agravamento de numerosas
crises em virtude do apoio bélico e da instigação de Washington e Moscou
em décadas passadas.
Robert E. Jackson assinala que o isolamento como forma de pressão
internacional apresenta várias vantagens em relação à intervenção, entre as
148
A INVOCAÇÃO DO CAPÍTULO VII APÓS A GUERRA DO GOLFO
quais a de não desafiar a soberania territorial do alvo das sanções.19 Superada
a rivalidade ideológica Leste-Oeste, por outro lado, a coerção não militar do
isolamento, poderia, em tese, ser aplicada para afirmar conceitos globalmente
aceitos de comportamento internacional e doméstico, fortalecendo a coesão
da comunidade internacional. Entretanto, não se pode deixar de observar,
que a China e, mais recentemente a Federação Russa, além de boa parte dos
países não alinhados e mesmo países como Brasil, Nova Zelândia e Espanha,
têm manifestado reservas em relação ao que parece se haver transformado
em uma aplicação de sanções insuficientemente atenta a seus efeitos colaterais,
ou mesmo abusiva. Concordamos com a conclusão de John Stremlau no
sentido de que “as sanctions regimes proliferate and their intended and
unintended consequences accumulate, political pressures to change the
way sanctions regimes operate appear to be intensifying in many capitals
and at UN headquarters in New York”.20
149
Capítulo 4
A Articulação de um novo Paradigma de
Segurança Coletiva
(A) Os Fins
A noção de segurança coletiva universal sobrevive há mais de três quartos
de século. No entanto, um sistema previsível de operacionalização da segurança
coletiva não chegou a ser instaurado, nem com base no Pacto da Liga das
Nações nem para a aplicação do Capítulo VII da Carta da ONU. Quando a
ação coletiva contra o Iraque foi autorizada pelo Conselho de Segurança com
a aprovação dos cinco membros permanentes, abriram-se perspectivas que, a
rigor, talvez nunca tivessem se apresentado antes, ou, quem sabe, tenham existido
durante um breve interregno entre o fim da II Guerra Mundial e o esfriamento
definitivo das relações entre Washington e Moscou ao findar a década de
quarenta. No contexto da intensificação da atividade do Conselho de Segurança
do período pós-Guerra do Golfo, o Capítulo VII foi invocado um número
maior de vezes do que nos quarenta e cinco anos anteriores, em um processo
de experimentação virtualmente contínuo, que acarretou reinterpretações da
Carta, tanto no que se refere aos objetivos da segurança coletiva como no
tocante aos meios para garanti-la. A Somália, a ex-Iugoslávia, Ruanda, o Haiti,
os países alvo de sanções foram, ou continuam sendo, palco de experiências
com implicações para a teoria e a prática da segurança coletiva que, embora
não se tenham ainda cristalizado em uma doutrina ou em um conjunto de regras,
vão articulando um paradigma novo pelos precedentes que estabelecem.
151
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Essa articulação pode ser analisada a partir de dois eixos distintos: o dos
fins e o dos meios. No primeiro eixo se situariam as questões relacionadas
aos objetivos das ações de segurança coletiva, no contexto das quais se
sobressai o problema da ampliação do campo de aplicação do Capítulo VII
para incluir situações de emergência humanitária e violações maciças de direitos
humanos, ou para o combate ao terrorismo, à subversão da ordem
democrática, à proliferação de armas de destruição de massa – na expressão
de Stanley Hoffman, a transformação da ameaça à paz e segurança
internacional em um “all purpose parachute”.1 No eixo dos meios podem
ser agrupadas as diferentes modalidades de “enforcement” que vem sendo
praticadas, como as da atribuição de mandatos coercitivos a operações de
paz, ou do emprego de forças multinacionais ou alianças militares defensivas
para a imposição de decisões do Conselho de Segurança. Também relevante
para o debate sobre os meios são as trocas de ideias e as iniciativas em curso
sobre como tornar mais eficazes as operações de manutenção da paz,
mediante o estabelecimento de standby arrangements e de Unidades de
Estado-Maior de deslocamento rápido (Rapidly Deployable Headquarters
Unit).
O sentimento de que se estão redefinindo no Conselho de Segurança os
fins e os meios para a aplicação da segurança coletiva explica em boa medida
porque se acirrou a disputa entre os Estados membros para participar de
seus trabalhos. O fato de essa articulação ainda estar se desenvolvendo no
que Weiss e Gordenker chamam de um “operational and conceptual flux”
aumenta a responsabilidade daqueles que podem influir para plasmar a ação
do Conselho antes de ela se fixar em padrões menos mutáveis de
comportamento.2 A esse respeito Richard Rosecrance é da opinião de que
“if the new post-Cold War system began in 1989, with the collapse of the
Iron Curtain, the world now has about seven to ten years to make it
workable and lasting. If this new system is not firmly established within
that period, the world order may again lapse into a balance of power or
an unworkable multipolar deterrence by the year 2000”.3 Depois da
Guerra do Golfo, apenas o Japão, entre os membros não permanentes, passou
mais de um biênio no Conselho de Segurança (1992-1993 e, agora, 19971998). O Brasil é o único candidato do GRULAC para a vaga que se abrirá
com o fim do mandato do Chile no fim deste ano. Independentemente do
desenlace das tratativas em curso para a ampliação do Conselho de Segurança,
a possibilidade de voltarmos a influir nas deliberações do CSNU é um pretexto
152
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
a mais para se tentar empreender uma reavaliação autônoma das lições
oferecidas por sua experiência recente, mesmo se nem sempre é possível
chegar a conclusões definitivas ou implementáveis.
Com essa tarefa em mente, serão examinados certos dilemas e feitas
algumas reflexões em relação aos dois eixos acima apontados.
No tocante ao eixo dos objetivos ou da finalidade das ações de Capítulo
VII, merece consideração especial o problema da definição de uma
responsabilidade coletiva em casos de emergência humanitária, que, de alguma
forma, esteve presente nas quatro situações em relação às quais o Conselho
de Segurança acabou por autorizar o uso da força após a Guerra do Golfo.
O precedente estabelecido pela resolução 688, que autorizou a prestação de
assistência aos curdos, embora não formalmente inserido no contexto do
Capítulo VII, abriu caminho para ações subsequentes na África e nos Bálcãs.
Os defensores das intervenções humanitárias, em particular, sublinham, como
David Scheffer que “the allied deployment in northern Iraq in the spring
of 1991 has grown in stature as a precedent of forcible humanitarian
intervention”.4 Se é verdade que os resultados controvertidos do uso da
força na Somália e na Bósnia tenderão a diminuir a propensão do CSNU a
intervir sem um plano coerente para solucionar os problemas políticos por
trás de crises humanitárias, a paralisia do Conselho de Segurança em face do
genocídio em Ruanda, por outro lado, mantém aberta a questão da
responsabilidade moral da comunidade internacional em face de fenômenos
graves que ofendem a consciência da humanidade.
Como aponta Scheffer, o problema não é novo. Embora seu enfoque
seja o da apologia da “intervenção humanitária” consentida ou não – na linha
dos Médicos sem Fronteiras de Bernard Kouchner – ele não deixa de
estabelecer uma listagem interessante de precedentes, dividida em três
categorias, que incluem tanto os casos em que houve reação internacional
como aqueles em que não houve, nos seguintes termos: 1) situações em que
minorias religiosas ou étnicas são sujeitas a violência sistemática (os exemplos
vão da discriminação sofrida pelas minorias cristãs sob o Império Otomano,
passando pelo holocausto até a exterminação em grande escala de membros
da etnia Ibo, em sua luta pela secessão na Nigéria para a criação de um
Biafra independente); 2) casos de violações de direitos humanos, com grande
número de mortos (as ações dos Khmer Rouge, as atrocidades cometidas
por Idi Amin Dada, os acontecimentos em Timor Leste são alguns dos
exemplos); 3) resgate ou proteção de cidadãos expatriados ou indivíduos em
153
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
perigo (sob este pretexto ocorreram intervenções de Israel em Uganda, da
França no Chade e dos EUA em Granada). A militância intervencionista de
Scheffer se expressa segundo fórmulas como: “to argue today that norms
of sovereignty, non-use of force, and the sanctity of internal affairs are
paramount to the collective rights of people, whose lives and well-being
are at risk, is to avoid the hard questions of international law and to
ignore the march of history”.5 Não deixa de ter impacto sua afirmação de
que, em alguns dos exemplos por ele citados, intervenções unilaterais puseram
fim a situações calamitosas: a invasão do então Paquistão oriental pelo exército
indiano em 1971, que interrompeu agressões dos paquistaneses ocidentais
contra os bengalis seria um desses casos; a intervenção da Tanzânia contra o
regime Amin Dada em 1979, sob alegação de autodefesa, seria outro.
Thomas Weiss e Jarat Chopra contrapõem que a invasão da
Tchecoslováquia por Hitler se deu em nome da proteção dos direitos da
minoria alemã dos Sudetos, e que a intervenção japonesa na Manchúria
invocou razões humanitárias, ambas havendo ocasionado atrocidades
infinitamente piores do que as supostas violações que as haviam motivado.
A Índia interveio recentemente no Sri Lanka alegadamente para dar apoio
humanitário à minoria Tamil, mas na verdade, para proporcionar-lhes
armamento, incendiando o conflito no país. Weiss e Chopra apresentam
argumentos contra e a favor da codificação de critérios para intervenções
ditas humanitárias. Entre os argumentos contra figura o de que “it would
be impossible to distinguish between action sincerely based on
humanitarian grounds and action based on ulterior, self-interested
motives. Intentions cannot be identified without Access to the policymaking mind of the state, which is hardly accessible in multilateral
diplomacy”. Por outro lado “codification would make it possible to
demand a high degree of proof from states claiming the right to
intervene. Thus, powerful states would be restricte and the weak
protected from intervention driven by insincere motives”.6 O centro
do problema reside no perigo de que humanitarismo se transforme em
disfarce para “raison d’état”, como aconteceu em Ruanda. A fim de
reconciliar os ditames da solidariedade ante o sofrimento alheio com uma
dose adequada de realismo político, a conclusão de Weiss e Chopra é de
que apenas os “worst-case scenarios” justificam a coerção, e que as
demais situações devem ser tratadas com diplomacia não coercitiva e
assistência humanitária consentida.7
154
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
Ao criticar a “histeria intervencionista” provocada pelas guerras civis do
após Guerra Fria, Stephen John Stedman argumenta, em contradição com
opinião sustentada até por Boutros-Ghali, que conflitos civis existiam em
proporções equivalentes em décadas anteriores e produziam violência
comparável à que se observou na Bósnia e na Somália, com a diferença de
que, ao se situarem fora da dinâmica bipolar, os beligerantes dos anos noventa
são menos pressionáveis pelas grandes potências. Em artigo publicado em
princípios de 1993, Stedman afirmava que, se naquele momento existiam 18
guerras civis, em 1985 havia 19.8 Ele lembra ademais que na guerra civil
norte-americana morreram seiscentas mil pessoas, e que número comparável
de mortos resultou das guerras civis espanhola e da Nigéria – mortalidade
que se revelaria superior, nos três casos, à do conflito dos Bálcãs. Stedman
conclui que a imposição multilateral de medidas militares coercitivas em guerras
civis requer uma clara motivação de segurança.9 Ademais, o intervencionismo
humanitário aplicado em resposta a imagens televisivas, sem um sentido de
realismo político e econômico, sem relação com o interesse nacional, corre o
risco, na opinião de Stedman, de gerar um mundo mais violento do que o da
Guerra Fria. Trata-se de uma afirmação que merece reflexão, na medida em
que a acusação mais grave que se poderia fazer a um sistema de segurança
coletiva seria a de gerar violência desnecessária em nome de valores morais
– situação injustificável tanto de um ponto de vista da preservação da paz e
segurança internacionais como do ponto de vista ético. Kolodziej conclui no
mesmo sentido que, “a opinião de alguns analistas de que o conceito de
segurança deveria ser estendido para incluir quase todos os assuntos de
interesse humano, parece injustificável, embora bem intencionada. Os
problemas vinculados à contenção dos efeitos perniciosos do emprego da
violência e da força são tão grandes e tão complicados (...) que há razões
para adotar uma conceituação ampla, mas não necessariamente tão geral
quanto querem alguns analistas”.10
A esse respeito o Embaixador Ramiro Guerreiro recomenda com
sabedoria que “é muito difícil em certos casos manter uma indiferença olímpica.
Creio, porém que isso não é razão para forçar e deformar a Carta. Caberia,
talvez, propor um estudo cuidadoso de certas intervenções coercitivas
pontuais, limitadas, que possam ter êxito em atenuar sofrimentos e permitir a
fuga ordenada e a recolocação de vítimas de grandes perseguições. (...) Seria
o caso de propugnarmos a discussão ordenada de tais experiências no âmbito
das Nações Unidas, com a estreita colaboração da Cruz Vermelha”.11 Uma
155
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
postura puramente não intervencionista redundaria praticamente em abdicar
de participar das discussões em curso sobre uma questão da agenda
internacional que sensibiliza governos, organizações não governamentais e
opinião pública. Mas vale a pena lembrar que existem exemplos de esforços
multilaterais bem sucedidos de assistência humanitária que foram obtidos sem
recurso ao Capítulo VII. Um tal exemplo, citado por Thomas Weiss, foi o da
“Operation lifeline Sudan” em 1989, quando, habilmente pressionado pela
comunidade de doadores, o Sudão concordou em permitir que se
estabelecessem “corredores de tranquilidade” para o fornecimento de
alimentos evitando a propagação da fome no sul do país.12 As vantagens
desse tipo de enfoque são várias: não apenas evitam-se os gastos com forças
militares, mas o alívio proporcionado com o consentimento local pode até,
idealmente, se transformar em medida de fortalecimento da confiança entre
facções beligerantes e integração do país na sociedade internacional (mesmo
se não foi isto o que ocorreu no Sudão). A iniciativa argentina dos “cascos
brancos”, recrutados nas mesmas bases que os “Voluntários das Nações
Unidas”, que também se pauta pelo consentimento local, pode apresentar
interesse, embora permaneça ainda um esforço em escala reduzida, que não
seria capaz de lidar com emergências de proporções maiores. Para os países
em desenvolvimento desejosos de colaborar com missões humanitárias
idôneas, contudo, a assistência prestada pelos “cascos brancos” têm a
vantagem de ser financiada em bases multilaterais (por “pledging
conferences”) e administrada pelo PNUD, permitindo que os PEDs
contribuam sobretudo com recursos humanos (existem atualmente “cascos
brancos” posicionados na Armênia, Haiti, Líbano, Jamaica e Equador).
A “Comission on Global Governance” (que se reuniu de 1992 a 1994
com o objetivo de pensar as Nações Unidas no contexto de seu
cinquentenário, e reuniu algumas centenas de representantes governamentais
e não governamentais de todas as regiões do mundo, inclusive o Reitor da
Universidade das Nações Unidas, Gurgulino de Souza, sob a copresidência
de Sir Sridath Ramphal – Guiana – e Ingvar Carlsson – Suécia – sustenta
que, se o Conselho de Segurança pretende desconsiderar o preceito da não
ingerência nos assuntos que dependem essencialmente da jurisdição interna
de um Estado, essa prerrogativa – que lhe é facultada pelo Artigo 2 (7) –
precisa ser exercida dentro de uma moldura comumente acordada entre os
membros da ONU. A Comissão acredita que, na prática, os Estados membros
sabem quando uma situação ultrapassa os limites do tolerável e cita casos
156
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
como o do apartheid na África do Sul do Camboja sob os Khmer Rouge,
da Somália, Bósnia e Ruanda (curiosamente o Haiti não é citado), mas, para
que não haja dúvida, sugere uma emenda à Carta que restrinja intervenções
coercitivas em defesa de vítimas de agressão no interior de Estados
“restricting it to cases that constitute a violation of the security of the
people so Gross and extreme that it requires an international response
on humanitarian grounds”. Até que seja alcançado um consenso nesse
sentido a sua recomendação é de que seja mantido o respeito à não
intervenção.13 Por estarem frequentemente vinculadas a crises humanitárias,
as correntes migratórias e os problemas decorrentes de fluxos de refugiados
precisariam ser considerados no contexto de um eventual exercício de
estabelecimento de parâmetros para a determinação dos casos em que existe
ou não ameaça à paz, e dos casos em que haveria justificativa para intervenção
militar coercitiva.
Em relação à propagação da justiça como fim da segurança coletiva,
desenvolvimentos recentes com respeito aos dois Tribunais estabelecidos
sob o Capítulo VII para julgar crimes de guerra estão a revelar
vulnerabilidades no próprio conceito de tribunal ad hoc que parecem
desincentivar a criação de órgãos semelhantes no futuro. O Tribunal para
Ruanda está em crise desde que o Secretário-Geral Kofi Annan se viu
forçado a demitir o seu principal gerente e vice-promotor por falhas
administrativas. O ex-promotor do Tribunal para a Iugoslávia, Richard
Goldstone, se queixa de que tanto a Sérvia como a Croácia, os bósnios
sérvios e os bósnios croatas estão desobedecendo as resoluções do
Conselho de Segurança que os obrigaria a cooperar com o Tribunal.14 Mas
Goldstone acusa também as potências ocidentais que controlam a missão
da OTAN na Bósnia (EUA, Reino Unido e França) de “conspirar contra o
aprisionamento dos indiciados, apesar da obrigação implícita (embora não
explícita) de fazê-lo, segundo os Acordos de Dayton”. Sua conclusão
estranhamente é no sentido de que esta situação representa um mal prenúncio
para a negociação de uma Corte Penal Internacional, quando na verdade o
oposto pareceria mais lógico. Para o Brasil que sempre teve dúvidas sobre
a legalidade e conveniência do estabelecimento de jurisdição criminal pelo
Conselho de Segurança, a negociação pela Assembleia Geral de uma
convenção internacional para punir indivíduos responsáveis por crimes de
guerra pode precisamente ter êxito onde os tribunais ad hoc parecem estar
falhando, isto é na afirmação de sua legitimidade.15
157
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Embora frequentemente associado de uma maneira um tanto vaga aos
problemas ditos humanitários, o pretexto do abuso contra os direitos humanos
não tem sido singularizado como um motivo para a invocação do Capítulo
VII, e se depender da China não o será. A delegação chinesa no Conselho
de Segurança não tem escondido sua objeção ao tratamento de direitos
humanos no órgão, havendo transmitido ao Brasil, por exemplo, sua oposição
a que o relator especial para direitos humanos em Burundi, o Professor Paulo
Sérgio Pinheiro, se dirigisse ao CSNU para descrever a situação no país
africano. A Comissão de Peritos estabelecida pelo Secretário-Geral para
examinar as alegações de limpeza étnica na ex-Iugoslávia tinha o mandato de
investigar violações do direito humanitário. O Relator Especial da Comissão
de Direito Humanos Tadeusz Mazowiecki se reportava à Assembleia Geral
(embora seus relatórios fossem circulados também ao CSNU). A observação
da situação dos direitos humanos em determinados países tem sido admitida
no contexto de esforços, consentidos, de manutenção da paz. A ONUSAL
(Missão Observadora das Nações Unidas em El Salvador) se tornou a primeira
operação civil/militar com tarefas no campo dos direitos humanos, e atualmente
as forças da ONU na Croácia e na Guatemala desempenham funções
análogas. O fato de a Missão responsável pela observação dos direitos
humanos na Guatemala (MINUGUA) responder à Assembleia Geral, pode
ser visto como uma contribuição à preservação da esfera da segurança livre
de matéria cujo enquadramento na categoria de ameaça à paz internacional
suscita controvérsia. Há quem defenda, como Weiss e Chopra, uma abolição
progressiva da distinção entre temas humanitários e de direitos humanos ou
considere desejável, pelo menos, uma melhor coordenação entre as áreas do
Secretariado que se ocupam delas.16 Não pareceria existir desacordo em
que o Conselho seja informado de situações de atentados graves aos direitos
humanos que poderiam degenerar em guerra, o que não chegou a ocorrer
antes do genocídio em Ruanda, por exemplo.
Como visto, o combate ao terrorismo foi incluído no capítulo sobre
segurança coletiva da declaração emitida ao cabo da reunião de cúpula do
Conselho de Segurança em janeiro de 1992. As sanções contra a Líbia foram
adotadas apesar de quatro abstenções de países não alinhados (Cabo Verde,
Índia, Marrocos e Zimbábue) e de abstenção chinesa. As sanções contra o
Sudão provocaram abstenções da China e da Federação Russa. Embora a
China costume se abster na imposição de sanções mais abrangentes, o número
de membros não permanentes no primeiro caso e a companhia da Federação
158
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
Russa no segundo revelam um grau frágil de tolerância quanto à utilização do
Capítulo VII para pressionar governos a extraditar terroristas. A hesitação
francesa em sancionar o Sudão – aliado de Mobutu e dos Hutus que tem
tradicionalmente se beneficiado de ajuda militar francesa – poderá erodir
ainda mais o apoio que tem permitido manter os dois países islâmicos sob
medidas do Artigo 41.
A democracia é uma palavra que não consta na Carta da ONU, como
costumam lembrar os franceses nos debates sobre organização e métodos
de trabalho do Conselho de Segurança no Grupo de Trabalho que se reúne
há três anos para tentar reformar o órgão. A declaração da cúpula de 1992
não inclui a ruptura da ordem democrática entre as fontes não militares da
instabilidade. A Agenda para a Paz, no entanto dedica um parágrafo a
“democracy within nations” – que deve vir acompanhada de respeito aos
direitos humanos e liberdades fundamentais, além de reconhecer os direitos
das minorias, e contém um outro parágrafo sobre “democracy within the
family of nations” – que requer a aplicação consistente, e não seletiva, dos
princípios da Carta, de modo a preservar a autoridade moral da organização.
A conclusão de ambos parágrafos é a de que “democracy at all levels is
essential to attain peace for a new era of prosperity and justice”.17 A
verificação eleitoral na Nicarágua em 1990 deu início às atividades de apoio
da organização à transição para a democracia em Estados independentes
(anteriormente haviam sido organizados plebiscitos com vistas à autodeterminação de territórios não autogovernados). Com o aparecimento das
operações de paz multidimensionais, assistência eleitoral se tornou uma faceta
habitual do trabalho da ONU conforme frisa a publicação “the United Nations
Electoral Assistance and the Evolving Right to Democratic
Governance”.18 A prestação de assistência eleitoral OEA/ONU ao Haiti em
1990 terá contribuído para criar um vínculo entre as duas organizações no
esforço de restabelecimento da ordem democrática após o golpe de setembro
de 1991. Mas, ausentes outros elementos, a interrupção da transição
democrática no Haiti dificilmente teria propiciado a invocação do Capítulo
VII. O fato de a primeira aplicação de sanções haver sido solicitada pela
OEA a pedido de Aristide constituía uma situação em si inusitada. A
reimposição das sanções e sua eventual ampliação ocorreu após haver ficado
claro que o regime de fato não iria honrar o acordo da Ilha de Governadores
nem cooperar pela via diplomática com o Conselho de Segurança. Ao
desrespeitar o Acordo da Ilha de Governadores, Cédras se colocou até certo
159
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
ponto em situação semelhante à de Savimbi (que também foi submetido a
sanções), ou seja, a da parte que não está cumprindo com o acordado em
um tratado para a reconciliação nacional. O objetivo da restauração da
democracia no Haiti, mencionado no preâmbulo da resolução 940 que
autorizou o uso da força no Haiti é indissociável da existência de um acordo.
O fator humanitário, em particular as circunstâncias que criaram o problema
dos refugiados, também mencionado no preâmbulo da 940, constituiu outro
elemento fundamental na ausência do qual seria pouco provável a autorização
do recurso à força. A entrada em vigor do Protocolo de Washington à Carta
da OEA (pendente de uma única ratificação na presente data), ajudará a
evitar que, em casos futuros de descontinuidade democrática no Hemisfério
Americano, sejam desencadeados processos de solução não pacífica do
restabelecimento da normalidade institucional. Ao estabelecer que a OEA
pode suspender o exercício do direito de participação do Estado faltoso nas
atividades da OEA o Protocolo de Washington estará ajudando a preencher
a lacuna punitiva que faltava aos compromissos de Santiago e facultou a
transferência da crise do Haiti ao Conselho de Segurança. Mas, em surgindo
crises parecidas em outras partes do mundo onde inexistem os mecanismos
da OEA, a lição a ser retida do caso haitiano parece ser a de que a coerção
para “impor a democracia” não somente não encontra base jurídica na Carta
da ONU, como permanecerá envolta em controvérsia quando contemplada
sem levar em conta as sensibilidades regionais.
Apesar de haver figurado com proeminência nos pronunciamentos e no
comunicado da cúpula Conselho de Segurança de 1992 o lugar reservado à
não proliferação de armas de destruição de massa entre os objetivos da
ONU em seu trabalho de preservação da paz e segurança internacionais
permaneceu essencialmente restrito ao desmantelamento da capacidade
Iraquiana, segundo os dispositivos da resolução 687. As sanções contra o
Iraque continuam a ser prorrogadas a intervalos regulares em consultas
informais (sistemática, aliás, apontada pelo Brasil como juridicamente
inapropriada), permanecendo o grande projeto emblemático do CSNU na
área da não proliferação. Enquanto o Presidente Executivo da UNSCOM,
Embaixador Rolf Ekeus, vê amplas possibilidades de criação de novas
instâncias encarregadas da não proliferação no Conselho de Segurança, a
partir do precedente político e da experiência acumulada pelo seu Comitê, o
porta-voz Tim Trevan (ambos citados por Lamazière) assume uma postura
menos visionária ao acreditar apenas no eventual estímulo do Conselho à
160
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
implementação do parágrafo 14 da resolução 687 que prevê o estabelecimento
no Oriente Médio de uma zona livre de armas de destruição em massa.19
Leonard Spector do “Carnegie Endowment for International Peace”, por
outro lado, defende um papel mais ativo para o Conselho nessa esfera, em
sintonia com a expectativa da cúpula de 1992, como ponto focal para o
exame de acusações de descumprimento das convenções sobre armas
biológicas, armas químicas ou para o CTBT (Comprenehsive Test Ban
Treaty) possibilidade efetivamente prevista, desde que cumpridas certas
exigências, por aqueles tratados.20 Merece ser lembrado, neste contexto, o
fato de não haver sido bem sucedida iniciativa argentina que, em 1995, tentou
atribuir ao Secretário-Geral a função de apresentar anualmente ao Conselho
de Segurança um relatório sobre a situação mundial com respeito à proliferação
de armas de destruição em massa. Em contrapartida, a resolução 984 de 11
de abril de 1995, aprovada por consenso, consolidou a relação entre o TNP
e o Conselho de Segurança, promovendo a adesão universal a seus termos e
instando as potências nucleares a fornecerem alguns compromissos segurança
negativa (“negative security assurances”) relativamente tênues, 27 anos após
a adoção da resolução 255 (1968) que provocara a segunda abstenção
brasileira no CSNU (junto com França, Argélia, Índia e Paquistão). O único
outro caso trazido ao Conselho pelo viés da não proliferação foi o da Coreia
do Norte, que não chegou a extrair do CSNU mais do que algumas
declarações presidenciais encorajando a AIEA a prosseguir em consultas
com a RPDC para evitar que se efetivasse sua denúncia do TNP e permitir a
implementação de salvaguardas sob o Tratado. Em 4 de novembro de 1994
uma declaração presidencial (S/PRST/1994/64) reafirmou a contribuição que
progressos no campo da não proliferação aportam à manutenção da paz e
segurança internacionais e acolheu com satisfação o “Agreed Framework”
concluído entre a RPDC e os EUA, como um passo na direção da
desnuclearização da península. Embora o caso não tenha propiciado a adoção
de medida alguma sob o Capítulo VII, está claro que a volatilidade da situação
na península coreana permanece um foco de instabilidade que pode, a qualquer
momento, levar o Conselho a contemplar ações mais severas contra a Coreia
do Norte, seja ou não pelo ângulo da não proliferação.
Um exemplo de resistência bem sucedida a uma tentativa de alargamento
das atribuições do Conselho para nelas incluir o narcotráfico, teve lugar em
setembro de 1989, quando ocupava a presidência do órgão o Embaixador
Paulo Nogueira Batista. Como relatado pelo ex-Representante Permanente
161
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
do Brasil junto à ONU, “a minuta informal da Grã-Bretanha mencionava a
grave situação enfrentada pela Colômbia, mas percebia-se que tinha o objetivo
mais amplo de estender a jurisdição do Conselho para além das situações ou
disputas internacionais específicas surgidas entre Estados”.21 Nogueira Batista
comenta que a iniciativa britânica fez surgir ideias, aventadas por França e
URSS, de atribuir ao Conselho um papel de supervisão na observância de
padrões internacionais em áreas como a do meio ambiente. A delegação
britânica acabou concordando em utilizar a Assembleia Geral para debater
em uma sessão especial os diversos aspectos relevantes do narcotráfico.
Mas as causas “ecológicas” seriam incluídas entre as fontes não militares da
instabilidade na declaração de cúpula de janeiro de 1992. Entretanto, afora o
debate ancilar sobre a responsabilidade iraquiana pelos estragos ambientais
criminosos no Kuwait, questões ambientais não foram trazidas ao Conselho
desde então. Como no caso do narcotráfico, a possibilidade oferecida para
um debate aberto e universal sobre a agenda ambiental no contexto de uma
Conferência temática, como a realizada no Rio de Janeiro, terá influído no
sentido de desincentivar iniciativas no Conselho.
Uma parcela considerável do que há de inovador na ampliação dos
objetivos da segurança coletiva se refere a questões cuja internacionalização
é vista como ameaçadora da soberania dos Estados em esferas onde ela
estava bem sedimentada, em particular no tocante à relação Estado/indivíduo.
A mesma questão vista por outro ângulo suscita o problema da admissão de
um poder supranacional para julgar padrões de comportamento estatal na
proteção aos direitos humanos, na administração da justiça, na qualidade de
governo em suma. Sem adentrar uma discussão aprofundada de temática de
tão complexos contornos, é possível concordar com o Embaixador João
Clemente Baena Soares quando ele sugere que o importante é distinguir entre
supranacionalidades consentidas e impostas.22 Enquanto a primeira compensa
a erosão da soberania individual com a construção de um sistema internacional
caracterizado pela cooperação em prol de objetivos comumente acordados,
a segunda trai “o exercício da política do poder hegemônico, com a renúncia
de muitos à participação nas decisões mundiais em proveito de poucos”.
Seria de se lamentar que, afastado o perigo de holocausto nuclear,
permanecêssemos sob o domínio da segunda ao invés de evoluirmos na
direção da primeira. Mas, mesmo em um cenário pessimista em que formas
insidiosas de supranacionalidade imposta estariam a se desenhar, é possível
sustentar, como Baena Soares que o Estado Nação não é uma espécie em
162
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
extinção: “inexiste substituto. Os indícios apontam na direção de ajustes, de
modificação de comportamentos, de inovação de formas participativas, isto
sim”.23 Poder-se-ia acrescentar que, não obstante as redefinições de soberania
que vão sendo operadas pelo funcionamento do sistema internacional,
observa-se no Conselho de Segurança um interesse hoje maior do que em
décadas passadas por parte dos membros permanentes e outros países
influentes em contar com o apoio dos não permanentes para decisões que
dizem respeito a assuntos que os tocam de perto. Como afirma Gwyn Prins
em artigo datado de julho de 1996 “American opinion supports the principle
of the internationalization of action at this time, and that view is found
by pollsters in Great Britain, France, Japan and Germany also. Clearly
the blessing of the UN is thought to be worth having; and the ability to
dispense or to withhold blessing is a source of power”.24 A partir dessa
ótica é possível falar-se até de um fortalecimento da soberania.
(B) Os Meios
Sem que se haja convocado uma conferência de revisão da Carta para
redefinir o mandato do Conselho de Segurança, preocupações ligadas a
problemas humanitários, direitos humanos, terrorismo, a proteção da ordem
democrática, a não proliferação passaram a ocupar um espaço crescente em
sua agenda, redefinindo, em certa medida, o seu campo de ação. Nesse
processo o Capítulo VII foi posto a serviço de uma concepção de paz e
segurança internacionais menos tolerante em face da invocação de preceitos
como o da igualdade soberana dos estados ou o da não ingerência nos assuntos
internos, sobretudo quando levantados como escudo para justificar atos de
violência do estado contra o indivíduo, para acobertar o terrorismo, para
promover o armamentismo agressivo, para perpetuar formas flagrantes de
injustiça. Essa alteração do papel para o qual o Conselho fora originalmente
concebido leva Weiss e Gordenker a afirmar que estamos em face de “a
novel form of collective responses akin to collective security but not
easily contained in the original approach”.1 A sensação de uma alteração
de paradigma foi particularmente forte durante os primeiros anos do período
Boutros-Ghali, quando o Conselho autorizou um número sem precedentes
de ações sob o Capítulo VII. Os meios aplicados para a imposição ou
“enforcement” dessa concepção das funções do Conselho de Segurança
também foram inovadores, cabendo, a seguir, recapitular as formas que
163
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
assumiram, para completar o quadro dos fins e meios – os dois eixos de
acordo com os quais propus um exame do processo, em curso, de articulação
de um novo paradigma de segurança coletiva.
Duas expressões do jargão onusiano sintetizam a problemática da
utilização de operações de manutenção da paz como instrumentos da
imposição pela força de decisões do Conselho de Segurança: a travessia da
linha de Mogadício e o intraduzível “mission creep”. A primeira expressão se
refere ao que ocorreu na Somália, quando tropas da ONU encarregadas de
velar pela distribuição de assistência humanitária em meio à luta entre os clãs
somalis, abandonaram a doutrina não codificada da imparcialidade e do uso
da força apenas em auto defesa, fazendo abstração do consentimento das
partes, para tentar subjugar militarmente um dos beligerantes na guerra civil
local. A outra expressão se aplica a casos de transição mais sutil de um
mandato de manutenção da paz a formas de atuação coercitivas, como ocorreu
na ex-Iugoslávia quando a UNPROFOR passou a dispor do apoio armado
da OTAN, para defender um mandato progressivamente mais permeável ao
uso da força. Desnecessário insistir no fato de que, em ambos os casos, o
Conselho de Segurança passou por cima da distinção conceitual entre os
Capítulos VI e VII, ao tentar suprir a falta de forças designadas por arranjos
especiais para tarefas coercitivas – segundo o desenho original da Carta –
com um tipo de arranjo militar que se pautara até então (com exceção do
caso especial do Congo) por um comportamento não coercitivo.
O Suplemento a uma Agenda para a Paz de janeiro de 1995 procurou
racionalizar o desempenho controvertido da ONU na Somália e na Bósnia,
revendo algumas postulações do documento anterior, sem chegar a dissipar
inteiramente a confusão doutrinária por ele incentivada. Por exemplo, o SGNU
declararia que “[in Bosnia and Herzegovina and in Somalia] even though
the use of force is authorized under Chapter VII of the Charter, the United
Nations remains neutral and impartial between the warring parties,
without a mandate to stop the aggressor (if one can be identified) or
impose a cessation of hostilities”.2 Nada se dizia sobre o fato de que nem
o General Aideed nem a parte sérvia haviam encarado as forças da ONU
como imparciais, o que resultara em numerosas baixas na Somália e em
centenas de reféns na Bósnia. O Secretário-Geral reconheceria, não obstante,
que uma análise dos êxitos e fracassos da ação das Nações Unidas em casos
recentes revelava que as operações menos bem sucedidas eram aquelas onde
os três princípios do consentimento das partes, imparcialidade e o não uso
164
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
da força haviam sido postos de lado. Assim, o SGNU eventualmente concluiria
que “the logic of peace-keeping flows from political and military premises
that are quite distinct from those of enforcement; and the dynamic of the
latter are incompatible with the political process that peace-keeping is
intended to facilitate. To blur the distinction between the two can
undermine the viability of the peace-keeping operation and endanger its
personnel”.3
A reviravolta no pensamento de Boutros-Ghali é explicada, por alguns,
pelo fato de os redatores do Suplemento não haverem sido os mesmos da
Agenda, com a influência do DPKO e de Sashi Tharoor,4 em particular,
suplantando a de Vladimir Petrovsky. Ela pode ser atribuída também ao
desgaste que a ONU sofreu na Somália e na Bósnia. Entretanto, a admissão
pelo Secretário-Geral de que manutenção da paz e coerção convivem mal
não a por um ponto final na questão de saber como lidar com as crises
resultantes do desmembramento de países do leste da Europa e da União
Soviética ou com os chamados “Estados falidos” no terceiro mundo.
O que autores como John Gerard Ruggie, Gwyn Prins e Stanley Hoffman
estão argumentando é que o tipo de crise que vem sendo trazida ao Conselho
de Segurança na década de 90 está a exigir uma doutrina nova, e que algo
precisa ser construído para preencher o hiato conceitual entre a ação militar
coercitiva – por coalizões de países dispostos a se engajar em operações de
combate (como as que lutaram contra o Iraque ou as forças multinacionais) –
e as operações de manutenção da paz calcadas no tripé do consentimento,
imparcialidade, não uso da força. Ruggie considera que “it is in the Gray
area between peace-keeping and all-out war-fighting that the United
Nations has gotten itself into serious trouble”. E acrescenta que “the trouble
stems from the fact that the UN has misapplied perfectly good tools to
inappropriate circumstances”. Ele conclui pela necessidade de um debate
sobre um novo tipo de segurança coletiva, que seja capaz de equacionar de
forma satisfatória variáveis como as do trabalho tradicional das operações
de paz e da assistência humanitária em um todo mais sincronizado com os
atuais desafios. O seu enfoque defende o conceito de “não discriminação”
como o atributo principal da segurança coletiva multilateralizada e nesse sentido
é feita a advertência de que “great care should be taken to minimize
geographical, ideological or any other bias”.5
Gwyn Prins chama atenção para o desenvolvimento de novas doutrinas,
como a do “wider peacekeeping”, que embora situadas ainda no respeito
165
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
ao consentimento das partes distinguem entre a “tática” e a “estratégia” para
efeitos de uso da força.6 Como visto no subcapítulo sobre a ex-Iugoslávia,
este modelo correspondeu, em linhas gerais, ao que foi tentado nos Bálcãs
(embora a maior parte dos governos dos Estados membros da ONU não
estivesse necessariamente a par da existência da citada doutrina). Desenvolvida
pelo exército britânico, a “wider peacekeeping” exprime, segundo Prins,
mais do que um ponto de vista especificamente inglês e está em harmonia
com o “Army Field Manual” do Exército norte-americano (o FM 100-23
que por sua vez reflete a filosofia da PDD-25, visto no Capítulo3 (B)) e com
as ideias da França (documento A/50/869/ S/1996/71 de 30 de janeiro de
1996). Ela reflete, adicionalmente um processo de reflexão que se tem
beneficiado aparentemente de aportes da OTAN, e procura, de certa forma,
resolver o problema da área cinzenta apontada por Ruggie. Nos termos do
manual da doutrina, três definições seriam oferecidas para “peacekeeping,
wider peacekeeping, peace enforcement” respectivamente, centralizadas
no problema do consentimento. “Peacekeeping operations – operations
carried out with the consent of the belligerent parties in support of efforts
to achieve or maintain peace in order to promote security and sustain
life in areas of potential or actual conflict”; “wider peacekeeping – the
wider aspects of peace-keeping operations carried out with the general
consent of the belligerent parties, but in an environment which may be
highly volatile”; “peace enforcement – operations carried out to restore
peace between belligerent parties who do not all consent to intervention
and who may be engaged in combat activities”. O parágrafo 26 do manual
esclarece que o trânsito em direção à coerção deve ser um ato deliberado e
premeditado, que leve em consideração os riscos envolvidos e o tipo de
força requerido. A doutrina do “wider peacekeeping” alerta contra o perigo
de travessia inadvertida da fronteira entre a sua área de aplicação e a que
justificaria o “enforcement” (em uma reformulação do status da “Mogadishu
line”) e estabelece que “the choice should be made, at the outset, of which
course of action is going to be followed. (...) there will frequently be
temptations to mix the two approaches. Wider peacekeeping doctrine,
however, seeks to identify and guard against this danger”.
Uma outra abordagem, a da “vital force” desenvolvida por C. Conetta
e C. Knight para o “Commonwealth Institute’s Project on Defense
Alternatives” contempla a organização de unidades de força intermediária
sob o comando das Nações Unidas que viriam a constituir uma força de
166
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
reação rápida tanto para o “wider peace-keeping” como para ações
coercitivas.7 Prins entende que este tipo de enfoque se aplicaria às situações
especiais contempladas por Stanley Hoffman para intervenções da ONU: a)
a dos “estados falidos”; b) guerras civis, seja a pedido de um governo legítimo
que luta contra uma insurreição, seja contra um grupo que controla território
e combate um governo acusado de violações graves de direitos humanos; c)
guerras de secessão, quando um grupo étnico importante luta pela
autodeterminação; d) conflitos entre Estados onde não chegou a ser obtido
consentimento pleno.8
Uma das conclusões de Gwyn Prins que poderiam ser subscritas por um
segmento significativo de Estados membros, inclusive o Brasil, é de que “the
case for development of an explicit UN philosophy of peace enforcement
is (...) necessary for the better conduct of peacekeeping will thereby be
more sharply defined and thus protected from the sort of breakdown
which otherwise may occur”.9
No entanto, como observa David Lightburn, encarregado na OTAN da
política de manutenção da paz para a Aliança do Atlântico Norte, a única
base filosófica disponível para lidar com os problemas conceituais dos últimos
anos na área da preservação da paz e segurança internacionais são a Agenda
para a Paz de 1992 e o seu Suplemento de 1995. A conclusão de Lightburn
é assim complementar à de Prins: “the conceptual development of
peacekeeping is an area crying out for attention”.10
No Suplemento a uma Agenda para a Paz, Boutros-Ghali não incluiu
suas recomendações sobre a coerção (“enforcement action”) sob a rubrica
do “peacemaking” como fizera em 1992 (o que, diga-se de passagem,
estimulara precisamente o que ele agora criticava, ou seja, o esmaecimento
da distinção entre o trabalho das operações de paz e o das ações coercitivas).
Embora declarando-se favorável ao desenvolvimento de uma capacidade
própria para impor soluções mandatadas sob o Capítulo VII, o SGNU
afirmaria que “it would be folly to do so at the present time when the
Organization is resource-starved and hard pressed to handle the less
demanding peacemaking and peace-keeping responsibilities entrusted
to it”.11 No subcapítulo sobre “enforcement action” Boutros-Ghali acabaria
concedendo que a utilização da força em condições outras que a autodefesa
causava sérios problemas no contexto do trabalho das operações de paz.
Sobre a delegação de tarefas coercitivas aos Estados membros (as
“coalizões” que lutaram contra a Coreia do Norte e contra o Iraque, as forças
167
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
multinacionais que intervieram em Ruanda e no Haiti, ou mesmo as forças
individuais que agiram na Somália) Boutros-Ghali se confessa dividido. Se
por um lado este tipo de arranjo permite à Organização dispor de uma
capacidade coercitiva que não teria de outra forma – por nunca haverem
sido concluídos os acordos do Artigo 43 – além de ser preferível ao recurso
unilateral à força sem controle qualquer da ONU, por outro lado “the
arrangement can have a negative impact on the Organization’s stature
and credibility”.12 Boutros-Ghali advertia também para o risco de que os
Estados encarregados da coerção se aproveitassem da legitimidade conferida
pelo Conselho de Segurança para alcançar objetivos que não haviam, na
realidade, sido os do órgão. Embora passado em silêncio no Suplemento, o
aspecto financeiro fazia com que Boutros-Ghali aceitasse as forças
multinacionais como um mal necessário, já que, ao mesmo tempo em que
criavam a impressão de que a ONU se mobilizava, elas não eram custeadas
pela Organização. Não foram tratadas tampouco outras questões
merecedoras de análise, como as da necessidade de garantir uma
representatividade na composição das chamadas forças multinacionais para
que elas possam fazer jus a esse nome, e a importância do apoio regional aos
seus eventuais objetivos (condições que não estiveram necessariamente
presentes nas intervenções em Ruanda e no Haiti).
Sobre o papel da OTAN na ex-Iugoslávia, Boutros-Ghali declararia que
“much effort has been required between the Secretariat and NATO to
work out procedures for the coordination of this unprecedented
collaboration. This is not surprising given the two organizations’ very
different mandates and approaches to the maintenance of peace and
security”.13
A despeito dos mandatos diferentes, a implosão da União Soviética fez
com que a inexistência de um inimigo levasse a OTAN a examinar seriamente
a possibilidade de assumir papel mais ativo no que David Lightburn chama
de “multifunctional and effective response[s] from the international
community” para lidar com “the complexity of some security and
humanitarian situations”.14 Esta busca de uma nova identidade confronta
os não aliados com a interessante questão de saber se a OTAN continuará a
justificar sua existência com base no Artigo 51 da Carta ou tenciona se
transformar em um arranjo regional no sentido do Capítulo VIII. A implicação
óbvia é de que, o Artigo 51 faculta ações em auto-defesa mas não permitiria
à OTAN atuar “out of area”, enquanto o Capítulo VIII conferiria aos aliados
168
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
maior liberdade de ação na região europeia de modo geral, eventualmente no
território coberto pelos países membros da OSDE, desde que o Conselho
de Segurança mantivesse a última palavra na autorização do uso da força.
Chris Coleman (EUA) do Departamento de Operações de Paz do
Secretariado da ONU garante que a OTAN não tem interesse em agir fora
de sua área de defesa sem obter autorização explícita do Conselho de
Segurança, pois não desejaria que Moscou fizesse o mesmo para a proteção
de seu entorno geográfico. Não obstante, constata-se que a OTAN está
dedicando consideráveis recursos humanos e materiais para a elaboração de
planos para intervir como força de paz fora da área definida pelo Artigo 6 do
Tratado do Atlântico Norte. Como diz Lawrence Kaplan “of all the
challenges of the 1990’s NATO’s ‘out-of-area’ involvement could well
offer the greatest potential for justifying its survival”.15
Kaplan estima que, embora em um sentido literal possa não existir base
jurídica para a atuação da OTAN fora de sua área de defesa, o Artigo 4 do
Tratado constitutivo da aliança pode ser interpretado de forma flexível como
fornecendo latitude aos aliados a agir mesmo quando não há um ataque direto
a seus territórios.16 A Guerra do Golfo estimulou os aliados a contemplar a
expansão dos horizontes de ação da aliança, segundo Kaplan, e o papel da
OTAN na ex-Iugoslávia consolidou essa tendência. A OTAN está trabalhando
desde 1993 com a Áustria, Finlândia, Malta, Suécia, Eslovênia, Irlanda e os
ex-membros do Pacto de Varsóvia para a promoção de um melhor
entendimento sobre questões humanitárias relevantes para operações de
manutenção da paz. Com o estabelecimento do “parntership for peace” em
janeiro de 1994, ficou decidido que um de seus objetivos seria o
desenvolvimento de uma capacidade de prontidão para contribuir a operações
sob a autoridade da ONU ou da OSCE.
Segundo David Lightburn, que participa de um grupo de reflexão sobre
a matéria na OTAN, a aliança não está interessada na manutenção da paz no
sentido tradicional. No seu entender “the area of multifunctional peacekeeping is where, conceptually, NATO might usefully concentrate its
efforts. While peace enforcement too could usefully engage the
capabilities of the Alliance”. Embora ele se preocupe em esclarecer que a
aliança não está assumindo compromisso algum nesse sentido, ele confessa
que a OTAN examina a possibilidade de cooperação com outras regiões “in
a narrow sense, it might be possible to offer assistance to a neighboring
region, the OAU for example or perhaps the CIS. (...) perhaps NATO
169
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
infrastructure could be used to support individual allies in any efforts to
assist other regional organizations”.17
A julgar pelo investimento requerido para a expansão da OTAN para o
leste, que poderá custar cerca de três bilhões de dólares por ano nos próximos
dez anos segundo “The Economist”,18 e em vista da dificuldade em se conseguir
que os EUA paguem um bilhão em atrasados à ONU, tudo indica que a
OTAN está se preparando para ocupar um nicho no mercado da segurança
coletiva autorizada ou não pelo CSNU. Se os informes que dão conta do
estabelecimento de mecanismos de coordenação entre a OTAN e a
Federação Russa são verdadeiros, estaria se constituindo uma instância com
ambições na esfera da segurança coletiva da qual só ficaria excluído um dos
cinco membros permanentes. Lightburn garante que a OTAN não tenciona
agir sozinha “it seeks no monopoly and is ready and willing to act in
cooperation with other UN member States”.19 A rigor, entretanto, ou todos
os membros da ONU passam a fazer parte da OTAN para que ela possa se
transformar em braço armado para ações do Capítulo VII, ou ela se resigna
a só atuar na Europa após se haver convertido em arranjo regional do Capítulo
VIII, sujeita às condições e à supervisão do Conselho de Segurança aplicável
aos arranjos internacionais que se definem como tais. Se não houve maiores
objeções à atuação da aliança fora da área definida no Tratado do Atlântico
Norte no Iraque e na ex-Iugoslávia, o fato de aqueles dois cenários serem
contíguos aos territórios de dois aliados (Turquia e Itália) terá certamente
influído na aquiescência do Conselho de Segurança. Outros problemas
diplomáticos e jurídicos precisariam ser examinados se a OTAN decidisse
intervir em Ruanda, no Camboja, em El Salvador.
David Lightburn vê perspectivas promissoras de contribuição da OTAN
ao desenvolvimento pelo Secretariado da ONU de um sistema de “standby”
para a obtenção, em regime de urgência, de tropas para participação em
operações da ONU. O conceito está sendo aperfeiçoado pelo Secretariado
em consulta com um grupo de quase cinquenta países, entre os quais o Brasil,
e treze dos dezesseis aliados da OTAN. Esse empreendimento não visa
preencher o papel dos acordos de Artigo 43 para ações de Capítulo VII, e
sim agilizar o desdobramento de tropas da ONU para operações de
manutenção da paz. Um subproduto importante do exercício são os
preparativos para a constituição de uma Unidade de Estado-Maior de
Deslocamento Rápido (Rapidly Deployable Headquarters Unit), que
poderá vir a atuar como um escalão avançado, capaz de se posicionar com
170
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
um mínimo de antecedência. O RDMHQ permaneceria na região de três a
seis meses, sendo substituído gradualmente por uma administração militar de
mais longa duração. De acordo com o último relatório do Secretário-Geral
sobre as forças standby, o RDMHQ será acionável a partir do ano em curso.
A iniciativa decorre de estudos preparados pelo Canadá e Países Baixos e
passou a ser discutido em um grupo informal auto-intitulado “amigos da reação
rápida”, que já se reuniu à margem da Assembleia Geral duas vezes em nível
ministerial, a segunda das quais, em 1996, com a participação do Ministro
Lampreia. O entendimento manifesto dos participantes é o de que esses
arranjos se destinam exclusivamente a atividades inseridas no respeito ao
consentimento das partes, imparcialidade e não uso da força. A associação
de numerosos integrantes da OTAN ao empreendimento, entretanto, não
permite que se exclua a hipótese de que pelo menos alguns dos participantes
no standby e no “RDMHQ” venham a contemplar sua eventual utilização
para missões impositivas.
Como as demais regiões do mundo não possuem cada qual sua OTAN,
as assimetrias existentes afetam necessariamente o debate sobre o
equacionamento adequado das componentes regional e universal da segurança
coletiva. Algumas reflexões interessantes sobre regionalismo e segurança
internacional são propostas por M. Alagappa, segundo quem a força dos
organismos regionais, em contraste com a das alianças defensivas, reside em
seu poder diplomático. Para fazer face a crises que ameaçam a paz e segurança
internacional os organismos regionais requererão ou a assistência de uma
potência militar ou das Nações Unidas. A estratégia da internacionalização
(como visto no caso do Haiti) limitará o controle do organismo regional sobre
o desenlace da crise e cerceará sua liberdade de ação. Estas considerações
levam Alagappa a sugerir que a eficácia da instância regional na contenção ou
no término de um conflito tende a ser menor do que sua eficiência preventiva
(as alianças defensivas se concentrarão, obviamente, na contenção e derrota
do agressor). Em casos de conflito interno, por outro lado, a orientação
protetora do status quo dos mecanismos regionais tenderá a fazer com que
eles favoreçam os detentores do poder. Enquanto estes gozarem de
legitimidade (interna e internacional) não haverá problemas. Mas em situações
onde ocorre o oposto, o apoio do organismo regional ao poder estabelecido
poderá intensificar o conflito. Em contrapartida o apoio a facções irredentistas,
por mais justas que sejam suas causas, cria o risco de deslegitimar o organismo
regional, na medida em que o torna passível de acusação de interferência
171
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
indevida em assuntos internos ou agente da subversão. Esses dilemas levam
Alagappa a concluir que a melhor estratégia para os organismos regionais em
casos de guerra civil é a da não intervenção, do eventual isolamento por meio
de sanções, da pressão diplomática e da possível utilização dos bons ofícios
das Nações Unidas.20
O caráter crônico da instabilidade na África, no entanto, está levando
potências de fora do continente a tentar estabelecer um instrumento regional
de ação militar para poupar as Nações Unidas (ou potências individualmente)
de ter que lidar com futuras Somálias e Ruandas. A proposta norte-americana
de criação de uma “African Crisis Response Force” (ACRF) representa um
esforço de utilização de forças armadas africanas para, em coordenação com
a ONU e sob a égide da OUA, fazer face a crises como as que se avolumam
nos horizontes do Burundi e Serra Leoa. Não é fácil avaliar até que ponto
uma força financiada pelos EUA e outros doadores de fora do continente
conseguirá ser percebida como autenticamente africana, apesar do apoio
declarado do Secretário-Geral da OUA e de diversos governos africanos a
seu estabelecimento. A relutância francesa em participar do empreendimento
reflete provavelmente a percepção de que ele se inscreve no quadro de um
projeto norte-americano para a consolidação de sua penetração econômica
e política na África, com o apoio de países anglófonos (Zimbábue, Uganda,
Botswana, Gana e Quênia efetivamente manifestaram simpatia pela iniciativa).
Os EUA concebem a força como uma “standby force” e não uma “standing
force” cujo mandato se definiria pelo Capítulo VI e não VII.21 Sua atuação
emergencial seria normalmente substituída por uma presença menos provisória
da ONU, e o processo como um todo seria objeto de decisões do Conselho
de Segurança. Sem prejuízo de uma avaliação mais conclusiva sobre os méritos
da proposta, pode-se afirmar como Alagappa que “regionalism has
considerable potential, it also suffers severe limitations. On its own
regionalism will be ineffective in ensuring the security of participating
countries. It has to be viewed as part of a package that includes national
self-help, regional and global balances of Power, alliance with extraregional powers, and the UM collective security system. The salience of
each of these elements and the ‘right’ combination will vary with the
circumstances of each country”.22
Fonte do Secretariado encarregada dos assuntos tratados no Comitê de
Operações de Paz é de opinião que “the Charter is broad enough and
flexible enough to handle what is going on here”, querendo com isto dizer
172
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
que não lhe parece recomendável procurar emendar a Carta para estabelecer
com maior precisão quando a coerção é admitida e quando ela é inadmissível.
Com o pedido de não ser citada, a mesma fonte acrescentou que, são poucos
os países capazes de entender o que está acontecendo e dialogar de forma
coerente sobre as dificuldades políticas, jurídicas, militares do Conselho de
Segurança em sua atuação após a Guerra do Golfo. Acrescentou que pelo
menos noventa países não têm interesse ou não têm condições para se tornar
contribuintes de tropas. Adicionalmente observou que, do ponto de vista de
um contribuinte de tropas, o importante hoje em dia não é verificar se
determinada resolução faz referência ou não ao Capítulo VII, e sim ter a
capacidade de descobrir se as condições específicas a serem enfrentadas
por determinada operação comportam ou não o uso da força. Para ilustrar
sua afirmação, comentou que as resoluções para a implementação dos Acordos
de Dayton na ex-Iugoslávia (que como se sabe foram adotadas com base no
Capítulo VII) estão sendo interpretadas pela IFOR em um sentido
predominantemente não coercitivo, como atesta o fato de elas se recusarem
a aprisionar os indiciados pelo Tribunal Internacional da Haia.
Mas a mesma fonte afirma que, justamente porque metade dos membros
da ONU está à margem do processo em andamento de adaptação do
Conselho de Segurança aos desafios de um mundo em transição, é essencial
que o Conselho seja um órgão representativo e não reflita apenas as
preferências de algumas potências. Na sua opinião os atores centrais na
articulação das novas ideias são o Conselho de Segurança e o Secretariado,
com os países contribuintes de tropas tentando se fazer ouvir e nem sempre
conseguindo. Embora menos do que nas áreas econômica e social, os atores
não governamentais passaram a influenciar também a esfera da segurança.
Na seção seguinte examinaremos o papel desses e outros atores, terminando
com uma reflexão sobre o papel do Brasil.
(C) Os atores
Em um mundo marcado pela unipolaridade na esfera estratégico-militar,
as reações do Conselho de Segurança aos acontecimentos mundiais são
influenciadas mais do que antes pelas atitudes dos Estados Unidos, e essa
constatação adquire contornos particularmente enfáticos no que se refere a
decisões relacionadas ao Capítulo VII. Como afirmam Weiss, Forsythe, Coate
ao descreverem a ação do Conselho de Segurança nos anos noventa “the
173
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
UN’s probability of firm reaction was in almost direct proportion no the
interest that the United States took in the situation and Washington’s
willingness to act”.1 Entre o ano de 1988, quando Ronald Reagan
abruptamente alterou postura anterior e passou a elogiar o trabalho da ONU
e especialmente o das operações de paz, e a morte dos rangers na Somália,
em outubro de 1993, os EUA sinalizaram com uma disposição política
relativamente firme em apoiar as Nações Unidas. O fim da Guerra Fria e o
desenlace da Guerra do Golfo afetaria muito positivamente a imagem da ONU
nos EUA. Quando Boutros-Ghali assumiu a Secretaria Geral da Organização
em janeiro de 1992 o sentimento predominante era o de que havia chegado
o momento das Nações Unidas. Mas, como aponta Benjamin Rivlin, “this
euphoria evaporated as the UN operations in Bosnia, Somalia, and
Rwanda faltered”.2 O trauma nacional causado pela morte de dezoito
“rangers” na Somália deixou sequelas profundas. A campanha desferida pelo
governo norte-americano contra a reeleição de Boutros-Ghali, pode ser vista
como a expressão desse desencanto, com o Secretário-Geral assumindo o
papel de alvo de um sentimento de frustração pelo qual ele era responsável
apenas indiretamente.
Durante seus primeiros meses na Casa Branca o Presidente Clinton deu
sinais de estar preparando-se para ampliar a participação norte-americana
nas operações de paz da ONU. Por um breve período (identificado por
Rivlin como o do verão de 1993)3 membros de ambas as Casas do Congresso
apoiaram um engajamento maior do país em iniciativas de paz da ONU. A
Somália poria fim àquele consenso emergente, calando as vozes pró-ONU
do Capitólio. O já citado “Presidential Decision Directive” de maio de
1994 (PDD-25), restringiria o apoio dos EUA ao trabalho de manutenção
da paz, refletindo na avaliação de Lawrence Finkelstein “a narrower, much
more selfish concept of what is in the UN for the United States than
motivated the pioneers of US departure from isolationism in favor of an
active international role”.4 Esta volta-face não chegou a significar um
distanciamento sem qualificação em relação à ONU. Mas sintomático do
novo ambiente foi o fato de haverem sido omitidas referências à ONU durante
o processo de mobilização de apoio para a implementação dos Acordos de
Dayton e o envio de tropas norte-americanas para a Bósnia. A OTAN, seria,
em compensação, abundantemente mencionada nesse contexto.
Passada a eleição presidencial, em que os democratas adotaram uma
atitude de deliberada indiferença em relação à ONU para não perder votos
174
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
conservadores – e no processo imolaram Boutros-Ghali – o pêndulo da
oscilante relação EUA-ONU parece voltar para o centro. O novo SecretárioGeral havendo sido eleito para o cargo com apoio decisivo de Washington,
chegou a ser recebido com sorrisos pelo Senador Jesse Helms em recente
visita à capital norte-americana, embora o pagamento dos atrasados continue
a depender de “reformas” que Kofi Annan terá que promover. A promoção
da Embaixadora Albright a Secretário de Estado pode ser vista como
potencialmente benéfica para a cooperação entre os EUA e a organização.
No que se refere à segurança coletiva, entretanto, a ênfase atribuída à
ampliação da OTAN, motivo de seu primeiro périplo ao exterior, e, nesse
contexto, a importância conferida ao estabelecimento de uma relação não
antagônica entre Moscou e a aliança não ajuda a esclarecer quais são as
intenções norte-americanas em relação ao futuro do CSNU. Segundo
depoimento de Jeff Laurenti da bipartidária “United Nations Association of
the United States of America”, referências às Nações Unidas no último
discurso de Clinton sobre o estado da união só foram incluídas por forte
insistência do Departamento de Estado. O mesmo interlocutor se mantém
cético em relação à contribuição para o futuro das Nações Unidas que pode
ser esperada da ex-Representante Permanente dos EUA junto à ONU no
novo cargo que ocupa.5 No tocante a questões de segurança não se pode
esquecer que ela conquistou a simpatia do partido republicano com
declarações como a de que “we want a stronger UN but we are not about
to substitute elusive notions of global collective security for battle-proven
and time-tested concepts of unilateral and allied defense”.6 Como resume
Rivlin “the Clinton administration has one eye on actually reforming the
UN – not destroying it, and another eye on placating the US Congress,
where hostility towards the United Nations and skepticism regarding its
reform are prevalent”.7 Discurso da Embaixadora Albright perante o Grupo
de Trabalho sobre o Fortalecimento da Organização em janeiro de 1996
parece sintetizar seu pensamento inclusive no tocante ao enquadramento de
um compromisso renovado com a OTAN no contexto das relações de
Washington com a ONU “A reformed UN (...) would be the key actor
when its universality and expertise enable it to fulfill roles that other
organizations and arrangements cannot. But it would serve more often
as one partner among many in responding to global challenges”.
Se no tratamento de assuntos de segurança regional e internacional o
centro do diálogo entre Washington e Moscou parece se haver transposto
175
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
para a negociação de um entendimento OTAN ampliada/Federação Russa,
é possível que o Conselho de Segurança permaneça um foro de importância
relativamente maior para a interação diplomática entre os EUA e a China.
A China tende a adquirir um protagonismo maior para a articulação de
respostas do Conselho de Segurança às questões que lhe são trazidas. Suas
frequentes abstenções em relação à votação de medidas de Capítulo VII
representam a nota de maior dissonância crônica no “consenso” que se tem
mantido entre os P-5 desde a Guerra do Golfo.8 A delegação chinesa tem
atuado como um freio ao processo de articulação de um novo paradigma
tanto no eixo dos fins como dos meios. O Conselho só não assumiu uma
postura mais militante no campo dos direitos humanos por resistência chinesa,
por exemplo. Por insistência da China a resolução 836 de 4 de junho de
1993, que sob o Capítulo VII permitiu que a UNPROFOR protegesse as
“safe areas” na Bósnia, explicitou que as tropas da ONU só usariam a força
em autodefesa. A China foi o único membro permanente a se abster em relação
às resoluções que autorizaram o uso da força em Ruanda e no Haiti. Pequim
tem mantido reservas em relação à imposição de sanções não militares e
defende ativamente a modificação no sistema de término das mesmas.
Desde que o Primeiro-Ministro Li Peng afirmou ao Conselho de
Segurança reunido em nível de Chefes de Estado e Governo que o mundo
caminhava em direção à multipolaridade – em desafio àqueles que, como
Krauthammer, sublinhavam o “momento unipolar” vivido pelos EUA – a China
só tem adquirido maior poder econômico e militar, passando a ser considerada
a potência mundial em ascensão por excelência. Robert Ross argumenta que,
se as relações internacionais no pós-Guerra Fria não se consolidaram ainda
segundo blocos antagônicos rígidos, e existe todavia a possibilidade de se
estabelecer uma ordem mundial estável, o sine qua non para tal ordem é a
participação chinesa em sua criação.9 O Conselho de Segurança, caberia
acrescentar, permanecerá o foro essencial de atuação chinesa nesse processo,
já que ela não faz parte nem do G-7, nem é candidata a associação à OTAN.
Em contraste com a China, a Federação Russa é uma ex-superpotência
em vias de se transformar em uma potência regional. Sherman Garnett comenta
que o exército russo “has conducted the largest strategic withdrawal in
history”.10 O New York Times observava, em agosto de 1996, que “few
great powers have ever looked as helpless as Russia does today in
Chechnya.(...) The blow to the Russian armed forces is staggering, almost
unimaginable for a military machine that just a few years ago was
176
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
respected and feared around the world”.11 O Chanceler Primakov insiste
em que a Rússia permanece uma grande potência com interesses
multifacetados, e de fato seu arsenal nuclear e seu lugar permanente no
Conselho de Segurança justificam tais declarações.12 A Federação Russa
chegou a flexionar seus músculos em certos episódios da crise dos Bálcãs,
sobretudo quando se deu conta de que a Croácia estava se armando
clandestinamente e os muçulmanos da Bósnia usando as “safe areas” como
ponto de partida para investidas militares – em violação a resoluções do
Conselho de Segurança – com a anuência norte-americana. Foi assim que a
Federação Russa vetou projeto de resolução que tinha por objetivo impedir
o fornecimento de petróleo aos sérvios da Krajina através da Bósnia em fins
de 1994. Mas, apesar da solidariedade pan-eslava, Moscou concordou com
as sanções econômicas contra Belgrado e os bósnios sérvios, e acabaria
aceitando um papel coadjuvante menor na implementação dos Acordos de
Dayton, como associada da OTAN. Há quem duvide até se a Federação
Russa será capaz de preservar sua influência junto às ex-Repúblicas Soviéticas.
O Embaixador Thomas Pickering observa a esse respeito que “we do not
believe that Russia will devote its very scarce resources to complement a
grandiose plan of wide CIS integration”.13 Algumas novas repúblicas,
ademais, demonstram crescente desembaraço e independência, como Ucrânia
e Uzbequistão, enquanto outras potências menores, sobretudo Irã e Turquia,
se afirmam na área.
Moscou continuará durante algum tempo, por razões históricas, a dispor
de um capital diplomático superior a sua força econômica, como membro da
troica de mediadores para o conflito angolano, como interlocutor privilegiado
de regimes com os quais cultivou laços de amizade no Oriente Médio, etc.
Mas o comportamento russo no Conselho de Segurança se define hoje
sobretudo em termos de uma preocupação em manter o máximo possível de
influência sobre o entorno geopolítico da região coberta pela ex-União
Soviética. Chris Coleman do Departamento de Operações de Paz comenta,
a esse respeito, que o apoio russo à intervenção comandada pelos EUA no
Haiti foi dado na clara expectativa de que as potências ocidentais respeitariam
ações equivalentes da Rússia na Geórgia ou Tadjiquistão. Nesse sentido, a
atitude de Moscou na articulação de respostas do Conselho aos novos
desafios que lhe são trazidos tenderá a se orientar menos por posições de
princípio do que por um interesse em seu papel legitimador da consolidação
de esferas de influência.
177
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
França e Reino Unido compõem com os EUA o núcleo ocidental que
tem dominado politicamente a ação do Conselho de Segurança no pós-Guerra
Fria, o chamado P-3. Enquanto os EUA se distinguem por sua supremacia
inconteste no plano militar, a China é a potência em ascensão, e a Federação
Russa a ex-superpotência que redimensiona em termos regionais suas
ambições, os assentos permanentes de França e Reino Unido lhe permitem
exercer no Conselho de Segurança uma liderança diplomática em nome da
Europa que caberia logicamente à Alemanha reunificada, mas que, até ser
encontrada uma fórmula para a ampliação do Conselho de Segurança,
continuará, ao que tudo indica, sendo desempenhada com grande desenvoltura
e competência por Londres e Paris. As dúvidas sobre a legitimidade da
situação dos dois países europeus no Conselho tendem a aumentar, entretanto,
como leva a crer a posição assumida recentemente por Samuel Huntington
em “The Clash of civilizations”: “it would be appropriate to consolidate
the British and French seats into a single European Union seats, the
rotating occupant of which would be selected by the Union”.14 Em sua
militância contra a atribuição do status de membro permanente à Alemanha,
a Itália também tem questionado a perspectiva de três assentos para a União
Europeia, sem furtar-se a lembrar que o PIB da Itália é maior que o inglês.
Desentendimentos entre os P-3, embora pouco habituais, tem sido mais
frequentes do que se imaginaria. A ex-Iugoslávia submeteu os aliados a duras
provas. Como visto, os europeus ficaram do lado dos sérvios na controvertida
tentativa de levantamento parcial do embargo de armas promovida pelos
EUA e pelo mundo islâmico. As diferenças entre os aliados europeus e os
EUA em relação aos ataques aéreos da OTAN na Bósnia criariam tensão
intermitente entre os dois lados do Atlântico, com Londres e Paris sofrendo
na pele de suas tropas na UNPROFOR os efeitos da política norte-americana
favorável a airstrikes contra posições sérvias. As ásperas críticas de Sir
Michael Rose e Lord Owen às idas e vindas da administração Clinton em
matéria de ex-Iugoslávia revelam uma independência em relação aos EUA
que talvez mereçam ser consideradas como mais do que opiniões isoladas, e
façam parte de uma resistência mais profunda da Europa em aceitar o que os
franceses não se furtam a chamar de atitude “imperial” da América do Norte
em seu momento unipolar. Britânicos e franceses enfrentaram a Embaixadora
Albright em sua campanha contra Boutros-Ghali votando a favor de sua
recondução, e na Organização Mundial de Comércio atacam a lei HelmsBurton.
178
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
A delegação francesa junto à ONU tem confessado repetidamente à
brasileira que está cansada do “unilateralismo” de Washington no Conselho
de Segurança, atitude que poderá se agravar com a crescente rivalidade entre
anglófonos e francófonos na África equatorial e austral. A esse respeito, o
assessor militar adjunto do Secretário-Geral General Chauvet de Beauchêne
– de nacionalidade francesa – chegou a acusar os EUA de não terem
compromisso com a integridade territorial do Zaire e de estarem fomentando
uma crise de grandes proporções na África. O “Le Monde Diplomatique” de
fevereiro de 1997 reflete bem esse clima ao enumerar as ações “imperiais”
dos EUA, e assinalar que “les Etats-Unis ont de plus en plus tendance à
agir sur l’échiquier planétaire (en particulier en Afrique noire) en fonction
de leurs propres critères et pour servir leurs seuls interêts, sans trop se
soucier de l’avis d’instances internationales comme L’Organisation des
Nations Unies. C’est pourquoi souverainement ils imposent des sanctions
économiques à Cuba, à la Lybie ou à l’Iran; ils se sont arbitrairement
opposés à la reconduction de M. Boutros-Ghali. Et ils viennent de rejetter
fermement (...) la légitime demande de la France de voir le
commandement Sud de l’OTAN attribué à un officier européen. Dans
leur propension à l’hégémonie, les États-Unis en arrivent même (...) à
réclamer que la législation américaine ait une application
extraterritoriale”. A pergunta com que conclui o artigo não seria concebível
no imediato pós-Guerra do Golfo quando a França, o Reino Unido e os
EUA interpretaram unilateralmente a resolução 688 como autorizando-lhes a
estabelecer uma zona de proibição de tráfego aéreo no norte e no sul do
Iraque: “les Etats-Unis peuvent-ils poursuivre sans risque de conflit
majeur à moyen terme, leurs arrogantes prétentions impériales?”15
Pela sua inegável capacidade de formulação de conceitos e
desenvolvimento de doutrina, os ingleses e franceses influem tanto nas
reinterpretações da Carta que permitem enquadrar um número maior de
situações sob o Capítulo VII, como na definição de estratégias militares como
a do “wider peacekeeping” ou das “safe areas”. Ao mesmo tempo, a
intervenção francesa em Ruanda deixou claro que, apesar de seu poder relativo
declinante, Paris possui uma agenda internacional própria – como também a
possui Londres nos países do Commonwealth – e não exclui a hipótese de se
servir do Conselho de Segurança para promovê-la.
Entre os membros não permanentes do Conselho de Segurança, os que
tem contribuído tropas para missões de paz e confrontado dificuldades no
179
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
terreno em conflitos recentes são provavelmente os que melhor avaliam a
nova gama de problemas relacionados à segurança coletiva após a Guerra
do Golfo. Entre esses, os que são membros da OTAN ou dispõem de um
estamento militar sofisticado e experiente possuem uma clara vantagem
comparativa nos debates que hoje se travam no CSNU. Os membros não
permanentes se organizam em grupos, seja por sua participação no Movimento
Não Alinhado, seja por se considerarem particularmente afetados por um
assunto e formarem um núcleo de “amigos” de uma questão. Um grupo
adicional, que dependendo da configuração do Conselho em dado momento
pode ser bastante heterogêneo, é constituído pelos que não são nem membros
permanentes nem integram o MNA, os chamados “non-non” (designação
aplicável por exemplo a Brasil, Nova Zelândia ou República Tcheca). Segundo
a dinâmica que se estabeleceu já no fim dos anos oitenta quando foi negociado
o cessar-fogo Irã-Iraque, os membros não permanentes do Conselho na
maioria das vezes só são consultados depois que os P-5 acertaram entre si
os ponteiros, o que aliás pode haver começado como um entendimento entre
os três membros permanentes ocidentais ou entre os EUA e um dos P-5,
para posteriormente abarcar os demais (a integração da China no consenso
dos P-5 tende a ficar para o final). Este processo negociador não raramente
relega os membros não permanentes a pouco mais do que observadores de
negociações para a adoção de projetos de resolução e declarações
presidenciais. Mesmo assim, alguns países demonstram capacidade de
interagir de forma criativa e até de influir no tratamento de determinados
assuntos. A atuação brasileira nos casos do Haiti, de Angola e Moçambique
pode ser incluída nessa categoria. Os islâmicos, com o apoio do “caucus”
não alinhado do CSNU, exerceram inegável pressão diplomática para defender
os interesses do governo bósnio em estreita coordenação com o Embaixador
Sacirbey da Bósnia e Herzegovina ao longo da crise na ex-Iugoslávia. A
Nova Zelândia assumiu liderança na redação do estatuto do Tribunal
Internacional para Ruanda. Esta última, juntamente com Argentina, Brasil e
outros não permanentes, foi ativa na promoção de métodos mais transparentes
e organização mais racional dos trabalhos do CSNU, e tem conseguido
aprimorar os mecanismos ainda ad hoc de consultas entre o CSNU o
Secretariado e os contribuintes de tropas não membros do Conselho de
Segurança – sem dúvida uma das áreas em que tem havido progressos
significativos. O Movimento Não Alinhado procura se manter vivo e unido,
apesar de haver desaparecido o mundo bipolar que lhe deu origem. Por falta
180
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
de outra instância de coordenação política entre países em desenvolvimento
o MNA acaba atuando como um interlocutor mais relevante do que seria de
supor-se. Quando se trata de decidir se o Conselho recorrerá ou não ao
Capítulo VII, entretanto, a força motriz do processo decisório é, sem dúvida,
a das principais potências, e, sobretudo, a da principal entre elas, com o
Secretariado fornecendo os insumos e pareceres que abrem o caminho para
as decisões específicas, como visto no caso do Haiti.
O papel do Secretariado é de indiscutível importância. Os debates nas
consultas informais do Conselho de Segurança quase sempre se focalizam
nas observações dos relatórios periódicos que o Secretariado apresenta, e o
Secretário-Geral não raras vezes faz aparições para opinar ou transmite
informações e sugestões por seus Representantes Especiais. Em que pese ao
distanciamento progressivo que se instaurou entre a delegação norte-americana
e Boutros-Ghali, seus relatórios costumavam levar em consideração as
preferências de Washington e abriram caminho para as intervenções norteamericanas na Somália e no Haiti segundo modalidades previamente
esclarecidas com os EUA. Também a intervenção francesa em Ruanda se
beneficiou, como vimos, de relatório do Secretário-Geral que lhe preparava
o terreno. No caso da ex-Iugoslávia as dificuldades foram de dimensão
incomparavelmente maior em vista dos desentendimentos entre os membros
permanentes ocidentais. Mas Boutros-Ghali não hesitou a reeditar relatório
em fins de 1995 “for technical reasons” para reformular proposta que não
havia sido bem recebida pelos EUA de estabelecimento de uma força
multinacional na Eslavônia Oriental croata, quando Washington queria que,
nesse caso particular, a missão fosse atribuída a força da ONU, e assim
ocorreu.
Pela experiência como responsável pelo Departamento e Operações de
Paz durante os anos de mais intensa e complexa atividade da ONU nesse
campo, o Secretário-Geral Kofi Annan chega ao cargo com credenciais
dificilmente igualáveis na compreensão das intrincadas questões de comando
e controle, obtenção de tropas e apoio logístico, reembolso, integração de
diferentes componentes de uma operação em um todo coerente e, certamente,
do uso da força. Suas ideias estão resumidas em recente palestra pronunciada
em Halifax, no centro de treinamento canadense para operações de paz,
intitulada “Peace Operations and the United Nations: preparing for the
next century”. Nesse texto ele rejeita a noção de que, em vista das dificuldades
enfrentadas na Bósnia e na Somália, a ONU deve doravante se resignar a
181
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
evitar envolvimento em certos conflitos. Na sua opinião a opção do não
envolvimento inexiste, em parte por causa da pressão da mídia sobre as
opiniões públicas (o fator “CNN”), e em parte porque a inação deixa o campo
aberto para a intervenção de outros atores menos legítimos que correm o
risco de agravar a situação. A escolha é portanto entre “legitimate
involvement and other more ominous forms of intervention”. Na sua
avaliação “absent a concerted effort to strengthen the United Nations as
the centre for harmonizing interests and implementing the wishes of all
the Members, it will be only a matter of time before a great power comes
to the Council seeking official blessing for its intervention, is denied this
blessing, and takes unilateral action”.16 Sem pretender soar excessivamente
alarmista, Annan prevê, não obstante, um futuro preocupante se a ONU aceitar
o não envolvimento.
De especial interesse são suas afirmações sobre segurança coletiva.
Annan tenta apresentar a acomodação de interesses nacionais conflitantes
por meio de mecanismos institucionais aceitáveis por todos como uma opção
pragmática, mas sem deixar dúvidas quanto à necessidade de se chegar a um
enfoque mais sistêmico sobre segurança coletiva. A julgar por algumas de
suas ideias específicas (como a do “consentimento induzido”, exposta no
Subcapítulo sobre a ex-Iugoslávia), ele está disposto a reexaminar conceitos
consagrados e buscar novas direções. Ainda que algumas de suas postulações
exijam exame cuidadoso no detalhe, os contornos gerais de sua visão parecem
responder às exigências do momento, quando ele afirma que “[We] will
require an effective system of collective security (one element of which
would be peacekeeping) at the disposal of the Security Council. To think
in terms of a system means to stop thinking of each individual case as if
it existed in isolation, and to Begin to think of an overall framework
which would pre-empt the need for so many new operations. An effective
system of collective security would rest on three essential elements:
consistent and timely response, resources, and sustained commitment”.17
Boutros-Ghali já salientara com aprovação, em sua Agenda para a Paz,
que um número crescente de atores não governamentais estavam prestando
uma contribuição crescente para aumentar as possibilidades de êxito da segurança
coletiva.18 Farouk Mawlawi argumenta que, em uma ordem que tende para a
multipolaridade, os atores não governamentais assumem maior proeminência
até no contexto diplomático da promoção da paz e segurança internacionais.19
Eventualmente uma figura de renome internacional, como o ex-Presidente Jimmy
182
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
Carter, poderá negociar um cessar-fogo, como ocorreu na ex-Iugoslávia, ou
dialogar com interlocutores propositalmente evitados por agentes
governamentais. Tais intervenções, entretanto, correm o risco de não alcançarem
seus objetivos se não forem coreografadas com representantes governamentais
(o que certamente não terá sido o caso em relação às iniciativas de Jimmy
Carter). A atuação não governamental na área humanitária, embora não vise
substituir a ação diplomática, se entrecruza com ela e nesse sentido requer
coordenação harmoniosa para que não surjam casos como ocorreu, em dado
momento, em Ruanda, quando – segundo Roméo Dallaire – a população local
teve dificuldade em entender o que a comunidade internacional pretendia.
Diferentemente do que ocorre no âmbito econômico e social, em que as
Organizações Não Governamentais podem reivindicar status consultivo junto
ao ECOSOC, a interação entre ONGs e o Conselho de Segurança opera de
maneira ainda muito informal, mediante colóquios, seminários e/ou contatos de
corredor. Sobre o terreno a situação é outra, com uma extensa literatura se
desenvolvendo a respeito dos problemas de coordenação entre os esforços de
paz da ONU e a ação humanitária e de proteção de direitos humanos por parte
de uma multiplicidade de ONGs. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha,
como única entidade não governamental a possuir status de observador na
Assembleia Geral e por seu papel como depositário de instrumentos jurídicos
multilaterais na esfera do direito humanitário pode ser considerado um caso
especial e sua presença na ante-sala das consultas informais entre membros do
Conselho talvez possa ser considerado um fenômeno de “status informal de
observador” do CSNU. O fato de organizações como a Cruz Vermelha não
atuarem de forma coercitiva e se pautarem, em princípio, pela imparcialidade
lhes confere um tipo de autoridade moral menos politizada que lhes reserva um
campo de ação no qual não competem, na realidade, com a ONU. A divisão
de tarefas poderá exigir ajustes, no futuro, mas embora os atores não
governamentais estejam adquirindo espaço cada vez maior nas relações
internacionais, não parece previsível que sua relação institucional com o Conselho
de Segurança em Nova York venha a se alterar em futuro próximo.
(D) O Brasil
A Política de Defesa Nacional, apresentada pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso em 7 de novembro de 1996, constitui um documento de
relevância para a ação do Brasil no campo da paz e segurança internacionais.1
183
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Dentre as vinte diretrizes específicas, enumeradas no texto, mais da metade
guarda relação com a esfera diplomática, e cinco pelo menos afetam
diretamente a atuação do Brasil em um foro como o Conselho de Segurança,
a saber: a) contribuir para a construção de uma ordem internacional baseada
no estado de direito, que propicie a paz universal e regional e o
desenvolvimento sustentável da humanidade; b) participar crescentemente
dos processos internacionais relevantes de tomada de decisão; c) aprimorar
e aumentar a capacidade de negociação do Brasil no cenário internacional;
d) participar de operações internacionais de manutenção da paz, de acordo
com os interesses nacionais; e) intensificar o intercâmbio com as Forças
Armadas das nações amigas. Referências à solução pacífica de controvérsias
e uso da força apenas como recurso de auto-defesa reafirmam a orientação
não coercitiva de nossa postura externa.
Juntamente com o Japão, o Brasil continua a ser o membro não
permanente com maior número de anos no Conselho de Segurança (194647, 1951-52, 1954-55, 1963-64, 1967-68, 1988-89, 1993-94). Como único
candidato do Grupo Latino-Americano e do Caribe às eleições que terão
lugar durante a 52a Assembleia Geral é possível antecipar que a partir de 1o
de janeiro de 1988, o Brasil estará começando seu oitavo biênio como membro
não permanente do Conselho de Segurança, após dois períodos consecutivos
interrompidos por uma ausência de apenas três anos. Estes números são
indicativos não somente de um interesse em se fazer ouvir nas deliberações
do órgão, como sublinham as responsabilidades do Brasil na preservação da
autoridade política das Nações Unidas e do Conselho de Segurança.
O fato de o Brasil se haver situado em anos recentes entre os dez
maiores contribuintes de tropas para operações de paz e ser lembrado
por observadores independentes como possível membro permanente em
um Conselho de Segurança ampliado apenas reforçam um perfil de
credibilidade na esfera de atuação do CSNU. O investimento de capital
diplomático e – cada vez mais – de apoio militar na preservação e no
fortalecimento do sistema multilateral de proteção da paz e segurança
internacionais acaba por fazer com que sua vitalidade e legitimidade
constituam, em suma, um objetivo de interesse nacional. Raciocinando
como propõe o Secretário-Geral Kofi Annan, o esfacelamento do sistema
interessaria, em última análise, apenas àqueles que desejassem ter
liberdade para intervir unilateralmente dispensando com a legitimação
proporcionada pelas decisões multilaterais.
184
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
Durante sua última passagem pelo Conselho, o Brasil participou de uma
das fases do trabalho mais intenso do órgão, pronunciando-se pelo voto
sobre um número superior de resoluções do que no transcurso dos seis biênios
anteriores somados. Conforme evidencia o padrão de votação brasileiro no
período estudado, nas poucas ocasiões em que o Brasil não se associou a
uma decisão do Conselho, ou contribuiu pela abstenção para que uma decisão
não fosse adotada (6 vezes no total), estiveram em jogo questões relacionadas
à autorização (no caso da suspensão do embargo, ao término) de medidas
coercitivas pelo CSNU. Admitida a existência de toda uma gama de questões
delicadas que se situam no âmbito do Capítulo VI da Carta, são as medidas
que contemplam a coerção as que geram maior controvérsia e comportam
maior risco de afetar negativamente a imagem das Nações Unidas, por esta
razão nos concentramos nelas.
Os quatro casos examinados no Capítulo anterior foram os que maiores
desafios apresentaram à comunidade internacional após a Guerra do Golfo.
Na Somália, a dimensão da crise humanitária e a relativa inexperiência do
Conselho em operar em ambiente consensual contribuiu para que a opção
coercitiva fosse considerada com certa naturalidade em um primeiro momento.
Quando o Brasil ocupou a presidência do Conselho em outubro de 1993,
durante os incidentes críticos para o futuro da presença internacional na
Somália, já se desfaziam as ilusões com respeito à possibilidade de imposição
da paz pela força em situações como aquela. A abstenção do Brasil com
respeito à proposta, não adotada, de levantamento do embargo de armas
aplicável à ex-Iugoslávia que visava permitir à Bósnia rearmar-se, se pautou
pelos riscos de agravamento e alastramento do conflito que uma canalização
de armas para Sarajevo possivelmente acarretaria. Em relação a Ruanda,
não era possível apoiar intervenção por uma força multinacional que carecia
de representatividade para merecer este nome, cujos objetivos humanitários
pareciam – na melhor das hipóteses – entremeados a cálculos políticos não
declarados, e que não contava com o apoio dos países da região, além de
ser frontalmente indesejada pelas autoridades que haviam assumido a liderança
do país após terem sido vítimas de um genocídio. No caso mais complexo do
Haiti, o Brasil atuou em sintonia com o sentimento preponderante na América
Latina ao procurar consignar na resolução que autorizaria a primeira
intervenção coercitiva da ONU no hemisfério a excepcionalidade das
circunstâncias que a tornavam admissível. Não havendo sido possível fazêlo, a abstenção constituiu a opção que, sem impedir o êxito da missão e o
185
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
regresso do presidente legítimo a Porto Príncipe, simbolizou a adesão regional
aos princípios da não ingerência em assuntos internos e solução pacífica de
controvérsias, que continuarão a dominar o seu léxico diplomático, e fazem
parte da Constituição brasileira.
Havendo não só sobrevivido incólume à turbulência do biênio 93-94
mas afirmado uma postura de equilíbrio e sensatez em sua atuação em favor
da estabilidade regional e internacional ao longo dos últimos anos, um Brasil
democrático e em fase de crescimento econômico e desenvolvimento social
poderá continuar a prestar uma contribuição relevante ao trabalho do Conselho
de Segurança em seu próximo turno como membro não permanente. Existem
indícios de que o processo ad hoc de articulação de respostas do Conselho
às situações colocadas em sua agenda evolua em algum momento, como
sugere Kofi Annan, em direção a uma reflexão mais sistemática. Lord
Carrington acaba de reunir nas imediações de Londres uma “força tarefa”
integrada por oito membros, entre os quais o Embaixador Celso Amorim,
Brent Scowcroft, Olara Ottonu, que se encontrará ao longo de 1997 para
refletir sobre o lugar da coerção na ação futura do Conselho de Segurança
(trata-se da “International Task Force on Security Council Peace
Enforcement”). Seja no contexto de discussões eventualmente mais
sistemáticas ou não, certas percepções decorrentes de análises e comentários
abordados neste trabalho, mas não necessariamente limitadas a elas, podem
ser condensadas em um conjunto de ideias para o futuro.
Começarei pelo mais geral até chegar ao mais específico. Uma feição
marcante do período que se iniciou com a assunção da Secretaria-Geral da
ONU por Boutros-Ghali foi a militarização do vocabulário com que a paz e
a segurança internacionais passaram a ser abordadas em detrimento da
linguagem da diplomacia. Vimos como a Agenda para a Paz se inclinava em
direção intervencionista e coercitiva e como, na Somália e na Bósnia,
operações da ONU concebidas para atuar sob o Capítulo VI se
transformaram em instrumentos de coerção sem, por isso, alcançarem seus
objetivos. Vimos também como não foi respondida a carta do Embaixador
João Clemente Baena Soares ao SGNU, em que ele perguntava se era possível
adotar sanções contra o regime de Cédras no Haiti sem referência ao Capítulo
VII. A Carta da ONU se revelou suficientemente elástica para permitir
interpretações de seus Artigos em um sentido que favorece a coerção. Um
movimento na direção oposta pode ser deliberadamente promovido como
forma de corrigir rumos e reservar a coerção para casos extremos, em
186
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
consonância com a filosofia do recurso ou ameaça de recurso à força apenas
em última hipótese, segundo o Artigo 2 (4) da Carta da ONU. Para dar um
exemplo, as sanções contra o Haiti poderiam haver sido caracterizadas
explicitamente como uma medida inserida em um contexto de solução não
militarizada de controvérsias, como um expediente de Capítulo VII com um
sinal negativo na frente.
O Brasil está particularmente bem posicionado para promover um
processo de reabilitação da diplomacia, aumentando o ônus da passagem da
mediação não coercitiva para as medidas de Capítulo VII, por um lado, e
incentivando a trajetória inversa (isto é, do VII ao VI), em um movimento
oposto ao da Agenda para a Paz. Não só temos sido capazes de conviver
pacificamente com nossos vizinhos há mais de cem anos, como temos
contribuído com pessoal militar para o êxito de missões de paz da ONU o
que demonstra que o nosso pacifismo não exclui um engajamento em tropas
e material nos teatros conturbados da África Austral, da América Central, da
Europa Oriental. Desnecessário aduzir que os atos de agressão internacionais
inequívocos continuarão a justificar respostas firmes, inclusive as mais
coercitivas, do Conselho de Segurança.
Mas a temática humanitária, de direitos humanos, de propagação da
justiça e de disseminação da democracia não precisa ficar atrelada ao contexto
das ameaças à paz e segurança internacionais. Com a exceção dos “worst
case scenarios” como os casos de genocídio, não há porque favorecer o
estabelecimento de uma relação automática entre crise humanitária e
intervenção militar coercitiva. O respeito aos direitos humanos, à justiça e à
democracia podem ser promovidos por pressão internacional não militarizada
ou mesmo pela arte da persuasão ou pela expectativa de ganhos econômicos
e comerciais. Os atores não governamentais legítimos e Agências
Especializadas como o Alto Comissariado para os Refugiados e o Programa
Mundial de Alimentos terão possivelmente um campo fértil de atuação nos
anos vindouros. Pode ser que em determinadas crises o uso da força tenha
que ser contemplado para salvar vidas humanas, mas nenhuma ação coercitiva
pode prescindir de uma estratégia de pacificação política na qual inserir-se.
Trata-se, em suma, de distinguir entre responsabilidade coletiva e segurança
coletiva no campo humanitário e dos direitos humanos.
Como visto em relação à ex-Iugoslávia, o valor “tolerância” merece ênfase
ainda maior do que já tem recebido no combate à discriminação fundada em
preconceitos raciais, religiosos e culturais, como parte de um esforço
187
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
consciente de promoção de causas moralmente eloquentes, capazes de serem
abraçadas por um mundo em desenvolvimento que não precisa permanecer
empobrecido também no plano ético. Adicionalmente, a tolerância pode fazer
parte de uma estratégia tendente a integrar todos os atores internacionais
legítimos em uma sociedade internacional mais harmoniosa, enquanto não se
consolidam padrões rígidos de antagonismo – como diz Robert Ross com o
pensamento voltado para a China.2 Trata-se, neste caso também, de
desenvolver algo já praticado pelo Brasil, como, por exemplo, quando
conciliamos concepções aparentemente irreconciliáveis de direitos humanos
na Conferência de Viena, ou quando aproximamos posições extremistas no
Subgrupo sobre sanções do Grupo de Trabalho sobre uma Agenda para a
Paz, recebendo agradecimentos dos EUA, da União Europeia, dos chineses
e do Movimento Não Alinhado.
Privilegiar a linguagem da diplomacia não significa descuidar do
aprofundamento de questões militares que requererão, pelo contrário, consulta
e interação intensificada com representantes das Forças Armadas do País e
com interlocutores da área de defesa de outros países. O acúmulo de
experiência decorrente da participação de um número crescente de brasileiros
em operações de paz representa uma fonte de informações que merece ser
explorada no contexto do desenvolvimento de elementos de doutrina capazes
de ajustar práticas anteriores a desafios novos. Esse processo, como se viu,
já começou. Compete ao Brasil, em conjunto com outros contribuintes de
tropas, velar pela preservação das distinções essenciais da Carta entre as
modalidades de ação que contemplam a força e as não coercitivas. O
envolvimento nos esquemas de standby e no grupo dos “amigos da reação
rápida” mantém o Brasil em contato com iniciativas que ainda precisam ser
testadas, e cujo desempenho poderá ter implicações no plano dos conceitos
e da doutrina, no que se refere ao problema do uso da força para os quais
estaremos atentos.
A presença do Brasil no Conselho de Segurança nos próximos dois anos
coincidirá com seu regresso à Corte Internacional de Justiça, por intermédio
da presença entre seus juízes do Ministro Francisco Rezek. A atuação da
Corte para a solução pacífica de controvérsias pode ser mais valorizada pelo
CSNU do que tem sido, e talvez seja possível antever funções mais ambiciosas
para a CIJ. O ex-Presidente da Corte, Sir Robert Jennings, referiu-se
recentemente ao papel da Corte de Justiça da União Europeia no Luxemburgo
para o julgamento das fronteiras jurídicas entre os diferentes órgãos europeus,
188
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
como pretexto para suscitar problemas análogos que poderiam ser trazidos à
CIJ. Jennings afirmou, em particular, que “in the case of the United Nations
these issues can be both fundamental and of the greatest practical
importance: the legal relationship between political and legal
appreciation, between the Security Council and the Court, and when
and to what extent the Court might or should have powers of judicial
review of administrative action or of political decision”.3 Como lembra o
Embaixador Ramiro Guerreiro, não há na Carta recurso algum para a
declaração de inconstitucionalidade de decisões tomadas pelo Conselho de
Segurança, a Corte pode dar parecer mas não sentença.4 Mas um movimento
no sentido indicado por Jennings pode ser estimulado, em nome do respeito
à lei, das boas práticas de governo e da democratização das relações
internacionais, equilibrando a liberdade interpretativa que tem acarretado
verdadeiras “reformas brancas” do mandato do Conselho de Segurança, como
observa o Embaixador Ronaldo Sardenberg.5 A Corte tem também um papel
a desempenhar como agente de diplomacia preventiva ao promover o diálogo
entre partes em litígio, e o mesmo pode ocorrer com o recentemente
estabelecido Tribunal Internacional do Direito do Mar (para o qual também
foi eleito um jurista brasileiro, o Professor Vicente Marotta Rangel).
Não parece haver dúvida de que a segurança coletiva quando e se
vier a ser acionada em anos vindouros não o será com base nos arranjos
e procedimentos dos Artigos 43 e 47 do Capítulo VII da Carta. As opções
utilizadas nos últimos anos foram tropas da ONU, coalizões ou forças
multinacionais, alianças defensivas ou “arranjos regionais”. Na ausência
de um debate organizado ou de uma negociação internacional sobre o
futuro da segurança coletiva o “enforcement” voltará a ser contemplado
sob alguma daquelas três categorias. Para um país que não tem interesse
em enfraquecer o multilateralismo, o desafio que se apresenta é o de
conviver com a imprevisibilidade inerente aos métodos decisórios do
Conselho de Segurança, evitando, na medida do possível, que eles se
distanciem da letra e do espírito da Carta, sem contudo assumir um
legalismo intransigente que acabe por levar as grandes potências militares,
e sobretudo os EUA, a preferir a ação independente e unilateral e
contribua indiretamente para marginalizar o Conselho de Segurança. Um
Conselho excessivamente ativo e intrusivo pode ser um problema ao invés
de uma solução. Mas um Conselho irrelevante talvez comporte ameaças
ainda maiores para convivência internacional.
189
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
A partir dessa ótica, algumas considerações adicionais poderiam ser feitas.
Vimos como existe uma assimetria estrutural para a questão do
equacionamento da componente regional no quadro mais amplo da segurança
coletiva, em vista da existência de um mecanismo como a OTAN que não
encontra similar em outra região qualquer. Parece recomendável, nesse sentido,
acompanhar de perto a evolução da OTAN, obter acesso às formulações de
doutrina desenvolvidas em seu seio que possam ter aplicação global e repercutir
no trabalho do Conselho de Segurança, além de manter diálogo em nível
político e eventualmente militar com os países que a integram, e com sua
sede. Uma observação atenta da atividade da Organização para a Unidade
Africana também se justificaria, em função da importância que assumiram as
crises africanas para a agenda do CSNU e dos interesses brasileiros no
Atlântico Sul e, por extensão, na África. Sem prejuízo da exploração de
todos os canais diplomáticos de que dispomos com vistas a uma atuação
bem informada e equilibrada no CSNU, com dois países em particular ela se
torna especialmente importante.
De acordo com os dados atualmente disponíveis Brasil e Argentina
coincidirão no Conselho de Segurança no ano de 1999, como ocorreu em
1994. Da última vez que isto ocorreu a convivência entre os dois parceiros
no MERCOSUL, cujo relacionamento bilateral intenso e multifacetado
dispensa elaboração, não correspondeu ao nível de sintonia que seria desejável,
mercê de uma atuação externa por parte de Buenos Aires que colocou o
alinhamento com Washington acima da coordenação regional na esfera
precipuamente política do Conselho de Segurança. Sem pretendermos ensaiar
uma voz unívoca sobre toda a gama de assuntos, conviria encontrar os meios
para minimizar a possibilidade de desentendimentos, em particular com respeito
a eventuais problemas na região latino-americana. Inútil frisar que esses
cuidados especiais não substituiriam a estreita coordenação bi e plurilateral
com todos os países da América Latina e do Caribe que costumamos manter.
Como prevê o Ministro Luiz Felipe Lampreia em Conferência sobre o
Brasil no Século XXI, “no horizonte previsível as relações internacionais serão
dominadas, do ponto de vista estratégico-militar, pelo unipolarismo, como
predomínio da única superpotência remanescente do período anterior, os
Estados Unidos, cuja perda – apenas relativa – de poder econômico em
nada alterou sua condição de único ator global capaz de jogar e influir nos
diversos tabuleiros diplomáticos”.6 Esta circunstância não pode ser minimizada
quando se trata de pensar o futuro do Conselho de Segurança. Os EUA
190
A ARTICULAÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA COLETIVA
detém as rédeas de sua ação e inação, e de Washington dependerá em grande
medida a evolução da segurança coletiva nos últimos anos do Século XX e
primeiros do XXI, tanto no que se refere aos motivos e os fins que propiciam
o seu acionamento, como no tocante aos instrumentos e meios selecionados
para impô-los. Estar a par dos planos norte-americanos pode parecer fácil
em se tratando de um país onde a liberdade de expressão e de imprensa
alcança níveis pouco igualados no resto do mundo. Entretanto, como visto
nos casos da Somália e sobretudo da Bósnia, nem sempre é simples
acompanhar a evolução no posicionamento dos formuladores políticos e
militares em Washington. As diretrizes oficiais adotadas pelo governo Clinton
revelam um relativo desengajamento em relação a ação da ONU na
manutenção da paz. Sua inadimplência em face dos orçamentos regular e de
operações de paz levantam dúvidas sobre o compromisso de Washington
com o futuro da ONU. Mas a busca da legitimidade do Conselho de Segurança
para as intervenções no Golfo, na Somália, no Haiti e na ex-Iugoslávia revelam
também uma disposição a manter em funcionamento o Conselho de Segurança
e a escolha da Embaixadora Albright para comandar do Departamento de
Estado pode ser vista como um gesto que prestigia sua ocupação anterior. O
diálogo com os EUA é facilitado pelo fato apontado pelo Embaixador João
Augusto de Araújo Castro de que, entre os latino-americanos o Brasil se
distingue por ser um país onde não existe sentimento popular anti-americano,
nem há causa para ressentimento histórico.7 O êxito com que a paz e a
democracia têm sido preservados na América do Sul, em consulta com os
EUA, na fronteira Peru-Equador e no Paraguai, pode ser visto como um
fator de consolidação da confiança mútua na esfera da paz e segurança regional.
Mas persiste uma certa fragilidade nos entendimentos sobre segurança regional
que requererá possivelmente um esforço paralelo de reflexão complementar
aos que tendem a convergir para a CSNU e que talvez requeira esforços
adicionais aos que se desenvolvem atualmente no contexto do exercício sobre
segurança hemisférica iniciado em Williamsburg e Bariloche. O caso do Haiti
serve como lembrança de que são necessárias reservas de compreensão e
respeito recíproco, para que, quando os pontos de vista não forem iguais, a
divergência seja aproveitada como um fator para o amadurecimento da
relação, em benefício da compreensão recíproca.
Os EUA detêm a chave do enigma da ampliação do Conselho de
Segurança. Se hoje não parece mais politicamente viável uma ampliação que
só promova Alemanha e Japão à condição de membro permanente, tampouco
191
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
se pode afirmar que assentos permanentes individuais para países em
desenvolvimento da África, América Latina e Ásia estão sendo seriamente
contemplados por Washington. Essa evolução em si pode ser considerada
positiva para a causa de uma maior representatividade e legitimidade, e em
última análise fortalecimento, do Conselho de Segurança, na medida em que
parece, hoje, mais remota a ampliação da categoria de membros permanentes
em bases discriminatórias. Mas o desfecho final do processo depende de
condicionantes que incluem, não apenas, fatores relacionados ao equilíbrio
de poder no plano internacional como as relações entre a Casa Branca e o
Capitólio. O Brasil já se declarou preparado a assumir as responsabilidades
inerentes à condição de membro permanente e continua a ser citado como o
candidato natural da América Latina a essa posição. Entrementes, a
perspectiva de ocupar um assento não permanente, em 1998-99, nos abrirá
nova oportunidade para que continuemos a prestar uma contribuição às
atividades do Conselho de Segurança à altura de nosso compromisso com a
paz e de nossa tradição diplomática.
Transcorridos trinta anos desde que o Embaixador Araújo Castro
representou o Brasil no Conselho de Segurança, suas palavras ainda ecoam
com a mesma ressonância: “As Nações Unidas não constituem uma garantia
de paz mundial. Por isso mesmo, teremos de preservá-la e de trabalhar pelo
seu fortalecimento. Os custos de manutenção da Organização são mínimos
em comparação com os riscos que correríamos na eventualidade de seu
desaparecimento”.8
192
Conclusão
A ameaça de holocausto nuclear e o perigo de guerra global do
período da Guerra Fria cederam lugar a um ambiente internacional
potencialmente menos tenso e instável, em que a paz, onde ela corre
riscos, passou a depender mais do que no passado das decisões do
Conselho de Segurança. Mas, embora a segurança coletiva tenha voltado
a ocupar espaço na agenda internacional, não é possível prever, ainda, se
o Conselho de Segurança será capaz de afirmar sua autoridade segundo
padrões de comportamento que o reforçam e legitimam, ou se suas
decisões evoluirão em um sentido arbitrariamente intervencionista e
coercitivo, ou sofrerão outras mutações que venham a descaracterizar o
órgão que as adotou como a instância que atua em nome de todos os
Estados membros das Nações Unidas, como exige o Artigo 24 da Carta.
O Conselho de Segurança não será capaz de consolidar e ampliar o
consenso dos primeiros anos da presente década se a autorização da
coerção não for disciplinada e posta a serviço de uma concepção
autenticamente multilateralizada da segurança coletiva. O Presidente da
Corte Internacional de Justiça, Mohamed Bedjaoui, descreve com
particular clareza o desafio que se apresenta ao Conselho de Segurança
em um momento de tão grandes possibilidades para a paz: “the task is to
subject the use of force to ever more rigorous discipline, to confirm
and develop the rules which fortify Just recourse to it, eliminate the
193
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
practices which lead it astray and to endow such recourse with the
respect and recognition it inevitably arouses when it serves to found
order upon justice”.1
Há quem considere preferível – como o Copresidente da
Commission on Global Governance, Sir Sridath Ramphal – admitir a
reinterpretação, em bases multilaterais, do campo de aplicação de certos
princípios basilares da Carta da ONU, até mesmo o da não ingerência
em assuntos que dependem essencialmente da jurisdição interna, a correr
o risco de ver emergir um mundo em que “there will (...) be no rules at
all save those that answer to the call of national politics in major
countries”.2 O Embaixador Ramiro Guerreiro não parece discordar
quando ele afirma que “a Carta tende a ser adaptada a novas
circunstâncias e novas pressões da opinião mundial por meio de
interpretações” e conclui com referências à “acrescida importância da
presença do Brasil no Conselho de Segurança” justamente por esta
razão.3 O Almirante Mário César Flores se expressa em termos análogos
ao defender um Brasil “ativo nas formulações e reformulações da nova
ordem internacional” e favorecer uma atuação “capaz de contribuir, tanto
no plano das ideias como no plano da ação, com decisões tão
democráticas quanto possível, em harmonia com nossos interesses e
nossa identidade”.4
A segurança coletiva surgiu ao fim da I Guerra Mundial como
manifestação de uma veia idealista que fracassou na sua tentativa de
evitar a recorrência de um flagelo comparável. Após a II Guerra Mundial,
ela foi redefinida em termos mais realistas, que são os da Carta da
ONU, para permanecer “congelada” pela Guerra Fria durante quase
meio século, e reaparecer, após a Guerra do Golfo, envolta em uma
nova dinâmica que tanto poderá lhe garantir um lugar de honra no limiar
do Século XXI como gradualmente desfigurá-la. Ao mesmo tempo em
que parece estar sendo articulado (e não negociado) no Conselho de
Segurança um novo paradigma, outros processos se desenvolvem,
paralelamente, que influirão, também, sobre o futuro da segurança
coletiva universal no ordenamento internacional do século vindouro. A
ampliação da OTAN é um deles, a evolução política interna nas
principais potências mundiais – e especialmente nos EUA – é outro, as
tratativas em curso sobre a reforma da ONU é um terceiro. Existirão
outros. Aos olhos de alguns dos participantes nesses processos a
194
CONCLUSÃO
segurança coletiva da Carta da ONU apresenta interesse relativo,
subsidiário, ou nenhum. Para outros ela deve ser posta a serviço de
visões utópicas. Mas a preservação e o fortalecimento do multilateralismo
no campo da segurança internacional pode representar também para
um grande número de participantes um verdadeiro objetivo de interesse
nacional.
195
Notas
Introdução
Boutros-Ghali, “Current World Challenges as Reflected in the United Nations
Today”, “Indian Horizons” 44, no 33, 1995, p.41.
1
Capítulo 1 (A)
Em “Diplomacy” Kissinger comenta que a expressão inicialmente utilizada
por Wilson foi a de “community of Power” e alude a ideia anterior de William
Gladstone que se orientava no mesmo sentido. Entretanto, teria sido por sugestão
de Grey que Wilson desenvolveria a concepção de segurança coletiva que se
materializou no Pacto da Liga das Nações. (Kissinger, “Diplomacy”, 1994,
p.51, 74 e 223-224).
2
Kissinger, “Diplomacy”, Capítulo 2.
3
Vide Jaspers, “Kant”, 1957, p.117 e Kant, “La Philosophie de l’Histoire”, 1947.
4
Russel, “A History of Western Philosophy”, 1945, p.546-556.
5
Ricupero, 1994, in Fonseca Jr. & Nabuco de Castro p.79-80.
6
Flynn & Scheffer, 1990, in Foreign Policy, p.77-103.
7
Vide Lyons & Mastanduno, 1995, “Beyond Westphalia?”.
8
A periodização é de Lafer, 1994, “O novo cenário mundial e o Brasil”.
9
Huntington, “The Clash of Civilizations?”, 1993, in Foreign Affairs, vol.72 no
3, p.22-23.
1
197
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Wedgwood, “The Thirty Years War”, 1938, Capítulo XII.
Huntington, “The Clash of Civilizations?”, 1993, in Foreign Affairs, no 3,
p.23.
12
Vinhosa, 1990, “O Brasil e a Primeira Guerra Mundial” p.240-241.
13
Gaddis Smith, “The Last Years of the Monroe Doctrine” 1994, p.27.
14
Ibidem, p.31.
15
Em 1940, a resolução XV da Conferência de Havana introduzia no âmbito
interamericano os primeiros compromissos concretos de uma concepção
limitada ao hemisfério ocidental de segurança coletiva, que excluía, por
antecipação, a hipótese de ocupação pela Alemanha de possessões pertencentes
à França ou Países Baixos nas Américas e instituía a noção de assistência
recíproca em caso de ataque. Tal compromisso se inscrevia em uma série,
adotada desde a primeira Conferência Interamericana de 1890 que proscreveu
a aquisição de território pela força, até a Conferência para a Manutenção da
Paz de 1936 que condenara a intervenção nos assuntos internos dos Estados.
Formalização progressiva desses compromissos institucionalizariam
eventualmente um subsistema de segurança coletiva nas Américas, cuja
harmonização aos preceitos da Carta da ONU não se revelaria tarefa fácil na
Conferência de São Francisco, onde, ironicamente, os adeptos de Monroe no
governo norte-americano se aliaram aos latino-americanos.
16
Boutros-Ghali, “Regionalisme et Nations Unies”, 1968.
17
Morgenthau, “Politics Among Nations”, 1985, p.213.
18
Kissinger, “Diplomacy”, 1994, p.247.
19
The Dictionary of Political Science, New York Philosophical Library, 1964,
p.102-103.
20
Bloomfield, “Collective Security and US interests”, 1993, in Weiss “Collective
Security in a changing world”, p.190.
21
Claude, “Swords into Plowshares”, 1971.
22
Russell, “The United Nations and United States Security Policy”, 1968, p.52.
10
11
Capítulo 1 (B)
Hildebrand, “Dumbarton Oaks”, 1990, Cap.1.
Ibidem, Cap.6.
3
Ibidem, p.124.
4
Cot & Pellet, “La Charte des Nations Unies”, 1985, p.646-665.
5
Cot & Pellet comentam que “la distinction entre ‘une situation susceptible
de menacer la paix’ [art.33] et ‘la menace contre la paix’ [art.39] peut se
révéler parfois assez subtile et permettre des confusions qui ne sont pas
1
2
198
NOTAS
toujours involontaires, entre les moyens dont le Conseil dispose au titre
du Chapitre VI et du Chapitre VII de la Charte”. Ibidem, p.665.
6
Gromyko, “Mémoires”, 1989, p.107.
7
Gaddis Smith, “The Last Years of the Monroe Doctrine”, 1994, p.48.
8
Ibidem, p.54.
9
Brazilian Institute of International Relations, 1957, p.94.
10
A Palavra do Brasil nas Nações Unidas, 1995, p.31.
11
Ibidem, p.18.
12
Gaddis Smith, “The Last Years of the Monroe Doctrine”, 1994, p.43.
Capítulo 1 (C)
Liu, “Traditional Peacekeeping Operations: a historical perspective”, 1994,
p.1.
2
Sobre isolamento ou intervenção vide, por exemplo, Robert Jackson,
“International community beyond the Cold War, in “Beyond Westphalia?”, p.5983.
3
Ruggie, “The United Nations and the Collective Use of Force: whither – or
whether?”, 1996, p.3.
4
An Agenda for Peace, A/47/277, S/24111, 1992.
5
Ullman, “Enlarging the Zone of Peace”, in Foreign Policy, 1990, no 80, p.113.
6
Bandow, “Avoiding War”, in Foreign Policy, 1992-93, no 89, p.158.
7
Luck, “Making Peace”, in Foreign Policy, 1992-93, no 89, p.144.
8
Boutros-Ghali, “Le Pacte de l’Atlantique Nord”, 1950, in “Revue Egyptienne
de Droit International”, p. 74.
9
United Nations, Treaty Series, 1948, Volume 21, p.77.
10
Guerreiro, “ONU: um balanço possível”, in USP Estudos Avançados 25,
1995, p.133.
11
A Força Interamericana de Paz, da qual participaria um contingente brasileiro
de 1200 homens, foi autorizada por resolução do Conselho da OEA de 6 de
maio de 1965. Seu mandato estipulava que a Força deveria “colaborar, dentro
de um espírito de imparcialidade democrática, na restauração da normalidade
na República Dominicana, na garantia da segurança de seus habitantes, na
inviolabilidade dos direitos humanos e no estabelecimento de um clima de paz
e de conciliação”. (Arlindo Luiz Filho, Forças de Paz: a experiência brasileira,
in Revista da ESG, dez. 1995 p.21-22).
12
O sistema de segurança interamericano estaria passando por mudanças e
revisões que impedem, na opinião de Heraldo Muñoz que para vários países
latino-americanos ele seja atualmente seu único ou principal referencial de
1
199
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
segurança (vide Muñoz, “A Nova Política Internacional”, 1995 cap. 3). Em
sua dimensão anti-nuclear, pode-se dizer, entretanto, que a segurança da
América Latina esteja passando por fase afirmativa, com o fortalecimento do
sistema de Tlatelolco e os entendimentos Brasil-Argentina na área da não
proliferação (que incluem o Chile no que se refere a armas químicas). A resposta
apaziguadora dos países garantes do Protocolo do Rio de Janeiro ao conflito
fronteiriço Peru-Equador ilustra a importância dos instrumentos de segurança
sub-regionais no Hemisfério, onde a harmonização crescente de interesses no
plano político e integração econômica e comercial em quadro de consolidação
da democracia deixam margem cada vez mais exígua para o surgimento de
crises internacionais graves.
13
Dulles, “War or Peace”, 1950, p.194-195. Dulles prossegue: “if it considers a
situation as a threat to peace, it may decide what measures shall be taken. No
principles of law are laid down to guide it; it can decide in accordance with
what it thinks is expedient. It could be a tool enabling certain powers to advance
their selfish interests at the expense of another power”.
14
Weiss, Forsythe, Coate, “The United Nations and Changing World Politics”,
1994, p.43.
15
Ibidem, citado p.59.
16
O comentário foi feito por Pérez de Cuellar em colóquio intitulado “Choosing
a UN Secretary-General”, organizado pela UNA/USA em nov.1996.
17
Cot & Pellet, “La Charte des Nations Unies”, 1985, p.657.
18
S/PV 2982, 1991, p.64-65.
19
Fujita, “O Brasil e o Conselho de Segurança (Notas sobre uma década de
transição: 1985-1995)”, 1996, in Parcerias Estratégicas v.1 - nº 2 dez. 1996,
p.97.
Capítulo 2 (A)
Telegrama de DELBRASONU de 22.01.91.
Weiss, Forsythe, Coate, “The United Nations and Changing World Politics”,
1994. p.70.
3
Vide Talbott & Beschloss, “At the highest levels”, 1993, Cap.12.
4
Telegrama de DELBRASONU de 21.12.90.
5
Meiser, “United Nations, the first fifty years”, 1995, p.268.
6
Johnstone, “The aftermath of the Gulf War: an assessment of UN action”,
1994, p.13-14.
7
Talbott & Beschloss, “At the highest levels”, 1993, p.285-287.
8
Bailey, “The procedure of the UN Security Council”, p.225.
1
2
200
NOTAS
Citado em Talbott & Beschloss, “At the highest levels”, 1993, p.282.
Citado em Meiser, “United Nations, the first fifty years”, 1995, p.257.
11
A/45/PV.6 p.46.
12
Citado em Meiser, “United Nations, the first fifty years”, 1995, p.258.
13
Johnstone, “Aftermath of the Gulf War; an assessment of UN action”, 1994.
14
Lamazière, “A resolução 687 (1991) do Conselho de Segurança das Nações
Unidas, a Comissão Especial das Nações Unidas (UNSCOM) e o regime
internacional de não proliferação de armas de destruição em massa”, 1995,
XXXI CAE.
15
Meiser, “United Nations, the first fifty years”, 1995, p.273.
16
Talbott, “Post Victory blues”, 1991-92, in Foreign Affairs vol. 71 no 1, p.6566.
17
Citado in Johnstone, “Aftermath of the Gulf War: an assessment of UN
action”, 1994, p.68.
18
Lamazière “A resolução 687 etc.”, 1995, p.61.
19
Flores, “A coerção militar nas próximas décadas”, 1993, in Política Externa,
vol.2 no 2, p.62.
20
Talbott & Beschloss “At the highest levels”, 1993, capítulo 12.
21
Ibidem.
22
Ibidem, p.250.
23
Flores, “A coerção militar nas próximas décadas”, in Política Externa, vol.2
no 2, p.63.
24
Prins, “The applicability of the NATO model to United Nations Peace Support
Operations under the Security Council”, 1996, p.40.
25
Hippler, “Pax Americana? Hegemony or decline”, 1994, p.146.
26
Thatcher, “The path to power”, 1995, p.511.
27
Ibidem, p.508.
28
Comentários recolhidos por Meiser, “United Nations, the first fifty years”,
1995, cap.15.
29
A/45/PV.6 p.52.
9
10
Capítulo 2 (B)
Documento S/23500, 31 de janeiro de 1992.
Fujita, “O Brasil e o Conselho de Segurança (Notas sobre uma década de transição:
1985-1995), 1996, in Parcerias Estratégicas v.1 - no 2 dez. 1996, p.98.
3
Thatcher, “The path to power”, 1995, p.510.
4
Nye, “What new world order”, 1992, in Foreign Affairs, vol. 71 no 2, p.83.
1
2
201
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Rosecrance, “A new concert of powers”, 1992, in Foreign Affairs, vol. 71 no
2, p.79.
6
Documento A/46/1 de set. 1991.
7
A expressão é do Embaixador Ronaldo Sardenberg, vide, por exemplo o artigo
“O Brasil e o papel das Nações Unidas na manutenção da paz e segurança
internacionais”, 1995, publicado pela editora UNB.
8
O termo “agressão” foi definido pela XXIX Assembleia Geral na resolução
3314 de dezembro de 1974.
9
Kouchner, “Le malheur des autres”, 1991, p.199.
10
Krauthammer, “The Unipolar Moment”, 1990, in Foreign Affairs, vol. 70 no
1, p.33.
11
S/PV.3046 de 31 de janeiro de 1992, p.48-54.
12
Ibidem, p.54.
13
Stedman, “The new interventionists”, 1992, in Foreign Affairs, vol. 72, no 1,
p.15.
14
Ibidem, p.6.
15
Lafer e Fonseca Jr., “Questões para a Diplomacia no Contexto Internacional
das Polaridades Indefinidas”, 1994, p.53.
16
S/PV.3046 de 31 de janeiro de 1992, p.13-22.
17
Ibidem, p.44.
18
Ibidem, p.86-94.
19
Ibidem, p.102-112.
20
Ibidem, p.97.
21
Documento S/23500, p.5.
5
Capítulo 2 (C)
Documento A/47/277, S/24111 de 17 de junho de 1992.
Paul Lewis, “UN set to debate peacemaking role”, 04.09.92, New York Times.
3
Weiss, Coate, Forsythe, “The United Nations and changing world politics”,
1994, p.86-87.
4
Documento A/47/277, S/24111, p.6.
5
Ruggie, “The United Nations and the Collective Use of Force: whither - or
whether?”, 1996, p.5.
6
Paul Lewis, “peacekeeping in fashion”, 27.12.92, New York Times.
7
Tharoor, “Beyond traditional peacekeeping”, 1994, prefácio.
8
Paul Lewis, “UN’s top troop official sees no need for war room”, 25.12.92,
New York Times.
1
2
202
NOTAS
Stedman, “UN intervention in civil wars: imperatives of choice and strategy”,
1995, in “Beyond traditional peacekeeping”, p.55-58.
10
Documento A/47/277, S/24111, p.5.
11
Tharoor, “Beyond traditional peacekeeping”, 1994, prefácio.
12
Rivlin, “UN reform from the standpoint of the United States”, 1995, p.10.
13
Ibidem, p.14.
14
Documento A/50/60, S/1995/1, de 25 de janeiro de 1995.
15
Huldt, “Working multilaterally: the old peacekeepers viewpoint”, 1995, p.110-112.
16
Citado em Stedman, “The new interventionists”, 1992, in Foreign Affairs,
vol. 72 no 1, p.15.
17
A/47/PV.6, set. 1992, p.58.
18
A/47/PV.8, set. 1992, p.41.
19
Telegrama confidencial de DELBRASONU no 2417 de 17.10.92.
20
Reação do Movimento Não Alinhado à Agenda para a Paz, transmitida por
fax de DELBRASONU.
21
Telegrama de DELBRASONU de 17.10.92.
9
Capítulo 3 (A)
Comprehensive Report on lessons-learned from United Nations Operation in
Somalia, 1995, prefácio do General Eisele Secretário-Geral Adjunto para
Planejamento e Apoio ao Departamento de Operações de Paz.
2
Stanley Hoffman, “Avoiding new world disorder”, 25 de fevereiro de 1991,
New York Times.
3
S/PV.2982 de 5 de abril de 1991.
4
Ibidem, p.43-52.
5
Ibidem, p.36.
6
Scheffer, “Toward a modern doctrine of humanitarian intervention”, 1992, in
University of Toledo Law Review.
7
Telegrama de DELBRASONU de 26.06.91.
8
Talbott, “Post-Victory Blues”, 1991, in Foreign Affairs, vol. 71 no 1, p.65.
9
Weiss, Forsythe, Coate, “The United Nations and changing World Politics”,
1994, p.104-105.
10
Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
International Committee of the Red Cross.
11
Press Release do Comitê Internacional da Cruz Vermelha no 1731, de 4 de
dezembro de 1992.
12
Weiss, Forsythe, Coate, “The United Nations and Changing World Politics,
1994, p.105.
1
203
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Vide Terence Lyons e Ahmed Samatar, “Somalia, state collapse, multilateral
intervention and strategies for political reconstruction, 1995.
14
Ibidem, p.24.
15
Clark, “Debacle in Somalia”, 1992, in Foreign Affairs, vol. 72 no 1, p.118.
16
Lyons & Samatar, “State Collapse, Multilateral intervention, and Strategies
for Political Reconstruction”, 1995, p.29.
17
Clark, “Debacle in Somalia”, 1992, in Foreign Affairs, vol. 72 no 1, p.119.
18
Documento S/24868.
19
Ibidem.
20
Conroy, “Peacekeeping and peace enforcement in Somalia”, 1994, in Mingst
& Karns, “The United Nations in the Post-Cold War era”, 1995, p.94.
21
Ruggie, “The United Nations and the collective use of force, whither - or
whether?”, 1996, p.6.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
24
Meiser, “United Nations, the first fifty years”, 1995, p.306.
25
Sardenberg, “O Brasil na Presidência do Conselho de Segurança, in Fonseca
Jr. e Nabuco de Castro, “Temas de Política Externa II”, 1994, p.136.
26
Meiser, “United Nations, the first fifty years”, 1995, p.310.
27
Comprehensive Report on lessons-learned from United Nations Operation in
Somalia, 1995, prefácio do General Manfred Eisele.
28
Entrevista do SGNU a Trevor Howe, publicada em 29 de julho de 1992 no
Washington Post.
29
Discurso pronunciado pelo Embaixador Celso Amorim no plenário da LI
AGNU em 26.11.96.
30
Rose, “Field coordination, Bosnia, 1994”, in Whitman & Pocock “After
Rwanda”, 1996, p.151.
13
Capítulo 3 (B)
“The United Nations and the situation in the Former Yugoslavia”, DPI, 1995.
Golding, “The evolution of United Nations peacekeeping”, 1993, in International
Affairs vol.69, no 3 p.451-454.
3
Akashi, “Upon return from the former Yugoslavia: some reflections on United
Nations peacekeeping”, 1995, International Peace Academy Roundtable 12
December 1995.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Owen, “Balkan Odyssey”, 1995, p.357.
1
2
204
NOTAS
S/PV. 3247 de 29 de junho de 1993, p.96.
Berdal, “United Nations peacekeeping in the former Yugoslavia”, 1995, in
“Beyond traditional peacekeeping”, 1995, p.228.
9
Ibidem.
10
Ruggie, “Wandering in the void, charting the UN’s new strategic role”, 1993,
in Foreign Affairs col.72 no 5, p.26.
11
Pfaff, “Invitation to war”, 1993, in Foreign Affairs, vol.72, no 3, p.97.
12
Glenny, “The Yugoslav nightmare”, 1995, in “The New York Review of
Books”, vol. XLII number 5.
13
Ramcharan (Guiana), atualmente Diretor para a África do Departamento de
Assuntos Políticos do Secretariado da ONU, trabalhou para a Conferência
Internacional sobre a ex-Iugoslávia sob Vance e Owen. O comentário foi feito
durante entrevista realizada em janeiro de 1997.
14
Ruggie, “The United Nations and the collective use of force: whither or
whether?”, 1996, p.9.
15
Ibidem, p.7-8.
16
Talbott & Beschloss, “At the highest levels”, 1993, p. 414-418.
17
Citado em Meiser, “United Nations, the first fifty years”, 1995, p.312.
18
Owen, “Balkan Odyssey”, 1995, p.357.
19
Ibidem, p.112.
20
Ibidem.
21
Kissinger, artigo publicado no New York Post de 23 de fevereiro de 1992.
22
Golding, “The evolution of United Nations peacekeeping”, 1993, in International
Affairs vol.69, no 3, p.459.
23
S/PV. 3247 de 29 de junho de 1993, p.136-138.
24
Ibidem, p.138-142.
25
Ibidem, p.134.
26
Boyd, “Making peace with the guilty”, 1995, in Foreign Affairs, vol.74 no 5,
p.34.
27
Ruggie, “The United Nations and the collective use of force: whither - or
whether?”, 1996, p.10.
28
Kaplan, “NATO and the United States”, 1994, p.175-180.
29
Ibidem, p.179.
30
Citado em Kaplan, “NATO and the United States”, 1994, p.179.
31
Citado em Prins, “The applicability of the ‘NATO model’ to peace support
operations under the Security Council”, 1996, p.21.
32
Prins, Ibidem, p.21.
33
“NATO doctrine for Peace Support Operations”, (Partnership for Peace
unclassified), 11 de dezembro de 1995.
7
8
205
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
“Field Manual 100-23 Peace Operations”, Headquarters Department of
the Army, (distribution unlimited), dezembro de 1994.
35
Annan, “Peace Operations and the United Nations: preparing for the next
century”, 1996.
36
Rose, “Field Coordination, Bosnia, 1994”, in “After Rwanda”, 1996, p.151.
37
The Report of the Commission on Global Governance “Our global
neighborhood”, 1995, p.93.
38
Guerreiro, “ONU: um balanço possível”, 1995, in Estudos Avançados no
25, 1995, p.135.
39
Telegrama de DELBRASONU confidencial no 1394 de 12.05.95.
40
Stedman, “UN intervention in civil wars: imperatives of choice and strategy”,
1995, in “Beyond traditional peacekeeping” p.59.
41
Citado in Huntington, “The Clash of Civilizations and the remaking of world
order”, 1996, p.290.
42
Ibidem, p.290-291.
43
Ibidem, p.317.
44
Lafer e Fonseca Jr., “Questões para a diplomacia no contexto internacional
das polaridades indefinidas (notas analíticas e algumas sugestões)”, 1994, in
Fonseca Jr. e Nabuco de Castro, Temas de Política Externa Brasileira II.
45
Discurso pronunciado pelo Embaixador Celso Amorim o Conselho de
Segurança em 15 de dezembro de 1995.
46
Banac, “Bosnian muslims: from religious community to socialist nationhood
and postcomunist Statehood, 1918-1992”, in “The muslins of BosniaHerzegovina”, 1993, p.147.
47
Entrevista, janeiro de 1997.
34
Capítulo 3 (C)
“The United Nations and the situation in Rwanda”, DPI, 1995.
Citada em Meiser, “United Nations: the first fifty years”, 1995, p.291.
3
A observação de Gobineau é comentada em artigo de James Fenton
“Rwanda, the past recaptured”, New York Review of Books, volume XLIII,
número 3, fev. 1996.
4
Fenton, “Rwanda the past recaptured”, New York Review of Books, volume
XLIII, número 3, fev. 1996.
5
Prunier, “The Rwanda crisis: history of a Genocide”, 1996.
6
Citado e comentado em “Our Global Neighborhood”, Report of the
Commission on Global Governance, 1995, p.89-90.
7
Ibidem.
1
2
206
NOTAS
“Comprehensive Report on Lessons Learned from United Nations
Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR), October 1993-April 1996”,
Lessons Learned Unit of the Department of Peacekeeping Operations, p.24.
9
Documento S/1994/728.
10
Ibidem.
11
Telegrama de DELBRASONU de 18.06.94.
12
Ibidem.
13
Marie-France Cros, “intervention: des détails svp”, 17 de junho de 1994,
jornal “Le Soir” de Bruxelas.
14
Braeckmann, “l’enfer du Rwanda et les bonnes intentions de la France”,
publicado em 20 de junho de 1994 em “La libre Belgique”.
15
Braeckmann, “le non du FPR à la France”, “La libre Belgique”, junho de
1994.
16
“France deeper in Rwanda morass”, Financial Times, 07.07.94.
17
Telegrama de DELBRASONU de 18.06.94.
18
“France’s risky Rwanda plan”, editorial do New York Times de 24.06.94.
19
S/PV.3392 de 22 de junho de 1994 p.2-4.
20
Dallmeyer, “National Perspectives on International Intervention: from
the Outside Looking In”, 1995, in “Beyond Traditional Peacekeeping”, 1996,
Lessons Learned Unit Department of Peacekeeping Operations, p.31.
21
Whitman, “After Rwanda”, 1996, introdução, p.9.
22
Ibidem.
23
Bennet, “Meeting Needs: NGO coordination and practice”, 1995, citado
em Whitman, “After Rwanda”, 1996, p.15.
24
“Comprehensive Report on Lessons Learned from United Nations Mission
for Rwanda (UNAMIR) October 1993-April 1996”, p.52.
25
Dallaire, “The changing role of UN peacekeeping forces: the relationship
between UN peacekeepers and NGOs in Rwanda”, 1996, in “After
Rwanda”, p.205-217.
26
Comprehensive Report on Lessons Learned from United Nations
Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) October 1993-April 1996”,
p.58.
27
Citado por Philip Gourevitch em “letter from Rwanda”, 1997, in New
Yorker, 20 de janeiro de 1997.
28
Entrevista com Elizabeth Lindenmayer, outubro de 1996.
29
Prunier, “Luttes armées au coeur de l’Afrique, le Soudan au centre d’une
guerre régionale”, 1997, in Le Monde Diplomatique de fev. 1997.
8
207
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Capítulo 3 (D)
Reproduzida em Baena Soares, “Síntese de uma Gestão, 1984-1994”, 1994,
anexo.
2
Resolução MRE/RES.4/92.
3
Guerreiro, “ONU: um balanço possível”, 1995, in Estudos Avançados, no 25,
p.134.
4
Citado em Baena Soares, “Síntese de uma gestão 1984-1994”, p.111-112.
5
Ibidem, p.114.
6
Vide Danner, “O drama do Haiti”, 1993, inicialmente publicado in New York
Review of Books, reproduzido in Política Externa vol.2, no 4, março/abril/maio
1994, p.87.
7
Gaddis Smith, “The last years of the Monroe Doctrine”, 1994, p.224.
8
Documento S/25958.
9
Sardenberg, “O Brasil na presidência do Conselho de Segurança das Nações
Unidas”, 1994, in Fonseca Jr. e Nabuco de Castro “Temas de Política Externa
Brasileira II”, p.137.
10
S/PV.3293 de 16 de outubro de 1993, p.23.
11
Johnstone, “Aftermath of the Gulf War: an assessment of UN action”, 1994,
p.76.
12
United Nations Association of the USA, “A report on the Fourth annual
peacekeeping mission, May 19-23 1995, Republic of Haiti, United Nations
Mission in Haiti”, 1995, p.5.
13
Ibidem.
14
Gaddis Smith, “The last years of the Monroe Doctrine”, 1994, p.225.
15
Amorim, discurso pronunciado por ocasião do encerramento do XXIV
Período de Sessões da Assembleia Geral da Organização dos Estados
Americanos, Belém, 10 de junho de 1994, in “Política Externa, Democracia
e Desenvolvimento”, 1995, p.87-88.
16
Documento S/1994/828 de 15 de julho de 1994.
17
Telegrama de DELBRASONU de 16.07.94.
18
“United Nations Peace-keeping”, DPI/1306/Rev.4, dezembro de 1994, p.200.
19
Em sete mandatos como membro não permanente do CSNU (1946-47,
1951-52, 1954-55, 1963-64, 1967-68, 1988-89, 1993-94) o Brasil só se
manifestou pela abstenção em relação a projetos de resolução que vieram
a ser aprovados em sete oportunidades: resolução 190 (1964), juntamente
com França, Reino Unido e EUA; resolução 255 (1968) juntamente com
Argélia, França, Índia e Paquistão, resolução 929 (1994), juntamente com
China, Nova Zelândia, Nigéria e Paquistão; resolução 940 (1994), com
1
208
NOTAS
China, ausente Ruanda; resolução 944 (1994), com Federação Russa;
resolução 948 (1994); resolução 964 (1994) com Federação Russa.
20
Seitenfus, “O feitiço do tempo”, artigo publicado na Folha de São Paulo em
4 de agosto de 1994.
21
Entrevista realizada em outubro de 1996.
22
United Nations Association of the USA, “The future of the US-UN relationship,
a UNA-USA Conference Transcript, May 21 1996, New York City”, 1996,
p.20.
23
“A UN license to invade Haiti”, editorial publicado em 2 de agosto de 1994
pelo New York Times”.
24
Muñoz, 1995, “A nova política internacional”, p.55. Outra afirmação eloquente
de Muñoz: “a política da proteção das democracias deve levar em conta os
abusos e os custos potenciais das boas intenções.”, ibidem p.54.
25
Seitenfus, “O feitiço do tempo”, artigo publicado em 4 de agosto de 1994 na
Folha de São Paulo.
26
Guerreiro, “ONU: um balanço possível”, in Estudos Avançados 25, 1995,
p.133-134.
27
“A UN license to invade Haiti”, editorial publicado em 2 de agosto de 1994
pelo New York Times.
28
O artigo 51, mencionado por Kissinger, foi o dispositivo invocado por
Washington para legitimar a ação contra Noriega no Panamá.
29
United Nations Association of the USA, “A report on the Fourth Annual
Peacekeeping Mission”, 1995, p.29.
30
Telegrama de DELBRASONU de 108.94.
31
A carta começava com o seguinte parágrafo: “I am well aware of the
important role Brazil plays at the United Nations and of the close, effective
collaboration between Ambassador Albright and Ambassador Sardenberg,
especially on Security Council matters. In this spirit I urge you to support the
resolution on Haiti that we will introduce shortly in the Security Council based
on Secretary-General Boutros-Ghali’s proposal”.
32
Fax de DELBRASONU de 26.07.94 encaminha cópia do “aide mémoire”.
33
Telegrama de DELBRASONU de 01.08.94.
34
S/PV.3413 de 31 de julho de 1994, p.13.
35
The United Nations Association of the USA, 1996, “The future of the USUN relationship”, p.19.
36
Ibidem, p.28.
37
Ibidem, p.19.
38
Elaine Sciolino, “Madeleine Albright’s audition”, artigo publicado na “New
York Times Magazine”, de 22 de setembro de 1996, p.86.
209
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Onde Fred Parkinson, por exemplo, considera que a hegemonia dos EUA se
reveste de formas extremas que ele alcança o nível de “paramountcy”. Vide
Parkinson “Latin America”, 1993, in “States in a changing world, a contemporary
analysis”, editado por Robert H. Jackson e Alan James, 1993, p.240-261.
40
Gaddis Smith, “The last years of the Monroe Doctrine”, 1994, p.219-220.
41
Cardenas, “The notion of sovereignty confronts a new era”, 1995.
42
Constable, “Caribbean stalemate”, 1992, in Foreign Policy no 89, p.184.
43
Ibidem, p.188.
44
Talbott, “Democracy and the national interest”, 1996, in Foreign Affairs,
vol.75, no 6, p.47-63.
45
S/PV.3721 de 5 de dezembro de 1996, p.7.
46
Larry Rohter, “America’s habit of force in Haiti”, artigo publicado na edição
de 17 de setembro de 1996 do New York Times.
47
Huntington, “The Clash of Civilizations and the remaking of world order”,
1996, p.137.
48
Não deixa de ter interesse mais do que anedótico o comentário do Encarregado
de Negócios do Brasil em Porto Príncipe, segundo o qual uma aparentemente
inexplicável diminuição no número de “boat people” no mês de julho de 1994
se deveu ao interesse dos haitianos pela copa do mundo de futebol e de seu
entusiasmo pelo desempenho da equipe brasileira.
49
Muñoz, “A nova política internacional”, 1995, p.76.
39
Capítulo 3 (E)
Cot & Pellet, “La Charte des Nations Unies”, 1985, p.692-693.
Ibidem, p.698-702.
3
Ibidem.
4
Stremlau, “Sharpening international sanctions, toward a stronger role for the
United Nations”, 1996, p.21.
5
Guerreiro, “ONU: um balanço possível”, 1995, in Estudos Avançados 25, p.134.
6
A França, por sua vez, pareceria estar chegando a um entendimento com as
autoridades líbias, conforme indicado pela delegação francesa no plenário da
51a AGNU.
7
Stremlau comenta a esse respeito que “such regimes can work only with the
cooperation of the central government and the surrounding regional states, and
if the rebels control defined territory, conditions which were not present in
Liberia, Rwanda or Somalia” (Stremlau, “Sharpening international sanctions,
1996, p.35).
1
2
210
NOTAS
Gerard Prunier, “Le Soudan au centre d’une guerre régionale”, 1997, in Le
Monde Diplomatique, fev. 1997, p. 8-9.
9
Stremlau, “Sharpening international sanctions”, 1996, p.16.
10
Owen, Balkan Odyssey, 1995, p.347.
11
Ibidem, p.363.
12
Constable, “Caribbean stalemate”, 1992, in Foreign Policy no 89, p.185.
13
Meiser, “United Nations, the first fifty years”, 1995, p.273-274.
14
Ibidem.
15
O Embaixador Hannay se expressaria nesses termos; “my government
believes that it will in fact prove impossible for Iraq to rejoin the community of
civilized nations while Saddam Hussein is in power. (...) our quarrel has always
been and remains with Saddam Hussein and his cronies, not with the people of
Iraq. (S/PV.2981, p.116).
16
Johnstone, “Aftermath of the Gulf Wartan assessment of UN action”, 1994,
p.64.
17
Stremlau, “Sharpening international sanctions”, 1996, p.45.
18
Ibidem.
19
Jackson, “International Community beyond the Cold War”, 1995, in “Beyond
Westphalia?”, p.80-83.
20
Stremlau, “Sharpening international sanctions”, 1996, p.39.
8
Capítulo 4 (A)
A expressão é citada por Weiss, Forsythe & Coate, “United Nations and
changing world politics”, 1994, p.236 e teria sido Cot & Pellet, “La Charte des
Nations Unies”, 1985, p.236. O comentário foi feito por Hoffman em um
seminário realizado em Oslo sob o tema “collective responses to common
threats”, em junho de 1993.
2
Weiss & Gordenker, “Whither collective security? an unsettled idea in a
changing world”, 1993, in “Collective Security in a changing world”, p.219.
3
Rosecrance, “A new concert of powers”, 1992, in Foreign Affairs, vol.71 no
2, p.65.
4
Scheffer, “Toward a modern doctrine of humanitarian intervention”, 1992, in
University of Toledo Law Review, Winter 1992, p.268.
5
Ibidem, p.253-293.
6
Weiss & Chopra, “Sovereignty under siege: from intervention to humanitarian
space”, 1995, in “Beyond Westphalia?”, p.93.
7
Ibidem.
1
211
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Stedman, “The new interventionists”, 1993, in Foreign Affairs, vol. 72 no 1,
p.1-16.
9
O investimento em recursos humanos e materiais na ex-Iugoslávia, aliás, não
se teria justificado por outra razão, já que, em termos de número de vítimas, a
guerra na Bósnia era menos mortífera em princípios de 1993 do que estavam
sendo, ou haviam sido, conflitos na Libéria, no Timor Leste, no Camboja, em
Moçambique.
10
Kolodziej, “A Segurança Internacional depois da Guerra Fria: da Globalização
à Regionalização”, 1995, in “Contexto Internacional”, volume 17, número 2,
p.322.
11
Guerreiro, “ONU: um balanço possível”, 1995, in Estudos Avançados no 25,
p.136.
12
Weiss, “On the brink of a new era? Humanitarian interventions 1991-94”,
1995, in Beyond traditional peacekeeping, p.4.
13
The Report of the Commission on Global Governance, “Our global
neighborhood”, 1995, p.91-93.
14
Goldstone, “No justice in Bosnia”, artigo publicado na edição de 03.03.97 do
New York Times.
15
Alguns comentaristas como Stedman tem lembrado, neste contexto, a afirmação
de Samuel Huntington, a respeito da transição democrática na América Latina,
de que a negociação de alterações institucionais costuma ser facilitada por anistias.
(vide, por exemplo, Stedman, “UN intervention in civil wars: imperatives of choice
and strategy”, 1995, in Beyond traditional peacekeeping).
16
Weiss & Chopra, “Sovereignty under siege”, 1995, in “Beyond Westphalia?”,
p.103.
17
An Agenda for Peace, documento A/47/277, S/24111 de 17 de junho de 1992,
parágrafos 81 e 82.
18
Evered, “United Nations electoral assistance and the evolving right to
democratic governance”, 1996.
19
Lamazière, “A resolução 687 do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
a Comissão Especial das Nações Unidas (UNSCOM) e o regime internacional
de não proliferação de armas de destruição em massa”, 1995.
20
Comentários feitos durante colóquio organizado pela UNA/USA em novembro
de 1996, Nova York.
21
Nogueira Batista, “Presidindo o Conselho de Segurança”, 1992, in Política
Externa, vol.1 no 3.
22
Baena Soares, “Organismos Supranacionais”, inédito, 1996.
23
Ibidem.
8
212
NOTAS
Prins, “The applicability of the ‘NATO model’ to United Nations peace support
operations under the Security Council”, 1996, p.9.
24
Capítulo 4 (B)
Weiss & Gordenker, “Whither collective security? an unsettled idea in a
changing world”, 1993, in Collective Security in a changing world”, p.214.
2
Supplement to an Agenda for Peace: position paper of the Secretary-General
on the occasion of the fiftieth anniversary of the United Nations”, parágrafo
19.
3
Ibidem, parágrafo 35.
4
Sashi Tharoor, que trabalha para a ONU desde 1978, é atualmente Assessor
Especial do SGNU Kofi Annan.
5
Ruggie, “Wandering in the void, charting the UN’s new strategic role”, 1993,
in Foreign Affairs, vol.72, no 5, p.26-31.
6
Prins, “The applicability of the ‘NATO model’ to United Nations peace support
operations under the Security Council”, 1996, p.13-19.
7
Ibidem, p.34-42.
8
Citado in Ibidem, p.36.
9
Ibidem, p.54.
10
Lightburn, “NATO and its new role”, 1996, in After Rwanda, p.91.
11
Supplement to an Agenda for Peace, documento A/50/60, e S/1995/1, parágrafo
77.
12
Ibidem, parágrafo 80.
13
Ibidem, parágrafo 79.
14
Lightburn, “NATO and its new role”, 1996, in After Rwanda, p.86.
15
Kaplan, “NATO and the United States”, 1994, p.167.
16
O Artigo 4 dispõe que “the parties will consult together whenever, in the
opinion of any of them, the territorial integrity, political independence or security
of any of the parties is threatened”.
17
Lightburn, “NATO and its new role”, 1996, p.93.
18
“For NATO, Eastward ho”, artigo publicado na edição de 1-7 de março de
1997 da revista “The Economist” calcula em 22 a 35 bilhões de dólares o custo
da expansão nos próximos doze anos.
19
Documento S/1996/1067 de 24.12.96.
20
Alagappa, “Regionalism and international security: a framework for analysis”,
1995, p.50-51.
21
Telegrama para DELBRASONU de 27.09.96.
1
213
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Alagappa, “Regionalism and international security: a framework for analysis”,
1995, p.51.
22
Capítulo 4 (C)
Weiss, Coate, Forsythe, “The United Nations and changing world politics”,
1994, p.239.
2
Rivlin, “UN reform from the standpoint of the United States”, 1995, p.13.
3
Ibidem, p.20.
4
Finkelstein, “PDD-25: a new failure of nerve”, 1994, citado in Ibidem, p.21.
5
Entrevista com Jeff Laurenti, Secretário do Projeto UNA/USA, “Peace
Enforcement and the Security Council”, do qual participa o Embaixador Celso
Amorim em fevereiro de 1997.
6
Citada em Rivlin, “UN reform from the standpoint of the United States”,
1995, p.20.
7
Ibidem, p.35.
8
Os vetos se tornaram pouco frequentes: em contraste com os 279 vetos do
período da Guerra Fria, desde 1991 houve apenas seis vetos, sendo a Federação
Russa responsável por dois (Chipre, Ex-Iugoslávia), os EUA por dois vetos
relacionados com a situação no Oriente Médio e um veto à reeleição de BoutrosGhali, e um de responsabilidade da China, quando ela se opôs à primeira proposta
de criação de uma operação de paz para implementar os aspectos militares do
acordo de paz guatemalteco; o patrocínio pela Guatemala de moção favorável
à admissão de Taiwan na ONU havendo provocado a intransigência inicial
chinesa. A China votou a favor de projeto revisto de resolução sobre o mesmo
assunto, após haver chegado a um entendimento com a Guatemala sobre
Taiwan.
9
Ross, “Beijing as a conservative power”, 1997, in Foreign Affairs vol. 76, no 2,
p.42.
10
Garnett, “Russia’s illusory ambitions”, 1997, in Foreign Policy vol. 76, no 2,
p.62.
11
“Russia’s humiliation in Chechnya”, 15 de agosto de 1996, editorial do New
York Times.
12
Citado por Garnett em “Russia’s illusory ambitions”, 1997, in Foreign Affairs,
vol.76, no 2, p.66.
13
Pickering, “US-Russian relations in a year of elections”, the Angier Biddle
Duke inaugural lecture, 27 de fevereiro de 1996.
14
Huntington, “The clash of civilizations and the remaking of world order”,
1996, p.317-318.
1
214
NOTAS
Artigo de Ignacio Ramonet, “L’empire américain”, 1997, in Le Monde
Diplomatique de fevereiro de 1997.
16
Annan, “Peace Operations and the United Nations: preparing for the next
century”, 1996 (conferência pronunciada em Halifax, na condição de Chefe
do Departamento de Operações de Paz).
17
Ibidem.
18
Vide “An Agenda for Peace”, documento A/47/277, S/24111 de 17 de junho
de 1992, parágrafo 84: “peace in the largest sense cannot be accomplished by
the United Nations system or by Governments alone. Non-Governmental
organizations, academic institutions, parliamentarians, business and professional
communities, the media and the public at large must all be involved”.
19
Mawlawi, “New conflicts, new challenges: the evolving role for nongovernmental actors”, 1993, in Journal of International Affairs, 46, no2, Columbia
University, p.391-413.
15
Capítulo 4 (D)
Política de Defesa Nacional, 1996, Presidência da República, Governo Fernando
Henrique Cardoso.
2
Ross, “Beijing as a conservative power”, 1997, in Foreign Affairs, vol.76 no 2,
p.33-44.
3
Discurso do Presidente da Corte Internacional de Justiça perante a XLVII
AGNU em 21 de outubro de 1992, in documento A/47/PV.43, de 4 de novembro
de 1992, p.6-17.
4
Guerreiro, “ONU: um balanço possível”, 1995, in Estudos Avançados 25, p.133.
5
Sardenberg, “O Brasil e as Nações Unidas”, 1995, in Estudos Avançados 25,
p.125.
6
Lampreia, “O Brasil e o mundo no século XXI”, 1996, in Parcerias Estratégicas,
vol.1 no 2, p.45.
7
Araújo Castro, “O pensamento de Araújo Castro”, coletânea de observações
do Embaixador João Augusto de Araújo Castro reunidas em artigo publicado
na revista “Relações Internacionais”, Ano I, no 1, de janeiro-abril de 1978,
p.58.
8
Ibidem, p.54.
1
Conclusão
1
2
Bedjaoui, “The New World Order and the Security Council”, 1994, p.6.
Ramphal, “Global Governance”, University of Cambridge, 5 June 1995, p.4.
215
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Guerreiro, “ONU: um balanço possível”, Estudos Avançados 25, 1995, p.134.
Flores, “A Coerção militar nas próximas décadas”, Política Externa vol.2, no
2, 1993, p.67.
3
4
216
Bibliografia
Alagapa, M. Regionalism and International Security: A Framework for
Analysis. Tokyo: UNU, 1995.
Almeida Pinto, José Roberto. A Possibilidade de Ampliação do Conselho
de Segurança e a Posição do Brasil. XXIX CAE, 1994.
Amorim, Celso. Política Externa, Democracia, Desenvolvimento. Brasília:
FUNAG, 1995.
Annan, Kofi. “Peace Operations and the United Nations: Preparing for
the Next Century”. Palestra pronunciada em Halifax, Seminário sobre
Operações de Paz, 1996.
Akashi, Yasushi. Upon Return From the Former Yugoslavia. Some
Reflections on United Nations Peacekeeping. International Peace Academy
Roundtable, 12 dez. 1995.
Araújo Castro, João Augusto. “O Pensamento de Araújo Castro”. Relações
Internacionais I no 1 (1978) 51-59.
Araújo Castro. Araújo Castro. Coleção Itinerários. Brasília: Editora UNB,
1982.
Azambuja, Marcos. As Nações Unidas e o Conceito de Segurança
Coletiva. Estudos Avançados 25, USP (1995) 139-147.
217
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Baena Soares, João Clemente. “Organismos Supranacionais”. Inédito. 1996.
Baena Soares, João Clemente. Síntese de uma Gestão 1984-1994.
Washington: OEA, 1994.
Banac, Ivo. “Bosnia Muslims: From Religious Community to Socialist
Nationhood and Post-Communist Statehood, 1918-1992”. The Muslims
of Bosnia Herzegovina. Cambridge: Harvard University Press, 1994.
Bailey, Sidney. The Procedure of the UN Security Council. Oxford:
Clarendon Press, 1988.
Bandow, Doug. “Avoiding War”. Foreign Policy 89 (1992-1993), 156-174.
Bedjaoui, M. The New World Order and the Security Council. Bruxelles:
Bruyland, SA, 1994.
Bennet Jon. “Meeting Needs: NGO Coordination and Practice”. After
Rwanda. New York: St. Martin’s Press, 1996.
Berdal, Mats. United Nations Peacekeeping in the Former Yugoslavia. Beyond
Traditional Peacekeeping. New York: St. Martin’s Press, 1995.
Beschloss, M. & Talbott, S. At the Highest Levels. The Inside Story of the
End of the Cold War. New York: Little, Brown and Company, 1993.
Bloomfield, Lincoln. “Collective Security and US Interests” in Collective
Security in a Changing World. New York: Lynne Rienner Publishers, 1993.
Booth, Ken & Smith, Steve. International Relations Theory Today.
Pennsylvania State University Press, 1995.
Bory, Françoise. Origin and Development of International Humanitarian
Law. Geneva: ICRC, 1982.
Boutros-Ghali, Boutros. An Agenda for Peace. 2nd. Ed. with the new
Supplement. New York: United Nations, 1995.
218
BIBLIOGRAFIA
Boutros-Ghali, “Current World Challenges as Reflected in the United
Nations Today”, Indian Horizons vol.44 no 3 (1995) 34-42.
Boutros-Ghali, Boutros. “Le Pacte de L’Atlantique Nord”. La Revue
Egyptienne de Droit International. (1950).
Boutros-Ghali, Boutros. “Régionalisme et Nations Unies”. Revue Egyptienne
de Droit Internationale vol. 24 (1968): 5-18.
Boyd, Charles. “Making Peace with the Guilty”. Foreign Affairs, 74 no 5
(1995) 22-38.
Braeckmann, C. “L’enfer du Rwanda et Les Bonnes Intentions de la
France”. La Libre Belgique, 20 jun.1994.
Braeckmann, C. “le non du FPR à la France”. La Libre Belgique. jun. 1994.
The Brazilian Institute of International Relations. Brazil and the United Nations.
Rio de Janeiro: The Brazilian Institute of International Relations, 1957.
Clark, Jeffrey. “Debacle in Somalia”. Foreign Affairs 72 no 1 (1993) 109-123.
Claude, Inis. Swords into Plowshares. New York: Random House, 1971.
Comprehensive Report on Lessons Learned from United Nations
Assistance Mission for Rwanda. Lessons Learned Unit of the Department
of Peacekeeping Operations, dez. 1996. Stockholm: 1996.
Comprehensive Report on Lessons Learned from United Nations
Operation in Somalia. Lessons Learned Unit of the Department of
Peacekeeping Operations. Stockholm: 1995.
Conroy, Richard. Peacekeeping and Peace Enforcement in Somalia. Palestra na
reunião anual da “International StudiesAssociation” Washington DC, março 1994.
Constable, Pamela. “Caribbean Stalemate”. Foreign Policy 89 (1992) 175190.
219
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Cot, Jean Pierre & Pellet Alain. La Charte des Nations Unies. Paris:
Economica, 1985.
Cros, Marie-France. “Intervention: des détails svp”. Le Soir. Bruxelas, 17
jun. 1994.
Dallaire, Roméo. “The Changing Role of UN Peacekeeping Forces: The
Relationship between UN Peacekeepers and NGOs in Rwanda”. After
Rwanda. New York: St. Martin’s Press, 1996.
Dallmeyer, D. “National Perspectives on International Intervention. From
the Outside Looking In”. Beyond Traditional Peacekeeping. New York: St.
Martin’s Press, 1995.
Danner, Mark. “O Drama do Haiti”. Política Externa 2 no 4 (1994) 82-119.
Department of the Army. Field Manual 100-23 Peace Operations.
Washington DC (1994).
Dewitt, David, Haglund, David & Kirton John. Building a New Global Order. Emerging
Trends in International Security. New York: Oxford University Press, 1993.
The Dictionary of Political Science, New York: Philosophical Library, 1994.
Dulles, John Foster. War or Peace. New York: Macmillan, 1950.
Evered, Timothy. United Nations Electoral Assistance and the Evolving Right to
Democratic Governance. New Jersey: The Center for UN Reform Education, 1996.
Fenton, James. “A Short History of Anti-Hamitism”. The New York Review
of Books vol. XLIII no 3, fev. 1996.
Flores, Mário César. “A coerção militar nas próximas décadas”. Política
Externa, vol. 2 no 2 (1993) 59-67.
Flynn, Gregory & Scheffer David. “Limited Collective Security”. Foreign
Policy no 80 (1990): 77-101.
220
BIBLIOGRAFIA
Fonseca Jr., Gelson, Lafer, Celso. “Questões para a Diplomacia no
Contexto Internacional das Polaridades Indefinidas”. Temas de Política
Externa Brasileira II vol. 1. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1994.
The Future of the US-UN Relationship. A UNA/USA Conference Transcript.
New York: UNA/USA, 1996.
Fujita Edmundo. “O Brasil e o Conselho de Segurança, notas sobre uma
década de transição: 1985-1995”. Parcerias Estratégicas 1 no 2 (1996)
p.95-119.
Garnett, S. “Russia’s Illusory Ambitions”. Foreign Affairs 76 no 2 (1997) 61-76.
Glenny, Misha. “The Yugoslav Nightmare”. The New York Review of Books
vol. XLII, no 5, março 1995.
Goldstone, Richard. “No justice in Bosnia”. The New York Times 3 mar.
1997.
Goodpaster, Andrew. When Diplomacy is not enough. Managing
Multinational Military Interventions. The Carnegie Commission on
Preventing Deadly Conflict. New York: Carnegie Corporation, 1996.
Gordenker, L. & Weiss, T. “Whither Collective Security? An Unsettled
Idea In a Changing World”. Collective Security in a Changing World. Ed.
Thomas Weiss. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1993.
Gourevitch, Philip. Letter From Rwanda. The New Yorker 20 jan. 1997: 44-54.
Guerreiro, Ramiro. Lembranças de um Empregado do Itamaraty. São Paulo:
Siciliano, 1992.
Guerreiro, Ramiro. ONU: o Balanço Possível. Estudos Avançados 25, USP
(1995) p. 129-137.
Goulding, Marrack. The Evolution of United Nations Peacekeeping.
International Affairs 69 no 3 (1993) 451-494.
221
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Gromyko, Andrei. Mémoires. Paris: Pierre Belfond, 1989.
Guilhon de Albuquerque, José Augusto. “A ONU e a Nova Ordem Mundial”.
Estudos Avançados 25, USP (1995) p. 161-185.
Hilderbrand, Robert, Dumbarton Oaks. Chapel Hill: The University of North
Carolina Press, 1990.
Hippler, J. Pax Americana? Hegemony or Decline. London: Pluto Press, 1994.
Hoffman, Stanley. “Avoiding New World Disorder”. The New York Times.
25 fev. 1991.
Huldt, Bo. “Working Multilaterally: The Old Peacekeepers Viewpoint”.
Beyond Traditional Peacekeeping. New York: St. Martin’s Press, 1995.
Huntington, Samuel. “The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs 71 no 3
(1993) 22-49.
Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World
Order. New York: Simon & Schuster, 1996.
International Committee of the Red Cross. Protocols Additional to the
Geneva Conventions of 12 August 1949. Geneva: ICRC, 1977.
Jaspers, Karl. Kant. Orlando: Harcourt Brace Jovanovich, 1957.
Johnstone, Ian. Aftermath of the Gulf War: An Assessment of UN Action.
Boulder & London: Lynne Rienner, 1994.
Kant, Immanuel. La Philosophie de l’Histoire. Paris: Éditions Montaigne, 1947.
Kaplan, Lawrence. NATO and the United States, the Enduring Alliance.
New York: Twayne, 1994.
Keohane, Robert O. “Hobbes Dilemma and Institutional Change in World
Politics: Sovereignty in International Society”. Whose World Order?
222
BIBLIOGRAFIA
Uneven Globalization and the End of the Cold War Boulder: Westview Press,
1995.
Kissinger, Henry. Diplomacy. New York: Simon & Schuster, 1994.
Kolodziej, E. “A Segurança Internacional depois da Guerra Fria: da
Globalização à Regionalização”. Contexto Internacional vol. 17 no 2 (1995)
313-349.
Kouchner, Bernard. Le Malheur des Autres. Paris: Éditions Odile Jacob, 1991.
Krauthammer, Charles. “The Unipolar Moment”. Foreign Affairs 70 no 1
(1990-1991) 23-33.
Lafer. Celso. O Novo Cenário Mundial e o Brasil. Versão revista e ampliada
da palestra proferida em 09.08.94 em seminário da UERJ organizado por
Marcílio Marques Moreira.
Lamazière, Georges. A Resolução 687 (1991) do Conselho de Segurança
das Nações Unidas, a Comissão Especial das Nações Unidas (UNSCOM)
e o Regime Internacional de Não-Proliferação de Armas de Destruição
em Massa. XXXI CAE, 1995.
Lampreia, Luiz Felipe. “O Brasil e o Mundo no Século XXI”. Parcerias
Estratégicas 1 no 2 (1996) 38-54.
Lewis, Paul. “Peacekeeping in Fashion”. The New York Times 27 dez.
1992.
Lewis, Paul. “UN’s Top Troop Official Sees No Need For War Room”. The
New York Times. 25 dez. 1992.
Lightburn, David. “NATO and its New Role”. After Rwanda. Ed. Whitman.
New York: St. Martin’s Press, 1996.
Lima Câmara, Irene Pessoa. Em nome da Democracia. A OEA e a Crise
Haitiana. XXXII CAE, 1996.
223
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Liu, F.T. Traditional Peacekeeping Operations: A Historical Perspective
(1994).
Luck, Edward. “Making Peace”. Foreign Policy 89 (1992-1993), 137-155.
Luis Filho, Arlindo. “Forças de Paz, a Experiência Brasileira”. Revista da
Escola Superior de Guerra, a. 11 no 31 (1995) 9-41.
Lyons, Gene & Luck, Edward. The United Nations: Fifty Years After San
Francisco. Hanover, N.H.: Dartmouth College Press, 1995.
Lyons, T. & Samatar, A. Somalia. State Collapse. Multilateral Intervention, and
Strategies for Political Reconstruction. Washington DC: The Brookings Institution,
1995.
Malcolm, Noel. Bosnia. A Short History. New York: NYU Press, 1994.
Mawlawi, Farouk. “New Conflicts, New Challenges: The Evolving Role
for Non-Governmental Actors”. Journal of International Affairs 46 no 2
(1993) 391-413.
Morgenthau, H & Thompson K. Politics Among Nations. New York: Knopf,
1985.
Meiser, Stanley. United Nations, The First Fifty Years. New York: The
Atlantic Monthly Press, 1995.
Mingst, Karen & Karns Margaret. The United Nations in the Post-Cold
War Era. Boulder: Westview Press, 1995.
Muñoz, Heraldo. A Nova Política Internacional. São Paulo: Editora AlfaOmega, 1996.
NATO Doctrine for Peace Support Operations (Partnership for Peace
Unclassified). 11 dez. 1995.
For NATO Eastward ho! The Economist, mar. 01-07-1997.
224
BIBLIOGRAFIA
Ned Lebow, Richard. “The Long Peace, the End of the Cold War, and the
Failure of Realism”. International Organization 48, 2 (1994) 249-77.
Nogueira Batista. “Presidindo o Conselho de Segurança”. Política Externa
1 no 3 (1992-93) 86-99.
Nye, Joseph. “What New World Order?” Foreign Affairs 71 no 2 (1992)
83-96.
Owen, David. Balkan Odyssey. New York: Harcourt, Brace and Company,
1995.
A Palavra do Brasil nas Nações Unidas 1946-1995. Fundação Alexandre
de Gusmão, MRE. Brasília: FUNAG, 1995.
Parkinson, Fred. “Latin America”. States in a Changing World. A
Contemporary Analysis. E. Robert Jackson and Alan James. Oxford:
Clarendon Press, 1993.
Pérez de Cuellar, Javier. Relatório do Secretário-Geral sobre os Trabalhos
da Organização. Assembleia Geral, XLV Sessão. Nações Unidas, 1990.
Pfaff, William. “Invitation to War”. Foreign Affairs 72 no 3 (1993) 97-109.
Pickering, Thomas. US-Russia Relations in a Year of Elections. The Angier
Biddle Duke Inaugural Lecture. National Committee on American Foreign
Policy, New York, 1996.
Política de Defesa Nacional. Presidência da República. Governo Fernando
Henrique Cardoso. Brasília, 1996.
Powell, Colin. My American Journey. New York: Ballantine Books, 1995.
Prins, Gwyn. The Applicability of the ‘NATO Model’ to United Nations
Peace Support Operations under the Security Council. New York: UNA/
USA, 1996.
225
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Prunier, Gerard. “Lutte Armée au Coeur de l’Afrique. Le Soudan au Centre
d’une Guerre Régionale”. Le Monde Diplomatique fev. 1997.
Prunier, Gerard. The Rwanda Crisis: History of a Genocide. New York:
Columbia University Press, 1996.
Ramonet, Ignacio. “L’Empire Américain”. Le Monde Diplomatique fev. 1997.
Report of the Commission on Global Governance. Our Global Neighborhood.
New York: Oxford University Press, 1995.
Republic of Haiti. United Nations Mission in Haiti. Report on the Fourth
Annual Peacekeeping Mission, May 19-23, 1995. New York: UNA/USA,
1995.
Ricupero, Rubens. “Os Estados Unidos da América e o Reordenamento
do Sistema Internacional”, Temas de Política Externa Brasileira II, volume
I, p. 79-106, São Paulo: Editora Paz e Terra, 1994.
Rivlin, Benjamin. UN Reform from the Standpoint of the United States.
UN University Lectures. Tokyo: The UNU, 1996.
Rodrigues, José Honório & Seitenfus, Ricardo. Uma História Diplomática
do Brasil (1531-1945). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.
Rohter, Larry. “America’s Habit of Force in Haiti”. The New York Times,
17 set. 1996.
Rose, Michael. “Field Coordination, Bosnia, 1994”. After Rwanda. New
York: St. Martin’s Press, 1996.
Rosecrance, Richard. “A new Concert of Powers”. Foreign Affairs 71 vol.
2 (1992) 64-82.
Ross, Robert. “Beijing as a Conservative Power”. Foreign Affairs 76 no 2
(1997) 33-44.
226
BIBLIOGRAFIA
Ruggie, John Gerard. The United Nations and the Collective Use of Force:
Whither - or Whether? New York: UNA/USA 1996.
Ruggie, John Gerard. “Wandering in the Void: Charting the UN’s New
Strategic Role”. Foreign Affairs 72 no 5 (1993) 26-31.
Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy. New York: Simon &
Schuster, 1995.
Russell, R. United Nations and the United States Security Policy.
Washington, DC: Brookings Institute, 1968.
Smith, Gaddis. The Last Years of the Monroe Doctrine. New York: Hill &
Wang, 1994.
Sardenberg, Ronaldo. O Brasil e as Nações Unidas. Estudos Avançados
25, USP (1995), p. 119-128.
Sardenberg, Ronaldo. “O Brasil na Presidência do Conselho de Segurança”.
Temas de Política Externa II vol. I. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1994.
Sardenberg, Ronaldo. “O Brasil e o papel das Nações Unidas na Manutenção
da Paz e Segurança Internacionais”. Brasília: Editora UNB, 1995.
Scheffer, David. “Toward a Modern Doctrine of Humanitarian
Intervention”. University of Toledo Law Review (1992) 253-294.
Sciolino. Elaine “Madeleine Albright’s Audition”. The New York Times
Magazine. 22 set. 1996.
Sena Cardoso, Afonso José. Reflexão sobre a Participação do Brasil nas
Operações de Paz das Nações Unidas. XXVIII CAE, 1994.
Seitenfus, Ricardo. “O feitiço do tempo”. Folha de São Paulo, 4 ago. 1994.
Stedman, Stephen John. “The new interventionists”. Foreign Affairs 72 no
1 (1993), 1-16.
227
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Stedman, John Stephen. “UN Intervention in Civil Wars: Imperatives of Choice
and Strategy”. Beyond Traditional Peacekeeping. New York: Macmillan Press,
1995.
Strauss, Leo & Cropsey Joseph. History of Political Philosophy. Chicago:
The University of Chicago Press, 1987, 3a ed.
Stremlau, John. Sharpening International Sanctions. Toward a Stronger
Role for the United Nations. The Carnegie Commission on Preventing Deadly
Conflict. New York: Carnegie Corporation, 1996.
Talbott, Strobe. “Democracy and the National Interest”. Foreign Affairs
75 no 6 (1996) 47-63.
Talbott, Strobe. “Post-victory blues”. Foreign Affairs 71 no 1, (1992-93)
53-69.
Thatcher, Margaret. The Path to Power. New York: Harper Collins, 1995.
T.M.C. Asser Institut. Resolutions and Statements of the United Nations
Security Council (1946-1989). A thematic Guide. Ec. Karel Wellens Haia:
Martinus Nijhoff, 1990.
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. United Nations Treaty
Series 21 (1948) p. 77.
The United Nations and the Situation in Rwanda. Department of Public
Information. Reference Paper. Abril 1995.
The United Nations and the Situation in Somalia. UN Department of
Public Information. Reference Paper. 1994.
The United Nations and the Situation in the Former Yugoslavia. UN
Department of Public Information. Reference Paper. 1995.
Ullman, Richard. “Enlarging the Zone of Peace”. Foreign Policy 80 (1990):
77-101.
228
BIBLIOGRAFIA
UN Sanctions as a Tool of Peaceful Settlement of Disputes. Non-paper by
Australia and the Netherlands. UN Congress on Public International Law.
Nova York 13 a 17 de março, 1995.
Vinhosa, Francisco Luiz Teixeira. O Brasil e a Primeira Guerra Mundial.
Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1990.
Wedgwood, C.V. The Thirty Years War. New York: Random House, 1995.
Weiss, T. “On the Brink of a New Era? Humanitarian Interventions, 19911994”. Beyond Traditional Peacekeeping. New York: St. Martin’s Press, 1995.
Weiss, T. & Chopra, J. “Sovereignty under Siege: From Intervention to
Humanitarian Space”. Beyond Westphalia? State Sovereignty and
International Intervention. Ed. Gene Lyons & Michael Mastanduno. Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1995.
Weiss, T., Forsythe, D. and Coate, R. The United Nations and Changing
World Politics. Oxford: Westview Press, 1994.
Whitman, Jim. Introdução. After Rwanda. The Coordination of the United
Nations Humanitarian Assistance. New York: St. Martin’s Press, 1996.
229
Formato
15,5 x 22,5 cm
Mancha gráfica
12 x 18,3cm
Papel
pólen soft 80g (miolo), duo design 250g (capa)
Fontes
Times New Roman 17/20,4 (títulos),
12/14 (textos)