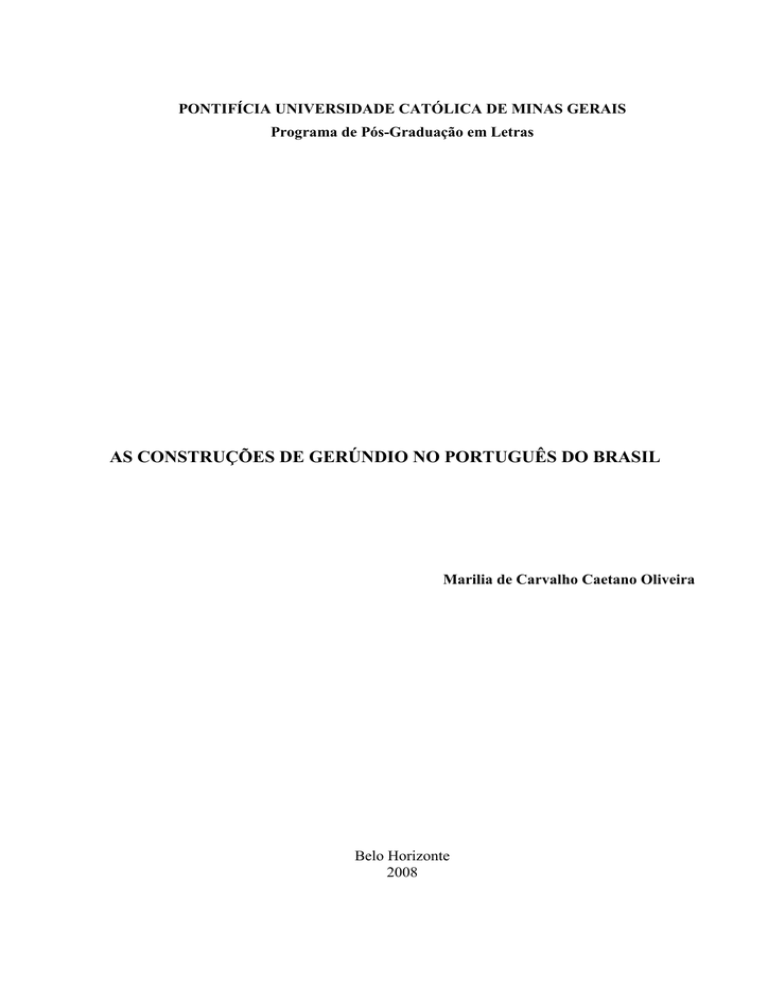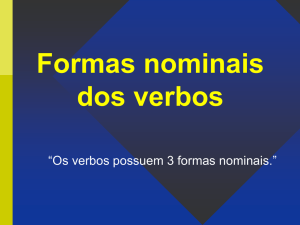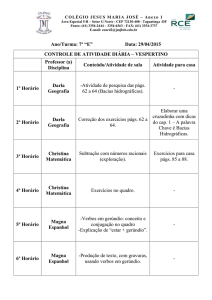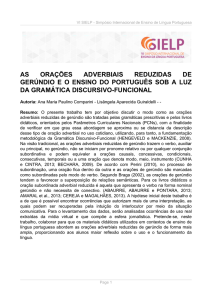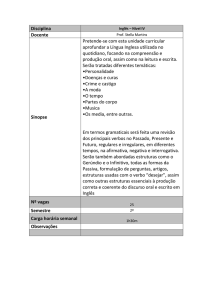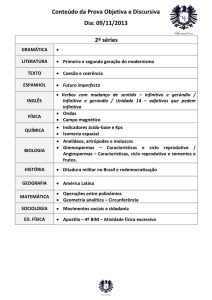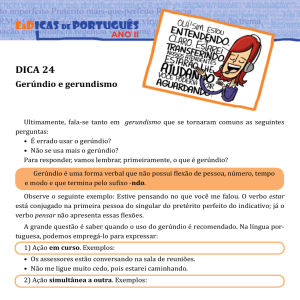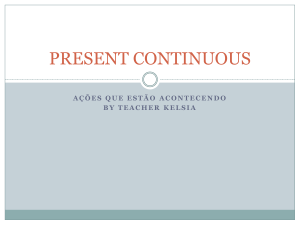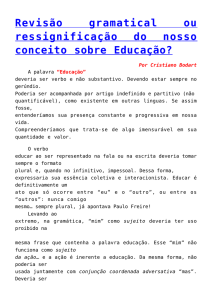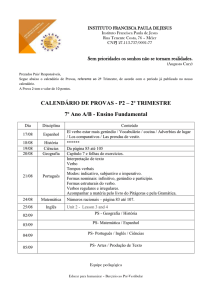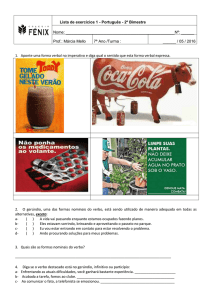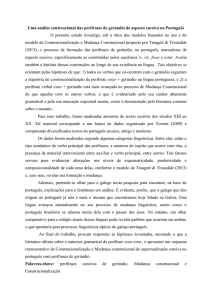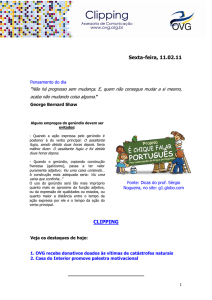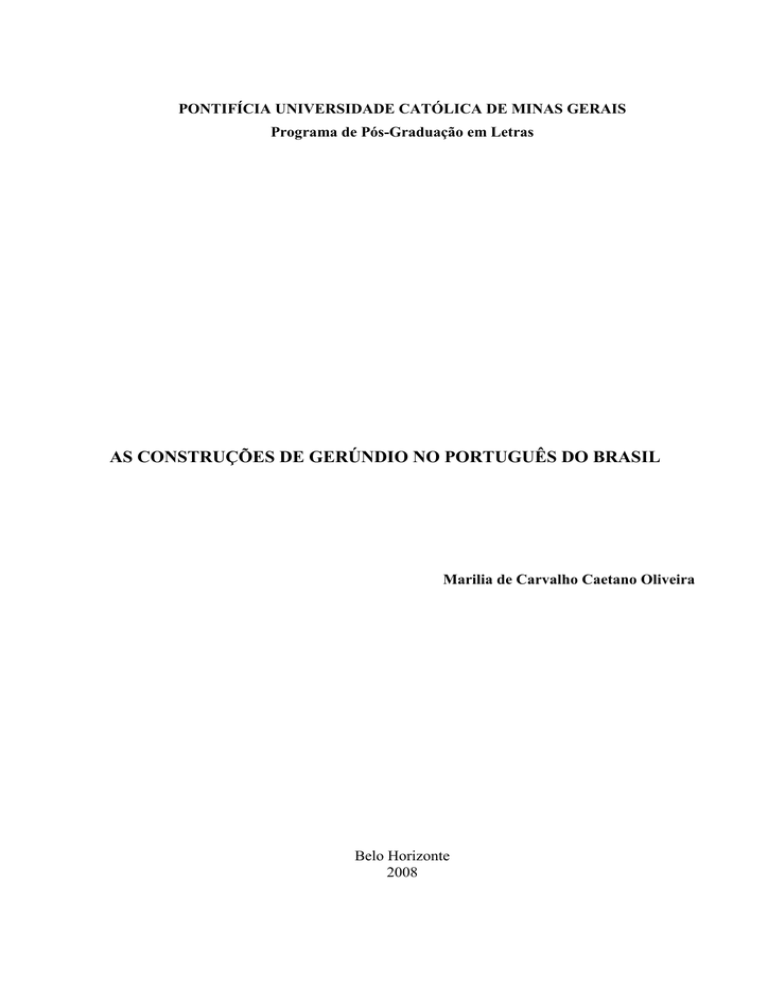
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação em Letras
AS CONSTRUÇÕES DE GERÚNDIO NO PORTUGUÊS DO BRASIL
Marilia de Carvalho Caetano Oliveira
Belo Horizonte
2008
Livros Grátis
http://www.livrosgratis.com.br
Milhares de livros grátis para download.
Marilia de Carvalho Caetano Oliveira
AS CONSTRUÇÕES DE GERÚNDIO NO PORTUGUÊS DO BRASIL
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Letras da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais, como requisito parcial para obtenção do título
de Doutora em Lingüística e Língua Portuguesa.
Orientador: Prof. Dr. Mário Alberto Perini
Belo Horizonte
2008
FICHA CATALOGRÁFICA
Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
O48c
Oliveira, Marília de Carvalho Caetano
As construções de gerúndio no português do Brasil / Marília de Carvalho
Caetano Oliveira. Belo Horizonte, 2008.
123f.
Orientador: Mário Alberto Perini.
Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
Programa de Pós-Graduação em Letras.
1. Língua portuguesa – Brasil. 2. Língua portuguesa – Gerúndio. 3. Língua
portuguesa – Sintaxe. I. Perini, Mário Alberto. II. Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Letras. III. Título.
CDU: 806.90(81)-25
Marilia de Carvalho Caetano Oliveira
As Construções de gerúndio no português do Brasil
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais.
Belo Horizonte, 2008.
_______________________________________________
Prof. Dr. Mário Alberto Perini (Orientador) – PUC MINAS
______________________________________________
Prof. Dr. Marco Antônio de Oliveira – PUC MINAS
_______________________________________________
Profª Drª Vanda de Oliveira Bittencourt – PUC MINAS
________________________________________________
Profª Drª Carla Viana Coscarelli - UFMG
___________________________________________
Profª Drª Maria Beatriz Nascimento Decat - UFMG
AGRADECIMENTOS
O primeiro agradecimento a Deus, cuja Luz e Bondade Infinitas sempre se manifestam
em minha vida.
Agradeço a meus pais, semente e modelo de minha força e perseverança.
Agradeço, em especial, a meu Orientador, Prof. Dr. Mário Alberto Perini, pela
paciência, e, principalmente, por compartilhar comigo seu inestimável conhecimento sobre os
fenômenos lingüísticos.
Agradeço, ainda, à CAPES, órgão subsidiador de minha bolsa de estudos.
Dedico, também, agradecimentos a todos os meus familiares, aos colegas de profissão,
a meus amigos (principalmente, Maria da Conceição, Floripes e Fátima) que, durante o
percurso, incentivaram-me a não desistir desse desafio.
Agradecimentos mais que especiais ao carinho, ao afeto e à compreensão de meu filho
Lucas e à incondicional disponibilidade e dedicação de meu marido Roney. Peço desculpas
pelos momentos de tensão e nervosismo, agradeço o amor com que suportaram minhas
angústias e rogo a Deus que os recompense por todo o bem que me têm feito.
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma descrição pormenorizada das estruturas de
gerúndio utilizadas no português do Brasil, propondo-se uma classificação baseada em
aspectos sintático-semânticos, ou seja, são analisados a estrutura sintática e os papéis
temáticos que as construções de gerúndio desempenham, relacionando tais fatores às
possibilidades de posicionamento da construção de gerúndio dentro da frase e às condições de
ocorrência de sujeito nessas construções. Para tanto, são analisados dados fornecidos pelo
corpus da língua falada do Brasil (PEUL, 2000), complementados com dados de introspecção
e dados coletados assistematicamente, a fim de que se possam discutir os problemas teóricos
relacionados com a descrição dessa área da estrutura da língua. A partir do trabalho proposto,
entende-se que mais um passo foi dado na direção de executar a agenda dos procedimentos
básicos da teoria gramatical, que inclui a explicitação de estruturas formais possíveis na
língua e a relação dessas estruturas com interpretações semânticas correspondentes.
Palavras-chave: descrição; gerúndio; estrutura sintática e papéis temáticos; posicionamento do
gerúndio; ocorrência de sujeito.
ABSTRACT
This work has for objective to present a detailed description of the structures of gerund used
in the Portuguese of Brazil, considering itself a classification based on syntactic-semantic
aspects, that is, are analyzed the syntactic structure and the thematic roles that the gerund
constructions play, relating such factors to the possibilities of positioning of the construction
of gerund inside of the phrase and to the conditions of occurrence of subject in these
constructions. For in such a way, are analyzed given supplied for the corpus of the said
language of Brazil (PEUL, 2000), complemented with data of introspection and collected data
unsystematically, so that if the related theoretical problems with the description of this area of
the structure of the language can argue. From the considered work, one understands that plus
a step it was given in the direction to execute the agenda of the basic procedures of the
grammatical theory, that includes the explicitation of possible formal structures in the
language and the relation of these structures with corresponding semantic interpretations.
Key-words: description; gerund; syntactic structure and thematic roles; positioning of gerund;
occurrence of subject.
LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 Quadro de matriz de traços
23
FIGURA 2 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio modal
56
FIGURA 3 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio causal
FIGURA 4 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio consecutivo
61
64
FIGURA 5 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio temporal
69
FIGURA 6 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio final
72
FIGURA 7 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio concessivo
77
FIGURA 8 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio condicional
83
FIGURA 9 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio adjetivo –
orações simples
88
FIGURA 10 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio adjetivo –
orações complexas
88
FIGURA 11 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio como verbo principal, sem
auxiliar
94
FIGURA 12 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio núcleo de SN
102
FIGURA 13 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio ilocutivo
104
FIGURA 14 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio prepositivo
106
SUMÁRIO
1 PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA ACERCA DO OBJETO
1.1 Algumas definições tradicionais de gerúndio
9
20
21
2. CARACTERIZAÇÃO DO GERÚNDIO NA LÍNGUA PORTUGUESA
2.1.O Gerúndio faz parte do lexema verbal?
2.1.1. Propriedades morfológicas
2.1.2. Propriedades sintáticas
2.1.3. Propriedades semânticas do gerúndio
26
26
31
33
37
3. AS CONSTRUÇÕES DE GERÚNDIO NO PORTUGUÊS DO BRASIL
39
es
3.1. Constituição Sintática
3.2. Papéis Temáticos
3.3. Por uma proposta de abordagem
3.3.1. Função 1: Gerúndio Circunstancial
3.3.1.1. Relação de modo
3.3.1.1.1. Análise posicional
3.3.1.1.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.1.1. Relação de Causa
3.3.1.2.1. Análise posicional
57
3.3.1.2.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.1.3. Relação de Conseqüência
3.3.1.3.1. Análise posicional
3.3.1.3.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.1.4 . Relação de Tempo
3.3.1.4.1. Análise posicional
3.3.1.4.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.1.5. Relação de Finalidade
3.3.1.5.1. Análise posicional
3.3.1.5.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.1.6. Relação de Concessão
3.3.1.6.1. Análise posicional
3.3.1.6.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.1.7. Relação de Condição
3.3.1.7.1. Análise posicional
3.3.1.7.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.2. Função 2: Gerúndio Adjetivo
3.3.2.1. Análise posicional
3.3.2.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.3. Função 3: Gerúndio como verbo principal, sem auxiliar
3.3.3.1. Análise posicional
3.3.3.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.4. Função 4: Gerúndio Perifrástico
3.3.4.1. Análise posicional
3.3.4.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.1. Função 5: Gerúndio Núcleo de Sintagma Nominal
3.3.5.1. Análise posicional
3.3.5.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.2. Função 6: Gerúndio Ilocutivo
3.3.6.1. Análise posicional
3.3.6.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.3. Função 7: Gerúndios Prepositivos
3.3.7.1. Análise posicional
3.3.7.2. Condições de ocorrência do sujeito
3.3.4. Função 8: Gerúndio constituinte de expressões idiomáticas
3.4. Breve comentário acerca da proposta apresentada
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
39
41
48
50
51
52
53
56
59
61
62
62
64
65
67
69
70
70
72
73
74
77
78
79
83
86
87
89
90
91
94
97
98
98
100
101
103
103
104
104
105
105
106
107
109
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
116
1 PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA ACERCA DO OBJETO
Um estudo fidedigno das estruturas sintáticas de uma língua não pode manifestar
predomínio da teoria sobre a observação, da atitude dedutiva sobre a atitude indutiva: o
desejável (como todos reconhecem, pelo menos em tese) é manter um cuidadoso equilíbrio
entre esses dois componentes da pesquisa.
Gross (1979) exprime exatamente esse sentimento quando afirma que
há uma inconsistência comportamental fundamental entre (a) a idéia de que a
Gramática Gerativa fornece uma base para descobrir a teoria da linguagem e (b) a
total ausência de um programa de construção de gramáticas de línguas particulares.1
(GROSS, 1979, p. 871, tradução nossa).
A afirmação de Gross evidencia a necessidade de descobrir uma teoria sobre como os
indivíduos geram estruturas lingüísticas, mas considera que é necessária a construção de
gramáticas das várias línguas que possam confirmar a aplicação desses princípios, ou seja, é
necessário realizar um trabalho “concreto” a partir das línguas naturais, para que se possam
construir gramáticas mais fidedignas dessas línguas.
Para tanto, é necessário realizar levantamento e sistematização de dados, realçando a
preocupação com a exaustividade (tanto quanto possível). Esse tipo de procedimento traz
como conseqüência a não escolha de dados por conveniência, evitando-se, assim, a seleção de
evidência, voluntária ou involuntária.
Perini (2008) afirma que
o pesquisador, na preocupação de encontrar evidência que corrobore sua teoria,
seleciona dados favoráveis com muito mais energia do que a que utiliza na procura
de dados desfavoráveis, apresentando, dessa maneira, uma imagem deformada da
realidade lingüística em estudo. O resultado é, muitas vezes, o paradoxo de análises
que parecem, ao serem lidas, solidamente fundamentadas, mas que, ao enfrentarem
oposição real, mostram uma fragilidade inesperada. (PERINI, 2008, p. 14).
Neste trabalho, cujo tema é a descrição das estruturas de gerúndio na língua
portuguesa do Brasil, o ponto de partida será o levantamento, tão exaustivo quanto possível,
incluindo ocorrências que muitas gramáticas desconsideram por serem justamente aquelas que
não se enquadram em seu modelo teórico e que, se analisadas em profundidade, podem
alterar, inclusive, conceitos que até então vêm sendo utilizados de modo consensual (como o
conceito de sujeito, por exemplo).
Percebe-se, portanto, que a não seleção de dados está relacionada à exaustividade, o
que ocasiona a ênfase no uso de corpus. É interessante notar que a lingüística compõe a
minoria das ciências que necessitam explicitar que a análise a ser feita deve basear-se em
dados, o que é óbvio para outras áreas. Segundo Perini (2008),
a pesquisa lingüística precisa ser muito mais baseada em dados do que tem sido nos
últimos tempos; [...] faltam dados que dêem apoio à maioria das análises e teorias;
[...] o trabalho de levantamento de tais dados é algo que se deve encorajar tanto ou
mais do que o de elaboração de novos modelos e teorias. Em outras palavras: sem
desprezar a explicação, falta descrição. (PERINI, 2008, p. 14).
1
There is a fundamental behavioral inconsistency between (a) the idea that the G(enerative) G(rammar) provides
the basis upon which to discover a theory of language and (b) the total lack of a program for constructing
grammars of particular languages.
O mesmo autor afirma ainda que o trabalho descritivo tem como objetivo principal
a apresentação e sistematização dos fatos da língua, de maneira a criar uma base de
dados que seja útil não apenas aos interessados na língua em si (gramáticos,
professores e planejadores de textos), mas também a lingüistas teóricos
preocupados com a validação empírica de suas hipóteses. (PERINI, 2008, p. 140).
Pelo exposto, verifica-se que o trabalho descritivo pode contribuir muito para o
desenvolvimento da pesquisa lingüística, considerando que a criação de determinada base de
dados deve ser compatível com uma porção significativa dos mesmos como eles podem ser
observados.
Gross (1975) ratifica esse ponto de vista ao afirmar que
existe uma crença difundida por certos manuais de filosofia que atribuem um poder
extrapolador considerável às teorias (isto é, aos modelos). A partir dessa crença,
uma teoria (um modelo) poderia predizer um número de fenômenos muito maior
que aqueles que serviram de base à construção da teoria. Não parece que existam
tais situações. A história das ciências [...] é uma sucessão de etapas totalmente
diferente. Toda construção teórica sempre é precedida de um longo trabalho de
acúmulo sistemático de dados, e os pesquisadores sempre se esforçam para
preencher as lacunas que porventura seus dados apresentem antes de proporem uma
regra geral. (GROSS, 1975, p. 9).2
Pela asserção de Gross, pode-se perceber a equalização que deve ser dada à teoria e
aos dados, ou seja, não se pode sobrepor a teoria aos dados, como o oposto também não deve
ocorrer. Mas, segundo o autor, o trabalho de observação dos dados sempre precede a
elaboração de uma teoria completa.
Porém, o trabalho descritivo, em termos teóricos, não é totalmente neutro. Isso só seria
possível se, na descrição, apenas fossem listados os dados, o que não demonstraria os avanços
obtidos pela Lingüística. Perini (2008, p. 14) afirma que “a escolha do tema, o recorte dos
dados e os aspectos considerados relevantes para a classificação são inevitavelmente dirigidos
por uma posição teórica”, mas essa posição teórica, embora afete a análise e a interpretação
dos dados, não tem efeito nenhum sobre eles próprios.
2
Il existe [...] une croyance répandue par certains manuels de philosophie que attribue um pouvoir extrapolateur
consideráble aux théories (isto é, aux modèles). D’après cette croyance, une théorie (un modèle) pourrait prédire
un nombre de phénomènes beaucoup plus important que ceux qui ont servi de base à la construction de la
théorie. Il ne semble pas qu’il ait jamais existé de telles situations. L’histoire des sciences [...] est une succession
d’étapes totalement différente. Toute construction théorique a toujours été précédée d’un long travail
d’accumulation systématique de données, et les chercheurs se sont toujours efforcés de combler les trous qui
pouvaient se présenter dans leurs données avant d’avancer une règle générale.
Essas questões confirmam a perspectiva de que o trabalho descritivo deve buscar a
adequação observacional. Chomsky citado por Kato (1997, p. 278) afirma que “há três
estágios na construção de uma teoria lingüística, cada qual com seu nível de adequação: (a)
adequação observacional (descrição empírica); (b) adequação descritiva (descrição da
competência do sistema interno) e (c) adequação explicativa (aquisição)”. Tal afirmação faz
supor que não seja possível descrever, muito menos explicar, o funcionamento de
determinada língua sem antes observar seu comportamento, ou seja, sem a adequação
observacional não há como atingir os estágios posteriores. Esse será, justamente, o viés do
presente trabalho: a observação das ocorrências, a fim de construir uma descrição
pormenorizada das mesmas, ampliando, dessa forma, o conjunto de dados acerca do
comportamento do gerúndio no português do Brasil.
A esse respeito, observa-se que o gerúndio no português do Brasil vem constituindo
novos tipos de ocorrências, conforme exemplificado abaixo:
(1) Amanhã vou estar te ligando às 10h.
Esse contexto de ocorrência3, chamado de gerundismo e cuja manifestação é
relativamente recente, constitui um breve exemplo de que a observação é uma ferramenta
imprescindível do pesquisador na coleta de dados, os quais servirão de ponto de partida para a
explicação do funcionamento de determinada língua.
Na lingüística atual, parece possível distinguir duas posições: por um lado, há aqueles
que consideram que já existem muitos dados e faltam teorias que os expliquem; por outro
lado, há os que defendem a idéia da falta de dados enquanto as teorias multiplicam-se. Tudo
leva a crer que o segundo ponto de vista é o mais consistente, tendo em vista o número
exorbitante de tentativas de explicação de vários fenômenos lingüísticos sem, contudo, obter
um consenso entre os pesquisadores, o que apenas ocasiona proliferação da nomenclatura
relacionada à pesquisa lingüística, em vez da elucidação dos fenômenos propriamente ditos.
Perini (2008) indica os seguintes pontos que subjazem à posição descritivista:
A preocupação com a formalização e a elaboração de teorias altamente
especificadas deve ceder lugar a uma necessidade mais urgente, a de definir e
esclarecer questões fundamentais de análise. [...] Os estudos lingüísticos sofrem de
falta de evidência para fundamentar as teorias. [...] Para os objetivos acima
discriminados, grande parte da estrutura da linguagem pode ser descrita em termos
de estrutura formal aparente. [...] A lingüística se encontra atualmente em um
estágio que pode ser chamado de ‘história natural’. [...] É urgente elaborar estudos
amplos de grandes fatias da estrutura das línguas. (PERINI, 2008, p. 7).
3
A descrição pormenorizada das ocorrências de gerúndio será apresentada no capítulo 3.
A partir dos pontos apresentados, pode-se questionar: mas como realizar esse trabalho
descritivo? Que tipos de informações devem ser levadas em conta? Um dos aspectos a serem
considerados é a necessidade da utilização de uma metodologia adequada para orientar a
coleta de dados, para que o foco da descrição – a taxonomia das formas – seja priorizado. Ao
utilizar uma metodologia eficaz, o pesquisador evita que os dados se percam ou sejam
tomados como um conjunto de informações desconexas. A esse respeito, Perini (2008, p. 18)
sugere o “cultivo de uma lingüística descritiva, assessorada por uma metodologia adequada de
obtenção de dados e caracterizada por uma extrema cautela e um alto grau de exigência na
elaboração de teorias”.
Quanto à triagem das informações para análise, de modo geral, é necessário respeitar o
princípio básico de partir dos dois níveis mais acessíveis aos falantes: as formas
fonológicas/fonéticas e o significado/conceito. Isso não quer dizer que os elementos abstratos
não possam ser levados em conta, mas, segundo Perini (2008),
(a) esses elementos não podem ser ponto de partida da análise e (b) a postulação de
um elemento abstrato requer fundamentação cuidadosa: é essencial demonstrar,
para cada elemento abstrato introduzido na análise, que não há mesmo alternativa
não-abstrata para ele. Os elementos abstratos são, por assim dizer, um mal
necessário. (PERINI, 2008, p. 23).
A afirmação acima apresenta um dos principais pressupostos da teoria que subsidiará a
análise aqui adotada, ou seja, análise de elementos lingüísticos explícitos, observando a ordem
em que aparecem e as relações que entre eles se estabelecem e considerando também que as
várias possibilidades de construção lingüística apresentam-se já em sua estrutura superficial
(mais detalhes serão apresentados nos parágrafos posteriores).
Todos os aspectos expostos anteriormente reforçam a idéia de que o trabalho
descritivo é de suma importância. Outros trabalhos já foram realizados sob esse ponto de
vista, tais como os de Levin (1993), que enfocou o comportamento dos verbos em inglês,
Casteleiro (1981), o qual tratou dos adjetivos do português e muitos trabalhos descritivos
realizados sob a orientação de Gross no Laboratoire Automatique de Documentation
Linguistique (LADL).
Por conseguinte, são bem-vindas as tentativas de elucidar o funcionamento das
estruturas lingüísticas partindo-se da análise delas próprias. O presente trabalho pretende
ajudar a suprir a escassez de estudos lingüísticos empiricamente fundamentados sobre a
língua portuguesa do Brasil, seguindo a idéia de Perini (2008) de que “precisamos de
descrições das línguas naturais [...] que sejam relativamente livres de pressupostos teóricos
controversos”.
Esse
posicionamento,
porém,
não
exclui
teorização,
simplesmente
redimensiona o poder das teorias sobre a análise dos dados, para que os dados não sejam
viciados ou selecionados, mesmo que involuntariamente, por pressupostos teóricos
insuficientemente fundamentados.
Isso quer dizer que, num trabalho descritivo, a preocupação básica não é a de construir
uma boa teoria que explique as ocorrências de determinada língua, mas, antes, fornecer bases
para a comprovação empírica das teorias, descrevendo os fatos a partir da forma como os
mesmos apresentam-se à primeira vista.
Na busca por um trabalho descritivo adequado, o pesquisador deve ter em mente o
objetivo de estabelecer listas de representações esquemáticas de construções possíveis,
buscando generalizações nas quais estas sejam evidentes, sem contudo subestimar os traços
idiossincráticos.
Segundo Perini (2008, p. 31), os mais importantes postulados que norteiam o trabalho
de descrição são os seguintes:
a) descrição superficial e conseqüente interpretação semântica das estruturas
superficiais, ou seja, não aceitação de estruturas múltiplas relacionadas
transformacionalmente;
b) consideração estritamente separada de traços de forma e traços de significado. Isso
quer dizer que há a necessidade de especificar os elementos
pertencentes à
estrutura sintática e aqueles pertencentes à estrutura semântica, para que,
posteriormente, possa ser hipotetizada a relação entre essas estruturas;
c) sintaxe delimitada residualmente, segundo a hipótese da Sintaxe Simples;
d) descrição não dividida em componentes compactos, homogêneos e ordenados
(sintaxe, semântica e pragmática). Em particular, aceitação da possibilidade de que
regras que estipulam aspectos formais podem lançar mão de informação
semântica.
Esses postulados, porém, vão de encontro a teorias clássicas, tais como a Teoria
Gerativa. A apresentação das frases abaixo pretende suscitar uma análise comparativa entre o
posicionamento da Gramática Gerativa Clássica e a hipótese teórica aqui ‘‘adotada4’’:
4
Referência à teoria da Sintaxe Simples, proposta por Culicover e Jackendoff (2005), a qual será
explicitada nos parágrafos posteriores.
(2) O Lucas comeu brigadeiro.
(3) Brigadeiro, o Lucas comeu.
(4) Comeu brigadeiro, o Lucas.
Do ponto de vista da teoria gerativa, a explicação de fenômenos dessa natureza dar-seia pela teoria Mova α. Segundo Mioto et al (2004, p. 249), a gramática universal (GU)
‘‘contém um mecanismo que desloca sintagmas de sua posição de base (aquela posição em
que ele foi gerado em DS) para alocá-los em outras posições da sentença’’. Isso pressupõe
que as três sentenças acima (considerando sua semelhança semântica) teriam uma mesma
estrutura sintática subjacente, a qual poderia movimentar-se, ocasionando transformações na
estrutura de superfície. A formulação geral de Mova α seria: ‘‘mova qualquer constituinte
pertencente a qualquer categoria gramatical (NP, VP, PP, CP,...) de qualquer posição sintática
para qualquer outra posição sintática’’ (p. 272). Esse postulado sugere que os exemplos de 1 a
3, apresentados acima, seriam diferentes realizações (diferentes estruturas superficiais) de
uma mesma estrutura profunda modificada.
Na perspectiva aqui adotada, as frases acima, apesar de veicularem um mesmo valor
de verdade, não seriam consideradas como resultado de uma estrutura profunda idêntica, que
sofreu transformações em sua estrutura superficial, manifestando-se diferentemente em cada
caso. Ao contrário, cada frase seria considerada única, o que sugeriria a presença de três
estruturas superficiais independentes, deixando de lado a possibilidade de buscar categorias
abstratas para explicar possíveis movimentos de constituintes na realização de tais
construções.
Esse ponto de vista é defendido por Culicover; Jackendoff (2005), os quais sugerem a
Hipótese da Sintaxe Simples, que defende a descrição da estrutura explícita (superficial ou do
espaço fonológico) e suas relações, tão diretas quanto possível, com a representação
semântica (espaço semântico).
Segundo os autores, “a teoria sintática mais explicativa é aquela que utiliza o mínimo
de estrutura necessário para fazer mediação entre a fonologia e o significado” (CULICOVER;
JACKENDOFF, 2005, p. 5, tradução nossa)5. Essa hipótese permite minimizar o uso de
entidades hipotéticas (morfossintáticas), baseando as análises em fatos cuja formulação
precisa, inevitavelmente, figurar em uma descrição da língua, no caso, fatos semânticos e
5
The most explanatory syntactic theory is one that imputes the minimum structure necessary to
mediate between phonology and meaning.
fatos fonéticos. Esse princípio pressupõe um importante critério, a chamada Navalha de
Occam - Occam’s Razor-, que preconiza que não se devem multiplicar entidades teóricas
além da necessidade. A Hipótese da Sintaxe Simples (HSS) não exclui a necessidade de se
postularem entidades de mediação entre a semântica e a forma; estas parecem ser necessárias
em muitos casos. Elas devem, apenas, ser mantidas no mínimo indispensável.
Ao propor a linearização das estruturas da oração, a HSS colabora para a simplificação
da análise sintática, tendo em vista que não haverá a necessidade de criar um grande número
de entidades abstratas para explicar determinadas ocorrências, mas ocasiona complexidade
para o tratamento semântico, como será visto adiante.
Analise-se a frase seguinte, com enfoque sobre o sujeito, a fim de explicar sua
ocorrência na perspectiva da Gramática Gerativa e na perspectiva da Hipótese da Sintaxe
Simples:
(5) O diretorj queria j sair mais cedo.
Ao propor uma análise do sujeito da frase (5), a perspectiva gerativa postularia que, na
primeira oração, ele é o SN antes do verbo queria e um SN nessa posição é sempre sujeito
(simplificação do componente semântico) e que o sujeito da segunda oração foi omitido
porque está co-indexado ao sujeito da primeira oração (complicação do componente
sintático).
Por outro lado, a Hipótese da Sintaxe Simples (HSS), admitindo que o sujeito é o SN
antes do verbo e considerando que isso não ocorre na segunda oração, estabelece regras para
recuperar semanticamente esse sujeito com base no sujeito da primeira (com isso, complica-se
o componente semântico, ao mesmo tempo simplificando o componente sintático). A solução
gerativista padrão (Chomsky, 1965) adota a solução oposta e postula que ambas as orações
têm sujeito, o que permite simplificar o componente semântico, mas complica o componente
sintático, porque depende de um sujeito abstrato, não realizado superficialmente, na segunda
oração. Isso requer uma regra especial para suprimir o sujeito da segunda oração (“Equi-NP
deletion”, na nomenclatura da época).
Se o ponto de partida for a frase como ela se apresenta, ou seja, se as frases não forem
analisadas como se tivessem um plano abstrato (estrutura profunda) para depois se
constituírem nas possíveis configurações de superfície, os dados poderão ser mais diretamente
compreendidos e explicados, mesmo que se tenha como conseqüência a complicação da
análise semântica dos mesmos. A complicação inevitável do componente semântico é menos
grave porque não acarreta a postulação de planos, estruturas e componentes abstratos. O
significado (assim como a pronúncia) é um componente inevitável – e, pode-se dizer,
concreto - das estruturas lingüísticas.
Dessa forma, a HSS nega o Princípio da Uniformidade da Interface, defendido pela
gramática gerativa clássica, o qual preconiza que
a interface sintaxe-semântica é maximamente simples, no sentido de que o
significado se mapeia transparentemente na estrutura sintática; e é maximamente
uniforme, de modo que o mesmo significado sempre se mapeia na mesma estrutura
sintática (CULICOVER; JACKENDOFF, 2005, p. 6) 6.
A HSS nega esse princípio porque ele prevê a necessidade de criar um grande número
de entidades abstratas que realizariam o mapeamento entre o nível sintático e o semântico, o
que não é desejável, dados os princípios da Sintaxe Simples.
No modelo HSS, os itens léxicos ganham fundamental importância, já que são eles
que relacionam, em grande medida, estruturas semânticas e fonológicas, e são as propriedades
desses itens que determinam em que tipos de contextos os mesmos podem ser encaixados,
determinando, assim, as estruturas das orações.
A esse respeito, Franchi; Cançado (2003) afirmam que
um item lexical-predicador (independente da categoria a que pertence) contém em
sua representação a diátese em que se fixou historicamente para seu uso atual, e que
contribui para a estruturação da sentença e para sua interpretação, na medida em
que determina um conjunto de argumentos explícitos ou implícitos que ‘devem’ ser
instanciados em determinadas posições sintáticas. Nesse sentido, o léxico funciona
como um ‘filtro’ que limita as instanciações sintáticas possíveis. (FRANCHI;
CANÇADO, 2003, p. 95).
Com base na afirmação anterior, considere-se, por exemplo, a valência de um verbo,
ou seja, os contextos nos quais ele poderá ocorrer, e que argumentos farão parte de cada
construção (diáteses causativa, ergativa, etc):
(6) Quebrar –
Maria
quebrou
SN(Agente)
(7) Quebrar –
V
SN (Paciente)
O Banco Econômico quebrou.
SN (Paciente)
6
a janela.
V
The syntax-semantics interface is maximally simple, in that meaning maps transparently into
syntactic structure; and is maximally uniform, so that the same meaning always maps onto the same
syntactic structure.
(8) Quebrar –
A janela
quebrou.
SN (Paciente)
V
Nesse sentido, Perini (2008) postula que
o conhecimento léxico se integra intimamente com o conhecimento gramatical, e a
distinção entre eles muitas vezes não é nada clara. [...] No mínimo, temos que
reconhecer que a gramática e o léxico são intimamente relacionados. (PERINI,
2008, p. 30).
Isso quer dizer que as informações sobre os itens lexicais permitem que se preveja em
que contextos os mesmos poderão aparecer e em que tipos de construções, conforme
demonstrado anteriormente.
Já a semântica depende de muitos outros fatores: a partir da comparação entre as frases
(7) e (8), por exemplo, é possível verificar que as diferenças semânticas do verbo não são
automaticamente previsíveis a partir das valências nem se correlacionam automaticamente
com diferenças valenciais, já que, nos casos citados, os verbos, apesar de possuírem a mesma
valência, têm significados diferentes: falir e despedaçar, respectivamente.
Culicover; Jackendoff (2005, p. 15) também defendem a importância dos itens lexicais
na determinação de contextos em que as construções podem aparecer ao afirmarem que “há
um contínuo de fenômenos gramaticais, dos idiossincráticos (inclusive palavras) até as regras
gerais da gramática”.7
Prosseguindo a análise baseada na HSS, verifiquem-se outros exemplos:
(9) Eu enfrento obstáculos todos os dias.
(10) Enfrento obstáculos todos os dias.
Uma rápida análise sintático-semântica das frases sugeriria que, na frase 9, existe uma
relação entre o sufixo –o e o sujeito, ou seja, o papel temático de agente é atribuído
redundantemente ao referente do pronome eu pela desinência e pelo sujeito. Na frase 10,
porém, como o lugar a ser ocupado pelo sujeito está vazio (SN imediatamente antes do
verbo), não existe essa redundância, porque o papel de agente somente é atribuído pela
7
There is a continuum of grammatical phenomena from idiosyncratic (including words) to general
rules of grammar.
desinência, o que leva a crer que, nessa frase, não há sujeito (embora os gramáticos
tradicionais possam dizer que há um sujeito oculto ou elíptico).
Em comparação, analisem-se, agora, exemplos com o gerúndio:
(11) João chegando, falará sobre o acidente.
(12) O menino entrou correndo pela sala.
(13) Joguei água fervendo na pia.
Frases como essas podem suscitar, dentre outros, os seguintes questionamentos:
a) Na frase (11), se João for sujeito do verbo chegar, por ser o SN imediatamente
anterior a esse verbo, que motivações haveria para isso, já que o gerúndio não apresenta
desinências que atribuem papel temático de agente? Nesse caso, poderia ser dito que a
desinência de gerúndio teria a potencialidade de atribuição de papel temático? Quem seria o
sujeito do verbo falar? Apesar de o referente dos verbos ser o mesmo (João), a segunda frase
não teria sujeito pela ausência de SN imediatamente anterior a ele?
b) Em que circunstâncias e por que o gerúndio apresenta a potencialidade de
funcionar como verbo principal da primeira oração (exemplo 11), como sintagma relacionado
ao verbo (exemplo 12) ou como adjetivo (exemplo 13)?
Essas questões são parte da complexidade que envolve as construções de gerúndio e,
por isso, receberão um tratamento descritivo minucioso, priorizando-se a descrição da relação
existente entre a estrutura sintática e semântica dessas construções. Para tanto, serão
analisados dados fornecidos por um corpus da língua falada do Brasil – Programa de Estudo
sobre o Uso da Língua (PEUL, 2000), complementados com dados de introspecção e dados
coletados assistematicamente, a fim de que se possam discutir os problemas teóricos
relacionados com a descrição dessa área da estrutura da língua.
A partir do trabalho proposto, entende-se que mais um passo será dado na direção de
executar a agenda dos procedimentos básicos da teoria gramatical, que inclui, segundo Perini
(2008, p. 113), “(a) explicitar as estruturas formais possíveis na língua; e (b) relacionar cada
uma dessas estruturas (e cada detalhe de cada estrutura) com interpretações semânticas
correspondentes”. Sob esse aspecto, pretende-se verificar como as construções de gerúndio
podem ser distribuídas na estrutura formal das frases e que conteúdos semânticos estão
vinculados a essas estruturas. Esses aspectos serão discutidos nas seções subseqüentes e terão
como ponto de partida a própria definição de gerúndio.
1.1. Algumas definições tradicionais de Gerúndio
Antes de iniciar a análise dos dados, serão apresentadas definições de gerúndio
elaboradas por alguns gramáticos tradicionais.
Cunha; Cintra (2001, p. 482) afirmam que o gerúndio é uma das formas nominais do
verbo. Essas formas nominais “caracterizam-se por não poderem exprimir por si nem o tempo
nem o modo. O seu valor temporal e modal está sempre em dependência do contexto em que
aparecem”.
Como exemplo, citam-se as frases:
(14) Os alunos estão fazendo o trabalho.
(15) Os garotos entraram brigando.
(16) Ela se queimou com água fervendo.
Nas frases acima, os elementos destacados estão em sua forma de gerúndio. Nesse
caso, o verbo recebe a terminação –ndo (morfema formador de gerúndio), apresenta o
processo verbal em curso, desempenha uma função típica de advérbio (no exemplo 15,
expressa o modo como os garotos entraram) e função típica de adjetivo (no exemplo 16,
qualifica a água).
Luft (1996, p. 130) afirma que “o gerúndio é o advérbio verbal: avanço pulando
(como?), aprende-se estudando, etc.; função adjetiva em: água fervendo (= fervente), crianças
brincando (= que estão brincando: oração adjetiva), etc.”
Rocha Lima (2001, p. 122) aponta que o gerúndio “equipara-se ao advérbio, pelas
várias circunstâncias de lugar, tempo, modo, condição, etc. que exprime’’.
Bechara (2001) postula que o gerúndio equivale a
um advérbio ou adjetivo (amanhecendo, sairemos = logo pela manhã, sairemos;
água fervendo = água fervente). Nessa função adjetiva o gerúndio tem sido
apontado como galicismo; porém é antigo na língua este emprego, quando ocupou
o lugar vago deixado pelo particípio presente, que desapareceu do quadro verbal
português para ingressar no quadro nominal. (BECHARA, 2001, p. 224).
Ao contrastar as propostas de Cunha; Cintra, Luft, Rocha Lima e Bechara (e de muitos
gramáticos tradicionais), percebe-se que as mesmas não apresentam nenhuma discussão
pormenorizada acerca da conceituação do gerúndio. Para tanto, é necessário considerar
algumas questões preliminares, dentre elas a relação entre classe e função.
1.2. Classes e Funções
Ao verificar as definições de gerúndio propostas pelos gramáticos tradicionais,
percebe-se que, de modo geral, ele é apresentado como uma forma verbal, como um advérbio
verbal ou em função adjetiva. Essas definições, porém, mesclam de modo confuso, pelo
menos, dois conceitos básicos: classe e função. Quando se diz que o gerúndio é um verbo ou
advérbio, considera-se como parâmetro as classes a que ele pode pertencer, enquanto a função
adjetiva diz respeito ao seu desempenho sintático em determinada frase. Assim entendido,
diz-se que as classes podem ser organizadas independentemente de contexto, já que elas são
analisadas em termos das propriedades isoladas dos elementos, enquanto as funções devem
ser analisadas contextualmente, pois serão estabelecidas sempre na relação entre os elementos
lingüísticos em questão.
Segundo Perini (2008),
a classe é uma relação paradigmática, e função é uma relação sintagmática,
conforme a distinção estabelecida por Saussure (1916). [...] A oposição entre
relações sintagmáticas (funções) e paradigmáticas (classes) se correlaciona,
respectivamente, com o produto da atividade lingüística (sintagmas, frases,
enunciados) e com as regras e princípios que governam a construção desse produto.
(PERINI, 2008, p. 48).
Para exemplificar esses conceitos, tome-se por referência a palavra em destaque,
pertencente a uma classe cujo feixe de traços seria:
MÉDICO
pode ser flexionado em número (médicos, etc.)
pode ser núcleo de um sintagma nominal (o médico competente)
pode ser núcleo de um sintagma adjetivo (Ele é médico; Tenho um irmão médico)
Considerando os traços acima, pode-se dizer que a palavra médico pertence a uma
determinada classe porque apresenta o potencial funcional descrito acima, quer dizer, as
classes das formas lingüísticas caracterizam-se pelas funções que elas podem ocupar na
sentença.
Outros exemplos das funções a serem desempenhadas por esse termo (médico) seriam:
(17) João, sendo médico, facilitará a obtenção de consulta.
função sintática de núcleo do sintagma adjetivo e função semântica de qualificador
(18) O médico ficou milionário fazendo cirurgias plásticas.
função sintática de núcleo do SN e papel semântico de centro de referência
Como pôde ser verificado, um mesmo item lexical pode desempenhar funções
diversificadas e o conjunto das possíveis funções que ele pode desempenhar (ou seja, seu
potencial funcional) é que vai determinar a que classe esse item pertence.
A classificação das formas lingüísticas é parte considerável do trabalho descritivo e
seu viés será indicado pelos objetivos do pesquisador. Perini (2008, p. 38) afirma que a
“categorização é o ato de classificar objetos, considerando alguns semelhantes a outros de
acordo com certos critérios selecionados”. Além disso, segundo o mesmo autor, “uma
classificação se faz por objetivos. Mudando o objetivo, muda a classificação; e uma descrição
gramatical comporta muitos objetivos, portanto muitas classificações” (PERINI, 2008, p. 45).
A partir desses pressupostos, conclui-se que não há uma maneira única, absoluta de
classificar os elementos lingüísticos; ao contrário, segundo Perini (2008, p. 46), “há um
grande número de possibilidades, e precisamos ter flexibilidade suficiente para perceber e
aplicar cada uma dentro do contexto em que faz sentido”.
Após a especificação dos objetivos, pode-se iniciar o trabalho de discriminar que
palavras pertencem a determinada classe e, para isso, conforme demonstrado, leva-se em
conta o potencial funcional dessas palavras.
Porém, estipular esses critérios não é tarefa simples, tendo em vista as peculiaridades
dos itens léxicos. Isso porque, como visto anteriormente, as palavras não são blocos unitários,
são feixes de traços de propriedades fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas. A esse
respeito, analisem-se mais alguns exemplos:
(19) O velho é bom.
(20) O livro velho é bom.
(21) Entrou cantando.
(22) Entrou estupidamente.
(23) Ficou com o dente doendo.
(24) Ficou com o dente roxo.
A partir desses exemplos, poderia ser criada a seguinte matriz de traços (semânticos e
sintáticos) para as palavras citadas em destaque:
Itens léxicos
Traços
Pode modificar verbo
Pode modificar adjetivo
Pode modificar nominal
Expressa evento
Expressa estado
Pode ser referencial
Pode ser núcleo de um SN
velho
Cantando
estupidamente
doendo
roxo
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
Figura 1: Quadro de matriz de traços
Uma análise comparativa entre os pares de exemplos anteriormente citados e a matriz
de traços das palavras em destaque sugere que, nos exemplos 19 e 20, velho, apesar de ser a
mesma palavra, apresenta comportamento diferenciado, já que, no primeiro caso, ela está em
função referencial e, no segundo caso, em função qualificativa. Com relação aos exemplos 21
e 22, percebe-se que, apesar de a estrutura ser praticamente a mesma (sintaticamente, V+
Modificador; semanticamente, evento + Modo), as palavras destacadas possuem matrizes de
traços diferentes, como se observa no quadro. Nos exemplos 23 e 24, também há paralelismo
sintático e semântico (sintaticamente, V+ SN + Modificador; semanticamente, mudança de
estado + Paciente + Estado), mas as palavras também têm traços muito distintos.
Além disso, é importante observar que:
a) palavras incluídas tradicionalmente numa mesma classe não compartilham a mesma
matriz de traços como, por exemplo, estupidamente e cantando, considerados advérbios de
modo. Perini (2008) faz referência a esse fato, sugerindo que o que se chama tradicionalmente
de adjunto adverbial é
um grupo heterogêneo de relações, com propriedades semânticas e sintáticas
extremamente variadas. A única característica que os une é sua representação
através de sintagmas preposicionados ou através de palavras invariáveis chamadas
‘advérbios’ – outra classe heterogênea. (PERINI, 2008, p. 78).
Isso quer dizer que a visão tradicional engloba numa mesma classe palavras que
possuem potencial funcional diferente, sem, contudo, apresentar explicação das motivações
para tal procedimento. Como se percebe, tal afirmativa ratifica a necessidade de nova
classificação para as formas lingüísticas;
a) Formas de gerúndio aplicadas em contextos diferentes têm função diferente
(formas relacionadas a verbos têm comportamentos diferentes daquelas relacionadas a
nomes). Isso pode indicar que as construções de gerúndio apresentam comportamento diverso
e, portanto, possuem potencial funcional relativamente complexo;
b) parece que nem todas as formas de gerúndio podem funcionar como adjuntos
adverbiais (o que poderia estar correlacionado à semântica dessas formas). No caso, não é
possível relacionar a forma doendo a um verbo, mas a nomes: cabeça doendo, pé doendo (e
não dançar doendo, comer doendo, etc). Isso mostra que a classe dos “gerúndios” não é
totalmente homogênea.
Levando em conta a breve análise exposta anteriormente, é possível vislumbrar a
complexidade da tarefa de estabelecer critérios de classificações dos elementos lingüísticos.
As observações acima indicadas são conseqüência, principalmente, de problemas da
gramática tradicional no estabelecimento adequado de classes. Perini (2008) afirma que
as deficiências principais da classificação de palavras encontrada na gramática
tradicional são: o uso de sistemas simples de classificação; a falta de critério nas
subclassificações; classes do tipo ‘cesta de lixo’ (por exemplo, advérbios e
pronomes) e rejeição da categorização múltipla. (PERINI, 2008, p. 40-41).
Isso quer dizer que há necessidade de estipular mais classes além das existentes,
cuidando para que não surjam subclassificações desnecessárias ou aleatórias e, ao mesmo
tempo, seja uma classificação que reflita a complexidade dos fenômenos lingüísticos.
Baseada nas observações elencadas acima acerca das particularidades do
comportamento do gerúndio, será proposta, no capítulo seguinte, uma análise relativa a sua
classificação inicial como verbo. Para tanto, serão apresentados os critérios definidores dessa
classe, a fim de que se possa perceber em quais critérios o gerúndio se enquadra.
2 CARACTERIZAÇÃO DO GERÚNDIO NA LÍNGUA PORTUGUESA
Conforme verificado no capítulo anterior, o gerúndio apresenta comportamento
bastante peculiar na língua portuguesa. Esse comportamento será especificado nas seções e
capítulos subseqüentes, iniciando-se a discussão pela análise do gerúndio como forma verbal.
2.1. O Gerúndio faz parte do lexema verbal?
O conceito de verbo formulado pelas gramáticas tradicionais praticamente não
apresenta variações. Para Cunha; Cintra (2001, p.379), verbo é uma ‘‘palavra de forma
variável que exprime o que se passa, isto é, um acontecimento representado no tempo.’’
Apresenta flexões de número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz.
Bechara (2001, p. 209-212) afirma que verbo é a ‘‘unidade de significado categorial
que se caracteriza por ser um molde pelo qual organiza o falar seu significado lexical’’. Suas
categorias seriam: gênero (particípio), número, pessoa, estado (afeta a qualidade lógica do
sucesso comunicado - afirmativo, negativo, etc.), aspecto, tempo, voz, modo, táxis (assinala a
posição de um acontecimento em relação com outro sem consideração do ato de fala),
evidência (assinala que o falante se refere a outro ato de fala – a uma informação indireta –
por meio do qual ele experimenta o acontecimento como não vivido por ele mesmo, como por
exemplo, o uso do futuro do pretérito, em que o falante se exime da responsabilidade quanto à
informação dada: A diretora teria dito que tudo foi um engano).
Rocha Lima (2001, p. 122) postula que o ‘‘verbo expressa um fato, um acontecimento:
o que se passa com os seres ou em torno dos seres. É a parte da oração mais rica em variações
de forma ou acidentes gramaticais”, podendo exprimir idéia de modo, tempo, número, pessoa
e voz.
Segundo Luft (1996), verbo é a
palavra que exprime um processo inserido no tempo: uma ação, um fenômeno, um
estado ou mudança de estado. O verbo tem papel fundamental na frase: é o termo
essencial do enunciado, o núcleo da frase sintaticamente construída, pois há orações
sem sujeito, mas não sem verbo. (LUFT, 1996, p. 124).
O autor considera que o verbo pode ser classificado quanto à flexão (tempo, formas
nominais, modo, voz, pessoa, número e aspecto), conjugação e função na locução verbal.
Como se percebe, os autores supracitados têm em comum a idéia de que o verbo é o
elemento central da oração e todos eles inserem nas definições categorias como a variação
morfológica, a semântica dos sufixos (tempo, pessoa), semântica do radical (ou seja, depende
do verbo em questão), voz, etc.
Neste trabalho, o conceito de verbo equivale à “palavra que pertence a um lexema
cujos membros se opõem quanto a número, pessoa e tempo” e é a “única palavra que pode
desempenhar a função sintática de núcleo do predicado”. (PERINI, 1996, p. 320).
Assim definido, pode-se dizer que o gerúndio é um verbo já que ele pode funcionar
como núcleo do predicado em frases como:
(3) João está fritando batatas.
(4) Marcos almoçando, nós partiremos.
Nos exemplos acima, o gerúndio mantém a mesma valência que vale para o verbo em
geral, ou seja, tanto em (1) quanto em (2) observa-se a realização da valência normal do
verbo, a mesma que se observa com qualquer outra forma do lexema.
Conforme dito anteriormente, além de poder funcionar como núcleo da oração, o
verbo também possui a propriedade de manter a mesma valência dos demais componentes do
lexema verbal. De acordo com Perini (2006), a valência de um verbo
é o conjunto de construções em que ele pode ocorrer, e os verbos se classificam
segundo a valência de cada um. E cada construção utilizada para exprimir a
valência de um verbo se chama diátese; assim, a valência de um verbo é o conjunto
de suas diáteses. (PERINI, 2006, p. 146).
Assim considerado, verifica-se que essas características funcionais dos verbos
colaboram para que os mesmos possam ser dispostos em subclasses. Para a análise de
determinada forma lingüística, aplica-se esse critério observando se a mesma faz parte de
algum lexema verbal, entendido como o conjunto de formas que são morfologicamente
relacionadas quanto ao radical e que ocorrem no mesmo conjunto de diáteses verbais (ou seja,
têm a mesma valência). Isso quer dizer, por exemplo, que as palavras cortou e cortando,
exemplificadas abaixo, pertencem ao mesmo lexema cortar, já que são morfológica e
semanticamente relacionadas e pressupõem a existência de um agente (no caso, Maria) e um
paciente (no caso, pão), representados sintaticamente da mesma maneira:
(3) Maria cortou o pão para que nós o comêssemos.
Agente
Paciente
(4) Maria cortando o pão, nós o comeremos.
Agente
Paciente
Tal conceito permite que se excluam do lexema verbal, por exemplo, formas como
cortante, tendo em vista que a mesma não compartilha a valência de cortar, o que causa a
agramaticalidade da frase (5):
(5) * Maria cortante o pão, nós o comeremos.
Nesse exemplo, cortante não pressupõe um agente e um paciente, mas um instrumento
que tenha essa potencialidade:
(6) Faca cortante
Instrum.
Os exemplos acima indicam que a forma de gerúndio verbal mantém a valência do
verbo cortar.
Segundo Rodrigues (2006), no português do Brasil, o gerúndio assume um
comportamento essencialmente verbal porque apresenta as seguintes características:
(a) permite uma complementação idêntica àquela das formas verbais que lhe
correspondem, ou seja, preserva a valência comum a todas as formas do lexema verbal. Nesse
caso, a forma de gerúndio pode receber os mesmos complementos de verbos finitos, inclusive
pronomes:
(7) Quando Lea viu o suspeito, escondeu sua bolsa, guardando-a debaixo do sofá.
(b) pode ter um sujeito explícito representado por um pronome nominativo:
(8) Ela saindo, poderemos conversar.
(c) pode participar de um tempo composto exprimindo aspecto imperfectivo:
(9) O governo estará negociando com os sindicatos amanhã.
(d) admite passiva:
(10) O abono salarial está sendo negociado pelas partes interessadas.
De acordo com Lagunilla (1999), a prova do caráter verbal do gerúndio é
a sintaxe interna da unidade que forma, ainda que do ponto de vista externo
funcione algumas vezes como um advérbio, quer dizer, como um modificador do
verbo ou da oração, e outras como um adjetivo predicativo, isto é, como um
modificador do verbo e do substantivo8 (LAGUNILLA, 1999, p. 3454).
Essa natureza verbal seria demonstrada através de propriedades formais (morfológicas
e sintáticas), já que as construções de gerúndio apresentam flexibilidade de composição
(podem ser simples ou compostas), a qual vem associada com as noções de aspecto e tempo
(próprias de verbos) e recebem complementos regidos diretamente. Porém, como observa a
autora, a manifestação dessas propriedades nem sempre é clara, porque as mesmas são
condicionadas, principalmente, por fatores de ordem semântica.
De acordo com a mesma autora,
(o gerúndio) manifesta sua condição verbal pela possibilidade de receber
complementos e modificadores. [...] Admite modificadores predicativos
pertencentes a categorias diversas (adjetivos e adverbiais). [...] Outras propriedades
verbais do gerúndio são a de admitir complementos circunstanciais de lugar
próprios e a de poder formar perífrases de diversos tipos (temporais, aspectuais,
modais e passivas), nas quais o gerúndio é auxiliar. [...] Por último, a possibilidade
de ter sujeitos explícitos é uma propriedade que demonstra o caráter oracional do
gerúndio9. (LAGUNILLA, 1999, p. 3458-3461).
8
‘[...] la sintaxis interna de la unidad que conforma, aunque desde el punto de vista externo funcione
unas veces como un adverbio, es decir, como un modificador del verbo o de la oración, y otras como
un adjetivo predicativo, esto es, como un modificador del verbo y del sustantivo’.
9
‘[...] (El gerundio) manifiesta su condición verbal en la posibilidad de llevar complementos e
modificadores. [...] Admite modificadores predicativos pertenecientes a categorías diversas (adjetivos
y adverbiales). [...] Otras propiedades verbales del gerundio [...] son la de admitir complementos
circunstanciales de lugar propios y la de poder formar perífrasis de diverso tipo (temporales,
aspectuales, modales y pasivas), en las que el gerundio es el auxiliar. [...] Por último, la posibilidad de
tener sujetos explícitos es una propiedad que demuestra el carácter oracional del gerundio’.
Naturalmente, o que é importante nessas propriedades é que são idênticas às das
demais formas do lexema verbal: correndo se comporta, desses pontos de vista, exatamente
como corro, correram, etc.
As frases abaixo exemplificam as propriedades elencadas anteriormente:
(11) Mesmo comendo doce, Iara continua emagrecendo muito.
(12) André falando alto, conseguiu obter a atenção dos convidados.
(13) Patrícia foi aprovada no concurso estudando com afinco.
(14) Anita morando em Congonhas, admira as obras barrocas todos os dias.
(15) João continua fumando muito.
O exemplo (11) reflete a possibilidade de o gerúndio poder receber complementos
(doce) e modificadores (muito). Em (12), verifica-se que alto é modificador do gerúndio e
pertence à categoria adjetiva, ao passo que em (13), o modificador pertence a uma categoria
adverbial (com afinco). O exemplo (14) apresenta o gerúndio com um complemento
circunstancial de lugar (em Congonhas) enquanto o exemplo (15) indica uma construção
perifrástica de aspecto permansivo, em que o gerúndio é o verbo principal. A possibilidade de
ter sujeitos explícitos é verificada nos exemplos (11), (12), (14) e (15).
Assim proposto, pode-se considerar que o gerúndio, no português do Brasil, possui as
seguintes propriedades:
2.1.1. Propriedades morfológicas
Como propriedades morfológicas, Lagunilla (1999, p. 3454) aponta que o gerúndio
‘‘constitui, junto com o infinitivo e o particípio, o paradigma das formas não finitas do verbo,
carentes de morfemas de pessoa e número10’’.
Essa ausência de morfemas de concordância (de pessoa e de número), de acordo com a
autora, pode ainda gerar conseqüências na interpretação de enunciados, tais como a
ambigüidade observada na frase abaixo:
10
El gerundio constituye, junto al infinitivo y el participio, el paradigma de las formas no finitas del
verbo, carentes de morfemas de persona y numero.
(16) João olhou para suas filhas chorando11.
Tal enunciado pode significar que o agente do verbo chorar seja João ou então suas
filhas.
Quanto ao aspecto, Lagunilla (1999) afirma que o gerúndio é uma
[...] forma aspectualmente imperfectiva ou progressiva, que expressa a ação ou o
processo denotado pelo verbo em seu desenvolvimento ou seu término, por
oposição ao particípio e ao infinitivo; formas que indicam respectivamente o
processo terminado e o processo ‘sem atender à possibilidade de término’.12
(LAGUNILLA, 1999, p. 3456).
Para ilustrar sua afirmação, a autora apresenta os seguintes exemplos:
(17) O alpinista escorregou alcançando o topo.
(18) Alcançado o topo, o alpinista escorregou.
(19) O alpinista escorregou ao alcançar o topo.
No primeiro exemplo, o verbo no gerúndio denota um evento em curso, ao passo que
nos demais casos o particípio e o infinitivo denotam eventos conclusos.
Lagunilla (1999, p. 3.457) afirma ainda que “a caracterização do gerúndio como uma
forma imperfectiva ou progressiva se estabelece também por oposição ao gerúndio composto,
que indica a ação ou processo verbal como algo acabado”.13 Isso quer dizer que as formas
simples de gerúndio indicam aspecto imperfectivo ou progressivo e as formas compostas
indicam ação ou processo verbal concluído. Nessa perspectiva, levando em conta que a noção
de tempo interfere na de aspecto, a autora postula que a forma simples pode expressar
simultaneidade, anterioridade ou posterioridade, e a forma composta indica apenas
anterioridade, conforme os exemplos abaixo apontam:
(20) Patrícia acalmou-se comprando roupas no shopping.
11
Mais detalhes sobre essa construção no capítulo 3.
[...] forma aspectualmente imperfectiva o progresiva que expresa la acción o el proceso denotado
por el verbo en su desarrollo o sin su término, por oposición al participio y al infinitivo; formas que
indican respectivamente el proceso con su término y el proceso ‘sin atender a la posibilidad de
término’.
13
La caracterización del gerundio como una forma imperfectiva o progresiva se establece también por
oposición a gerundio compuesto, que indica la acción o proceso verbal como algo acabado.
12
(forma simples – comprar é ação simultânea a acalmar-se/aspecto imperfectivo)
(21) Patrícia chegou à festa, reconhecendo seus velhos amigos.
(forma simples – reconhecer é ação posterior a chegar/aspecto imperfectivo)
(22) Atacando a criança, o pitbull atestou sua periculosidade.
(forma simples – atacar é ação anterior a atestar/aspecto imperfectivo)
(23) Tendo chegado à sala de jantar, João viu todos à mesa.
(forma composta – chegar é ação anterior a ver/ aspecto concluso)
Essa propriedade da forma composta com ter...-do é também comum ao gerúndio e às
demais formas do lexema verbal.
A partir das discussões anteriores, podemos concluir que, do ponto de vista da análise
das valências verbais, o gerúndio é certamente uma forma verbal – isso apesar de algumas
idiossincrasias importantes, como a ausência de flexão de número e pessoa e sua ocorrência
ao lado de verbos auxiliares, como na construção estou correndo.
2.1.2. Propriedades sintáticas
Conforme discutido anteriormente, o gerúndio é uma forma verbal e por isso tem a
potencialidade de funcionar como núcleo do predicado em frases como:
(24) Marcelo chegando, nós sairemos.
Nesse caso, se ele desempenha a função de núcleo do predicado (ele é o único verbo
significativo da oração), uma outra noção vem à tona: a noção de sujeito. Segundo Perini
(2008, p. 52), sujeito é o “SN que partilha seu papel temático com o sufixo pessoa-número,
elaborando-o”. Para o referido autor,
a motivação para se postular a função de sujeito vem basicamente da necessidade
de descrever os seguintes fenômenos: a) a atribuição de papéis temáticos aos
diversos SNs da oração; b) a concordância verbal; e c) a distribuição de itens como
eu em oposição a me. (PERINI, 2008, p. 51).
A melhor descrição para esses fenômenos, de acordo com a Hipótese da Sintaxe
Simples, será aquela baseada nas informações disponíveis ao receptor e não em explicações
que se baseiem em relações abstratas entre os constituintes da oração.
Assim considerado, Perini propõe a seguinte regra de identificação do sujeito14:
Condição prévia: o sujeito é um SN cuja pessoa e número sejam compatíveis com
a pessoa e número indicados pelo sufixo de PN do verbo. (i) se na oração houver
um SN nessas condições, esse SN é o sujeito. (ii) se houver mais de um SN,
então o sujeito é o SN que precede imediatamente o verbo. (iii) Mas se o SN em
questão for um clítico (me, te, nos, se), ele não conta, e o sujeito é o SN
precedente. (PERINI, 2008, p. 53).
Analisem-se as frases abaixo, a fim de que seja testada a aplicação dessa regra:
(25) Eu me presenteei com um anel de brilhantes.
(26) Paulo beijou sua filha.
(27) Chegou a encomenda.
No primeiro exemplo, inicialmente, se se considerar a relação do sufixo com os SNs
presentes, há dois candidatos potenciais para a função de sujeito: eu e me, já que ambos, assim
como o verbo, indicam a primeira pessoa do singular, o que se encaixa na condição prévia
estabelecida pelo autor. Para dissipar esse impasse, lança-se mão dos últimos critérios da
regra, ou seja, como há dois SNs prováveis e um deles é o clítico, ele é excluído e,
conseqüentemente, o sujeito será eu.
No segundo exemplo, também há dois sintagmas candidatos a sujeito, Paulo e sua
filha, já que não há indício de concordância entre o verbo e esses sintagmas. Assim sendo,
deve-se aplicar o primeiro critério, entendendo que Paulo é o sujeito por estar numa posição
imediatamente anterior ao verbo.
E, no terceiro exemplo, como só há um SN e ele satisfaz as condições estipuladas
(compatibilidade de pessoa e número com o sufixo do verbo), ele é o sujeito.
Verifiquem-se, agora, casos de período composto, em que há orações cujos verbos
principais estão no gerúndio:
(28) João me presenteando com um anel de brilhantes, ficarei feliz.
14
Segundo o autor, essa regra funciona para períodos simples. No caso de períodos compostos e casos de
redução anafórica, haveria a necessidade de postulação de outras restrições.
(29) Paulo beijando sua filha, demonstrará carinho.
(30) Chegando o bolo, nós cantaremos os parabéns.
Como as formas de gerúndio jamais apresentam sufixo de pessoa e número, deve-se
lançar mão dos demais critérios: no primeiro exemplo, como há dois candidatos a sujeito, pelo
critério (iii) exclui-se o me, admitindo-se João como sujeito. No segundo exemplo, como
também há dois candidatos, lança-se mão do critério posicional do sintagma, admitindo-se,
então, Paulo como sujeito. No terceiro exemplo, como não há sufixo de PN no gerúndio e
existe somente um SN na oração, ele será o sujeito.
Além dos casos de gerúndio núcleos de predicado ou relacionados a verbos, há, ainda,
exemplos de formas que podem desempenhar funções relacionadas a nomes:
(31) Armando vendeu um apartamento contendo três quartos.
(32) André escaldou os pés com água fervendo.
No exemplo (31), a forma de gerúndio mantém, de um lado, a valência do verbo (por
exemplo, tem um objeto direto, três quartos) e relaciona-se, por outro lado, ao nome
apartamento, funcionando como modificador, isto é, uma oração tradicionalmente
classificada como adjetiva restritiva. No exemplo (32), porém, o gerúndio não constitui o
núcleo da oração e desempenha função puramente adjetiva, especificando o nome que ele
acompanha (nesse caso, água). Esse tipo de comportamento do gerúndio assemelha-se ao
comportamento do particípio, que apresenta uma forma nominal (exemplos 33) e outra verbal
(exemplos 34):
(33) a) O carro chegou com o pneu cortando.
b) O carro chegou com o pneu cortado.
(34) a) A sandália de Bia tinha quebrado o salto.
b) A sandália de Bia estava quebrando o salto.
Tais exemplos permitem que se estabeleça uma análise comparativa entre o
comportamento do gerúndio e do particípio (ou melhor, como será visto, com um dos
particípios).
Segundo Perini (2008, p. 167), a designação de particípio “cobre na verdade duas
formas morfologicamente parecidas, mas de comportamento gramatical bem distinto, e
apenas uma delas é realmente uma forma verbal associada a diáteses”. As frases, a seguir,
indicam essa dualidade:
(35) Marcela tinha resolvido a questão.
(36) As questões resolvidas não serão alvo de discussão.
Verifica-se que, na primeira frase, tem-se um particípio verbal, que é invariável,
regular, vem acompanhado de verbo auxiliar e mantém a valência verbal (no caso, sujeito
agente e objeto direto paciente). Na segunda frase, tem-se um particípio nominal, que
funciona como modificador, está em relação de concordância com o núcleo do sintagma
nominal e não mantém a valência verbal. Por causa desse comportamento, é melhor analisar
o particípio tradicional como representando, na verdade, duas formas: o particípio verbal e o
particípio nominal, considerando que apenas o primeiro é que faz parte do lexema verbal.
De acordo com Perini (2008, p. 167), a diferença morfológica entre o particípio
nominal e o verbal é que o “particípio nominal parece fazer parte de um grupo de nominais
(‘adjetivos’), derivados do verbo, mas não propriamente fazendo parte do lexema verbal”,
conforme verificado anteriormente.
Em comparação ao gerúndio, o comportamento do particípio nominal, em termos de
valência, não se sustenta, com se pode observar nos exemplos abaixo:
(37) João deu uma rosa a Gabriela.
(3) João dando uma rosa a Gabriela, tudo voltará ao normal.
(4) O leite fervendo entornou.
(5) Uma rosa dada por João a Gabriela.
No exemplo (37), tem-se o verbo dar, em forma finita, que ocorre acompanhado de
um sujeito agente (João), um objeto direto tema15 (uma rosa) e um objeto indireto meta
(Gabriela). Nos exemplos (38) e (39), tem-se o verbo dar e ferver no gerúndio, mantendo a
mesma diátese de suas formas finitas (a diferença entre eles é que, no exemplo (38), o
gerúndio é núcleo do predicado e no exemplo (39), ele é modificador de um nome). No
exemplo (40), as relações sintáticas são subvertidas: tem-se um sujeito tema (rosa) e o que era
15
O tema é o elemento que sofre um deslocamento, físico ou virtual. No caso, a rosa “passa” de João (agente e
fonte) a Gabriela (meta[goal]).
sujeito agente torna-se um sintagma preposicionado regido de por, tradicionalmente
denominado “agente da passiva” (por João).
Esses exemplos sugerem que o particípio nominal, diferentemente do particípio verbal
e do gerúndio, não faz parte do lexema verbal.
Uma outra análise pode ser realizada a partir do comportamento sintático do gerúndio,
relacionando-o agora ao infinitivo. Comparem-se os exemplos abaixo:
(6) Paulo me viu varrer o chão.
(7) Paulo me viu comer no chão.
(8) Paulo me viu varrendo o chão.
(9) Paulo me viu comendo no chão.
(10) Paulo me viu dormindo no chão.
As frases acima sugerem comportamentos diferenciados entre o gerúndio e o infinitivo
e mesmo entre construções de gerúndio. Nos exemplos (41) e (42), há consenso de que Paulo
não é o agente dos verbos varrer e comer, respectivamente, mas, no exemplo (43), a
construção de gerúndio é ambígua com relação ao agente do verbo varrer, já que Paulo pode
ter me visto enquanto ele varria o chão, ou Paulo pode ter me visto enquanto eu varria o chão.
Tal ambigüidade também ocorre no exemplo (44), em que o agente para o verbo comer pode
ser Paulo ou eu, porém, no exemplo (45), apesar de também haver uma construção de
gerúndio, não há tal ambigüidade, considerando que Paulo não pode ser agente de dormir,
interpretação talvez restrita por aspectos pragmáticos (quem está dormindo não pode ver).
Como se vê, o comportamento sintático do gerúndio é bastante peculiar em algumas
construções, comparado ao comportamento de outras formas nominais.
2.1.3. Propriedades semânticas do gerúndio
De acordo com Lagunilla (1999),
os gerúndios caracterizados [...] como verbos são, do ponto de vista semântico,
predicados. [...] Os gerúndios predicativos são predicados verbais e, como tais,
denotam ações, processos ou estados dos indivíduos. [...] Mas os gerúndios
adjuntos podem ter também um conteúdo proposicional. [...] Esse valor
proposicional distingue o gerúndio adjunto do gerúndio predicativo; este aparece
formando parte da única proposição existente, aquela constituída pelo verbo finito.
(LAGUNILLA, 1999, p. 3461-3462)16.
As frases abaixo sinalizam as idéias apontadas pela autora:
(46) João sentirá frio abrindo a porta da sala. (gerúndio adjunto)
(47) João chegou abrindo a porta da sala. (gerúndio predicativo)
A partir dos exemplos (46) e (47), pode ser verificado que as formas de gerúndio
constituem predicados verbais, denotam ação e estabelecem uma relação semântica similar
àquela existente na frase, cujo verbo está na forma finita:
(48) João abriu a porta da sala.
Isso sugere que, assim como na frase (48), em que o verbo abrir está numa forma
finita e necessita de um agente e um paciente, nas frases (46) e (47), apesar de o verbo abrir
não estar numa forma finita (mas sim no gerúndio), a mesma relação se estabelece, ou seja, há
necessidade de um agente e um paciente que se constitua como parte de sua predicação.
A partir das propriedades expostas anteriormente, assume-se, neste trabalho, que o
gerúndio é definido formalmente como a forma verbal a cujo radical é acrescentada a
desinência –ndo e cuja formação apresenta-se totalmente regular, sem nenhuma exceção:
estando, sendo, brincando, fazendo, rindo, etc.
Apesar da regularidade na forma, as construções de gerúndio apresentam grande
versatilidade de funções. A esse respeito, Campos (1980) afirma que
o gerúndio admite, em nossos dias, várias possibilidades de uso: o circunstancial, o
adjetivo, o coordenado, o narrativo, o exclamativo, o interrogativo e ainda
perífrases. Desses todos, os três primeiros e o último são conhecidos desde as
primeiras obras de nossa literatura, apresentando algumas limitações, nos tempos
mais recuados, que, por sua vez, diminuem à medida que nos aproximamos de
nossos dias. (CAMPOS, 1980, p. 47).
A afirmação de Campos sugere uma ampliação dos usos do gerúndio na
contemporaneidade e, portanto, é necessário um trabalho descritivo que possa realizar o
16
“Los gerundios caracterizados [...] como verbos, son desde el punto de vista semántico, predicados.
[...] Los gerundios predicativos son predicados verbales y, como tales, denotan acciones, procesos o
estados de los individuos. [...] Pero los gerundios adjuntos pueden tener también un contenido
proposicional. [...] Ese valor proposicional distingue el gerundio adjunto del gerundio predicativo; este
aparece formando parte de la única proposición existente, la constituída por el verbo finito.”
detalhamento teórico-empírico dessas construções, verificando, inclusive, a adequação dos
contextos de uso propostos não só pela autora, mas também por outros teóricos da área. O
capítulo subseqüente tem por objetivo apresentar essa discussão.
3. AS CONSTRUÇÕES DE GERÚNDIO NO PORTUGUÊS DO BRASIL
Esta seção tem por objetivo descrever os contextos de ocorrência das construções de
gerúndio do português do Brasil, enfocando aspectos relacionados a sua constituição sintática
e semântica.
Segundo Perini (2008), uma construção é
uma representação esquemática que se realiza concretamente como um conjunto de
frases ou sintagmas. [...] A construção, definida em termos esquemáticos
(gramaticais) se realiza (ou se elabora) em termos de palavras e morfemas
particulares, de modo a produzir as bases de um enunciado. (PERINI, 2008, p.
140).
Uma construção se define em termos simbólicos, ou seja, é definida pela relação
existente entre a informação morfossintática e a informação semântica.
Segundo a proposta de Perini, as frases abaixo poderiam ser descritas do seguinte
modo:
(1) João comprando
SN
Agente
V
um carro, resolverá seus problemas.
SN
Paciente
V
(2) Marco vendo Maria, vai ficar
SN
V
Experienciador
SN
Aux
Causador
da Experiência
V
SN
Paciente
feliz.
SAdj
Qualidade
Conforme proposto anteriormente, as construções serão aqui descritas, basicamente,
em dois planos: o plano sintático (ordenação dos sintagmas) e o plano semântico (papéis
temáticos desempenhados pelos sintagmas).
3.1 Constituição Sintática
Com relação ao plano sintático, pode-se dizer, conforme visto anteriormente, que ele
envolve as classes dos sintagmas que, segundo Perini (2008, p. 157), são enquadradas em
cinco classes (considerando as orações simples): “sintagma nominal (SN), verbo (V),
sintagma adverbial (SAdv) e sintagma adjetivo (SAdj), além de casos de SN precedido de
preposição. Nesses casos, a preposição (ou preposições) vem sempre especificada”. Indicamse abaixo exemplos desses sintagmas:
(3) [O carro] [capotou]
SN
V
(4) [Rodinei] [partiu] [cedo]
SN
V
SAdv
(5) [Cristiano] [chegou] [em casa] [cansado].
SN
V
PrepSN
SAdj
Em orações complexas, considerando principalmente as construções com gerúndio, a
configuração desses sintagmas é diferenciada, conforme indicam os exemplos abaixo:
(6) João ficou com o pé queimando.
(7) [Carlos partindo cedo]SAdv vai chegar mais rápido.
Aqui percebe-se, na frase (6), que o gerúndio refere-se ao núcleo do SN (pé),
assumindo, pois, funções adjetivas. Na frase (7), o sintagma é uma oração inteira, cuja função
assemelha-se àquela desempenhada pelos sintagmas que constituem as orações simples,
porém, os sintagmas presentes em orações complexas apresentam suas peculiaridades, como,
por exemplo, o fato de que a posição da oração encaixada em relação à principal pode alterar
a relação estabelecida (exemplos 10 e 11), o que não acontece com sintagmas em oração
simples (exemplos 8 e 9):
(8) Juninho vai fazer a prova [amanhã]SAdv.
(9) [Amanhã]SAdv, Juninho vai fazer a prova.
(10) O carro capotou, [estragando o motor] Tempo posterior.
(11) [Estragando o motor]Tempo anterior, o carro capotou.
Mais detalhes acerca desse tipo de fenômeno serão fornecidos na seção 3.3.
Além desses aspectos sintáticos, uma construção envolve também aspectos
semânticos, os quais serão especificados a seguir.
3.2. Papéis Temáticos
A definição de papel temático (PT) aqui adotada baseia-se em Perini (2008), o qual
afirma que
o papel temático não se identifica com a relação que estabelecemos entre um evento
ou estado e uma coisa; é, antes, uma relação codificada na língua de forma
esquemática, eventualmente elaborada pelo falante em situações concretas. [...] A
elaboração da relação fica por conta do conhecimento de mundo do usuário e não é
codificada nas formas sintáticas da língua. [...] Vou me referir às relações
elaboradas chamando-as relações conceptuais temáticas, ou RCTs, para distinguilas dos papéis temáticos, que são as unidades gramaticalmente relevantes. (PERINI,
2008, p. 112).
A fim de melhor compreender a afirmação do autor, analisem-se os exemplos:
(3) O sapato machucou meu pé.
(4) A mãe machucou seu filho.
(5) A mãe espancou seu filho.
Nas frases acima, os sintagmas em destaque funcionam como sujeito, ou seja, são SNs
que partilham seu papel temático com o sufixo número-pessoal, elaborando-o. Porém, as
relações estabelecidas entre esses sintagmas e o verbo não são as mesmas: em (12), não há o
traço de volição, porque sabemos que sapato não é humano; em (13), pode ou não haver esse
traço, levando em conta que a mãe pode ter desejado ou não machucar o filho; em (14) o traço
volitivo ocorre sem dúvida, tendo em vista que ninguém espanca sem desejo. Como se vê, em
todas as frases, apesar da diferença, o papel temático desempenhado por esses sintagmas é o
de causador do evento, representado de forma esquemática, ou seja, o falante elabora um
papel temático generalizador que abarca traços mais detalhados, mas que se comportam de
maneira gramaticalmente semelhante. Portanto, a diferença entre papéis temáticos e relações
conceptuais temáticas corresponde, segundo Perini (2008), à
oposição entre um contínuo de relações minimamente distintas (as relações
conceptuais) e um conjunto de relações discretas, esquemáticas (os papéis
temáticos), das quais as relações conceptuais representam elaborações. [...] Outros
fatores, em particular fatores pragmáticos, elaboram a relação até o nível de detalhe
necessário para a comunicação do momento. (PERINI, 2008, p. 177,118).
Vários autores como Fillmore (1970), Chafe (1970), Gruber (1976), Jackendoff
(1990), Dowty (1989, 1991) e outros apontam uma extensa lista para a classificação dos
papéis temáticos, mas essas listas apresentam divergências quanto à nomenclatura e quanto às
definições de um mesmo papel temático. Apesar disso, Cançado (2005, p. 124) postula que
“parece evidente que essas noções (papéis temáticos) têm um papel crucial no conhecimento
do falante sobre a língua e que, portanto, são noções que merecem continuar a ser
investigadas, mesmo havendo tantos problemas teóricos ainda a serem contornados”.
Com relação à necessidade de distinção entre os papéis temáticos, Perini (2008) afirma
que
não é possível esperar a elaboração de uma lista definitiva de PTs para iniciar a
pesquisa léxica: primeiro porque o levantamento léxico é urgente para vários
objetivos; e, depois, porque a lista de PTs depende, pelo menos em parte, do
levantamento léxico. Portanto, as duas tarefas têm que ser desenvolvidas
paralelamente, e em comunicação constante, de maneira a que cada uma delas
controle os resultados da outra e ao mesmo tempo se beneficie deles. (PERINI,
2008, p. 139).
Conforme verificado, os papéis temáticos constituem tema controverso e por isso sua
utilização precisa ser delimitada. Neste trabalho, o recorte feito privilegia as classificações
apontadas por Perini (2008), Cançado (2003) e Dillinger (1995), que buscaram ampliar a
discussão e, conseqüentemente, a lista sugerida pelos autores pioneiros no assunto. A seguir,
apresenta-se a lista dos papéis temáticos utilizados neste trabalho, com exemplos:
3.2.1. Agente: é o elemento que pratica uma ação (por volição ou não):
(6) Marielce chegando, vai nos contar o ocorrido.
(7) Maria Clara reclamou do sapato machucando seu pé. (nesse caso, Maria Clara é
agente de reclamar e o sapato é agente de machucar).
3.2.2. Paciente (Objeto afetado): entidade que sofre o efeito de uma ação ou evento,
mudando ou não de estado em conseqüência dela:
(8) Maria José fez o doce amassando as bananas.
(9) Comprei um notebook.
3.2.3. Tema: elemento que sofre um deslocamento (físico ou virtual):
(10) André chutou a bola.
(11) Levei o vaso para casa.
3.2.4. Qualidade: atributo, categoria ou característica:
(21) A blusa sendo verde-claro, ficará transparente.
(22) Bruno sendo mecânico, vai consertar o próprio carro.
3.2.5. Tempo: as características temporais do estado ou evento (simultâneo, anterior, etc.):
(23) Glória chegando no bar, encontrou velhos amigos. (tempo anterior)
3.2.6. Modalidade: modificam o ato locutivo que produz o elemento ou oração a que se acha
associada:
(24) Infelizmente, essas azeitonas estão estragadas.
(25) Falando sério: vamos namorar?
3.2.7. Finalidade: objetivo de uma ação:
(26) Joana viajou querendo descanso.
3.2.8. Causa: relação de causa física entre um evento e outro:
(27) A pedra caindo em cima, o vaso quebrou.
3.2.9. Condição: pressuposto entre uma proposição e outra:
(28) Mariana ficará rouca cantando alto.
3.2.10. Modo: o modo como a ação é realizada:
(29) Maria Luíza entrou correndo.
3.2.11. Conseqüência: efeitos provocados por uma ação:
(30) Não estudou durante o ano, sendo reprovado.
3.2.12. Concessão: expressa o que poderia impedir ou modificar o fato declarado na oração
principal:
(31) Arlete se prostituía, embora tivesse recebido uma educação rigorosa.
3.2.13. Co-referente: termo de igualdade:
(32) Pelé é o rei do futebol.
3.2.14. Apresentando: elementos cuja existência é asserida:
(33) Há dois alunos na sala de multimeios.
3.2.15. Zero: ausência de papel temático (com verbos sem valência)
(34) Choveu torrencialmente ontem.
Além dos papéis temáticos, há ainda outros fatores que ligam a construção de gerúndio
ao restante do período. São fatores de ordem extra-sintática, conforme exemplificado abaixo:
(35) Nunca fiz isso, tá sabendo?
Nesse caso, a construção de gerúndio funciona como marcador discursivo, que não
contribui com informação nova para o desenvolvimento do tópico, mas que é indicado pelo
falante para solicitar a acordância do ouvinte.
É importante frisar também que as relações temáticas podem ser estabelecidas tanto
em nível intra-oracional como em nível inter-oracional. Observe-se o exemplo:
(36) Marquinhos embarcou, mesmo ele chegando tarde ao aeroporto.
Agente
Agente
(nível intra-oracional)
(nível intra-oracional)
Relação de concessão
(nível inter-oracional)
No exemplo apontado, observa-se que, nas orações complexas, além dos papéis
temáticos desempenhados pelos elementos sintáticos internos às orações, a oração encaixada
como um todo também pode desempenhar função semântica em relação à oração principal.
Isso acontece porque a oração subordinada é, ela própria, um sintagma da oração principal,
que é Marquinhos embarcou, mesmo ele chegando tarde ao aeroporto. No caso acima,
estabeleceu-se relação de concessão, ou seja, chegar tarde não foi empecilho para embarcar.
Há que ressaltar também a potencialidade de um mesmo elemento sintático poder
desempenhar papéis temáticos múltiplos. Analise-se a frase:
(3) Alda pagou oito mil reais a Renato por um carro.
Esse exemplo, já apontado por Jackendoff (1972), foi retomado por Perini (2006, p.
127), que o analisa da seguinte maneira: “temos que Alda não é apenas agente (pois foi ela
que tomou a iniciativa de fazer o pagamento), mas também a fonte (do dinheiro) e a meta do
carro); igualmente, Renato é meta (do dinheiro) e fonte (do carro)”, ou seja, os sintagmas
Alda e Renato desempenham dois papéis temáticos múltiplos: de agente e fonte e de meta e
fonte, respectivamente.
Os papéis temáticos inter-oracionais, aqui enfocados nas construções complexas de
gerúndio podem dar margem para que se interprete a oração encaixada como possuidora de
uma relação ambígua. Said Ali (2006) considera tal possibilidade ao afirmar que “da
facilidade que tem o gerúndio de exprimir circunstâncias tão diferentes [...] resulta que o
sentido só se pode apurar pelo contexto, e freqüentemente hão de ocorrer frases nas quais o
gerúndio é susceptível de duas ou mais interpretações”.
Observem-se as frases:
(4) [Patrick entrou] [rolando a bola].
(5) [O bolo corou] [assando em forno quente].
No exemplo (38), pode-se entender que rolando a bola foi a forma, o modo como
Patrick entrou ou então Patrick entrou ao mesmo tempo em que rolava a bola, isto é, pode-se
interpretar tal relação como sendo de modo ou de tempo. No exemplo (39), pode-se interpretar
a segunda oração como sendo de modo (como o bolo corou) ou de causa (porque assou em
forno quente, ele corou).
Outras relações ambíguas podem ser assim exemplificadas:
c) Oscilação na interpretação de construções condicionais X causais:
(6) Tendo dinheiro, você pode contratar um advogado.
(7) Já o homem casado, não é? Vivendo com uma mulher, já não pode fazer isso.
(PEUL/RJ, 2000, falante nº 09)
d) Oscilação na interpretação de construções concessivas X causais:
(8) Nilda falou sabendo que ninguém escutaria.
e) Oscilação na interpretação de construções modais X condicionais X temporais:
(9) A roupa enxuga colocando no sol.
f) Oscilação na interpretação de construções consecutivas x temporais:
(10) Toniana estudou muito, sendo aprovada no vestibular.
g) Oscilação na interpretação de construções temporais x condicionais:
(11) Virgínia ficará contente, casando com Adauto.
h) Oscilação na interpretação de construções concessivas x temporais x condicionais:
(12) Célia não descansa nem viajando.
g) Oscilação na interpretação de construções finais x modais:
(47) Os moradores chegaram alvoroçados pedindo justiça.
h) Oscilação na interpretação de construções causais x modais:
(48) [...] e eu olhando para ele ("e")... eu aprendi assim. [...] (PEUL/RJ, 2000, falante
nº 08).
Ainda com relação aos papéis temáticos expressos pelo gerúndio, é necessário salientar
que a descrição aqui proposta ressente-se de uma abordagem muito estritamente gramatical.
Faz-se necessário, portanto, realizar mais pesquisas, visando principalmente a estabelecer a
importância dos fatores pragmáticos na interpretação observada das construções de gerúndio.
Observem-se os exemplos abaixo:
(49) Lázaro me viu deitando na rede.
(50) Lázaro me viu dormindo na rede.
No exemplo (49), pode-se considerar que tanto eu quanto Lázaro podem ser agentes
de deitando. No exemplo (50), porém, tal ambigüidade não ocorre, já que, por questões
pragmáticas, ninguém tem a capacidade de enxergar dormindo, ou seja, o agente só pode ser
Lázaro. Esses exemplos sugerem, de modo claro, a interferência de aspectos pragmáticos na
interpretação das construções de gerúndio, o que precisa ser melhor investigado.
Analisados alguns importantes aspectos preliminares, apresentam-se, a seguir, os
contextos nos quais as construções de gerúndio são empregadas no português do Brasil.
3.3. Por uma proposta de abordagem
Pretende-se aqui propor uma classificação baseada em aspectos sintático-semânticos, ou
seja, são analisados a estrutura sintática (Esint.) e os papéis temáticos (PT) que as construções
de gerúndio desempenham, relacionando tais fatores às possibilidades de posicionamento da
construção de gerúndio dentro da frase e às condições de ocorrência de sujeito nessas
construções.
Os contextos de ocorrência sintático-semânticos utilizados para a classificação dos tipos
de construção de gerúndio são os seguintes:
c) Estrutura da oração em que a construção aparece:
i. somente em orações simples
ii. somente em orações complexas ou coordenadas
iii. em orações simples, complexas ou coordenadas
d) Forma da construção de gerúndio:
i. simples
ii. composta
e) Estrutura a que a construção de gerúndio se refere:
i. verbos
ii. nomes
iii. orações
f) Função sintática desempenhada pela construção de gerúndio:
i. verbal
ii. nominal
iii. adverbial
iv. adjetiva
g) Função semântica desempenhada pela construção de gerúndio (de acordo com a lista
de papéis temáticos (PT) apresentados anteriormente).
Baseados nesses critérios, estipularam-se os contextos em que as construções de
gerúndio aparecem e, para cada contexto, foram analisadas as posições em que eles poderiam
ocorrer na frase e as condições de ocorrência de sujeito.
Ressalta-se, também, que as frases consideradas na análise contém até duas orações,
restrição metodologicamente necessária, tendo em vista a gama de possibilidades que a língua
portuguesa oferece. Contudo, em alguns dados fornecidos pelo PEUL (2000), foram indicadas
mais de duas orações para que o trecho, mesmo isolado, pudesse ser melhor compreendido.
É relevante reiterar que são usados dados de um corpus da língua falada do Brasil e
dados de introspecção. É verdade que a maioria dos dados apresentados foram produto de
introspecção. Isso se justifica, principalmente, porque, para se trabalhar adequadamente com
dados de corpus, é preciso, antes demais nada, saber o que procurar. Assim, mesmo para um
trabalho de corpus, uma análise prévia é indispensável. Além do mais, o uso da introspecção é
não apenas conveniente, mas indispensável. É ilusão pensar que é possível trabalhar
exclusivamente com dados de corpus: os fenômenos observados são, inevitavelmente,
filtrados pela introspecção – por isso, ninguém procura incluir em uma gramática do
português as hesitações, pausas, mudanças de plano, etc., que caracterizam os dados de
corpus. Assim, entende-se que os dados de corpus e os de introspecção complementam-se.
Este trabalho, que é uma descrição inicial do problema, procurou ser tão exaustivo
quanto possível, fornecendo uma base para eventual levantamento do mesmo fenômeno em
corpus de língua falada ou escrita.
3.3.1. Função 1: Gerúndio Circunstancial
Essa ocorrência de gerúndio aparece na forma simples e constitui normalmente orações
encaixadas reduzidas, que podem vir introduzidas pela preposição em ou pelas conjunções
embora, mesmo, só, nem e como que. Essa construção de gerúndio refere-se ao verbo da
oração principal, atribuindo a esse verbo circunstâncias dos mais variados tipos, a saber:
modo, causa, conseqüência, tempo, finalidade, concessão e condição. Tais construções
desempenham funções típicas dos sintagmas adverbiais (Sadvs) e essas funções ditas
adverbiais são bastante heterogêneas, como se pode observar pelos exemplos abaixo:
(51) Andréa falou alto.
(52) João ficou preso no trânsito por várias horas.
(53) Viviane entrou comendo.
(54) Carolina não aceitou o convite para a festa.
(55) Gabriel bebe muito.
(56) O vestido de Ana era bem bonito.
Como se vê, as expressões acima destacadas, tomadas como funções adverbiais, são de
natureza bastante diversa, correspondendo a atributo, adjunto adverbial, adjunto oracional,
negação verbal, intensificador e a complemento de sintagma adjetivo, respectivamente.
Essa complexidade requer, portanto, o estabelecimento de critérios para identificação
das funções adverbiais. Nesta subseção, será dado enfoque ao comportamento das funções
adverbiais tais como sugeridas no exemplo (53), cuja função é desempenhada pelo verbo no
gerúndio.
3.3.1.1. Relação de modo
Essa relação, como o próprio nome indica, exprime a maneira, o modo como a ação
expressa na oração principal é realizada. Ela realiza o papel temático Modo. Observe-se o
exemplo abaixo:
(57) Carla escondeu-se agachando atrás do armário.
Esint.:
[CG]SAdv
PT:
Modo
Nesse caso, agachando foi a forma, o modo como Carla escondeu-se. Esse exemplo
vai ao encontro da afirmação de Rocha Lima (2001, p. 283), o qual afirma que, “no período
composto por subordinação, a circunstância de modo somente aparece sob a forma de oração
reduzida (de gerúndio)”. Tal asserção, porém, pode ser contraposta à de Luft (1996), o qual
afirma que as orações modais podem ser desenvolvidas e reduzidas, de gerúndio e também de
infinitivo, conforme os exemplos abaixo:
(58) Josefa estudou [como podia].
(59) O cachorro rosnava [mostrando os dentes].
(60) Saiu [sem fazer barulho].
Deixando de lado, por ora, as divergências sobre as demais construções que, no
momento, não são foco de estudo deste trabalho e levando em conta que há consenso de que
as construções de gerúndio podem ser modais, passemos à análise posicional dessas
construções.
3.3.1.1.1. Análise posicional
Como pôde ser verificado, no exemplo (57), o gerúndio está posposto ao verbo
principal. Porém, sabe-se que os adverbiais têm como característica uma grande mobilidade
na frase, ou seja, podem vir pospostos, antepostos ou intercalados.
Analise-se essa possibilidade a partir dos exemplos:
(61) Paulina chegou em casa carregando um de seus filhos.
Esint.:
[CG]SAdv
PT:
Modo
(62) Carregando um de seus filhos, Paulina chegou em casa.
Esint.:
[CG]SAdv
PT:
Modo
(63) Paulina, carregando um de seus filhos, chegou em casa.
Esint.:
PT:
[CG]SAdv
Modo
Percebe-se, nesses casos, que a transposição da construção de gerúndio não altera a
relação que ela estabelece com a oração principal, ou seja, em todos os exemplos há relação
de modo, assim como apontado abaixo:
(64) Pedro saiu da sala chorando.
Esint.:
PT:
[CG]SAdv
Modo
(65) Chorando, Pedro saiu da sala.
(66) Andréa tomou sopa fazendo barulho com a boca.
Esint.:
PT:
[CG]SAdv
Modo
(67) Fazendo barulho com a boca, Andréa tomou sopa.
Esses exemplos ratificam a afirmação de Rodrigues (2006, p. 94), a qual afirma que
“uma das principais características dos gerúndios adverbiais é sua mobilidade dentro do
sintagma. Enquanto complementos circunstanciais, eles podem aparecer em várias
posições”17.
Há, ainda, casos em que a transposição de construções modais pospostas gera
ambigüidade na interpretação da relação estabelecida:
(68) Luís trabalha escutando música.
Esint.:
[CG]SAdv
PT:
Modo
Esint.:
PT:
17
(69) Escutando música, Luís trabalha.
[CG]SAdv
Condição
Une des principales caractéristiques des gérondives adverbiales est leur mobilité dans la phrase. En
tant que compléments circonstanciels, elles peuvent apparaître dans plusieurs positions.
Nos exemplos acima, a posposição do gerúndio estabelece relação de modo, porém a
anteposição leva à possibilidade de interpretação da construção gerundial como sendo de
condição.
3.3.1.1.2. Condições de ocorrência do sujeito
Em construções com gerúndio adverbial de modo, o papel temático suscitado pelo
verbo da oração principal e pelo verbo no gerúndio pode ser co-referencial ou não.
Nos casos de co-referência, quando o gerúndio está posposto, se houver sujeito18
explícito na oração principal, o gerúndio não tem sujeito:
(70) Maria ganhou uma medalha dançando.
(71) Um avião passou ruflando no céu.
(72) Ela brincou com seu filho escondendo atrás do armário.
(73) Ele passou ruflando no céu.
(74) *Maria ganhou uma medalha Maria dançando.
(75) *Maria ganhou uma medalha ela dançando.
(76) *Um avião passou um avião ruflando no céu.
(77) *Um avião passou ele ruflando no céu.
Também é possível que tanto o gerúndio posposto modal quanto o verbo da oração
principal não recebam sujeito:
(78) Joguei a fantasia no chão e saí chorando.
Em posição intercalada ou anteposta, o verbo no gerúndio fica sem sujeito e o verbo
da oração principal pode ter sujeito referencial ou pronominal:
18
É válido lembrar que a definição de sujeito aqui proposta pressupõe uma função sintática a ser
desempenhada por sintagma expresso na frase (SN explícito). Assim entendido, sujeitos
tradicionalmente classificados como elípticos (desinenciais ou ocultos), estarão sendo analisados,
neste trabalho, como inexistentes. Ou seja, é possível que um verbo não tenha sujeito, mas suscite
papel temático de agente, por exemplo.
(79) Carla/ela, escondendo atrás do armário, brincou com seu filho.
(80) Escondendo atrás do armário, Carla/ela brincou com seu filho.
(81) *Carlaj, escondendo atrás do armário, elaj brincou com seu filho.
(82) *Elaj , escondendo atrás do armário, Carlaj brincou com seu filho.
(83) *Carla escondendo atrás do armário, Carla brincou com seu filho.
Em posição anteposta, há também a possibilidade de sujeito pronominal para ambos os
verbos:
(84) [...] e eu olhando para ele ("e")... eu aprendi assim [...]. (PEUL/RJ, 2000, falante
nº 08)
Além disso, ainda é possível a ausência de sujeito para ambos os verbos:
(85) Chorando, corri para a fila do atendimento médico.
Quando não há co-referência entre os papéis temáticos suscitados pelos verbos, nas
construções de gerúndio posposto e anteposto, é possível haver sujeito para o gerúndio
(referencial ou pronominal) e para o verbo da oração principal (referencial ou pronominal):
(86) A dor desaparece João/ele tomando um calmante.
(87) João/ele tomando um calmante, a dor desaparece.
(88) Ela desaparece João tomando um calmante.
(89) João tomando um calmante, ela desaparece.
(90) A dor desaparece ele tomando um calmante.
(91) Ele tomando um calmante, a dor desaparece.
Nas construções em que ambos os sujeitos são pronominais, buscam-se os referentes
para os pronomes no contexto de interlocução:
(92) Ela desaparece ele tomando um calmante.
(93) Ele tomando um calmante, ela desaparece.
Também é possível a ocorrência de sujeito na oração principal (referencial ou
pronominal) sem ocorrência de sujeito para o gerúndio:
(94) A dor/ela desaparece tomando um calmante.
(95) Tomando um calmante, a dor/ela desaparece.
Porém, se o sujeito do verbo no gerúndio for referencial ou pronominal e não houver
sujeito para o verbo da oração principal, os papéis temáticos suscitados pelos dois verbos
passam a ser interpretados como co-referentes:
(96) João/Ele tomando um calmante, desaparece.
Abaixo, apresenta-se o quadro-resumo das possibilidades de ocorrência de sujeito em
construções com gerúndio modal:
Sujeito para o Vprincipal
Sujeito
Sujeito
Referencial
pronominal
Posposição do G
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
co-referentes
Intercalação do G
Anteposição do G
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
sem co-referência
Posposição e
Anteposição doG
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
Sujeito para o Vgerúndio
Sujeito
Sujeito
referencial
pronominal
+
+
+
-
Figura 2: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio modal
3.3.1.1.
Relação de Causa
+
+
+
+
-
Segundo Rocha Lima (2001, p.274), a construção causal “indica o fato determinante
da realização, ou não-realização, do que se declara na principal”. Os exemplos abaixo
apontam essa relação:
(97) Manuel melhorou seu atendimento temendo ser demitido.
Esint.:
[CG] Sadv
PT:
Causa
(98) Temendo ser demitido, Manuel melhorou seu atendimento.
Esint.:
[CG] Sadv
PT:
Causa
Observe-se, a seguir, a análise posicional das construções desse tipo.
3.3.1.2.1. Análise posicional
Nos exemplos anteriores, nas duas posições (posposta e anteposta) não há alteração da
relação de causa estabelecida pela construção de gerúndio. Porém, um fenômeno pode ser
percebido, caso seja realizada mudança no tempo do verbo principal:
Esint.:
PT:
(99) Jantamos perto da lareira, estando a noite fria.
[CG]SAdv
Causa
Esint.:
PT:
(100) Estando a noite fria, jantamos perto da lareira.
[CG]SAdv
Causa
(101) Jantaremos perto da lareira, estando a noite fria.
Esint.:
[CG]SAdv
PT:
Condição
(102) Estando a noite fria, jantaremos perto da lareira.
Esint.:
[CG]SAdv
PT:
Condição
Como se verifica, a troca do tempo presente/passado pelo futuro ocasiona alteração da
relação de causa para a de condição. Esse fato pode correlacionar-se com a propriedade que as
relações gerundiais causais têm de indicar um fato motivador para a ação principal, o que faz
supor que a causa é anterior à ação expressa na oração principal. Quando, porém, a oração
principal apresenta um verbo no futuro, a oração gerundial não poderá suscitar fato que foi
motivador para a ação da oração principal e sim condição para que ela venha a ser realizada.
Analisem-se mais exemplos:
(103) Estipulamos critérios de seleção, sendo o número de vagas limitadas.
Esint.:
PT:
[CG]SAdv
Causa
(104) Sendo o número de vagas limitadas, estipulamos critérios de seleção.
Esint.:
[CG]SAdv
PT:
Causa
Esint.:
PT:
(105) Estipularemos critérios de seleção, sendo o número de vagas limitadas.
[CG]SAdv
Condição
Esint.:
PT:
(106) Sendo o número de vagas limitadas, estipularemos critérios de seleção.
[CG]SAdv
Condição
Em outros tipos de construções circunstanciais, porém, a mudança de tempo do verbo
principal não ocasiona necessariamente a troca de uma relação por outra. Eis alguns
exemplos:
(107) Paulo entrou dando pulos.
Esint.:
PT:
[CG]SAdv
Modo
(108) Paulo entrará dando pulos.
Esint.:
PT:
[CG]SAdv
Modo
Esint.:
PT:
(109) Fátima viajou buscando descanso.
[CG]SAdv
Finalidade
Esint.:
(110) Fátima viajará buscando descanso.
[CG]SAdv
PT:
Finalidade
(111) Pietra andou de salto o dia inteiro, enchendo de calos seus pés.
Esint.:
[CG]SAdv
PT:
Conseqüência
(112) Pietra andará de salto o dia inteiro, enchendo de calos seus pés.
Esint.:
[CG]SAdv
PT:
Conseqüência
3.3.1.2.2. Condições de ocorrência do sujeito
Analise-se a possibilidade de ocorrência do sujeito nos exemplos de frases com
gerúndio circunstancial de causa. Nos exemplos abaixo, verifica-se que o sujeito do verbo da
oração principal e o sujeito do gerúndio podem ser co-referenciais ou não:
(113) Manuel melhorou seu atendimento temendo ser demitido. (co-referente)
(114) Nós jantamos perto da lareira estando a noite fria. (não co-referente)
Observem-se os casos de co-referencialidade do sujeito. Nas construções pospostas de
gerúndio, se o verbo principal possuir sujeito referencial ou pronominal, o verbo no gerúndio
não possuirá sujeito:
(115) Todos/eles querem ajudar Maria, vendo-a tão triste.
(116) Manuel/ele melhorou seu atendimento temendo ser demitido.
(117) *Todos querem ajudar Maria, todos vendo-a tão triste.
(118) *Manuel melhorou seu atendimento, Manuel temendo ser demitido.
(119) *Ele melhorou seu atendimento ele temendo ser demitido.
(120) *Elej melhorou seu atendimento Manuelj/elej temendo ser demitido.
Também é possível que ambos os verbos não possuam sujeito:
(121) Fiquei curiosa querendo saber da negociação.
Nos casos de intercalação, o gerúndio não terá sujeito e o verbo da oração principal
poderá ter sujeito referencial ou pronominal:
(122) Manuel/Ele, temendo ser demitido, melhorou seu atendimento.
Em posição anteposta, é possível que o gerúndio não possua sujeito e o verbo da
oração principal seja pronominal ou referencial:
(123) Temendo ser demitido, João melhorou seu atendimento.
(124) Temendo a demissão, nós melhoramos o atendimento.
Também é possível não haver sujeito para ambos os verbos:
(125) Temendo ser demitida, melhorei o atendimento aos clientes.
Analisem-se, agora, casos de não co-referencialidade do sujeito. Nas construções
causais pospostas e nas antepostas de gerúndio, poderá haver sujeito (referencial ou
pronominal) para o verbo da oração principal e, para o gerúndio, o sujeito poderá ser
referencial ou pronominal (nesse caso, com antecedente recuperável pelo contexto):
(126) João/Ele jantou perto da lareira, estando a noite fria.
(127) João/Ele não saiu de casa, ela estando doente.
(128) *João/Ele jantou perto da lareira, estando fria.
(129) Estando a noite fria, João/ele jantou perto da lareira.
(130) Ela estando doente, João/ele não saiu de casa.
(131) *Estando fria, João/ele jantou perto da lareira.
Há, também, a possibilidade de ausência de sujeito na oração principal e sujeito
referencial ou pronominal para o gerúndio:
(132) Não saí de casa, meu filho/ele estando doente.
(133) Jantamos perto da lareira, estando a noite fria.
(134) Meu filho/ele estando doente, não saí de casa.
(135) Estando a noite fria, jantamos perto da lareira.
Caso não haja sujeito para ambos os verbos, os papéis temáticos passam a ser
interpretados como co-referenciais:
(136) Não saí de casa, estando doente.
(137) Estando doente, não saí de casa.
A seguir, apresenta-se o quadro-resumo das possibilidades de ocorrência de sujeito em
construções com gerúndio causal:
Sujeito para o Vprincipal
Sujeito
Sujeito
Referencial
pronominal
Posposição do G
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
co-referentes
Intercalação do G
Anteposição do G
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
sem co-referência
Posposição e
Anteposição do G
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
-
Sujeito para o Vgerúndio
Sujeito
Sujeito
referencial
pronominal
+
+
+
+
-
+
+
Figura 3: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio causal
3.3.1.3. Relação de Conseqüência
A relação de conseqüência exprime “o resultado que a declaração feita na principal
vem desencadear” (ROCHA LIMA, 2001, p. 281). Verifiquem-se os exemplos:
(138) A tempestade durou várias horas, deixando um rastro de destruição.
Esint.:
[CG] Sadv
PT:
Conseqüência
Esint.:
PT:
(139) Rosana foi jogada para frente, estatelando-se.
[CG] Sadv
Conseqüência
(140) *Deixando um rastro de destruição, a tempestade durou várias horas.
(141) *Estatelando-se, Rosana foi jogada para frente.
Passa-se, adiante, à análise posicional das construções desse tipo.
3.3.1.3.1. Análise posicional
Em todos os casos acima, pelo que parece, a posição preferencial das construções
consecutivas de gerúndio é a posposição, tendo em vista a agramaticalidade das construções
antepostas. Analisem-se mais exemplos:
Esint.:
PT:
(142) Marta não aceitou sua doença, matando-se.
[CG] Sadv
Conseqüência
(143) *Matando-se, Marta não aceitou sua doença.
(144) Marina perdeu cedo os pais, tornando-se uma jovem infeliz.
Esint.:
[CG]SAdv
PT:
Consequência
(145) *Tornando-se uma jovem infeliz, Marina perdeu cedo os pais.
3.3.1.3.2. Condições de ocorrência do sujeito
Verifique-se a possibilidade de ocorrência do sujeito nas orações consecutivas. Em
ocorrências com gerúndios pospostos, pode haver ou não co-referencialidade entre o papel
temático suscitado pelo verbo da oração principal e pelo verbo no gerúndio.
Nos casos de co-referencialidade, percebe-se que, quando ocorre sujeito para o verbo
da oração principal (referencial ou pronominal), não há sujeito para o verbo no gerúndio:
(146) A tempestade durou várias horas, deixando um rastro de destruição.
(147) Marta/Ela não aceitou sua doença, matando-se.
(148) Maria perdeu cedo os pais, tornando-se uma jovem infeliz.
(149) *Durou várias horas, a tempestade deixando um rastro de destruição.
(150) *Não aceitou sua doença, Marta/ela matando-se.
Há casos também em que não há sujeito para o verbo da oração principal nem para o
gerúndio:
(151) Cantei muito ontem, ficando com a voz rouca.
(152) Correram o dia todo, inchando as pernas.
Nos casos de não co-referencialidade, pode haver sujeito (referencial ou pronominal)
ou não para o verbo da oração principal. Para o verbo no gerúndio, o sujeito poderá ser
referencial ou pronominal. Quando ambos os sujeitos são pronominais, os antecedentes são
recuperados contextualmente:
(153) Jorge foi preso, ficando seus filhos sem meios de sustento.
(154) Jorge foi preso, ficando eles sem meios de sustento.
(155) Ele foi preso, ficando seus filhos sem meios de sustento.
(156) Fui preso, ficando meus filhos sem meios de sustento.
(157) Fui preso, ficando eles sem meios de sustento.
(158) Ele foi preso, ficando eles sem meios de sustento.
Porém, se ambos os verbos não possuírem sujeitos, os papéis temáticos suscitados por
eles tendem a ser interpretados como referenciais:
(159) Foram presos, ficando sem meios de sustento.
Pode ser dito também que tanto nos casos de co-referencialidade como de não coreferencialidade entre os sujeitos da frase, a anteposição da construção de gerúndio adverbial
consecutivo ocasiona agramaticalidade (no mínimo, estranheza) ou alteração na relação
semântica estabelecida:
(160) *Matando-se, ela não aceitou sua doença.
(161) *Tornando-se uma jovem infeliz, Marina perdeu cedo os pais. (?)
(162) A canoa virou, caindo seis pessoas no lago. (conseqüência)
(163) Caindo seis pessoas no lago, a canoa virou. (causa)
Abaixo, indica-se o quadro-resumo das possibilidades de ocorrência de sujeito em
construções com gerúndio consecutivo:
Sujeito para o Vprincipal
Sujeito
Sujeito
Referencial
pronominal
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
co-referentes
Posposição do G
Anteposição do G
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
sem co-referência
Posposição do G
Anteposição do G
+
-
+
-
Sujeito para o Vgerúndio
Sujeito
Sujeito
referencial
pronominal
-
Agramaticalidade ou troca da relação estabelecida
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
Agramaticalidade ou troca da relação estabelecida
Figura 4: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio consecutivo
3.3.1.4 . Relação de Tempo
-
Segundo Rocha Lima (2001, p. 283), “é papel da oração temporal trazer à cena um
acontecimento ocorrido antes de outro, depois de outro, ou ao mesmo tempo que outro”. Os
exemplos abaixo indicam essas relações:
Esint.:
PT:
(164) João era homem soberbo falando com os mais pobres.
[CG] Sadv
Tempo simultâneo
(165) Chegando à sala de jantar, Luciene viu todos à mesa.
Esint.:
[CG] Sadv
PT:
Tempo anterior
(166) O cachorro avançou em Vitor, ferindo-o.
Esint.:
[CG] Sadv
PT:
Tempo posterior
Passe-se, a seguir, à análise posicional das construções desse tipo.
3.3.1.4.1. Análise posicional
Como se percebe, a relação de tempo estabelecida pela construção de gerúndio pode
ser anterior, posterior ou simultânea ao tempo da oração principal: na primeira frase, João é
soberbo ao mesmo tempo que fala com os mais pobres; na segunda frase, primeiro João teve
de chegar à sala de jantar para depois ver as pessoas à mesa; no terceiro caso, o ferimento foi
posterior à ação de avançar.
Nos dois últimos casos, a anteposição seria inviável por questões pragmáticas, já que,
por exemplo, não há como o cachorro ferir a criança sem avançar contra ela.
Há também casos de orações de gerúndio temporais que se tornam agramaticais ou
alteram a relação semântica estabelecida, dependendo da posição em que se encontram:
Esint.:
PT:
(167) São Paulo produzia 40% do total exportado, contribuindo hoje com 45%.
[CG]SAdv
Tempo posterior
(168) *Contribuindo hoje com 45%, São Paulo produzia 40% do total exportado.
Analisem-se mais exemplos:
Esint.:
PT:
(169) Marco Aurélio soube de sua premiação, agradecendo sua indicação.
[CG] SAdv
Tempo (posterior)
(170) Agradecendo sua indicação, Marco Aurélio soube de sua premiação.
Nesse caso, a relação de tempo posterior estabelecida pelo gerúndio posposto foi
substituída pela relação de tempo (simultâneo) na construção anteposta.
Esint.:
PT:
(171) Fiquei por ali apreciando o movimento dos pedestres.
[CG]SAdv
Tempo(simultâneo)
(172) *Apreciando o movimento dos pedestres, fiquei por ali.
Nesses exemplos, a construção de gerúndio temporal só é possível se vier posposta à
oração principal.
Outro fenômeno pode ser exemplificado por frases do tipo:
(173) Rosane avistou Renê olhando para trás.
Esint.:
[CG] SAdv
PT:
Tempo (anterior)
Esint.:
PT:
(174) Rosane avistou Renê olhando para trás.
[CG] SV
Evento
Como se verifica, algumas construções temporais, quando pospostas, tornam a frase
ambígua, ou seja, quem olha é Rosane ou Renê? Se se considerar a segunda interpretação,
tem-se um tipo de gerúndio não circunstancial, mas, sim, gerúndio como verbo principal, sem
auxiliar, levando em conta que Renê é sujeito de olhando. Esse tipo de construção é chamada
de mini-oração, em que o objeto da oração principal é o sujeito do verbo da oração
subordinada. (Mais detalhes na seção 3.3.3).
3.3.1.4.2. Condições de ocorrência do sujeito
Com relação às construções de gerúndio temporal, observa-se que o papel temático
suscitado pelo verbo da oração principal e pelo gerúndio podem ser co-referenciais ou não:
(175) João era homem soberbo falando com os mais pobres. (co-referencial)
(176) Mônica entrando, Lurdinha saía. (não co-referencial)
Nos casos em que há co-referência, com gerúndio em posição posposta, quando há
sujeito para o verbo da oração principal (referencial ou pronominal), não há sujeito para o
verbo no gerúndio:
(177) João/Ele era homem soberbo falando com os mais pobres.
(178) *Joãoj era homem soberbo João/elej falando com os mais pobres.
(179) *Era homem soberbo João/ele falando com os mais pobres.
(180) A porta/ela fechou bruscamente, prendendo o dedo de Natália.
(181) *A portaj fechou bruscamente, a porta/elaj prendendo o dedo de Natália.
(182) *Fechou bruscamente, a porta/ela prendendo o dedo de Natália.
(183) Patrick/ele arrumou sua vida casando com Débora.
(184) *Patrickj arrumou sua vida, Patrick/elej casando com Débora.
(185) *Arrumou sua vida, Patrick/ele casando com Débora.
Registram-se, também, ocorrências em que há ausência de sujeito tanto para o verbo
da oração principal quanto para o gerúndio:
(186) Arrumei minha vida casando com Débora.
Nos casos de anteposição, é possível haver sujeito para o gerúndio e para o verbo da
oração principal, desde que este seja pronominal e aquele seja referencial:
(187) Lucienej chegando à sala de jantar, elaj viu todos à mesa.
(188) *Luciene chegando à sala de jantar, Luciene viu todos à mesa.
(189) *Elaj chegando à sala de jantar, Lucienej viu todos à mesa.
(190) Patrickj casando com Débora, elej arrumou sua vida.
(191) *Patrick casando com Débora, Patrick arrumou sua vida.
(192) *Elej casando com Débora, Patrickj arrumou sua vida.
Também é possível haver sujeito somente para o verbo da oração principal (referencial
ou pronominal) ou somente para o gerúndio (referencial ou pronominal), como se observa
abaixo:
(193) Chegando à sala de jantar, Luciene/ela viu todos à mesa.
(194) Luciene/ela chegando à sala de jantar, viu todos à mesa.
(195) Conhecendo Marisa, Tarcísio/ele se apaixonou.
(196) Tarcísio/ele conhecendo Marisa, se apaixonou.
Frases com gerúndios temporais antepostos também podem ocorrer com inexistência
de sujeito para o verbo da oração principal e para o gerúndio:
(197) Conhecendo Marisa, me apaixonei.
Quando não há co-referência entre o papel temático suscitado pelos verbos da frase,
tanto em posição posposta quanto anteposta, parece ser necessária a presença de sujeito
(referencial ou pronominal) para ambos os verbos:
(198) O verão/ele se aproximando, Mônica/ela vestia-se de branco.
(199) Mônica/ela vestia-se de branco, o verão/ele se aproximando.
(200) *O verão/ele se aproximando, vestia-se de branco.
(201) *Se aproximando, Mônica vestia-se de branco.
Indica-se, a seguir, o quadro-resumo das possibilidades de ocorrência de sujeito em
construções com gerúndio temporal:
Sujeito para o Vprincipal
Sujeito
Sujeito
Referencial
pronominal
Posposição do G
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
co-referentes
Anteposição do G
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
sem co-referência
Posposição e
Anteposição do G
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
Sujeito para o Vgerúndio
Sujeito
Sujeito
referencial
pronominal
+
+
+
+
-
+
+
+
Figura 5: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio temporal
3.3.1.5. Relação de Finalidade
A relação de finalidade, como o próprio nome indica, expressa o fim, o
objetivo da ação expressa na oração principal. Analise-se o exemplo abaixo:
Esint.:
PT:
(202) João viajou buscando descanso.
[CG] Sadv
Finalidade
(203) Buscando descanso, João viajou.
Esint.:
PT:
[CG] Sadv
Finalidade
Passe-se à análise posicional das construções desse tipo.
3.3.1.5.1. Análise posicional
Nos exemplos acima, tem-se relação de finalidade tanto na posposição como na
anteposição. Há, porém, construções em que a relação de finalidade pode ser alternada
dependendo da posição do gerúndio, como se observa abaixo:
Esint.:
PT:
(204) João fez sinais alertando seus amigos do perigo.
[CG] Sadv
Finalidade
(205) Alertando seus amigos do perigo, João fez sinais.
Esint.:
[CG] Sadv
PT:
Tempo (anterior)
3.3.1.5.2. Condições de ocorrência do sujeito
De modo geral, percebe-se que, nas construções gerundiais de finalidade, o papel
temático suscitado pelo verbo da oração principal e pelo gerúndio é sempre co-referencial.
Nas construções pospostas, pode haver sujeito para o verbo da oração principal
(referencial ou pronominal) e inexistência de sujeito para o gerúndio:
(206) João/ele viajou buscando descanso.
(207) *Joãoj viajou elej buscando descanso.
(208) *João viajou Maria buscando descanso.
(209) *Elej viajou Joãoj buscando descanso.
(210) *Viajou João/ele buscando descanso.
(211) Um barco percorreu o mar procurando um corpo.
(212) *Um barcoj percorreu o mar elej procurando um corpo.
(213) *Um barco percorreu Maria procurando um corpo.
(214) *Ele percorreu o mar João procurando um corpo.
(215) *Percorreu o mar João/ele procurando um corpo.
Há também a possibilidade de o verbo das duas orações não possuírem sujeito:
(216) Viajei buscando descanso.
(217) Percorreram o mar procurando um corpo.
(218) [...] e mantenho uma oficinazinha em casa para... me distraindo. [...] (PEUL/RJ,
2000, falante nº 08)
Nas construções gerundiais finais antepostas, há a possibilidade de sujeito para o
gerúndio (referencial ou pronominal) e inexistência de sujeito para o verbo da oração
principal:
(219) João/Ele tentando ser o melhor, se esforça.
(220) João/Ele buscando descanso, viajou.
(221) *João/Ele tentando ser o melhor, João se esforça.
(222) *João/Ele buscando descanso, João viajou.
(223) *Joãoj/Elej tentando ser o melhor, elej se esforça.
(224) *Joãoj/Elej buscando descanso, elej viajou.
Pode haver também ocorrências com gerúndio sem sujeito e verbo da oração principal
com sujeito referencial ou pronominal:
(225) Tentando ser o melhor, João/ele se esforça.
(226) Buscando descanso, João/ele viajou.
Há, ainda, a possibilidade de os dois verbos não receberem sujeito:
(227) Buscando descanso, viajaram.
(228) Procurando um corpo, percorreram todo o mar.
Aponta-se, abaixo, o quadro-resumo das possibilidades de ocorrência de sujeito em
construções com gerúndio final:
Sujeito para o Vprincipal
Sujeito
Sujeito
Referencial
pronominal
Posposição do G
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
co-referentes
Anteposição do G
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
sem co-referência
Posposição e
Anteposição do G
+
+
-
+
+
-
Sujeito para o Vgerúndio
Sujeito
Sujeito
referencial
pronominal
+
-
+
-
Ocorrências não previstas na língua
Figura 6: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio final
3.3.1.6. Relação de Concessão
Rocha Lima (2001, p. 276) afirma que a relação concessiva “expressa um fato – real
ou suposto - que poderia opor-se à realização de outro fato principal, porém, não frustrará o
cumprimento deste”. Os exemplos abaixo indicam essa relação:
Esint.:
PT:
(229) Joaquim desistiu da corrida, mesmo tendo chance de vitória.
[CG] Sadv
Concessão
(230) Jorge assinou o contrato, embora não analisando a proposta em detalhes.
Esint.:
[CG] Sadv
PT:
Concessão
Esint.:
PT:
(231) Mauro abandonou sua casa, sendo ainda um menino.
[CG] Sadv
Concessão
Passe-se à análise posicional das construções desse tipo.
3.3.1.6.1. Análise posicional
Nas frases acima, a construção de gerúndio está posposta à oração principal e
estabelece relação de concessão e essa relação também pode ser percebida nos casos de
anteposição. Porém, isso nem sempre ocorre:
(232) Júlia não relaxou nem viajando.
Esint.:
[CG] Sadv
PT:
Concessão
(233) *Nem viajando Júlia não relaxou.
Na frase (233), verifica-se agramaticalidade, talvez motivada pela presença de dupla
negação, estando a partícula não posposta à conjunção nem. Se retirarmos a partícula “não”
da frase acima, a construção de gerúndio não poderá vir posposta à oração principal:
(234) Nem viajando Júlia relaxou.
Esint.:
[CG]Sadv
PT:
Concessão
(235) *Júlia relaxou nem viajando.
Conforme verificado, algumas partículas podem acompanhar as construções de
gerúndio concessivas, tais como mesmo, nem e embora.
3.3.1.6.2. Condições de ocorrência do sujeito
Verifica-se que o papel temático suscitado pelo verbo da oração principal e pelo
gerúndio podem ser co-referenciais ou não:
(236) Antônio trabalhou (mesmo) estando doente. (co-referenciais)
(237) Verificamos a tristeza da criança, mesmo ela estando com os avós. (não coreferenciais)
Analisem-se os gerúndios co-referenciais pospostos. Nesse tipo de construção, pode
haver sujeito (referencial ou pronominal) para o verbo da oração principal e sujeito inexistente
ou pronominal para o gerúndio; quando há sujeitos pronominais para ambos os verbos, os
antecedentes são recuperados pelo contexto:
(238) Joaquim/Ele desistiu da corrida, mesmo tendo chance de vitória.
(239) [...] Ele é um cidadão brasileiro, embora sendo português [...] (PEUL/RJ, 2000,
falante nº 07).
(240) Joaquimj desistiu da corrida, mesmo elej tendo chance de vitória.
(241) Elej desistiu da corrida, mesmo elej tendo chance de vitória.
É possível, também, que o gerúndio possua sujeito pronominal e o verbo da oração
principal não tenha sujeito:
(242) Desistiram da corrida, mesmo eles tendo chance de vitória.
(243) Trabalharam a noite toda, mesmo eles estando doentes.
Há, ainda, a possibilidade de ambos os verbos não possuírem sujeito:
(244) Não relaxaram nem viajando.
(245) Desistiram da corrida mesmo tendo chance de vitória.
Em posição anteposta, os gerúndios concessivos co-referenciais podem apresentar
sujeito referencial ou pronominal e o verbo da oração principal terá sujeito pronominal ou
inexistente:
(246) Mesmo Joaquimj tendo chance de vitória, elej desistiu da corrida.
(247) Mesmo Joaquim tendo chance de vitória, desistiu da corrida.
(248) Mesmo elej tendo chance de vitória, elej desistiu da corrida.
(249) Mesmo ele tendo chance de vitória, desistiu da corrida.
(250) *Mesmo elej tendo chance de vitória, Joaquimj desistiu da corrida.
Há também a possibilidade de o gerúndio não possuir sujeito e o verbo da oração
principal, nesse caso, ser referencial, pronominal ou inexistente:
(251) Mesmo estando doente, Antônio trabalhou a noite toda.
(252) Mesmo estando doente, ele trabalhou a noite toda.
(253) Mesmo estando doentes, trabalharam a noite toda.
Em situações de não co-referencialidade entre os papéis temáticos suscitados pelos
verbos da frase, as construções pospostas e antepostas apresentam comportamentos
semelhantes.
Há ocorrências em que não são aceitos sujeitos para o verbo no gerúndio por causa de
sua diátese (como o verbo chover, abaixo) e o verbo principal poderá ser referencial ou
pronominal:
(254) Paulo/Ele irá à festa, mesmo chovendo.
(255) Mesmo chovendo, Paulo/ele irá à festa.
(256) *Paulo/Ele ira à festa, mesmo ele chovendo.
(257) *Mesmo ele chovendo, Paulo/ele irá à festa.
Há, também, casos em que ambos os verbos recebem sujeito (referencial ou
pronominal). Na ocorrência de dois sujeitos pronominais, os antecedentes são recuperados
através de informações contextuais:
(258) Paulo/Ele irá à festa, mesmo Joana/ela estando gripada.
(259) Mesmo Joana/ela estando gripada, Paulo/Ele irá à festa.
(260) *Paulo irá à festa, mesmo ele chovendo.
(261) Eu verifiquei a tristeza da criança, mesmo ela estando na casa dos avós.
(262) Mesmo ela estando na casa dos avós, eu verifiquei a tristeza da criança.
Se o verbo da oração principal receber ou não sujeito e o verbo no gerúndio, mesmo
admitindo sujeito, não o possuir, o papel temático suscitado por esses verbos será interpretado
como co-referencial:
(263) Paulo irá à festa, mesmo estando gripado.
(264) Desisti da corrida, mesmo tendo chance de ganhar.
Há, ainda, ocorrências em que o verbo principal não possui sujeito e o verbo no
gerúndio apresenta sujeito referencial ou pronominal:
(265) Mesmo Catarina/ela disfarçando, percebemos sua tristeza.
(266) Percebemos sua tristeza, mesmo Catarina/ela disfarçando.
Indica-se, a seguir, o quadro-resumo das possibilidades de ocorrência de sujeito em
construções com gerúndio concessivo:
Sujeito para o Vprincipal
Sujeito
Sujeito
Referencial
pronominal
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
Posposição do G
+
-
+
Sujeito para o Vgerúndio
Sujeito
Sujeito
referencial
pronominal
-
-
co-referentes
Anteposição do G
+
+
+
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
sem co-referência
Posposição e
Anteposição do G
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
Figura 7: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio concessivo
3.3.1.7. Relação de Condição
A oração condicional, segundo Rocha Lima (2001, p. 278), “apresenta a circunstância
de que depende a realização do fato contido na principal”. Analise-se o seguinte exemplo:
(267) O custo da aula de pintura é mais barato, levando os materiais.
Esint.:
PT:
[CG] Sadv
Condição
(268) Levando os materiais, o custo da aula de pintura é mais barato.
Esint.:
[CG] Sadv
PT:
Condição
3.3.1.7.1. Análise posicional
Nos exemplos analisados, o gerúndio, na posição posposta ou anteposta à oração
principal, estabelece idéia de condição.
Há também ocorrências da partícula prepositiva em junto ao gerúndio circunstancial de
condição, o que não impede a mobilidade dessa construção na frase:
(269) Jorge procura atendimento médico em se tratando de anemia.
Esint.:
[CG] Sadv
PT:
Condição
(270) Em se tratando de anemia, Jorge procura atendimento médico.
Esint.:
[CG] Sadv
PT:
Condição
As partículas só e nem também podem acompanhar o gerúndio nas posições posposta
e anteposta:
(271) Só obrigando Marcos vai ao médico.
Esint.:
PT:
[CG] Sadv
Condição
(272) Marcos vai ao médico só obrigando.
Esint.:
PT:
[CG] Sadv
Condição
(273) Marcos não vai ao médico nem obrigando.
Esint.:
PT:
[CG] Sadv
Condição
(274) Nem obrigando Marcos vai ao médico.
Esint.:
PT:
[CG] Sadv
Condição
3.3.1.7.2. Condições de ocorrência do sujeito
Nesses tipos de construções, o papel temático suscitado pelo verbo no gerúndio pode
ser co-referencial ou não àquele suscitado pelo verbo da oração principal.
Nos gerúndios pospostos, quando há co-referencialidade, pode haver sujeito para o
verbo da oração principal (referencial ou pronominal) e para o gerúndio sujeito inexistente ou
pronominal:
(275) Carmem/Ela suportará a dor sendo forte.
(276) Joãoj não suportará a dor, mesmo elej sendo forte.
Caso haja sujeito pronominal para ambos os verbos, os antecedentes são
recuperáveis no contexto:
(277) Elaj não suportará a dor, mesmo elaj sendo forte.
É possível ainda que ambos os verbos não tenham sujeito:
(278) Suportaram a dor sendo fortes.
Nas construções com gerúndio anteposto (e também intercalado), pode haver sujeito
(referencial ou pronominal) para o verbo da oração principal e sujeito inexistente ou
pronominal para o gerúndio:
(279) Sendo forte, Carmem/ela suportará a dor.
(280) Carmem/ela, sendo forte, suportará a dor.
(281) [...] tendo bastante compreensão, eu acho que elas vão poder serem boas mães,
boas esposas [...]. (PEUL/RJ, 2000, falante nº 30).
Caso os dois sujeitos sejam pronominais, é possível recuperar seus antecedentes
contextualmente:
(282) Mesmo elaj sendo forte, elaj não suportará a dor.
(283) [...] você tendo muito dinheiro, você não tem nem o direito [...]. (PEUL/RJ,
2000, falante nº 29).
(284) *Mesmo elaj sendo forte, Camemj não suportará a dor.
Há a possibilidade de o gerúndio possuir sujeito (referencial ou pronominal) e o verbo
da oração principal não possuir sujeito:
(285) [...] mesmo você ganhando bem tem que tê uma mulher para ajudar. [...]
(PEUL/RJ, 2000, falante nº 09).
É possível, ainda, que nenhum dos verbos tenha sujeito:
(286) Sendo forte, suportarei a dor.
(287) [...] Já o homem casado, não é? Vivendo com uma mulher, já não pode fazer
isso. [...] (PEUL/RJ, 2000, falante nº 09).
(288) [...] [Não,] mudando, ia ter que arrumar novos amigos. [...]. (PEUL/ RJ, 2000,
falante nº 21).
Quando não há co-referencialidade, nas construções pospostas de gerúndio, há a
possibilidade de ambos os verbos possuírem sujeitos referenciais ou haver sujeito referencial
para o verbo da oração principal e pronominal para o gerúndio:
(289) O custo da aula de pintura é mais barato, o aluno levando os materiais.
(290) O custo da aula de pintura é mais barato, ele levando os materiais.
(291) *Elei é mais barato, elej levando os materiais.
Também é possível haver sujeito referencial ou pronominal para o verbo da oração
principal e não haver sujeito para o gerúndio:
(292) Cristiano/Ele procura atendimento médico em se tratando de anemia.
(293) Marcos/Ele vai ao médico só obrigando.
(294) *Cristiano/Ele procurou atendimento médico em se ele tratando de anemia.
Há, ainda, a possibilidade de o gerúndio possuir sujeito referencial e o verbo da oração
principal possuir sujeito pronominal:
(295) Ele vai ao médico só Joana obrigando.
Parece ser possível também que ambos os sujeitos sejam pronominais, cujos
antecedentes são recuperados contextualmente:
(296) Ele vai ao médico só ela obrigando.
Ocorrem também construções em que ambos os verbos não têm sujeito:
(297) Procurarei um médico em se tratando de anemia.
Existem, ainda, construções em que há apenas sujeito (referencial ou pronominal) para
o gerúndio:
(298) Cobrarei mensalidade mais barata, os alunos/eles levando os materiais.
Nas construções antepostas de gerúndio em que não há co-referencialidade, há a
possibilidade de ambos os verbos possuírem sujeitos referenciais ou haver sujeito referencial
para o verbo da oração principal e pronominal para o gerúndio:
(299) O aluno levando os materiais, o custo da aula de pintura é mais barato.
(300) Ele levando os materiais, o custo da aula de pintura é mais barato.
Também é possível haver sujeito referencial ou pronominal para o verbo da oração
principal e não haver sujeito para o gerúndio:
(301) Em se tratando de anemia, Cristiano/Ele procura atendimento médico.
(302) Só obrigando Marcos/ele vai ao médico.
(303) [...] então, não tendo diária logo, vai tudo por água abaixo [..]. (PEUL/RJ,
2000, falante n 07).
Há, ainda, a possibilidade de o gerúndio possuir sujeito referencial e o verbo da oração
principal possuir sujeito pronominal:
(304) Só Joana obrigando ele vai ao médico.
Parece ser possível também que ambos os sujeitos sejam pronominais, cujos
antecedentes são recuperados contextualmente:
(305) Só ela obrigando ele vai ao médico
Existem, ainda, construções em que há apenas sujeito (referencial ou pronominal) para
o gerúndio:
(306) Os alunos/eles levando os materiais, cobrarei mensalidade mais barata,.
Ocorrem também construções em que ambos os verbos não têm sujeito:
(307) Em se tratando de anemia, procuraremos um médico.
(308) *Em se tratando de anemia, vai ao médico.
Há, porém, uma ressalva a ser feita com relação ao último exemplo apresentado. Se o
verbo da oração principal for substituído por uma forma no imperativo ou no tempo futuro, a
frase torna-se gramatical:
(309) Em se tratando de anemia, vá ao médico.
(310) Em se tratando de anemia, irei ao médico.
Apresenta-se, a seguir, o quadro-resumo das possibilidades de ocorrência de sujeito
em construções com gerúndio condicional:
Sujeito para o Vprincipal
Sujeito
Sujeito
Referencial
pronominal
Posposição do G
+
+
+
-
Sujeito para o Vgerúndio
Sujeito
Sujeito
referencial
pronominal
-
+
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
co-referentes
Intercalação do G
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
co-referentes
Anteposição do G
+
+
+
+
+
Vprincipal e Vgerúndio
com papéis temáticos
sem co-referência
Posposição e
Anteposição do G
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Figura 8: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio condicional
3.3.2.
Função 2: Gerúndio Adjetivo
Esse tipo de gerúndio manifesta as seguintes características:
c)
apresenta-se na forma simples;
d)
pode aparecer em orações absolutas ou complexas;
e)
está relacionado a nomes, vindo normalmente posposto e contíguo ao nome ao qual se
refere;
f)
desempenha papel temático de qualidade, de estado ou de restrição, ou seja,
desempenha funções típicas dos sintagmas adjetivos (SAdjs).
Segundo Perini (1996, p. 113), a definição de SAdj diz respeito à “classe dos
constituintes que podem desempenhar função de modificador interno ou modificador
externo”. Segundo o autor, as três funções que um SAdj pode desempenhar seriam de
modificador, complemento do predicado ou predicativo, conforme pode ser verificado abaixo:
(311) A água fervendo entornou no fogão (Ger. com função de modificador)
Esint.:
[CG] Sadj
Esem.:
Estado
(312) Comprei uma casa contendo dois quartos (Ger. com função de predicativo)
Esint.:
[CG] Sadj
Esem.:
Restrição
(313) Marcelo falou com a voz enfraquecendo (Ger. complemento adverbial)
Conforme verificado, o gerúndio adjetivo pode ser constituído apenas pela forma que
equivale a um adjetivo (fervendo, enfraquecendo) ou por orações tradicionalmente
classificadas como subordinadas adjetivas restritivas (contendo dois quartos = casa que
contém dois quartos).
Além dessas formas, Campos (1980, p. 73) também considera uma outra forma de
gerúndio que “vem junto a um nome precedida pela preposição com ou de, formando
construções especiais, que equivalem a orações circunstanciais”. Segundo a autora, esse tipo
de oração pode ser anteposta, intercalada ou posposta ao verbo principal.
As relações circunstanciais estabelecidas por esse tipo de gerúndio são:
c)
relações causais:
(314) Renovei meu guarda-roupas com o calor se aproximando.
b)
relações temporais:
(315) Ainda existem muitas crianças famintas com tanto alimento apodrecendo nos
armazéns do governo.
c) relações concessivas:
(316) Apesar de tanto milho apodrecendo nos armazéns do governo, ainda há muitas
crianças famintas.
g) relações modais
•
Com a preposição com:
(317) Marcelo, com a voz enfraquecendo, disse que não agüentaria tanta dor.
•
Com a preposição de:
(318) Marcos entrou na festa de mãos abanando.
•
Com a preposição por:
(319) Pelas pernas enfraquecendo, vemos que João está mal de saúde.
É válido ressaltar que a diferença entre o tipo de gerúndio adjetivo que equivale a uma
oração circunstancial e o gerúndio circunstancial é que o primeiro refere-se a um nome e pode
ser desmembrado em uma oração adjetiva, (exigindo, nesse caso, a presença de um pronome
relativo), ao passo que o gerúndio do segundo tipo são orações adverbiais que, se
desmembradas, apresentam as conjunções típicas dessas orações (porque, mesmo, se, etc.):
(320) Iremos ao baile mesmo chovendo.
Esint.:
Esem.:
[CG]SAdv
Concessão
(gerúndio adverbial: refere-se ao verbo “iremos”, tem função de advérbio e, por isso, especifica a
circunstância da “ida”. No exemplo anterior, equivale a “mesmo se chover”)
(321) Renovei meu guarda-roupas com o calor se aproximando.
Esint.:
Esem.:
[CG]SAdj
Restrição
(gerúndio adjetivo: refere-se ao nominal “calor”, tem função adjetiva. No exemplo em questão, equivale
a “calor que se aproxima, calor próximo”).
Verifique-se a análise posicional das construções desse tipo.
3.3.2.1. Análise posicional
Os gerúndios adjetivos não possuem liberdade posicional. Normalmente, vêm
imediatamente posposicionados ao nome ao qual se referem ou à oração principal que
restringem, conforme os exemplos abaixo indicam:
Esint.:
Esem.:
(322) João ficou com a pele ardendo.
[CG]Sadj
Estado
(323) * Ardendo, João ficou com a pele.
(324) A caixa obstruindo a portaria é minha.
Esint.:
[CG]Sadj
Esem.:
Restrição
(325) *Obstruindo a caixa a portaria é minha.
(326) Comprei uma casa contendo dois quartos.
Esint.:
[CG]Sadj
Esem.:
Restrição
(327) *Contendo dois quartos comprei uma casa.
(328) *Comprei uma casa dois quartos contendo.
3.3.2.2. Condições de ocorrência do sujeito
Gerúndios pertencentes à categoria adjetiva, na forma simples, não possuem sujeito,
mas são constituintes de sintagmas cuja função sintática é a de sujeito ou de complemento:
Constituinte de sujeito:
(329) [A água fervendo] entornou no fogão.
(330) [...] [Motor ratiando] (hes) pode ser problema de válvula [...]. (PEUL/RJ, 2000,
falante nº 25).
Constituinte de complemento:
(331) [...] A gente fica, assim, em pé, mas fica abaixado, fica com as costa doendo.
(PEUL/RJ, 2000, falante nº 01).
Gerúndios adjetivos formados por orações tradicionalmente classificadas como
subordinadas adjetivas restritivas geralmente vêm pospostos ao nome que funciona como seu
sujeito e com o qual concordam. Esses gerúndios podem suscitar papel temático coreferencial ou não co-referencial ao papel temático suscitado pelo verbo principal.
Em casos de co-referencialidade, é possível que haja sujeito referencial ou pronominal
para ambos os verbos:
(332) O timbre de sua voz fazendo lembrar Callas é impressionante.
(333) Ele fazendo lembrar Callas é impressionante.
Em casos de não co-referencialidade, pode haver sujeito referencial ou pronominal
para ambos os verbos:
(334) O ministro/ele apresentou um decreto regulando as operações financeiras.
(335) [...] A gente fica com o muque doendo, não é? (risos)[...]. (PEUL/RJ, 2000,
falante nº 15).
(336) João/Ele gostou daquela (calça) aparentando velha.
(337) João jogou ela (a água) fervendo na pia.
Há também a possibilidade de sujeito inexistente para o verbo da oração principal e
referencial ou pronominal (com antecedente recuperável pelo contexto) para o gerúndio:
(338) Apresentaram um decreto regulando as operações financeiras.
(339) Gostei daquela (calça) aparentando velha.
(340) Joguei ela (a água) fervendo na pia.
Abaixo, apresentam-se as possibilidades de ocorrência de sujeito para as construções
com gerúndio adjetivo:
Orações simples
Sujeito referencial
Sujeito pronominal
Funciona como constituinte deste sujeito
-
Figura 9: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio adjetivo – orações simples
Sujeito para o Vprincipal
Orações
complexas
Vprincipal e
Vgerúndio com papéis
temáticos coreferentes
Posposição do G em
relação a seu sujeito
Vprincipal e
Vgerúndio com papéis
temáticos sem coreferência
Posposição do G em
relação a seu sujeito
Sujeito para o Vgerúndio
Sujeito
Referencial
Sujeito
pronominal
Sujeito
referencial
Sujeito
pronominal
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
Figura 10: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio adjetivo – orações complexas
3.3.3.
Função 3: Gerúndio como verbo principal, sem auxiliar
Essa construção de gerúndio aparece na forma simples, em orações absolutas ou
coordenadas (sindéticas ou assindéticas), cujo predicado não é constituído por um verbo num
modo finito e, por isso, funciona como verbo principal dessa oração, constituindo o núcleo do
sintagma verbal (SV). Assim sendo, não desempenha nenhum papel temático na oração.
Incluem-se, nesse tipo, o gerúndio independente, o narrativo, o exclamativo, o
interrogativo, o imperativo e aqueles presentes em orações desgarradas (essas orações foram
estudadas em detalhes por DECAT, 1999, 2001, 2005, 2008) e mini-orações, conforme os
exemplos abaixo indicam:
(341) Maria e eu vivíamos ali: ela cuidando de seus irmãos e eu dos meus. (narrativo)
Esint.:
PT:
[CG]SV
-
Esint.:
PT:
(342) Quanta gente correndo! (exclamativo)
[CG]SV
-
(343) Marcelo estudando? (interrogativo)
Esint.:
[CG]SV
PT:
(344) Todos marchando, agora! (imperativo)
Esint.:
[CG]SV
PT:
(345) A feira ficou cheia, as pessoas pisando umas nas outras. (orações desgarradas)
Esint.:
PT
:
[CG]SV
-
(346) Não gosto de ver irmão batendo em irmão. (mini-orações)
Esint.:
PT:
[CG]sv
-
Também podem ser consideradas como verbos principais, sem auxiliar, as construções
de gerúndio presentes em legendas de fotos, placas, em textos teatrais ou entrevistas
(indicando posturas/ações das personagens/entrevistados) e no contexto de pergunta-resposta,
conforme apresentado abaixo:
(347) Professores ministrando cursos de extensão. (legenda de foto)
(348) Nilo (gritando) – Não cometerei tal infâmia! (texto de peça teatral)
(349) [...] CSU? (falando rindo) Eu não sei dizer o que significa.[...] (PEUL/RJ, 2000,
falante nº 01). (entrevista)
(350) - Que fazes?
- Trabalhando. (contexto de pergunta-resposta)
Registram-se também ocorrências de gerúndio núcleo de SV em construções ergativas,
cujo sujeito é paciente do verbo no gerúndio:
(351) Tem gente morrendo na rua.
(352) Tem casa vendendo neste bairro.
(353) Coco anão e jabuticaba produzindo. (placa encontrada no Anel Rodoviário - BH)
Passe-se à análise posicional das construções desse tipo.
3.3.3.1. Análise posicional
Praticamente todas as ocorrências de gerúndio núcleo de SV, sem auxiliar, vêm
sempre imediatamente posposicionados ao seu sujeito, conforme exemplos anteriores:
(354) Todos marchando, agora!
(355) Não gosto de ver irmão batendo em irmão.
(356) Professores ministrando cursos de extensão.
O gerúndio pode ocorrer também no início da oração, sem sujeito:
(357) Fazendo jogo sujo, heim Daniel?
Em alguns contextos, o gerúndio narrativo poderá ser anteposto ao seu sujeito:
(358) Maria e eu vivíamos ali: cuidando ela de seus irmãos e eu dos meus.
(359) [...] Porque a gente com água dentro de casa, é outra coisa, não é? Só a gente
abrir a bica e caindo água.[...] (PEUL/RJ, 2000, falante nº 06)
Conforme verificado na frase anterior, nas orações coordenadas, a construção de
gerúndio tende a vir posposta e pode ser introduzida por conjunção (exemplos 359 e 360) ou
não (exemplo 361):
(360) Imagine Luís de sapatilhas e dando saltos nas pontas dos pés.
(361) Meu pai abaixou-se, pegando a criança.
3.3.3.1.
Condições de ocorrência do sujeito
Em orações absolutas, pode haver sujeito referencial ou pronominal para o gerúndio,
com exceção para os contextos de pergunta-resposta, cuja ausência será preenchida por
elementos contextuais:
(362) Marcelo/Ele estudando?
(363) [...] É a gente é que sofre. Gasolina subindo todo dia! [...] (PEUL/RJ, 2000,
falante nº 25).
(364) - Que fazes?
- Trabalhando.
(365) Fazendo jogo sujo, heim Daniel?
Em orações coordenadas ou complexas, em contexto de co-referência, o gerúndio não
possui sujeito e o verbo da oração principal pode ser referencial, pronominal ou inexistente:
(366) Luís/ele anda de sapatilhas e dando saltos nas pontas dos pés.
(367) Andei de sapatilhas e dando saltos nas pontas dos pés.
(368) *Luísi anda de sapatilhas e Luis/elei dando saltos nas pontas dos pés.
(369) Maria/ela caminha rápido e ouvindo música.
(370) Caminhei rápido e ouvindo música.
(371) *Mariai caminha rápido e Maria/elai ouvindo música.
Se houver sujeito pronominal (ou não houver sujeito) para o verbo da oração inicial e
houver sujeito (referencial ou pronominal) para o gerúndio, há a tendência a interpretar os
papéis temáticos suscitados por esses verbos como não co-referenciais:
(372) Elai caminha rápido e Mariaj ouvindo música.
(373) Caminhamos rápido e Maria/ela ouvindo música.
(374) Eu ando rápido e Luis dando saltos nas pontas dos pés.
Em contextos de não co-referencialidade, normalmente as ocorrências são de gerúndio
posposto à primeira oração. Nessas ocorrências, ambos os sujeitos podem ser referenciais:
(375) Maria caminhou rápido e José dando saltos.
(376) *José dando saltos e Maria caminhou rápido.
(377) [...] Porque a gente com água dentro de casa, é outra coisa, não é? Só a gente
abrir a bica e caindo água.[...] (PEUL/RJ, 2000, falante nº 06)
É possível também que haja sujeito referencial para um dos verbos e sujeito
pronominal para o outro:
(3)
Maria caminhou rápido e ele dando saltos.
(4)
Ele caminhou rápido e Maria dando saltos.
(380) [...] Eu via uma pessoa mexendo num automóvel [...] (PEUL/RJ, 2000, falante
nº 07).
Ainda é possível ocorrerem sujeitos pronominais para ambos os verbos,
cujos antecedentes são recuperáveis pragmaticamente:
(381) Ela caminhou rápido e ele dando saltos.
Ocorrem também frases em que há sujeito referencial ou pronominal para o gerúndio e
ausência de sujeito para o verbo da oração inicial:
(382) Caminhei rápido e João/ele dando pulos.
Se não houver sujeito para nenhum verbo, ou se apenas o verbo da oração inicial
possuir sujeito (referencial ou pronominal), interpretam-se os papéis temáticos suscitados
pelos dois verbos como co-referenciais:
(383) Caminhei rápido e dando saltos.
(384) João/ele caminhou rápido e ouvindo música.
Apresentam-se, a seguir, as possibilidades de ocorrência de sujeito para o gerúndio
como verbo principal, sem auxiliar:
Sujeito do V da Oração inicial
Sujeito
Sujeito
Referencial
pronominal
Orações Absolutas (gerúndio posposto)
Não previsto
Não previsto
Não previsto
Não previsto
Não previsto
Não previsto
-
-
+
-
-
-
-
+
-
-
+
+
-
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
V da Oração
inicial e
Vgerúndio com
papéis temáticos
co-referentes
Orações coordenadas
(gerúndio posposto)
Sujeito para o Vgerúndio
Sujeito
Sujeito
referencial
pronominal
+
+
V da Oração
inicial e
Vgerúndio com
papéis temáticos
sem co-referência
Orações coordenadas
Agramatical
Agramatical
(gerúndio anteposto)
Figura 11: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio como verbo principal, sem auxiliar
3.3.4.
Função 4: Gerúndio Perifrástico
A construção de gerúndio perifrástico é constituída de um ou mais verbos auxiliares
(tipicamente estar), seguidos de um verbo no gerúndio. Essa construção caracteriza-se por
possuir um único conjunto de valência e restrições selecionais, correspondentes ao verbo que
fica no gerúndio, e que por isso recebe a designação de “principal”. O verbo principal é assim
considerado o núcleo da construção, que é analisada como composta de uma única oração
(essas construções foram estudadas em detalhes por PONTES, 1973).
Exemplos:
(385) João está fazendo compras.
Esint.:
[Aux.+ VG)]sv
PT:
Aspecto
Esint.:
PT:
(386) João deve ter estado estudando.
[Aux.+ VG)]sv
Aspecto
(387) Carolina vive lamentando sua condição de viúva.
Esint.:
[Vfuncional + VG]sv
PT:
Aspecto
(388) João acabou perdendo o jogo de ontem.
Esint.:
[Vaspectualizador + VG]sv
PT:
Aspecto
A partir dos exemplos apontados anteriormente, percebe-se que as construções
perifrásticas de gerúndio têm a função de expressar certos traços de aspecto, ou seja, “do
aspecto por que se apresenta o processo verbal do ponto de vista da sua duração” (CAMARA
JR., 1989, p. 141). Segundo o mesmo autor, a perífrase de verbo auxiliar conjugado com um
gerúndio formula o aspecto cursivo, que diz respeito àquele que frisa a duração de um
processo.
Uma perífrase típica dos dias atuais, denominada gerundismo, é marcada pela seguinte
configuração: presença de dois auxiliares, o primeiro em forma finita + o verbo “estar” no
infinitivo + verbo principal no gerúndio:
(389) João vai estar participando da reunião amanhã.
(390) [...] Perdeu, está fora. Então, tem que chegar e estar ganhando, ganhando [...].
(PEUL/RJ, 2000, falante nº 14).
Verifica-se, aqui, que o gerundismo foge do valor original da perífrase com gerúndio,
que seria o de expressar o aspecto continuativo no futuro. Pelo contrário: nos dois últimos
exemplos, a perífrase é usada sem o valor aspectual, já que as construções equivalem,
respectivamente, a “vai participar” e “tem que ganhar”.
Com relação ao gerúndio perifrástico, verificam-se, ainda, casos de ambigüidade:
(391) Pedro anda estudando.
A frase acima é ambígua porque pode-se considerar que “João anda ao mesmo tempo
em que estuda” ou “João tem estudado ultimamente”. Segundo Pontes (1973, p. 58), “os
verbos andar, ir e vir distinguem-se dos outros [verbos] por serem ambíguos, indicando ou
movimento ou então apenas duração”. Segundo a mesma autora, para que a ambigüidade
desapareça basta expandir a oração:
(392) João anda estudando muito, ultimamente.
Com a oração expandida, interpreta-se o verbo andar como indicador de aspecto
freqüentativo.
Pontes (1973, p.58) afirma ainda que
as diferenças entre os dois verbos, andar1 (movimento) e andar2 (durativo) se
verificam nas restrições e seleção: andar1 não se combina com qualquer sujeito
(parece que só com nomes animados, ou, pelo menos, que não sejam estáticos) e
andar2 se combina com qualquer sujeito. [...] Por este motivo, uma oração que tenha
um verbo destes com gerúndio não será ambígua se tiver um sujeito que não seja
dotado de movimento.
Vejam-se os exemplos abaixo, que ilustram a afirmação da autora:
(393) * Os lápis andam1.
(394) Os lápis andam2 rolando pela sala de aula.
(395) O telefone do escritório anda2 tocando muito.
O exemplo (393) é agramatical, já que não se pode interpretar o verbo andar como
indicativo de movimento, pois o sujeito não possui o traço animado. Em (394) e (395), o
verbo andar, por combinar-se, nos dois casos, com sujeito não dotado de movimento, é
interpretado como auxiliar indicador de aspecto freqüentativo.
A partir de todos os exemplos apontados, constata-se que o gerúndio perifrástico é
bastante diferente gramaticalmente dos outros tipos de gerúndio. Isso porque, na construção
com gerúndio perifrástico, apesar de haver dois verbos, somente a valência de um deles se
manifesta. Segundo Perini (2008, p. 165), “pode-se dizer que um verbo não tem diátese
quando funciona como auxiliar, já que na oração em que ele aparece há sempre outro verbo, e
as diáteses desse outro verbo prevalecem”. Analise-se o exemplo abaixo:
(396) Maria está fazendo bolo de laranja.
Percebe-se, aqui, a existência de dois verbos “está” e “fazendo”, mas apenas a valência
do verbo fazer se realiza, diferentemente da frase (397):
(397) Maria engasgou comendo bolo de laranja.
Nessa frase, as valências de ambos os verbos (“engasgar” e “comer”) são realizadas.
Essa comparação leva a crer que o gerúndio perifrástico merece tratamento
diferenciado com relação a sua posição e suas condições de ocorrência.
Apresenta-se, a seguir, a análise posicional das construções desse tipo.
3.3.4.1. Análise posicional
Os gerúndios perifrásticos, os quais podem ser constituídos por dois ou mais verbos,
podem situar-se do seguinte modo nas frases:
c) O verbo auxiliar e o verbo no gerúndio podem aparecer contíguos e vêm pospostos ou
antepostos ao sujeito:
(398) João está fazendo compras.
(399) O João acabou perdendo o jogo.
(400) Acabou perdendo o jogo, o João.
b) Em contexto de pergunta-resposta, em que se pode resgatar na resposta o referente da
pergunta, o verbo auxiliar e o gerúndio vêm contíguos, porém sem sujeito:
(401) - Onde João está?
-Está fazendo compras.
c) O gerúndio e o auxiliar não aparecem contíguos:
(402) Acabou João perdendo o jogo.
d) O gerúndio vêm posposto, anteposto ou intercalado à frase, mas estando sempre contíguo
ao auxiliar:
(403) Eu não vou ao show de jeito nenhum, (es)tá sabendo!
(404) (Es)tá sabendo, eu não vou ao show de jeito nenhum!
(405) Eu, (es)tá sabendo, não vou ao show de jeito nenhum!
Nesses três últimos exemplos, pela não possibilidade de separação do gerúndio de seu
auxiliar e por se tratar de expressão cristalizada na língua, suspeita-se que a perífrase funcione
como expressão idiomática, tendo em vista que as outras formas de gerúndio perifrástico,
normalmente, admitem a separação dos dois verbos e, quando não admitem, cada verbo mantém
sua significação própria, diferentemente dos últimos três exemplos apontados.
e) Há também possibilidade de a perífrase com gerúndio ocorrer em situação de
topicalização contrastiva:
(406) Dormindo, ela estava (mas não roncando).
3.3.4.2. Condições de ocorrência do sujeito
A respeito das condições de ocorrência do sujeito, não há o que se discutir com relação às
perífrases com gerúndio, tendo em vista que há apenas uma valência para ambos os verbos e,
assim, um só sujeito, que não será do gerúndio e sim do auxiliar.
3.3.5.
Função 5: Gerúndio Núcleo de Sintagma Nominal
O gerúndio ocorre, às vezes, como núcleo de uma construção que parece ter a distribuição
e as propriedades de um sintagma nominal: por exemplo, ocorre como sujeito ou como
predicativo do sujeito de uma oração maior.
Construções de gerúndio, nesse contexto, assumem as seguintes características:
c) Normalmente, aparecem na forma simples em construções complexas.
Quanto às funções sintáticas e semânticas que assumem,
d) referem-se a nomes (ou seja, podem ter a função de complemento de preposição e
função semântica de limitador da referência)
ou, então,
e) constituem-se como núcleo de um SN, com a função semântica de centro de referência
do sintagma.
Os exemplos abaixo ilustram essas características:
Esint.:
PT:
(407) A maneira de exprimir isso é [dizendo que a frase não tem sujeito] SN
NdoSN
centro de referência
(408) Isso deve ser entendido em termos d[a mente construindo um sistema de...].
Esint.:
NdoSN
PT:
centro de referência
(409) [João lendo] é novidade.
Esint.:
PT:
NdoSN
centro de referência
Esse tipo de gerúndio diferencia-se do gerúndio como verbo principal, sem auxiliar,
porque a construção que o contém equivale a um SN e, no outro caso, ele é núcleo de um SV,
e a construção que o contém é uma oração.
Vale ressaltar, ainda, uma ocorrência observada recentemente na fala de uma pessoa
que estava sendo entrevistada pelo repórter de um telejornal:
(410) A criança olhou com um olhar de pedindo socorro.
Nesse caso, a construção de gerúndio (que é um SN) aparece encabeçada por uma
preposição. Nos dados do PEUL (2000), também foi encontrada essa ocorrência:
(411) [...]De (inint) tem um sotaquezinho pouca diferença, entendeu? A mesma coisa
(Ruído) aquele negócio de cantando [...]. (PEUL/RJ, 2000, falante nº 14).
Não se sabe, porém, se frases com gerúndio desse tipo teriam um uso corrente no
português do Brasil ou se foram apenas usos isolados. De qualquer modo e em consonância
com o objetivo geral deste trabalho, são registros que merecem ser formalizados. Note-se que,
ainda aqui, a construção de gerúndio funciona como um SN.
Apresenta-se, a seguir, a análise posicional das construções de gerúndio núcleo de SN.
3.3.5.1. Análise posicional
Esse tipo de construção com gerúndio pode vir anteposto ou posposto à oração principal:
(412) A maneira de exprimir isso é dizendo que a frase não tem sujeito.
(413) Dizendo que a frase não tem sujeito é a maneira de exprimir isso.
(414) João chegando em casa a essa hora é novidade.
(415) É novidade João chegando em casa a essa hora.
Em alguns casos, essas construções de gerúndio introduzem orações tradicionalmente
classificadas como subordinadas substantivas reduzidas:
(416) Isso deve ser entendido em termos d[a mente construindo um sistema de
conhecimentos.
É relevante observar que essas posições ocupadas pelas construções de gerúndio são
exatamente as posições de um SN na oração, o que reforça a idéia de que a construção de
gerúndio é, nesse caso, um SN.
3.3.5.2. Condições de ocorrência do sujeito
Nessas construções de gerúndio, pode haver ou não co-referencialidade. Nos casos de
co-referencialidade, tanto na posição posposta quanto na anteposta, é possível que o sujeito do
gerúndio seja referencial, pronominal ou inexistente:
(417) A maneira de exprimir isso é José dizendo que a frase não tem sujeito.
(418) José dizendo que a frase não tem sujeito é a maneira de exprimir isso.
(419) A maneira de exprimir isso é você dizendo que a frase não tem sujeito.
(420) Você dizendo que a frase não tem sujeito é a maneira de exprimir isso.
(421) A maneira de exprimir isso é dizendo que a frase não tem sujeito.
(422) Dizendo que a frase não tem sujeito é a maneira de exprimir isso.
Parece haver casos em que a ausência de sujeito para o gerúndio torna a frase
agramatical:
(423) João/você chegando em casa a essa hora é novidade.
(424) É novidade João/você chegando em casa a essa hora.
(425) *Chegando em casa a essa hora é novidade.
(426) *É novidade chegando em casa a essa hora.
Comparem-se tais frases às construções com infinitivo:
(425a) Chegar em casa a essa hora é novidade.
(426a) É novidade chegar em casa a essa hora.
Como se observa, nesse contexto, o uso do infinitivo, diferentemente do gerúndio, não
gera agramaticalidade, o que pode ser uma indicação de que o gerúndio não tem, entre suas
potencialidades semânticas, a de indeterminar o sujeito – propriedade que, como se sabe, é
típica do infinitivo.
Nos casos de não co-referencialidade, o gerúndio possui sujeito referencial ou
pronominal; a ausência de sujeito ocasiona agramaticalidade:
(427) Maria se preocupa com Pedro/ele viajando sozinho.
(428) *Maria se preocupa com viajando sozinho.
Esses exemplos sugerem que a distribuição do SN gerundivo é diferente da
distribuição do SN não-gerundivo. Não se trata de proibição de ocorrência depois de
preposição, por causa de (410) e (411). As condições são, no momento, misteriosas e
precisam ainda ser investigadas.
Apresentam-se, abaixo, as possibilidades de ocorrência de sujeito para o gerúndio
núcleo de SN:
Sujeito para o Vgerúndio
Sujeito
Sujeito
Referencial
pronominal
Orações
complexas
Vprincipal e
Vgerúndio com
papéis temáticos coreferentes
Posposição e
anteposição do G
+
-
-
+
-
-
Vprincipal e
Vgerúndio com
papéis temáticos
sem co-referência
Posposição e
Anteposição do G
+
-
-
+
-
-
Figura 12: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio núcleo de SN
3.3.6.
Função 6: Gerúndio Ilocutivo
Esse tipo de gerúndio normalmente está presente em orações complexas, modificando
o ato locutivo que produz a oração a que se acha associado. É comparável a um SAdv,
admitindo certa liberdade posicional. Além disso, não desempenha papel na valência no verbo
(o que o diferencia do gerúndio adverbial), mas desempenha função semântica de modalidade:
Esint.:
PT:
(429) Falando em termos coloquiais: suma daqui!
[CG]SAdv
Modalidade
(430) Mudando um pouco de assunto, você falou [...] (PEUL/RJ, 2000, falante nº 5).
Esint.:
PT:
[CG]SAdv
Modalidade
Passa-se, a seguir, à análise posicional das construções desse tipo.
3.3.6.1. Análise posicional
Essas construções de gerúndio, de modo geral, podem vir antepostas ou pospostas à
oração principal:
(431) Resumindo: Geraldo não sabe nada da matéria.
(432) Geraldo não sabe nada da matéria, resumindo.
Há casos, porém, em que determinadas posições não são possíveis:
(433) *Suma, falando em termos coloquiais, daqui!
3.3.6.2. Condições de ocorrência do sujeito
Construções de gerúndio desse tipo não possuem sujeito, cujo referente é o emissor do
ato locutivo que produziu a oração a que se acha vinculado o gerúndio. Quanto ao sujeito do
verbo da oração principal, este poderá ser referencial, pronominal ou inexistente:
(434) Resumindo: Geraldo/ele não sabe nada da matéria.
(435) Falando em termos coloquiais: suma daqui!
Abaixo, apresentam-se as possibilidades de ocorrência de sujeito para a construção de
gerúndio ilocutivo:
Sujeito para o Vprincipal
Sujeito
Sujeito
Referencial
pronominal
Orações
complexas
Vprincipal e
Vgerúndio com
Posposição e
papéis
anteposição do
temáticos coG em relação à
referentes
oração principal
Sujeito para o Vgerúndio
Sujeito
Sujeito
referencial
pronominal
+
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
Figura 13: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio ilocutivo
3.3.7.
Função 7: Gerúndios Prepositivos
Constituem uso bastante peculiar do gerúndio, aplicando-se basicamente a verbos
como incluir, excluir, excetuar, etc., que funcionariam como preposições. Estritamente
falando, não seria um caso de construção de gerúndio, mas de preposições, cuja origem
histórica se prenderia a um processo de gramaticalização de gerúndios. Nesse caso, o
gerúndio não constituiria um sintagma verbal, nem predicado, nem núcleo do predicado, mas
substituiria uma preposição:
(436) Todos os funcionários da empresa são desonestos, incluindo o dono.
Esint.:
Prep.
PT:
(437) Excluindo o mordomo, todos são suspeitos do crime.
Esint.:
Prep.
PT:
3.3.7.1. Análise posicional
Conforme os exemplos anteriores demonstram, os gerúndios ditos prepositivos podem
vir pospostos ou antepostos à oração principal.
(438) Todos foram presos, excetuando a madrasta.
(439) Excetuando a madrasta, todos foram presos.
3.3.7.2. Condições de ocorrência do sujeito
Os gerúndios prepositivos não possuem sujeito, mas podem requerer complemento,
como toda preposição. Os verbos da oração principal podem receber sujeito referencial,
pronominal ou não possuírem sujeito:
(440) João e Antônio foram presos, excetuando a madrasta.
(441) Todos foram presos, excetuando a madrasta.
(442) Foram presos, excetuando a madrasta.
(443) *Todos foram presos, Pedro/ele excetuando a madrasta.
A seguir, apresentam-se as possibilidades de ocorrência de sujeito para a construção de
gerúndio prepositivo:
Sujeito para o Vprincipal
Sujeito
Sujeito
Referencial
pronominal
Orações
complexas
Vprincipal e
Vgerúndio com
Posposição e
papéis
anteposição do
temáticos co- G com relação à
referentes
oração principal
Sujeito para o Vgerúndio
Sujeito
Sujeito
referencial
pronominal
+
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
Figura 14: Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio prepositivo
3.3.8.
Função 8: Gerúndio constituinte de expressões idiomáticas
Expressões idiomáticas são, segundo Ilari (2004, p. 78), “expressões compostas de
diferentes palavras, cujo sentido vale para o todo e não pode ser obtido pela montagem dos
sentidos das palavras que as compõem”. Essas construções podem ser exemplificadas pelas
seguintes frases:
(444) [...] e vamos tocando o barco, certo? (PEUL/RJ, 2000, falante nº 07).
(445) João é o cão chupando manga.
No presente trabalho, as expressões idiomáticas não serão analisadas em detalhes,
devido à sua natureza altamente idiossincrática e, por isso, merecem um tratamento
diferenciado daquele oferecido às demais construções (uma análise pormenorizada do uso de
expressões idiomáticas é oferecida por FULGÊNCIO, 2008). Todavia, não poderiam deixar
de ser aqui mencionadas, levando em conta que o objetivo geral do trabalho é realizar uma
taxonomia de todas as ocorrências do gerúndio na língua portuguesa.
9
3.4. Breve comentário acerca da proposta apresentada
É relevante frisar que os contextos apresentados neste trabalho foram indicados a
partir da observação do comportamento real de falantes, complementados com dados de
introspecção e também a partir da análise de dados fornecidos pelo corpus da língua falada do
Brasil (PEUL, 2000). Além disso, foram analisadas também as taxonomias de construções do
gerúndio propostas por Campos (1980), Lagunilla (1999) e Rodrigues (2006).
Campos (1980) sugere a seguinte distribuição de tipos gerundiais: circunstancial,
adjetivo, coordenado, narrativo, exclamativo, interrogativo e aquele presente em perífrases. A
tipologia apresentada pela autora não estabelece previamente quais os critérios para a
distribuição sugerida, indicando, por exemplo, os gerúndios narrativos como pertencentes a
uma classe diferente dos gerúndios exclamativos e interrogativos, o que parece inconveniente,
já que essas formas equivalem a um verbo na forma finita, variando apenas a força
ilocucionária impressa à frase.
Lagunilla (1999), por sua vez, estabelece critérios preliminares de classificação das
formas gerundiais em função de elas possuírem ou não natureza oracional, complementando,
posteriormente, o critério de relação existente entre o gerúndio e os outros elementos da frase,
ou seja, se o gerúndio modifica apenas o verbo ou também outros elementos tais como SN
sujeito ou objeto. A classificação proposta pela autora pode ser assim elencada: gerúndios
adjuntos (externos e internos) e gerúndios predicativos (do sujeito, do objeto direto, no SN e
independentes).
Rodrigues (2006) apresenta a seguinte tipologia para as construções de gerúndio:
independente, perifrástico, proposição reduzida ou segundo predicado. Tal classificação,
bastante sucinta, parece, eminentemente, baseada em critérios sintáticos, tais como a
possibilidade de o gerúndio equivaler a um verbo na forma finita e sua possibilidade de
locomoção na frase.
A diferença básica entre o ponto de vista aqui proposto e as demais autoras está na
clara e prévia definição dos vários parâmetros sintáticos (posição, forma, elemento a que o
gerúndio se refere, etc) que norteiam a distribuição das funções gerundiais, acompanhadas das
interpretações semânticas que tais funções podem suscitar.
10
O presente trabalho também acrescenta e detalha a discussão, com dados da língua
portuguesa do Brasil, acerca das possibilidades de posicionamento desses gerúndios na
oração, que, conforme observado, nem sempre possuem total mobilidade e, se possuem,
podem, de acordo com a posição que ocupam, ocasionar diferentes interpretações. Além do
posicionamento dessas construções na frase, discute-se, também, de forma pormenorizada, os
contextos em que cada construção gerundial pode ou não receber sujeito e são apontados,
ainda, fatores extra-sintáticos que ligam a construção de gerúndio ao restante do período
(marcador discursivo), fato que nenhuma das outras abordagens discute.
No capítulo seguinte, será apresentada a síntese das discussões realizadas nas seções
precedentes.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
11
Nos capítulos anteriores, foram apresentados dados sobre o comportamento das
construções de gerúndio no português do Brasil, enfocando-se os aspectos relacionados ao seu
caráter simbólico, ou seja, à relação existente entre a estrutura sintática e a representação
semântica dessas construções.
Dessa análise, pode-se levantar um questionamento com referência à existência de
alguma correlação clara entre as propriedades gramaticais encontradas e os traços semânticos
do gerúndio em cada caso. Tal questionamento é importante porque permite um teste parcial
da formulação de Taylor (2002, p. 29), o qual afirma que “a expectativa é que os fatos
sintáticos (e morfológicos) de uma língua sejam motivados por aspectos semânticos e que
possam ser exaustivamente descritos através de estruturas simbólicas”.
Portanto, os objetivos principais deste trabalho foram: a) descrever as estruturas de
gerúndio do português, isto é, listá-las da maneira mais completa possível e fornecer uma
análise, em termos tanto quanto possível, não controversos; b) testar o grau de previsibilidade
das características sintáticas das construções de gerúndio a partir de seus traços semânticos, o
que possibilita a formulação de uma sintaxe mínima.
No capítulo três, foi apresentada a taxonomia das construções de gerúndio no
português do Brasil, contemplando, assim, o primeiro objetivo proposto. Nesta seção, o
segundo objetivo será contemplado, em que se oferece uma síntese das observações realizadas
anteriormente, buscando verificar até que ponto conhecer a semântica de uma construção de
gerúndio permite prever seu comportamento sintático. Algumas constatações serão
apresentadas a seguir.
3.3 A forma das construções de gerúndio
A maioria dos tipos de gerúndio apresenta-se na forma simples, com exceção
do gerúndio perifrástico:
(378) Gustavo competiu sabendo que perderia. (gerúndio adverbial)
(379)
Sapato apertando incomoda. (gerúndio adjetivo)
(380) Quantas pessoas sofrendo! (gerúndio como verbo principal, sem auxiliar)
(381) Petrarca construindo é novidade. (gerúndio núcleo de SN)
12
(382) Falando sério: você vai trabalhar nesta empresa? (gerúndio ilocutivo)
(383) Toniana está tentando passar no vestibular. (gerúndio perifrástico)
(7) Otávio vai estar falando amanhã com os representantes dos grêmios. (gerúndio
perifrástico).
3.4 Posicionamento dos gerúndios
Pelas matrizes de traços apresentadas, pôde-se verificar que todos os tipos de
gerúndio podem ser usados na posição posposta à estrutura à qual se referem (verbos,
nomes ou orações):
(8) O jardineiro cuidava das plantas cantando. (gerúndio adverbial de modo)
(9) Gisele ganhou a vaga de estágio sendo a melhor aluna. (gerúndio adverbial de causa)
(10) Maria Luísa usou sapato apertado, machucando seu pé. (gerúndio adverbial de
conseqüência)
(11) Vou viajar bastante, terminando o doutorado. (gerúndio adverbial de tempo)
(12) Fizemos greve pedindo aumento (gerúndio adverbial de finalidade)
(13) Irei ao trabalho mesmo estando doente. (gerúndio adverbial de concessão)
(14) Marta passará no concurso estudando muito. (gerúndio adverbial de condição)
(15) Sapato apertando é ruim. (gerúndio adjetivo)
(16) Todos marchando, agora! (gerúndio como verbo principal, sem auxiliar)
(17) Estael está fazendo doutorado. (gerúndio perifrástico)
(18) Bruno estudando é estranho. (gerúndio núcleo de SN)
(19) Geraldo não sabe nada da matéria, resumindo. (gerúndio ilocutivo)
(20) Todos são desonestos, incluindo o dono. (gerúndio prepositivo)
Percebe-se, porém, que alguns gerúndios ou só podem ser pospostos ou tendem à
posposição, conforme será indicado no item seguinte.
3.5 Tendência de posicionamento da construção de gerúndio na frase
13
Foi verificado que os gerúndios adjetivos não admitem a anteposição e que os
gerúndios adverbiais consecutivos revelam preferência pela posposição. No caso do gerúndio
adjetivo, tal fenômeno pode ser justificado pelas funções semânticas que ele exerce, ou seja,
qualidade, estado e restrição. Tais funções são altamente especificadoras de SNs e daí a
tendência a aparecer logo após os mesmos. Vale ressaltar também que o gerúndio com função
restritiva é o único, dentre os gerúndios adjetivos, que aceita sujeito.
Com relação aos gerúndios adverbiais consecutivos, a tendência à posposição pode ter
sido motivada pela relação existente entre causa e conseqüência, ou seja, supõe-se que para
toda conseqüência tenha havido antes uma causa. Isso quer dizer que essa pressuposição, que
faz parte do aspecto semântico da construção, realiza-se também no plano formal: primeiro é
citada a causa, depois a conseqüência. Vejam-se alguns exemplos:
(21) A chuva veio rapidamente, molhando toda a roupa no varal. (G consecutivo)
(22) *Molhando toda a roupa no varal, a chuva veio rapidamente.
(23) Água fervendo queima a boca. (gerúndio adjetivo)
(24) *Fervendo água queima a boca.
3.6 Conseqüências semânticas da troca de posição da construção do Gerúndio na frase
Conforme discutido no capítulo três, algumas construções gerundiais, quando
alternadas de posição, podem ser consideradas agramaticais ou mesmo alterar a relação
estabelecida com oração principal. Como exemplo, citam-se algumas relações:
(25) Marta não aceitou sua doença, matando-se.
(26)* Matando-se, Marta não aceitou sua doença.
Esses exemplos demonstram que a troca de posição da construção de gerúndio acarreta
agramaticalidade, tendo em vista fatores pragmáticos (não há como sugerir que ela não
aceitou sua doença depois de morta).
14
(27) Carlos chutou a bola, quebrando a vidraça.
(28) Quebrando a vidraça, Carlos chutou a bola.
(29) A canoa virou, caindo seis pessoas no lago.
(30) Caindo seis pessoas no lago, a canoa virou.
Nesses casos, tem-se um gerúndio posposto consecutivo que, em posição anteposta,
transforma-se em gerúndio temporal.
(31) Pedro fez sinais alertando seus amigos do perigo.
(32) Alertando seus amigos do perigo, Pedro fez sinais.
Esses exemplos sugerem que a construção posposta de gerúndio (finalidade), se
anteposta, pode se tornar temporal (tempo anterior).
3.7 Influência do modo imperativo e do futuro na aceitabilidade de frases com gerúndio
Percebeu-se que quando há construções adverbiais condicionais antepostas, normalmente,
deve haver sujeito para a oração principal, caso contrário, ela é considerada agramatical.
Porém, se houver a troca do modo do verbo principal para o imperativo ou futuro, a frase
torna-se aceitável:
(33) Em se tratando de roubo, Guilherme vai à polícia.
(34) *Em se tratando de roubo, vai à polícia.
(35) Em se tratando de roubo, vá à polícia.
(36) Em se tratando de roubo, irei à polícia.
3.8 Relação entre co-referência e possibilidade de ocorrência de sujeito
15
Segundo Ilari (2004, p. 176), referência é a “operação lingüística por meio da qual
selecionamos, no mundo que nos cerca, um ou mais objetos (isto é, pessoas, coisas,
acontecimentos) específicos, tomando-os como assunto de nossas falas”. A co-referência
consistiria, então, na retomada da referência já citada na mesma frase, ou seja, uma mesma
entidade seria “tomada” mais de uma vez na frase.
Assim, verificou-se que, nas construções de gerúndio, quando não há co-referência
entre o papel temático suscitado pelo verbo da oração principal e o do gerúndio, há uma
tendência à existência de sujeito para ambos os verbos. A frase abaixo ilustra esse fenômeno:
(37) Mônica entrando, João saía. (gerúndio adverbial temporal)
(38) Só Paula obrigando Marcos vai ao médico. (gerúndio adverbial concessivo)
(39) Ele viajou buscando descanso. (gerúndio adverbial de finalidade)
(40) Carmem suportará a dor sendo forte. (gerúndio adverbial condicional)
A teoria aqui adotada sugere que o sujeito é o SN antes do verbo e, considerando que
isso não ocorre nas orações de gerúndio (39) e (40), prevê que o sujeito da primeira equivale
ao referente da segunda oração (complicação do componente semântico). Nesse caso, a
segunda oração não contém sujeito, fenômeno ocasionado pela não explicitude do SN na
posição pré-verbal (simplificação do componente sintático).
Em frases como
(41) Chorando, a menina entrou para a sala
observa-se que, apesar de a construção de gerúndio estar anteposta à principal, a interpretação
de co-referência é a mesma que das duas últimas frases, não admitindo também sujeito para o
gerúndio.
3.9 Contextos de ocorrência de sujeito
16
Foi verificado que os gerúndios que possuem maior gama de possibilidades de
ocorrência, considerando seu comportamento em orações simples e complexas, nas posições
anteposta e posposta, em contextos de co-referência ou não são os gerúndios adverbiais
condicionais (34 tipos de contextos), seguido dos gerúndios adverbiais concessivos, os quais
manifestaram 29 tipos de ocorrências. Os gerúndios que apresentaram menos possibilidades
de contextos de ocorrência foram os prepositivos e os ilocutivos, cada um manifestando 06
tipos de ocorrências.
3.10 Co-referencialidade entre o papel temático suscitado pelo sujeito do gerúndio
adverbial final e o do verbo principal
Conforme as ocorrências levantadas, foi observado que o papel temático suscitado
pelos gerúndios que indicam finalidade sempre suscitam papéis temáticos co-referenciais
àqueles suscitados pelos verbos das orações principais que os acompanham na frase:
(42) Reuber aproximou-se procurando atrair a atenção da moça.
(43) *Reuber aproximou-se João procurando a atenção da moça.
(44) *Reuberi aproximou-se elej procurando a atenção da moça.
As constatações indicadas anteriormente sugerem que as construções de gerúndio
envolvem realmente uma infinidade de fatores, tanto sintáticos quanto semânticos. Foi
verificado, entre outros aspectos, que a posição da construção pode determinar a relação
temática a ser estabelecida e, pelo que foi apontado, não parece inconveniente dizer que esses
fatores estão altamente imbricados.
Cabe, ainda, um comentário relativo à desproporção na indicação dos exemplos dos
vários contextos para as construções de gerúndio: o número de registros do PEUL (2000)
apontados foram evidentemente inferiores aos dados de introspecção. Essa constatação deve-
17
se, principalmente, ao fato de que, nesse corpus de língua falada, também houve desproporção
na ocorrência das construções de gerúndio: a maioria dos gerúndios utilizados foram
perifrásticos, não houve registro de construções com gerúndio prepositivo e houve número
reduzido dos demais gerúndios. Esse fato, portanto, ratifica a importância de também se
considerarem dados de introspecção na análise lingüística, levando em conta que o corpus
pesquisado pode não oferecer todos os registros possíveis de determinado fenômeno.
Por fim, acredita-se que este trabalho possibilitou mais uma etapa na tarefa de executar
a agenda dos procedimentos básicos da teoria gramatical, que inclui a explicitação de
estruturas formais possíveis na língua e a relação dessas estruturas com interpretações
semânticas correspondentes, o que possibilita predições acerca do comportamento de tais
construções.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. rev. e ampl. Rio de
Janeiro: Lucerna, 2001.
CAMARA JR., Mattoso J. Princípios de Lingüística Geral. Rio de Janeiro: Padrão Livraria
Editora, 1989.
CAMPOS, Odete A. S. O gerúndio no português. Rio de Janeiro: Presença, 1980.
CANÇADO, Márcia. Os papéis temáticos. In: Manual de Semântica: noções básicas e
exercícios. Belo Horizonte: UFMG, 2005. p. 111-126.
CANÇADO, Márcia. Um estatuto teórico para os papéis temáticos. In: MÜLLER, A. L.;
NEGRÃO, E. U.; FOLTRAN, M. J. (Org.). Semântica Formal. São Paulo: Contexto, 2003.
p. 95-124.
18
CASTELEIRO, João M. Sintaxe transformacional do adjetivo. Lisboa: Instituto Nacional
de Investigação científica, 1981.
CHAFE, Wallace L. Meaning and the structure of language. Chicago: University of
Chicago Press, 1970.
CHOMSKY, N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, The MIT Press, 1965.
CULICOVER, Peter W.; JACKENDOFF, Ray. Simpler Syntax. Oxford: Oxford University
Press, 2005.
CUNHA; CINTRA CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português
Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
DECAT, M.B.N. A gramática da focalização em português: estruturas “desgarradas”. XV
Congresso Internacional da ALFAL. Projeto de Pesquisa Gramática do Português.
Montevidéu, 18 a 21 de agosto de 2008: www.mundoalfal.org/ProjCamacho.htm
DECAT, M.B.N. Orações relativas apositivas: SNs ‘soltos’ como estratégia de focalização e
argumentação. Veredas (Conexão de orações), v. 8, n.1 e 2, jan./dez. 2004. Juiz de Fora, MG:
Editora UFJF (Impresso em 2005), p. 79-101.
DECAT, M.B.N. Orações adjetivas explicativas no português brasileiro e no português
europeu: aposição rumo ao ‘desgarramento’. Scripta (Lingüística e Filologia), v.5, n.9, Belo
Horizonte: PUC Minas, 2º sem 2001, p. 104-118.
DECAT, M.B.N. Por uma abordagem da (in)dependência de cláusulas à luz da noção de
“unidade informacional”. Scripta (Lingüística e Filologia), v.2, n.4, Belo Horizonte: PUC
Minas, 1º sem 1999, p. 23-38.
DILLINGER, Mike. A descrição do significado frasal: proposições e análise proposicional.
Belo Horizonte: UFMG, 1995. Notas de aula.
DOWTY, David. Thematic proto-roles and argument selection. Language, 67, 3, p. 547-619,
1991.
DOWTY, David. On the semantic content of the notion of thematic role. In: Chierchia, HallPartee e Turner (eds). Properties, Types and Meaning. Studies in Linguistic and Philosophy,
2: Semantic Issues. Daordrecht: Kluver, 1989. p. 69-129.
FILLMORE, Charles. The grammar of hitting and breaking. In: JACOBS, R.;
ROSENBAUM, Peter S. (Orgs). Readings in English transformational grammar.
Waltham, MA: Ginn, 1970.
19
FRANCHI, Carlos; CANÇADO, Márcia. Teoria generalizada dos papéis temáticos. Revista
de Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, V. 11, n. 2, p. 83-123, jul.-dez 2003.
FULGÊNCIO, Lúcia. Expressões fixas e colocações no português do Brasil. 2008. 502f.
Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Pós-Graduação em
Letras, Belo Horizonte.
GROSS, Maurice. On the failure of generativ grammar, Language, 55, 4, 1979.
GROSS, Maurice. Méthodes en syntaxe. Paris: Hermann, 1975.
GRUBER, Jeffrey S. Studies in lexical relations. 1976. Tese (Doutorado), MIT.
ILARI, Rodolfo. Introdução à Semântica: brincando com a gramática. 5. ed. São Paulo:
Contexto, 2004.
JACKENDOFF , R. Semantic Structures. Cambridge: MIT Press, 1990.
JACKENDOFF, Ray. Semantic Interpretation in Generative Grammar. Cambridge: MIT
Press, 1972.
KATO, M. A. De uma perspectiva de “-ismos” para uma perspectiva de programas.
DELTA, vol. 13, nº 2, 1997. p. 275-289.
LAGUNILLA, Marina Fernández. Las construcciones de gerundio. Madrid: Universidad
Autónoma de Madrid, 1999.
LEVIN, Beth. English verb classes and alternations. Chicago: Chicago University Press,
1993.
LUFT, Celso Pedro. Moderna Gramática Brasileira. 13. ed. São Paulo: Globo, 1996.
MIOTO, Carlos; SILVA, Maria Cristina Figueiredo; LOPES, Ruth Elizabeth Vasconcellos.
Novo manual de sintaxe. Florianópolis: Insular, 2004.
PERINI, M. A. Estudos de gramática descritiva: as valências verbais. São Paulo: Parábola,
2008.
PERINI, M. A. Princípios de lingüística descritiva: introdução ao pensamento gramatical.
São Paulo: Parábola Editorial, 2006.
PERINI, M. A. Gramática descritiva do português. 2. ed. São Paulo: Ática, 1996.
PEUL, Projeto. Amostra Censo Player. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000.
PONTES, Eunice. Verbos auxiliares em português. Petrópolis: Vozes, 1973.
20
ROCHA LIMA. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 40. ed. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2001.
RODRIGUES, Patrícia de Araújo. Les compléments infinitifs et gérondifs des verbes de
perception en portugais brésilien. 2006. 262f. Tese (Doutorado) - Université du Québec,
Montreal.
SAID ALI, M. Investigações filológicas. 3.ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006.
TAYLOR, John R. Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Print, 2002.
Livros Grátis
( http://www.livrosgratis.com.br )
Milhares de Livros para Download:
Baixar livros de Administração
Baixar livros de Agronomia
Baixar livros de Arquitetura
Baixar livros de Artes
Baixar livros de Astronomia
Baixar livros de Biologia Geral
Baixar livros de Ciência da Computação
Baixar livros de Ciência da Informação
Baixar livros de Ciência Política
Baixar livros de Ciências da Saúde
Baixar livros de Comunicação
Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE
Baixar livros de Defesa civil
Baixar livros de Direito
Baixar livros de Direitos humanos
Baixar livros de Economia
Baixar livros de Economia Doméstica
Baixar livros de Educação
Baixar livros de Educação - Trânsito
Baixar livros de Educação Física
Baixar livros de Engenharia Aeroespacial
Baixar livros de Farmácia
Baixar livros de Filosofia
Baixar livros de Física
Baixar livros de Geociências
Baixar livros de Geografia
Baixar livros de História
Baixar livros de Línguas
Baixar livros de Literatura
Baixar livros de Literatura de Cordel
Baixar livros de Literatura Infantil
Baixar livros de Matemática
Baixar livros de Medicina
Baixar livros de Medicina Veterinária
Baixar livros de Meio Ambiente
Baixar livros de Meteorologia
Baixar Monografias e TCC
Baixar livros Multidisciplinar
Baixar livros de Música
Baixar livros de Psicologia
Baixar livros de Química
Baixar livros de Saúde Coletiva
Baixar livros de Serviço Social
Baixar livros de Sociologia
Baixar livros de Teologia
Baixar livros de Trabalho
Baixar livros de Turismo