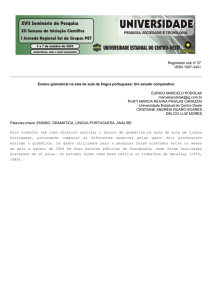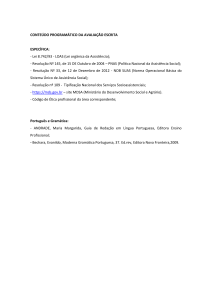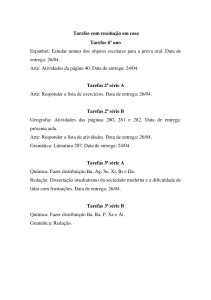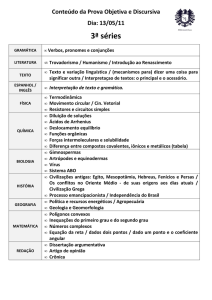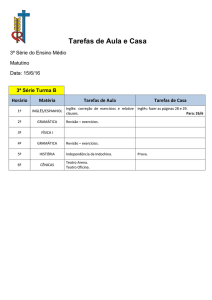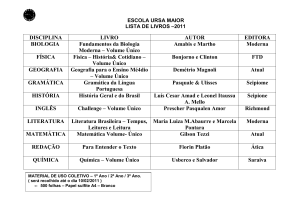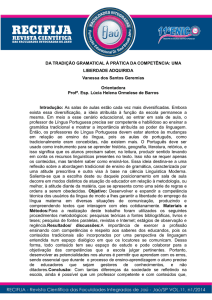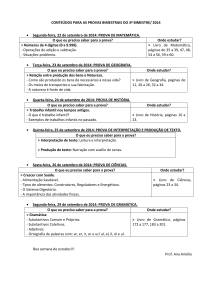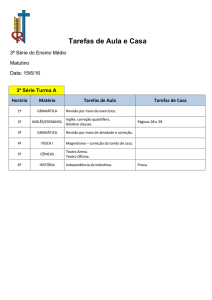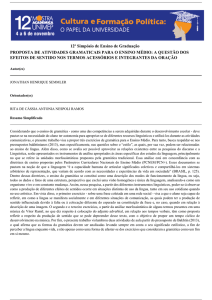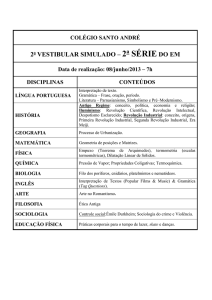A INFLUÊNCIA DAS TRADIÇÕES GRECO-LATINAS NA GRAMÁTICA DO
PORTUGUÊS DO SÉCULO XX
José de Ribamar Dias Carneiro 1
RESUMO:
O presente artigo trata de uma análise sobre a influência das tradições Greco-latinas na
gramática do português do século XX, considerando o valor da cultura grega e averiguando sua
importância para a formação de nossa língua. Para tanto, fez-se uma pesquisa bibliográfica em
Matthews(1994), Lallot (2003), Melo(1981) e outros para o embasamento histórico-linguístico,
com o propósito de se constatar a presença das tradições Greco-latinas na gramática portuguesa
do século XX, tendo como base para exame a gramática “Português no Colégio” de Rocha
Lima (1961).
Palavras-Chave: Língua grega. Língua Portuguesa. Gramática.
ABSTRACT:
This article deals with an analysis of the influence of Greco-Latin traditions in 20TH century
Portuguese Grammar, considering the value of Greek culture and investigate their importance to
the formation of our language. To this end, a bibliographical research on Matthews (1994),
Lallot (2003), Melo (1981) and others to the historical-linguistic basis, with the purpose of
confirming the presence of Greco-Latin traditions in the twentieth (XX) century Portuguese
Grammar, as a basis for examining the grammar “Portuguese in College "Rocha Lima (1961).
Keywords: Greek language. Portuguese Language. Grammar.
1 INTRODUÇÃO
Do tronco indo-europeu surgiu a língua grega clássica antiga. O legado clássico
grego se faz presente em todas as línguas das civilizações ocidentais e a Língua
Portuguesa é um exemplo, visto que os caracteres são muito fortes, isto sem falar das
1
Doutor em Linguística.UEMA/UFRJ
artes. Assim sendo, são muitas as palavras e expressões na língua portuguesa,
principalmente quando se trata de termos de caráter científico voltados para seres,
fenômenos ou conceitos científicos que se originaram da cultura Greco-latina e a
maioria provinda do grego.
Este artigo procura analisar a influência das tradições filosóficas gregas na
Gramática do Português contemporâneo do século XX, tendo como ponto de referência
a„TÉCHNÉ GRAMMATIKÉ‟ de Dionísio da Tracia. Com isto, objetiva-se verificar,
através de uma reflexão, se a gramática da língua Portuguesa segue a tradição grega
clássica na íntegra ou se já aconteceram alterações motivados pelo contato com outras
civilizações. Assim sendo, recorremos a autores de renome como Matthews (1994),
Lallot (2003), Melo (1981), dentre outros, uma vez que tais autores tem muito a
contribuir, a partir de suas pesquisas, com um trabalho desta natureza.
Logo, a tecitura de algumas questões sobre a língua grega e sobre a gramática de
Dionísio da Trácia se faz necessário para que se possa chegar a um denominador
comum sobre a influência das tardições na gramática do português no século XX.
2 GRAMÁTICA GREGA E AS DEFINIÇÕES DIONISÍACAS
O grego é uma língua nascida de um ramo indo-europeu (MELO,1981). A Grécia
antiga era possuidora de vários dialetos os quais se diversificavam bastante sobretudo
no aspecto fonético instigado pelas questões históricas, pela presença de vários
invasores com o passar dos tempos, por questões políticas sem falar nas questões
geográficas. Melo (op.cit.p.93) diz que “quando se começa a ter conhecimento do
grego, através da epigrafia e de textos mais extensos, já se nota que cada cidade tem
seu falar próprio, estreitamente aparentado, sem dúvida, com os falares das
comunidades vizinhas”.
Para Dionísio da Trácia a gramática provém de um exercício do ato de ler bons
poetas, escritores, ou seja, do trabalho com a língua de modo limitado que leva o
estudioso a criar um método de falar e escrever bem, de modo correto (questão
defendida pela gramática tradicional).
Desse modo, a real organização do que
chamamos de „conjunto de preceitos para a perfeita execução da gramática‟ nos tempos
antigos está ligada a Dionísio da Tracia no século II antes da era cristã, com sua
primeira descrição vasta e metódica do grego ático publicada no ocidente. Sua
gramática dispensava maior atenção para a flexão paradigmática das palavras e seu
trabalho gramatical observava com esmero a literatura grega clássica.
Assim, Lallot (2003, p.43/65) explicita a „TÉCHNÉ GRAMMATIKÉ‟ de
Dionísio como sendo: a gramática, o conhecimento empírico do que é usualmente
falado entre os poetas e os prosadores; a leitura, a pronúncia impecável dos poemas ou
dos textos em prosa; a ênfase, a ressonância musical da voz. Dando continuidade ao
estudo das partes da gramática, no que se refere à pontuação, Lallot (op.cit.) explica que
há três pontos: o ponto final indica um pensamento completo, o médio ou central indica
o momento em que se respira o menor pensamento descrito e baixo ou inferior indica
pensamento incompleto e que falta algo; rapsódia 2, a parte de um poema que contém um
determinado assunto; do elemento (letras), há vinte e quatro traços do „alpha‟ ao
„ômega‟ assim denominados (grámmata) em razão de serem
formados por traços
(grammaîs) e por arranhões (xusmaîs); sílaba, reunião de consoantes com uma ou mais
vogais, distribuindo-se em longas, breves e comuns; palavra, é a menor parte da frase
construída; nome, é uma parte da frase casual que indica um corpo ou uma ação e
apresenta cinco acidentes divididos em gênero (masculino, feminino e neutro), espécie
(primária e derivada), figura (simples, composto „sintético‟ e derivado do composto
„parassintético‟), número (singular, dual „ambos‟ e plural) e caso (reto, genitivo, dativo,
causativo e vocativo);
verbo, é uma palavra não casual que indica tempo, pessoa e
número, e que diz se o verbo está na voz ativa ou passiva. O verbo, afirma Lallot
(2003), apresenta oito acidentes: modo „indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo e
infinitivo‟, disposição „ativo, passivo e reflexivo‟, espécie „primitivo e derivado‟,
esquema „simples, composto e derivado do composto‟, número „singular, dual e plural‟,
pessoa „primeira, segunda e terceira‟, tempo (presente, passado e futuro‟ e conjugação
que diz respeito à flexão regular dos verbos que, segundo o texto de Lallot (op.cit.) está
dividido em seis conjugações dos verbos barítonos (caracterizados) foneticamente,
sendo que a primeira é expressa por b, ph, p ou pt, a segunda por g, k, kh ou kt, a
terceira por d, th ou t, a quarta por zd, ou por dois ss, a quinta pelas quatro imutáveis l,
m,n e r, e a sexta pelo „o’ puro, porém ele ainda afirma que alguns introduzem também
uma sétima conjugação por ks e ps; dando continuidade o autor trata dos verbos
2
Fragmentos de cantos épicos, entre os gregos; trecho de composição poética. Silveira Bueno (2007,
651).
circunflexos caracterizados foneticamente e os apresenta em três conjugações: a
primeira é expressa pelo ditongo ei; a segunda é expressa pelo ditongo ai; a terceira é
expressa pelo ditongo oi. Com relação as conjugações dos verbos terminados em mi elas
são em número de quatro: a primeira é expressa como forma da primeira dos
circunflexos; a segunda a partir da segunda; a terceira a partir da terceira e a quarta a
partir da sexta dos barítonos. Em se tratando do particípio,
em Lallot (2003) está
explícito que este participa da propriedade dos verbos e da propriedade dos nomes e que
existem os mesmos acidentes tanto para os nomes como para os verbos, exceto quando
se trata de pessoa e modo. Assim podemos ver em Lallot (op.cit.) uma explanação bem
interessante sobre as classes gramaticais: o artigo é uma parte casual da frase, preposta
ou posposta à flexão dos nomes e apresenta três acidentes: gênero „masculino, feminino
e neutro‟, número „singular, dual e plural‟ e os casos; o pronome é uma palavra
empregada no lugar do nome, apontando pessoas definidas e apresenta seis acidentes:
pessoa, gênero, número, caso, esquema e espécie, sendo que tais pronomes existem
aqueles empregados com artigo e aqueles empregados sem artigo; a preposição é uma
palavra proposta a todas as partes da frase em composição e em construção e são em
número de dezoito sendo seis monossilábicas e doze dissilábicas; o advérbio, simples ou
composto, apresenta-se na frase sem flexão, dita do verbo ou relacionada a ele, desse
modo, há advérbios que indicam tempo, os advérbios de modo, de qualidade, de
quantidade, os que indicam número, os de lugar, os que indicam um desejo, os de
pranto, os de negação, os de afirmação, os de proibição, os de aproximação ou
identificação, os de admiração, os de suposição, os de posição, os de reunião, os de
conselho, os de comparação, os de interrogação, os de intensidade, os de
reagrupamento, os de juramento negativo e positivo, os de confirmação, os de
obrigação, os advérbios de superstição; a conjunção, diz o autor, é uma palavra que
conjuga o pensamento em ordem e que revela a expressão implícita na frase, dividindose em: copulativas, conjugam a interpretação de alongamento ilimitado; disjuntivas, são
as que conjugam a frase entendida no limite; conectivas são aquelas que não indicam
uma existência mas significam uma sequência; subconectivas são aquelas que indicam
tanto uma existência quanto uma ordem; causais são aquelas empregadas para a
atribuição de uma causa; dubitativas são aquelas empregadas para fazer a união quando
não se tem certeza; silogísticas são aquelas bem aplicadas tanto para cada uma das duas
primeiras proposições desta quanto para as conclusões; expletivas são aquelas
empregadas para o metro ou para o ornamento; alguns adicionam também as
opositivas.
Esta concepção se alargou tanto que veio a tornar-se protótipo, principalmente
entre os autores latinos, de tal modo que é atribuída a Dionísio da Trácia a existência da
primeira gramática, „Tékhnē grammatiké‟. Dionísio, assim, define o início da gramática
de Tékhnē levando em consideração o conhecimento prático dos usos gerais de
escritores poetas e prosadores. Desse modo, o autor da Téchné Grammatiké como um
estudioso contemporâneo de Alexandrino preocupava-se em facilitar o ensino da
literatura grega clássica para um público falante da língua que era comum ao povo
grego, melhor dizendo, da língua única comum a todos os povos da Grécia. A tradição
grega é tão forte que muitas de suas formas trabalhadas ainda são reconhecidas nas
gramáticas ocidentais, principalmente na gramática do portugues contemporâneo. Na
antiguidade, os estudiosos gregos faziam a divisão das palavras em classes as quais se
aproximam daquelas que são reconhecidas na gramática do português contemporâneo, a
saber: nome ou substantivo, verbo, pronome, advérbio etc, além disso, identificavam
categorias morfológicas familiares como caso, número e tempo verbal, e ainda davam as
regras, ocasionalmente sistemáticas embora mais frequentemente esporádicas, para o
que hoje chamamos de inflexão (modificação de timbre que sofre às vezes uma vogal
sob a influência de uma vogal vizinha-metafonia 3 ) e de formação de palavra, como
podemos ver em Matthews (1994:01). Igualmente, Matthews (op. cit.) nos explica que
nesta concepção surge a distinção entre o que é correto e o que é incorreto nas obras de
Apolonius Dyscolus, no século II da era cristã e de Prisciano no início do sexto, onde
são encontrados os primeiros tratamentos existentes sobre a sintaxe.
Assim sendo, a gramática, em face de ser considerada pelos gramáticos como um
conjunto de saberes, de conhecimentos, no início da Idade Média, voltava seu trabalho
analítico para a palavra, contudo com o passar dos anos a influência de Prisciano vai
ganhando força e a análise gramatical chega até a oração. Na obra deste autor, os
conteúdos da gramática estabilizados em: littera, syllaba, dictio, oratio se transformam
respectivamente em ortografia, prosódia, etimologia e sintaxe.
Um aspecto merece especial atenção neste trabalho, trata-se do apego às normas
da gramática latina que, com o passar dos anos foram empregadas na língua portuguesa
3
DUBOIS, J. Dicionário de Linguística, p.340.
e que se revelaram, também, na divisão das partes da gramática desta língua. As oito
classes de palavras desdoradas em nome, verbo, particípio, artigo, pronome,preposição,
advérbio e conjução, assim como a identificação de categorias gramaticais vinculadas a
„caso, tempo, número, gênero‟, bem como os trabalhos de Dionísio serviram de
exemplo para o estudo de várias línguas, dentre elas está a língua de Roma.
2.1 A descrição do Português Contemporâneo no século XX e o “Português no
Colégio” de Rocha Lima (1961)
Rocha Lima (1961) compreende a gramática como prática, também, obtida do ato
de ler bons textos produzidos por escritores (poetas e prosadores) que primam pelo uso
da língua padrão, a exemplo de Dionísio da Trácia. Assim, Rocha Lima inicia sua
gramática prescrevendo trabalhos filológicos, conferências literárias e livros didáticos
de referência que tomam para si um caráter pedagógico, sem deixar de lado o caráter
cultural uma vez que tratam, também, da língua histórica. Assim, este autor (op.cit.)
realiza um trabalho harmonizado no que se refere às definições de regras de eliminação
de possíveis “erros” no idioma face às variações linguísticas comum a todas as línguas
vivas.
A gramática “Português no Colégio, 1961” abraça uma clássica metodologia e
divide seu conteúdo em três partes: análise literária elementar em que ele afirma que
para o estudo literário de um texto faz-se necessário que submetamos tal texto a um
tratamento que corresponde a três métodos de trabalho: análise que tem como objeto „o
texto‟, interpretação que trata da „exegese‟ e crítica que trata da „valoração das obras de
arte‟, a seguir, dá andamento a seu trabalho analisando o plano em que a obra foi escrita
e, analisando também seu estilo, características gerais, recursos artísticos, formas
linguísticas, a camada das palavras e a camada das frases; noções de gramática histórica
dividida em dezoito capítulos e textos de autores brasileiros e portugueses a partir do
século XVIII, ou seja, os recursos expressivos do idioma, uma questão tratada na
„Téchné Grammatiké‟ de Dionísio, segundo Lallot (2003).
Assim, Rocha Lima (1961), apresenta as noções de gramática histórica nos
citados dezoito capítulos. No primeiro capítulo, a preocupação do autor está centrada na
origem, história e domínio da língua portuguesa, além das demais línguas românicas,
assunto bem explicitado também em Coutinho (1976). Aqui Rocha Lima (op.cit.) tem
uma preocupação maior, a divulgação da história da língua portuguesa para sua
perpetuação e do povo que fala tal língua. Era uma preocupação do povo grego
perpetuar sua língua e seus costumes (Matthews,1994).
No segundo capítulo, Rocha Lima (op.cit.) trata do Latim Vulgar e seus caracteres
em que ele explora suas modalidades, as fontes de conhecimento, estudo comparativo
das línguas românicas, também comentado em Coutinho(1976). Num enfoque
superficial Rocha Lima trata dos caracteres morfológicos do latim vulgar e literário, nos
caracteres sintáticos ele aborda os traços diferenciais que são: predileção por certas
palavras em detrimento de outras; troca de sufixos átonos por tônicos e empregos de
palavras derivadas de outras que caíram em desuso; e, nos caractere fonéticos e trata: do
desaparecimento da quantidade das vogais e da queda da vogal imediatamente seguinte
à tônica, nas palavras paroxítonas.
No terceiro capítulo, o assunto desenvolvido versa sobre noções elementares de
fonética histórica. O acento tônico no Latim Vulgar e a alterações fonéticas distribuídas
em palavras populares e empréstimo, evolução fonética e os caracteres desta evolução,
classificação e nomenclatura das alterações fonéticas.
No quarto capítulo, o autor trabalha a questão das vogais no latim vulgar, o
acento de intensidade ou tônico, as vogais em português, origem das vogais
portuguesas, desvios na evolução das vogais tônicas, isto é, trabalha o vocalismo.
Assunto também desenvolvido sobre a lingua grega em Matthews (1994, 29).
No quinto capítulo, o assunto enfocado diz respeito aos ditongos e hiatos. Rocha
Lima, neste capítulo, dá ênfase ao ditongos latinos e sua evolução, aos ditongos
românicos inexistente no latim e que foram se formando no decorrer da evolução da
língua, à equivalência dos ditongos ou e oi que apesar de apresentarem origens
diferentes se alternam em muitas palavras portuguesas (loura e loira), além dos hiatos
latinos e românicos.
Dando sequência ao seu trabalho, no sexto capítulo, o autor trata do
consonantismo analisando as consoantes no latim vulgar, sua evolução e frisando a
posição delas na palavra em: consoantes iniciais, médias e finais.
No sétimo capítulo, o assunto enfocado são os grupos consonantais e sua evolução
em que são destacados os grupos iniciais e os mediais além de outros encontros de
consoantes de origem latina ou românica.
No oitavo capítulo, entra no estudo as formas divergentes em que Rocha Lima
(1961) após definir o que são estas formas divergentes, procura tratar das causas destas
divergências na evolução fonética, além das forma divergentes entre os sufixos.
No nono capítulo, Rocha Lima (op.cit.) trata da história da ortografia portuguesa
e sua divisão em períodos (fonético, pseudo-etimlógico e histórico-científico).
O décimo capítulo faz referência à redução das declinações no Latim (do literário
ao vulgar); aos casos; à sobrevivência do acusativo na Península Ibérica e ao
desaparecimeno do gênero neutro e a inclusão destes no gênero masculino, além de falar
dos vestígios dele deixados no português.
O décimo primeiro capítulo trata da redução das conjugações, a partir das quatro
conjugações latinas, às três conjugações do Latim Vulgar na Península Ibérica para as
três conjugações portuguesas.
O décimo segundo capítulo faz referência ao desaparecimento dos tempos. Rocha
Lima inicia este capítulo abordando a questão da estrutura do verbo latino (tempos,
formas e vozes), fala das alterações sofridas pela conjugação latina, da conjugação
passiva e o destino dos depoentes e das formas que perderam em português o valor
verbal ( o particípío presente, o particípio futuro, o gerúndio).
No décimo terceiro capítulo, a questão se volta ´para as criações românicas
(artigos, pronomes da terceira pessoa, consoantes palatais, futuros do indicativo, tempos
compostos perifrásticos, a voz passiva analítica).
A questão que mais nos chama
atenção é o caso do artigo uma vez que este existia no grego conforme Matthews (1994,
29) mas não existia no latim.
No décimo quarto capítulo, o assunto abordado é a analogia e suas implicações na
língua uma vez que, segundo Rocha Lima (op.cit., p.94) é um fenômeno de ordem
psicológica.
No décimo quinto capítulo, Rocha Lima (1961) trata da formação do vocabulário
português e chama atenção para o conteúdo do primeiro capítulo do citado compêndio
em que ele trata da origem, história e domínio da Língua Portuguesa. Assim ele mostra
a importância dos elementos latinos para o léxico português, da pouca conservação de
elementos pré-latinos (palavras de origem celtas e ibéricas), dos elementos germânicos,
dos elementos gregos, dos elementos provençais e franceses, dos elementos espanhóis,
dos elementos italianos, dos elementos alemães, dos elementos ingleses, dos elementos
russos, dos elementos asiáticos e dos elementos mericanos abordados no décimo sexto
capítulo.
No décimo sexto capítulo, a questão se volta para o português do Brasil:
contribuição brasileira para o léxico da língua. Rocha Lima afirma que a língua oficial
do Brasil é a portuguesa e que não existe nenhuma “Língua brasileira”. Para tanto, ele
apresenta um PARECER de 15/10/1946, do professor Sousa da Silveira, relator da
Comissão, com um breve retrospecto histórico, assim como com considerações
linguísticas. Rocha Lima (op.cit.) também trata das
principais diferenças entre o
Português de Portugal e o do Brasil, destacados somente na pronúncia.
No décimo sétimo capítulo, o assunto trabalhado se volta para a leitura e
interpretação de poucos textos brevíssimos de autores da época anteclássica.
No décimo oitavo capítulo, o autor se volta para o estudo dos arcaísmo, sua
definição, sua divisão em fonéticos, morfológicos, sintáticos, vocabulares, além da
arcaízação como recurso de estilo.
Para complementar seu trabalho, Rocha Lima (1961, 131-239) apresenta, para
serem lidos e trabalhados, textos de autores brasileiros e portugueses a partir do século
XVIII.
Na página inicial, como uma espécie de prefácio, Rocha Lima prescreve
informações de suma importância para um estudo gramatical. A primeira parte,
propriamente dita, sobre análise literária apresenta passos para um bom estudo no que
diz respeito às línguas; a segunda parte que se refere a noções de gramática histórica,
nos fornece um conteúdo informativo tanto sobre a história da língua quanto sobre
questões normativas gramaticais do português.
A gramática tradicional foi organizada baseada em critérios filosóficos que dizem
respeito à natureza do mundo e às questões relativas à sociedade, na antiguidade
clássica permanecendo em nossos dias. Desse modo, utilizamos a “Gramática na
Escola” de Rocha Lima (1961), que, embora sendo uma gramática do século XX,
continua balizada nas bases filosóficas tradicionais.
O século V a.C., mais ou menos, marca o início dos estudos linguísticos, como
parte da filosofia, que constituem as bases da gramática tradicional. Matthews (1994:35)
nos relata que as categorias gramaticais na gramática tradicional estão divididas em oito
partes segundo distinção feita por Aristarcus. Os gregos foram os primeiros a fazer a
distinção dos elementos fonéticos, mais tarde conhecidos como partes e agora
denominados de elementos da construção gramatical. Segundo Lallot (2003:73), Sextus
(C. lês gram. § 250) quase literalmente confirma a atribuição a Dionísio da Trácia a
divisão da gramática em seis partes, assunto também apresentado em Mathews
(1994:02) . No período imperial, as categorias gramaticais ou partes passam a ser
divididas em nove partes. A tradição romana também inclui, como uma classe distinta, a
interjeição. Atualmente, são reconhecidas dez classes gramaticais pela maioria dos
gramáticos: substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, conjunção, interjeição, preposição,
artigo, numeral e pronome.
Tais informações vêm comprovar que algumas alterações aconteceram com o
passar dos séculos no que diz respeito às classes gramaticais, o que é fato em virtude da
língua está em constante mudança.
Desse modo, o conceito de língua como expressão do pensamento envolve as
gramáticas e as conceituações até o século XX. Assim os gregos, ao se voltarem para o
estudo dos clássicos, passaram a considerar certo, adequado, de modo recíproco, apenas
o que estivesse em consonância com eles (LALLOT 2003:74). As questões sobre o que
seria regular e irregular na gramática surgem com a classificação das palavras do ponto
de vista dos analogistas e dos anomalistas.
Em se tratando das classes de palavras, Matthews (1994: p.15/25) apresenta uma
rica explanação sobre o status e a origem das palavras. O texto nos diz que as categorias
de pensamento são criações de Aristóteles e deram origem às classes gramaticais. Assim
a substância passa a conceber o cerne da questão e as partes do discurso atualmente
conhecidas como classes de palavras foram surgindo gradativamente. Em Rocha Lima
(1961), no capítulo XV (p. 98/103), o assunto versa sobre formação do vocábulo
português, porém este autor não trata, aqui, da flexão de palavras, apenas se volta para
falar das fontes do vocabulário em português, mencionando palavras e suas
procedências. No XVI capítulo, Rocha Lima (op.cit. p.104/113) apresenta a
contribuição brasileira para o léxico desta língua. Aqui ele afirma que não existe
nenhuma língua brasileira e que a língua oficial do Brasil é a portuguesa. Assim, Rocha
Lima (op.cit.) faz um breve retrospecto histórico desta língua, algumas considerações
linguísticas em que ele afirma que as palavras brasileiras são iguais às portuguesas em
sua composição fonética diferindo apenas na pronúncia, os nomes, as conjugações, as
palavras gramaticais, o gênero gramatical, as regras de formação do plural, o sistema de
graus do substantivo e adjetivos, os preceitos de concordância verbal e nominal, quase
na totalidade dos casos a regência dos complementos dos nomes e dos verbos, o
emprego de modos e tempos, a estrutura geral do período quanto à sucessão das orações
e a ligação de umas com as outras, tudo segue a mesma regra.
Com relação aos paradigmas verbais e nominais, ele trata no capítulo X, (op.cit. p.
74/80, apenas da redução das declinações no Latim Vulgar e no Latim Literário; dos
casos no latim vulgar e da sobrevivência do acusativo na Península Ibérica, além de sua
importância para a Língua Portuguesa por originar as palavras portuguesas; trata ainda
do desaparecimento do neutro realizado pelas classes populares. No capítulo XI
(p.81/83), Rocha Lima (1961) aborda sobre a redução das conjugações em que as quatro
conjugações latinas se reduziram a três conjugações do Latim Vulgar na Península
Ibérica e permaneceram nas conjugações portuguesas. No capítulo XII (op.cit. p.84/89)
Rocha Lima trata da estrutura do verbo latino, ou seja, dos tempos verbais, das formas
nominais, das vozes do verbo, das alterações sofridas pela conjugação latina, da
conjugação passiva e do destino dos depoentes e das formas que perderam o seu valor
verbal. No capítulo XIII (op.cit. p.90/93) o autor fala sobre as criações românicas e suas
importâncias uma vez que surgiram em face das transformações do Latim Vulgar no
Império Romano, a saber: o artigo definido que veio do demonstrativo latino ǐƖƖe e o
indefinido que veio do numeral latino unus, também na forma do acusativo; o pronome
da terceira pessoa (ele/ela) que procedeu do emprego sistemático do demonstrativo
latino ǐƖƖe junto às formas verbais da terceira pessoa, assim, explica o autor, as formas
retas foram retiradas do nominativo (ǐƖƖe>ele, ǐƖƖa>ela) sendo que os plurais já se
formaram em Português pelo acréscimo de „s’ a ele e a ela; as formas oblíquas (o, a, os,
as) decorreram do acusativo (ǐƖƖu> (i)Ɩŭ> lo > o; ǐƖƖa> (i)Ɩa> la> a; ǐƖƖos > (i)los > los >
os; ǐƖƖas > (i)las > las > as) sendo que as formas “lo, la, los, las” ainda são usadas
quando o pronome se pospõe às palavras eis, nos e vos ou às flexões verbais terminadas
em r, s, z e fonema nasal; neste último caso, diz o autor, a nasalidade se transmite ao l,
fazendo-o passar a n; a forma obliqua “lhe” vem do dativo ( ǐƖƖi > (i)li > lhi > lhe; o
plural lhes, certamente analógico, afirma o autor, já aparece no século XIII; com relação
às consoantes palatais, Rocha Lima (op. Cit. P. 92) nos diz que certos sons palatais
desconhecidos dos latinos resultaram da evolução de consoantes ou de grupos de
consoantes durante a fase românica. No capítulo XIV, o assunto abordado é sobre
analogia, um fenômeno segundo Rocha Lima (op.cit.) de ordem psicológica que
consiste na tendência para nivelar palavras ou construções que de certo modo se
aproximam pela forma ou pelo sentido, levando uma delas a se modelar.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A descrição do Português na gramática de Rocha Lima (1961) segue, em parte, a
tradição greco-latina. O autor aborda de modo preferencial à fonética e a ortografia, a
seguir à morfologia, por fim ao estudo e análise de textos de autores de renome como
uma maneira de levar o leitor a ler bons autores e primar pela língua dita padrão, ou
seja, na concepção de Dionísio da Trácia o ato de ler bons livros leva o leitor a falar e
escrever bem, dentro das normas ditadas pela gramática normativa.
Com relação às categorias gramaticais, estas são versadas em número de dez nas
gramáticas do século XX, número um pouco maior com relação às apresentadas por
Dionísio da Trácia, são definidas levando em consideração as bases filosóficas, embora
Rocha Lima em sua gramática (1961) não faça menção a esta questão.
Rocha Lima (op.cit.) volta seu trabalho para as fontes do vocabulário em
português, fazendo alusão às palavras e suas origens. Talvez por se tratar de uma
gramática com enfoque mais histórico, Rocha Lima (op.cit.) somente trata, no que diz
respeito aos paradigmas verbais e nominais, da redução das cinco declinações no Latim
Literário para três declinações no Latim Vulgar; dos casos no latim vulgar e da
sobrevivência do acusativo na Península Ibérica, assim como de sua importância para a
Língua Portuguesa por ocasionar o surgimento das palavras portuguesas. Este autor
discute da mesma forma, o desaparecimento do gênero neutro realizado pelas classes
populares, mas não se aprofunda neste argumento.
Desse modo, Rocha Lima volta-se, em sua gramática, para a análise da língua,
preocupando-se com a escrita formal, literária, o que caracteriza a continuação, em
parte, da tradição Grega, e que pode ser comprovado com a indicação, feita por ele, para
leitura de textos de bons autores brasileiros e portugueses a partir do século XVIII. Isto
leva a língua portuguesa a se afeiçoar a uma modalidade culta, formal e literária,
recheada do certo e do errado, como toda língua que se diz pura, inalterada. Esta visão
de língua nos foi repassada pelos gregos, atravessou eras, séculos e chegou ao século
XX.
REFERÊNCIAS
COUTINHO, Ismael de Lima. Pontos de Gramática Histórica. 7ª edição. Rio de
Janeiro: Ao Livro Técnico, 1976.
DUBOIS, J. et. al. DICIONÁRIO DE LINGUÍSTICA. São Paulo: Cultrix, 1998.
LALLOT, J. La grammaire de Denys le Thrace. Paris: CNRS Éditions, 1998 (2e
édition 2003).
MATTHEWS, Peter. 1994. Greek and Latin Linguistics. IN: LEPSCHY, Giulio, ed.
1994. History of Linguistics: II- Classical and Medieval Linguistics. London: Longman,
1994.
MELO, Gladstone Chaves de. Iniciação a Filologia e a linguística portuguesa. 6ª ed.
Rio de Janeiro: ao Livro técnico, 1981.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Português no Colégio: para o primeiro ano dos
cursos clássicos, científico e normal. 10ª ed.Rio de Janeiro: F. BRIGUIET & CIA, 1961.
SILVEIRA BUENO. Dicionário da Língua Portuguesa. 2ª Ed. São Paulo: FTD, 2007.