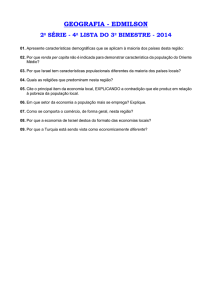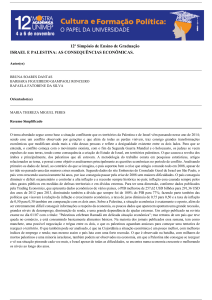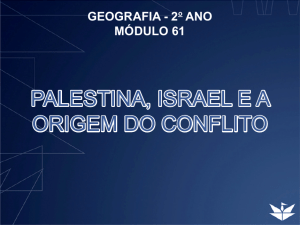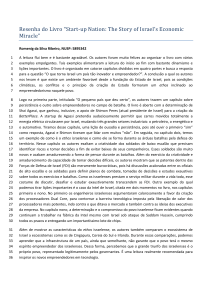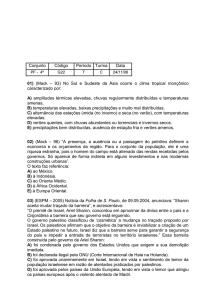■
ANO 18
■
TIRAGEM:
■
MAIO/2010
■
20 000 EXEMPLARES
ISRAEL E OS ENIGMAS
DO ORIENTE MÉDIO
O
s partidos nacionalistas e religiosos são minoritários, mas
definem pela negativa as políticas de Israel. Nenhuma coalizão de governo israelense pode subsistir sem esses partidos,
que pressionam pela continuidade da construção de assentamentos judaicos nos territórios palestinos ocupados.
A sabotagem persistente das negociações de paz abre uma
encruzilhada na história de Israel. A solução de dois Estados, apontada pela ONU em 1947 e sancionada pelos Acordos de Oslo em 1993, exige um compromisso de duas mãos.
Os palestinos parecem prestes a renunciar à miragem de
seu Estado, que se esfuma como uma promessa nunca cumprida. Quando isso acontecer, Israel enfrentará seu maior
desafio existencial, pois é impossível conservar simultaneamente um sistema político baseado nos princípios democráticos e a soberania sobre toda a Palestina histórica, habiIsrael inicia a construção de novas casas em Beitar Illit,
tada por uma maioria demográfica de árabes-palestinos.
na Cisjordânia ocupada
O fracasso do “processo de paz” de Oslo tem repercussões
mais amplas, regionais e mundiais. Os Estados Unidos, principais aliados de Israel, não podem sustentar sua política para o “Grande Oriente Médio” sem uma solução para a Questão
Palestina. Barack Obama precisa da cooperação árabe-muçulmana para cumprir três missões improváveis, mas cruciais: a
contenção do programa nuclear do Irã, a estabilização de um Iraque que logo não contará com as forças americanas e a reversão
do cenário militar desfavorável no Afeganistão. A intransigência de Israel ameaça toda a estratégia americana para a região.
O tempo não para. Até o final do ano devem se realizar eleições para a renovação da Autoridade Palestina (AP). Se
Mahmoud Abbas desistir da reeleição, a AP tende a dar lugar a novas lideranças, sem compromissos com Washington e com
a solução dos dois Estados.
Vejas as matérias nas págs. 6 a 9
O peronismo se desfigura
enquanto a Argentina declina
A
Revolução de Maio, que deflagrou a independência da Argentina, completa
dois séculos exatos. A história do país pode ser contada em dois capítulos, com
durações quase idênticas.
O primeiro capítulo é o da ascensão econômica. A Argentina do início do século XX
enxergava-se como uma porção da Europa grudada geograficamente à América Latina.
O segundo capítulo é o do declínio que conduz a Argentina a enxergar-se como
uma porção da América Latina nostálgica de seu passado “europeu”. O peronismo,
principal fenômeno populista da história, acompanha todo o percurso do declínio.
Perón, Menem e Kirchner são frutos do peronismo. Mas representam momentos
diferentes na trajetória pouco invejável do país vizinho.
Págs. 4 e 5
MARACANÃ, 60 ANOS
© Arthur Boppré
● O filme Lawrence da
Arábia conta a história do
agente britânico que moldou a geopolítica contemporânea do Oriente Médio.
Pág. 2
● Editorial – O STF julgará
proximamente a ação contra o vestibular racial da
UnB. No fundo, decidirá
se vale mesmo a letra da
Constituição, que não admite a divisão dos cidadãos
segundo critérios raciais.
Pág. 3
● Há 80 anos, a Tarifa
Smoot-Hawley pavimentou a estrada que conduziu o mundo à Grande
Depressão.
Pág. 3
● A Rússia de Putin e os Estados Unidos de Obama
encontraram uma plataforma de cooperação estratégica. Os atentados terroristas em Moscou reforçam
a aproximação entre as
duas potências.
Pág. 10
● Diário de Viagem – Da
cosmopolita Xangai às cidades interiores do vale do
rio Li, a China está impregnada pela globalização. Mas Taiwan ainda é
um universo à parte.
Pág. 11
● O Meio e o Homem – No
Oceano Índico situam-se os
estreitos por onde circula a
maior parte do comércio entre a Ásia e a Europa. A esfera estratégica do Índico
conhece hoje a expansão da
influência chinesa.
Pág. 12
© AFP PHOTO/Menahem Kahana
E mais...
Nº 3
MUNDO NO CINEMA
E X P E D I E N T E
LAWRENCE DA ARÁBIA E A PARTILHA
DO ORIENTE MÉDIO
homas Edward Lawrence (1888-1935) era tenente do
serviço secreto militar britânico, em 1914, quando foi enviado ao Oriente Médio, com a missão
de articular uma aliança entre tribos e grupos árabes contra o Império Otomano. Foi escolhido por
seus conhecimentos do idioma e por sua admiração pela cultura árabe, cultivada durante trabalhos como arqueólogo a serviço do Museu Britânico em Carquemish, às margens do rio Eufrates,
em 1911. Sua missão era vital para Grã-Bretanha,
França e Rússia, que se uniram contra a Alemanha, aliada ao Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Lawrence escreveu
um volumoso livro contando sua experiência, Os sete pilares da sabedoria, que resultou no fantástico filme
Lawrence da Arábia (1962), dirigido por David Lean.
Lawrence entendeu que a crise do Império Otomano, abalado por lutas internas e pela corrupção generalizada, permitia uma articulação política entre elites regionais árabes que estavam descontentes com o seu papel
subordinado no esquema de dominação imperial. Além
disso, minorias árabes não islâmicas passaram a ver no
ocaso do império uma oportunidade de, ao menos, barganhar posições no jogo do poder. Essa perspectiva estimulou o surgimento de movimentos que procuravam
construir a ideia de uma cultura árabe não definida necessariamente pelo Islã. Lawrence tentou estimular o
surgimento de uma oposição nacionalista aos otomanos,
com promessas de independência e soberania aos futuros
Estados nacionais árabes. Todas aquelas promessas seriam posteriormente traídas pelo acordo secreto celebrado, em maio de 1916, entre os ministros britânico Mark
Sykes e francês François Georges-Picot.
Nos termos do acordo Sykes-Picot, a Grã-Bretanha
recebeu o controle dos territórios correspondentes, grosso modo, à Jordânia e ao Iraque, bem como uma pequena área em torno de Haifa. A França ganhou o controle
do sudeste da Turquia, da Síria, do Líbano e do norte do
Iraque. As duas potências ficaram livres para definir as
fronteiras dentro daquelas áreas. A Palestina seria colocada sob administração internacional, aguardando consultas com a Rússia e outras potências. O ajuste seria posteriormente ampliado para incluir a Itália e a Rússia na
partilha do butim. A primeira receberia algumas ilhas do
Egeu e uma esfera de influência em torno de Izmir, no
sudoeste da Anatólia, enquanto que a segunda ficaria com
a Armênia e partes do Curdistão.
Em 2 de novembro de 1917, o então ministro das relações exteriores britânico, Arthur James Balfour, declarou
formalmente, em carta reservada ao barão Walter
Rothschild, que o seu governo aprovava a ideia de estabelecer um lar nacional judeu na Palestina. Balfour cedia,
assim, às pressões de Chaim Weizmann e Nahum Sokolow,
líderes do movimento sionista britânico. A Declaração
Balfour apontou o caminho para a futura criação de Israel.
Redação: Demétrio Magnoli, José Arbex Jr.,
Nelson Bacic Olic (Cartografia)
Fotos: Divulgação
T
PANGEA – Edição e Comercialização de
Material Didático LTDA.
Jornalista Responsável: José Arbex Jr. (MTb 14.779)
Revisão: Jaqueline Ogliari
Pesquisa Iconográfica: Odete E. Pereira e Etoile Shaw
Projeto e editoração eletrônica: Wladimir Senise
Endereço: Rua Romeu Ferro, 501, São Paulo – SP.
CEP 05591-000. Fones: (0XX11) 3726.4069 / 2506.4332
Fax: (0XX11) 3726.4069 – E-mail: [email protected]
Assinaturas: Por razões técnicas, não oferecemos
assinaturas individuais. Exemplares avulsos podem ser
obtidos no seguinte endereço, em São Paulo:
• Banca de jornais Paulista 900, à Av. Paulista, 900
Fone: (0XX11) 3283.0340.
www.clubemundo.com.br
"Infelizmente não foi possível localizar os autores
de todas as imagens utilizadas nesta edição.
Teremos prazer em creditar os fotógrafos,
caso se manifestem."
Lawrence da
Arábia,
David Lean,
1962
Após a Revolução Russa de 1917, Vladimir Ilitch
Lênin denunciou as reivindicações da Rússia czarista sobre o Império Otomano e tornou pública uma cópia do
Acordo Sykes-Picot (que, até então, permanecia secreto). Os principais termos do acordo foram confirmados
pela conferência interaliada de San Remo, em abril de
1920, pelo tratado de Sèvres (que desmembrou o Impé-
rio Otomano), em outubro do mesmo ano (quando foi
formalizada a presença italiana na Anatólia e a divisão
dos territórios árabes) e pelo Conselho da Liga das Nações em 24 de julho de 1922, estabelecendo os mandatos
britânico e francês correspondentes às áreas definidas do
ajuste de 1916.
Na prática, implantava-se um novo império franco-britânico, com efeitos obviamente catastróficos para os povos
da região. Monarquias e chefes tribais locais tentaram negociar com os novos imperadores os termos mais vantajosos
possíveis para a reacomodação geopolítica. Foi esse processo
que desenhou as atuais fronteiras dos estados do Oriente
Médio.
Lawrence tinha uma personalidade complexa. Vivia
atormentado pela angústia e, em momentos de crise, sentia-se traído pelos chefes britânicos e traidor de seus amigos árabes. Em seu livro, escreveu alguns trechos primorosos, que demonstram uma profunda sensibilidade, ainda
que contaminada por preconceitos colonialistas, como este:
“O homem do deserto não merece crédito por sua fé
(…). Ele alcançou essa intensa condensação de si mesmo
em Deus porque fechou os olhos ao mundo e a todas as
complexas possibilidades latentes nele, que só o contato
com a riqueza e as tentações pode trazer à tona. Alcançou
uma fé confiável e poderosa, mas em campo tão estreito!
Sua experiência estéril roubou-lhe qualquer compaixão e
perverteu sua generosidade humana para com a imagem
da perda na qual se escondeu (…). Vem daí um gozo na
dor, uma crueldade que vale mais para ele que quaisquer
bens. (…) Encontrou luxúria na abnegação, na renúncia,
na autocontenção. Fez a nudez da mente tão sensual quanto
a nudez do corpo. É possível que tenha salvo a própria
alma, e sem risco, mas num duro egoísmo.”
Para alguns de seus biógrafos e amigos mais íntimos,
Lawrence descreve nessa passagem o próprio Lawrence.
2010 MAIO
M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A
2
E
D
I
T
O
R
I
A
L
O SUPREMO DIANTE DA RAÇA
BRASILEIRA DIZ QUE TODOS
COMBINA CRITÉRIOS RACIAIS COM CRITÉRIO SOCIOECONÔMICOS.
O BRASIL, AO CONTRÁRIO DOS ESTADOS UNI-
SÃO IGUAIS PERANTE A LEI, VEDANDO DISTINÇÕES BA-
NA UNB, UM CANDIDATO COM ALTA RENDA FAMILIAR ROTULADO COMO “NEGRO” POR UM TRIBUNAL RACIAL SECRETO, INSTITUÍDO PELA UNIVERSIDADE, PRECISA DE MENOS PONTOS PARA
OBTER VAGA QUE UM CANDIDATO DE FAMÍLIA POBRE, MAS ROTULADO COMO “BRANCO”. LOGO MAIS, O STF JULGARÁ A
ADPC. SERÁ ENTÃO PROIBIDO O USO DE CRITÉRIOS RACIAIS
NO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR?
“A CONSTITUIÇÃO É O QUE O SUPREMO DIZ QUE
ELA É.” O MANTRA, REPETIDO POR NOVE ENTRE DEZ JURISTAS, SIGNIFICA QUE O TEXTO CONSTITUCIONAL ESTÁ SEMPRE ABERTO À INTERPRETAÇÃO – E QUE A CORTE CONSTITUCIONAL PODE INTERPRETÁ-LO SOBERANAMENTE. O STF
TEM, PORTANTO, A PRERROGATIVA DE INSCREVER A RAÇA
NO ORDENAMENTO LEGAL DO PAÍS. SE O FIZER, CONTUDO,
COMEÇARÁ A REESCREVER A HISTÓRIA DO BRASIL NUM SENTIDO REGRESSIVO.
DOS, NÃO PRODUZIU LEIS DE SEGREGAÇÃO RACIAL DE-
A CONSTITUIÇÃO
SEADAS EM CRITÉRIOS POLÍTICOS, IDEOLÓGICOS, RELIGIOSOS OU RACIAIS.
TAMBÉM
DIZ QUE O ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR SE DARÁ SEGUNDO O MÉRITO.
A LE-
TRA DA CONSTITUIÇÃO VEDA, NITIDAMENTE, INICIATIVAS COMO A RESERVA DE VAGAS NAS UNIVERSIDADES EM
FUNÇÃO DA COR DA PELE OU DA “RAÇA” DOS CANDIDATOS.
MAS,
DESAFIANDO OS PRECEITOS CONSTITUCIO-
NAIS, DIVERSAS UNIVERSIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS
MANTÊM PROGRAMAS DE PREFERÊNCIAS RACIAIS NOS
SEUS EXAMES VESTIBULARES.
O PARTIDO DEMOCRATAS ENTROU NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF) COM UMA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL (ADPC) CONTRA O MAIS NOTÓRIO DOS VESTIBULARES RACIALIZADOS – O
DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB), QUE NEM MESMO
POIS DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO.
POR AQUI, OS CI-
DADÃOS NUNCA FORAM CLASSIFICADOS EM GRUPOS RACIAIS OFICIAIS, AO CONTRÁRIO DA
ÁFRICA DO SUL. O
NOSSO PECADO É OUTRO: ELE SE CHAMA DESIGUALDADE SOCIAL E SE MANIFESTA PELA EXCLUSÃO DOS POBRES,
DE TODAS AS CORES DE PELE.
AS PROPOSTAS DE LEIS DE
PREFERÊNCIAS RACIAIS FINGEM OFERECER PERDÃO PARA
ESSE PECADO.
MAS SÓ FINGEM: COTAS RACIAIS DEIXAM
OS POBRES NO LUGAR ONDE SEMPRE ESTIVERAM.
NÃO
É EXATO DIZER QUE COTAS RACIAIS NÃO
SOLUCIONAM O PROBLEMA.
A
VERDADE É QUE ELAS
ADICIONAM UM NOVO PECADO ÀQUELE QUE JÁ TEMOS.
COM ELAS, FICARÍAMOS COM O PIOR
UNIDOS E COM O PIOR DO BRASIL.
DOS
ESTADOS
HÁ 80 ANOS, “ESTUPIDEZ ECONÔMICA”
PRECIPITOU A DEPRESSÃO
O
Mãe e filhos na miséria, em Elm
Grove, Califórnia: um retrato da
Depressão de 1929
© Library of Cogress USA
s manuais simplificados de história
conectam, por um vínculo direto, o crash
da Bolsa de Nova York, em 1929, à Grande Depressão que se estendeu pela década
de 1930 e só terminou, de fato, com a
Segunda Guerra Mundial. Nessas narrativas, tudo se passa como se a depressão global estivesse inscrita em pedra na quebra
da bolsa americana.
Mais que uma simplificação, trata-se
de um erro histórico e metodológico. A
história não tem um rumo traçado de antemão, um destino fixado fora do âmbito
da ação humana. A depressão era uma
possibilidade contida no crash, mas só se
tornou realidade em decorrência de uma
sucessão de equívocos trágicos de operação das políticas econômicas pelos governos das potências.
Um desses equívocos, talvez o mais
conhecido, foi o apego dos bancos centrais ao padrão ouro. Em nome da “cruz
do padrão ouro”, na frase célebre do líder
democrata americano William Jennings
Bryan, as autoridades monetárias reagiram
ao crash elevando os juros, a fim de sustentar o valor das moedas nacionais. Os
juros altos travaram os investimentos e o
consumo, exatamente quando seria necessário estimular a economia golpeada pela
crise financeira. O britânico John
Maynard Keynes, um antigo crítico do
padrão ouro, converteu-se no mais influ-
ente economista do mundo depois que se
admitiu o equívoco catastrófico.
O grande equívoco seguinte foi a
deflagração de uma guerra comercial. A culpa, nesse caso, recai primariamente sobre os
Estados Unidos. Há 80 anos, no dia 17 de
junho de 1930, o presidente Herbert Hoover assinou a Lei Tarifária Smoot-Hawley,
que elevou as tarifas de importação de 20
mil produtos até níveis recordistas.
A história da mais mal afamada tarifa
alfandegária em todos os tempos começa
bem antes do crash, em 1922, com a aprovação da Tarifa Fordney-McCumber, destinada a proteger os agricultores americanos
da concorrência externa reativada após o fim
da Primeira Guerra Mundial. O mentor da
iniciativa fora o senador republicano Reed
Smoot, de Utah, e ela se inscrevia na orientação geral isolacionista dos Estados Unidos.
No início de 1928, reagindo ao esfriamento
do mercado de trabalho, o mesmo Smoot
preparou uma nova lei tarifária, que seria
convertida em bandeira da vitoriosa campanha eleitoral de Hoover.
Na sua versão original, a lei aumentava
as tarifas sobre produtos agrícolas mas reduzia as incidentes sobre bens industriais.
No Congresso, contudo, os debates se prolongaram até o início de 1930 e resultaram
numa segunda versão, que atendia aos diversos interesses protecionistas estaduais e
elevava todas as tarifas, agrícolas e industriais. Mais de mil economistas americanos
assinaram uma petição a Hoover pedindo
o veto à lei tarifária. Henry Ford, o comandante da Ford Motor Co., então no seu
auge, apoiado por executivos de outras
companhias de automóveis, reuniu-se com
o presidente para implorar pelo veto do que
batizara como “uma estupidez econômica”.
Hoover não gostava da lei, e deixou
isso mais que claro, porém não pretendia
colidir com seu partido e a maioria parlamentar. A Tarifa Smoot-Hawley foi assinada e tornou-se um ícone inigualado da
marcha destrutiva do protecionismo. Os
impactos diretos da lei tarifária na configuração da Grande Depressão constituem,
até hoje, objeto de acesa polêmica. Contudo, seus efeitos geopolíticos evidenciaram-se ainda na etapa final de debates no
Senado americano. Um mês antes da assinatura de Hoover, o Canadá retaliou, aumentando tarifas sobre um terço dos produtos importados do vizinho.
O passo seguinte na implosão das teias do comércio mundial foi a renúncia da
Grã-Bretanha ao padrão ouro e a
consequente desvalorização da libra, em
setembro de 1931. O gesto britânico foi
complementado por uma elevação das tarifas alfandegárias domésticas, o que provocou uma reação protecionista em cadeia
na Europa. As muralhas de proteção foram fortificadas por barreiras não
tarifárias. A França tomou a dianteira nessa
frente da guerra comercial, impondo cotas de importação sobre cinquenta itens
em 1931, que se transformaram em 1.100
itens no ano seguinte.
Em janeiro de 1929, as importações
globais perfaziam cerca de US$ 3 bilhões.
Antes da metade de 1933, as importações
mensais haviam desabado para menos de
US$ 500 milhões. Em 1932, entre um
ponto e outro da curva descendente, os
eleitores recusaram-se a conceder novos
mandatos a Smoot e ao também republicano Willis C. Hawley, coautor da desastrosa lei tarifária.
MAIO 2010
3
PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O
ARGENTINA
DA RIQUEZA À POBREZA EM MEIO SÉCULO
O
Newton Carlos
Da Equipe de Colaboradores
voto é secreto na Argentina desde 1912. Nada parecido com as nossas eleições baseadas no voto de cabresto,
típicas da República Velha. Lá eleitores urbanos, do Partido Radical, tiraram a oligarquia do poder por meio do
voto. Instalou-se um quadro de “hegemonia burguesa”,
na época único na América Latina. Era a Argentina das
décadas de 1910 e 1920, da rebelião universitária de
Córdoba, origem de uma nova religião, a da autonomia
universitária. O estadista francês Georges Clemenceau
visitou-a nessa época e se encantou, entre outras coisas,
com o metrô abaixo da linha do Equador.
O crash de 1929 bateu forte naquela que fora a quarta
economia do mundo, e o presidente Hipólito Yrigoyen,
herói da classe média, caiu golpeado. Os anos 1930 foram
batizados como a “década infame”, dos quartelaços e das
conspirações, até o advento do populismo peronista (veja
a matéria na pág. 5). Os “descamisados”, párias da industrialização, sobrepassaram politicamente a classe média.
Mas o peronismo esgotou os recursos públicos e perdeu as
condições para manter a teatralidade da maior mobilização
de massas da América Latina. Sem as reservas financeiras
obtidas com a venda de excedentes agrícolas na Segunda
Guerra Mundial e no imediato pós-guerra, o regime esgotou-se politicamente.
As coisas pioraram velozmente. A partir do golpe de
1955, contra Juan Domingo Perón, as turbulências foram brutais. Os militares deram novos golpes e o
peronismo conseguiu se recompor mais de uma vez. Perón
retornou ao poder em 1973, morreu no ano seguinte e
deixou a presidência com sua terceira esposa, a vice
Isabelita. O chamado golpe-mor, o de 1976, contra
Isabelita, não tratou só de “segurança nacional”, mas também de redirecionar a economia.
Tempos de chumbo, “guerra suja”, 30 mil “desaparecidos” políticos. Os militares golpistas também patrocinaram equipes econômicas com manuais de combate ao “nacional populismo”, contra os estertores do velho peronismo.
Pela primeira vez, montou-se na Argentina um projeto
antiperonista “consistente”. O ministro da Economia, José
Martinez de Hoz, de família oligarca e com profundas raízes
no campo conservador, achatou os salários e contraiu uma
dívida externa de US$ 43 bilhões, um recorde para a época. Nesse afã, terminou produzindo o que o Centro de
Pesquisas Sociais, de Buenos Aires, chamou de “fratura na
evolução da sociedade argentina”.
É um modo acadêmico de falar de ampliação da pobreza. O primeiro governo da “redemocratização”, o de
Raúl Alfonsín, já nasceu colocado contra a parede, com a
dívida e a pobreza em acelerada ascensão. É a “tragédia das
democracias pobres”, disse Alfonsín, já a caminho do FMI.
Ou do patíbulo. Sequer teve fôlego para completar o mandato. Afogou-se na hiperinflação e no caos social. “A dor, a
violência, o analfabetismo e a marginalidade golpeiam nove
© AFP
A Argentina celebra os 200 anos da Revolução de Maio, que iniciou a marcha rumo à independência. Mas o país tem pouco a
comemorar na sua história recente
Buenos Aires, dezembro de 2001: a crise leva
ao fundo do poço um país que, no início do
século XX, era a quarta economia mais forte
do mundo
milhões de argentinos”, declarou o sucessor, o peronista
ultraliberal Carlos Menem, que assumiu em 1989.
Um terço da população na miséria? Menem convocou para o “nascimento de novos tempos, novas oportunidades, talvez as últimas”. Em seu primeiro quinquênio,
a pobreza duplicou na Argentina. No final de dois mandatos, num total de dez anos na Casa Rosada, de cada
1.760 pessoas que baixavam a graus dramáticos de empobrecimento, mil provinham da classe média. As estimativas indicam que já são mais de 15 milhões de pobres, numa população de 40 milhões.
Um escândalo no país que, ao lado do Uruguai, imaginava-se como uma porção desgarrada da Europa na
América Latina. A antes dominante classe média continuou em queda livre. Quanto ao peronismo “sem Perón”,
perdeu a identidade, deslizando entre o populismo, o
ultraliberalismo e agora, com a dinastia dos Kirchner, em
fortes pitadas de autoritarismo.
Nas eleições de 1999 os argentinos apostaram entusiasticamente em mudanças – e perderam a aposta. As
coisas só pioraram e o governo do presidente Fernando
de la Rúa, do velho Partido Radical, naufragou em desgraças e sangue, o povo nas ruas saqueando e sendo violentamente reprimido. Foi aberto o caminho por onde
transitou Néstor Kirchner, e em seguida Cristina
Kirchner, em seu assalto eleitoral ao poder.
Do golpe de 1976 até 1982, ano da Guerra das
Malvinas, tiro de misericórdia na ditadura, a produção
industrial retrocedeu 27%. Mais de 1,5 milhão de argentinos com qualificações profissionais se expatriaram.
Alfonsín teve de pagar, em 1984, US$ 9,6 bilhões a título de juros e serviços da dívida externa, equivalentes ao
total das exportações em 1982.
Em uma das raras entrevistas concedidas depois de
proclamado presidente da Argentina, Néstor Kirchner,
além de dizer que não seria empregado dos bancos, tocou no ponto talvez mais sensível da tragédia de seu país.
“Vou reconciliar os argentinos com suas instituições”,
prometeu. As chagas são muitas, e todas doloridas: anos
de recessão, desemprego alto, pobreza por todos os lados, desmonte de uma classe média que esteve entre as
mais pujantes do mundo e até fome no que foi considerado celeiro do mundo. Mas a questão política precisa de
atenção especial.
O tratamento dispensado ao ex-presidente Fernando
de la Rúa, agredido fisicamente quando foi votar, deu a
medida da raiva que os políticos provocam nos argentinos. Ele personificou esperanças de redenção, como sucessor de um Menem corrupto, e caiu com uma Argentina
quebrada e em meio a desgraças e sangue. “Não se aceitam
políticos” – cartazes com esses dizeres foram colocados em
restaurantes em Buenos Aires. Parlamentares tiveram de
pedir proteção à polícia. Até o ex-presidente Raúl Alfonsín,
figura venerada por seu papel na redemocratização, sofreu
constrangimentos físicos nas ruas. Os argentinos ainda não
se reconciliaram com suas instituições.
2010 MAIO
M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A
4
ARGENTINA
PERONISMO SEM PERÓN TORNOU-SE MERO
OBJETO ELEITORAL
Newton Carlos
Da Equipe de Colaboradores
O espectro de Perón acompanhou a vida argentina durante meio século, chegando a configurar
o maior movimento de massas da América Latina, antes de se esgotar politicamente
Nos anos 1940, Juan Domingo Perón e sua
mulher Evita recriaram o breve sonho de uma
Argentina próspera e dedicada aos pobres
Reprodução
uma biografia de Juan Domingo Perón, a uruguaia
Marisa Navarro diz que ele era “excessivamente personalista”, traço que o colocava num mesmo saco com outros
ditadores latino-americanos. Construiu monumentos em
sua homenagem, trocou nomes de ruas, substituídos pelo
seu, adorava ouvir discursos de exaltação a ele próprio.
Tampouco suportava um mínimo de oposição. Mas teve
apoio popular, algo que nem mesmo seus mais ferozes
inimigos se dispunham a questionar. O peronismo foi o
maior movimento de massas da América Latina, no qual
se confundiam as cabeças de Perón e de sua segunda esposa, Evita, que comandou o ministério do Trabalho entre 1946 e 1952, na primeira presidência do caudilho.
O argentino Jorge Abelardo Ramos, um nacionalista
de esquerda, foi às origens. De modo sucinto, a crônica é
a seguinte. Perón “percebeu” que a industrialização criara um enorme proletariado sem tradição de militância
sindical e política, sem relações com as esquerdas tradicionais, uma “nova classe social que se constituía em enorme fator de poder”. Por isso, numa das tantas crises políticas que se seguiram à derrubada do presidente Hipólito
Yrigoyen em 1930, após o crash de Wall Street e da falência do “projeto de hegemonia burguesa” na velha Argentina da classe média, instalou-se no ministério do Trabalho, mobilizou os trabalhadores pobres (os “descamisados”) e assumiu o poder em 1946.
A influência do fascismo ficou clara na adoção de uma
“terceira posição”, entre o comunismo e o capitalismo.
Aliança de classes em vez de luta de classes e divisão da
renda nacional, de modo igual, entre capital e trabalho.
Não só a elite conservadora se opunha ao peronismo. Também comunistas e socialistas, cujos espaços o peronismo
© AFP
N
invadiu. O inglês H. S. Ferris lembra o que ele fez em
matéria de salários e previdência, razão mais forte pela qual
a “revolução libertadora”, que o derrubou em 1955, não
conseguiu desmontá-lo. Voltou ao poder em 1973, por
meio de um preposto, Héctor Cámpora, e após a renúncia
dele, retomou a presidência em eleições extraordinárias.
Perón obteve 62% dos votos totais. Como vice, a terceira esposa, Isabelita, prenúncio do caos, já que se consu-
Populismo, abusos de um conceito
O populismo, como todo o conceito político, só tem sentido quando inscrito num chão histórico e num contexto
geopolítico. Perón, na Argentina, constitui a melhor ilustração do fenômeno. Ele chegou ao poder empurrado pela
industrialização e a formação de uma classe de trabalhadores urbanos pobres (os “descamisados”), carente de direitos
sociais. Governou em nome da ordem, afastando o espectro da revolução, com o apoio dos “de baixo”, a quem concedeu
direitos trabalhistas e previdenciários. Seu esquema de poder articulou um partido populista (o Partido Justicialista) à
nova burocracia sindical dependente do Estado.
O fenômeno populista na América Latina abrange, entre outros, o México de Lázaro Cárdenas, que governou entre
1934 e 1940 e azeitou a máquina eleitoral do Partido Revolucionário Institucional, e o Brasil de Getúlio Vargas, com seu
PTB e a estrutura dos sindicatos atrelados ao Estado. Como na Argentina, os populismos mexicano e brasileiro refletiram
a entrada em cena das massas urbanas, na etapa de expansão industrial posterior ao crash da Bolsa de Nova York que se
estendeu pelo pós-guerra. Os regimes populistas não se explicam pela tradicional dicotomia entre direita e esquerda – e,
tipicamente, abrangem correntes situadas nos dois polos do espectro político.
O “tempo” do populismo passou, junto com o esgotamento do modelo de substituição de importações e industrialização nacional. Jornais costumam taxar de populistas governos como o de Hugo Chávez, na Venezuela, Evo Morales, na
Bolívia, Rafael Correa, no Equador, e mesmo Cristina Kirchner, na Argentina. É uma impropriedade histórica que
evidencia a preguiça intelectual dos analistas. O pior é quando colocam um “neo” na frente da qualificação, como em
“neopopulistas”. Trata-se de estratagema para disfarçar a pobreza de uma análise que é impotente para revelar a singularidade das coisas.
miam as resistências físicas do caudilho. Com sua morte
explodiram as “contradições” entre guerrilheiros da extrema esquerda peronista, os Montoneros, sindicalistas de
todos os tipos e gângsters como José Lopez Rega, El Brujo
(“O Bruxo”), que se instalou em palácio em parceria com
Isabelita, a herdeira e sucessora de Perón, deposta no golpe
militar de 1976. O peronismo precisou de 18 anos, entre
1955 e 1971, para deixar claro que a Argentina não podia
ser governada sem ele e menos de dois – o curto período
de Isabelita – para mostrar como se leva um país à ruína.
Foram abertas as comportas para uma ditadura brutal e as
crises que resultaram numa tragédia nacional. O que chegou a ser o maior movimento de massas da América Latina tornou-se mero objeto eleitoral.
Não só isso. O peronismo sempre teve personalidade
ditatorial, mas com Isabelita e Lopez Rega adotou o banditismo. Os militares que sobrevieram aos dois aumentaram a dose de crueldade. Com a redemocratização, o
peronismo tornou-se mero objeto eleitoral, sem feições
definidas. Hoje, abriga o confronto entre manipuladores
dos chamados “movimentos sociais” e os chamados “dissidentes”, acobertados por um empresário milionário com a
disposição de mobilizar eleitoralmente a classe média.
A Argentina talvez seja o único país latino-americano
com uma história na qual se inclui presença marcante da
classe média nos embates políticos. Ela foi dominante no
pré-peronismo. Há quem queira que volte a ser, agora
sob o rótulo do peronismo.
MAIO 2010
5
PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O
ISRAEL/PALESTINA
coisa está começando a ficar muito
perigosa para nós. O que vocês estão fazendo aqui cria novas ameaças à segurança dos nossos soldados que combatem no
Iraque, no Afeganistão e no Paquistão.
Criam-se riscos novos para nós e para a
paz regional”, disse o vice-presidente americano Joseph Biden ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, durante uma visita a Israel, em março, segundo o jornal Yediot Aharanoth, um dos
mais influentes em Israel. A advertência
de Biden ganha maior relevância quando
se recorda que ele é um dos mais fervorosos defensores de Israel nos Estados Unidos. Em outubro de 2006, o então senador pelo Partido Democrata, chegou a afirmar que o apoio dos democratas a Israel
“vem de nossas vísceras, atinge o coração
e vai até o cérebro. É quase genético.”
Biden criticava a política de implantação de novos assentamentos israelenses
nos territórios palestinos ocupados, em
especial o setor oriental (árabe) de Jerusalém. No mesmo momento em que o
vice-presidente iniciava sua visita a Israel, o governo Netanyahu anunciava a instalação de 1.600 novas casas para judeus
ultraortodoxos no bairro de Ramat
Shlomo, em Jerusalém Oriental, além da
construção de 112 novos apartamentos
em Beitar Illit, na Cisjordânia. Irritado,
Biden afirmou que “dado que muitos, no
mundo muçulmano, veem uma clara conexão entre as ações de Israel e a política
dos Estados Unidos na região, qualquer
decisão que agrida direitos de palestinos
em Jerusalém Oriental terá impacto direto na segurança pessoal dos soldados
americanos que combatem o terrorismo
islâmico”. Em outros termos, do ponto
de vista da Casa Branca, a intransigência
de Netanyahu começa a custar vidas de
soldados americanos.
As advertências de Biden estão muito
longe de serem mera retórica. Ao contrário, elas refletem as conclusões de um relatório de 45 minutos, apresentado no final
de 2009 pelo general americano David
Petraeus ao almirante Mike Mullen, presidente do Comando Unificado das Forças
Armadas dos Estados Unidos. Segundo o
relatório, “cresce entre os líderes árabes a
percepção de que os Estados Unidos não
conseguirão enfrentar Israel, que os países
cobertos pelo Centcom – quase todos árabes – começam a perder a fé nas promessas
dos Estados Unidos; que a intransigência
do governo de Israel no conflito Israel-Pa-
TAL COMO IMAGINADO PELO PARTIDO DA PAZ EM ISRAEL (...), O PROCESSO DE OSLO DESTINAVA-SE A CONSTRUIR CONFIANÇA E
(...) EVENTUALMENTE, DOIS ESTADOS – UM JUDEU, UM PALESTINO – VIVERIAM EM ESTÁVEL
PROXIMIDADE, COM A SEGURANÇA DE AMBOS SUBSCRITA PELA COMUNIDADE INTERNACIONAL. (...) MAS A COISA TODA ERA
PROFUNDAMENTE IMPERFEITA. (...) NADA TENDO A CONCEDER, OS PALESTINOS NADA TINHAM PARA NEGOCIAR. (...) SE OS
ISRAELENSES PRECISAVAM DE ALGO DOS PALESTINOS (...), ENTÃO AQUILO QUE OS PALESTINOS QUERIAM – SOBERANIA COMPLETA, O
RETORNO ÀS FRONTEIRAS DE 1967, O “DIREITO AO RETORNO”, UMA PARTE DE JERUSALÉM – DEVERIAM ESTAR NA MESA DE
NEGOCIAÇÕES DESDE O INÍCIO, NÃO NUM INDETERMINADO ESTÁGIO FINAL.
OBRIGAÇÕES ENTRE OS DOIS LADOS.
(TONY JUDT, REAPPRAISALS, NOVA YORK, PENGUIN, 2008, P. 168-169)
© AFP PHOTO/Abbas Momani
A
“
WASHINGTON TEME REGION
lestina está pondo em risco a autoridade
dos Estados Unidos na região.”
Centcom é o Comando Central, uma
instância de controle das Forças Armadas
americanas, criada em 1983, para
monitorar uma vasta área que compreende o Oriente Médio e a Ásia central. “A
mensagem é muito clara”, afirmou à revista Foreign Policy um “alto funcionário
do Pentágono” que conhece bem os termos do relatório: “Não só os Estados Unidos estão sendo vistos como fracos como,
também, a postura militar dos Estados
Unidos perde prestígio na região.”
Após o fiasco da ocupação do Iraque
pelos Estados Unidos, e com o recrudescimento da guerra no Afeganistão e
Paquistão, que levanta novamente o espectro da derrota no Vietnã, a Casa Branca
teme a regionalização de um conflito que,
potencialmente, agitaria centenas de milhões de islâmicos, levando à desestabilização dos governos árabes aliados. Seria o pior
cenário possível, ainda mais levando-se em
conta as tensões com o Irã e a existência de
movimentos separatistas no Cáucaso (veja
a matéria na pág. 10). A percepção de uma
Casa Branca politicamente frágil, refém de
Israel, abre uma avenida para a catástrofe.
Em Ramallah
(Cisjordânia
ocupada), garotos
palestinos jogam
pedras contra
soldados e tanques
israelenses, no
começo do ano, em
protesto contra a
construção ilegal de
novos assentamentos
anunciada por Israel
Não por acaso, em encontro mantido com
o presidente francês Nicolas Sarkozy, no
começo de abril, em Washington, o próprio Barack Obama declarou que vai manter a pressão sobre Israel, ainda que isso
custe um alto preço político nas eleições
que serão realizadas em novembro, nos Estados Unidos. Obama declarou não ter
opções.
As tensões entre os governos americano e israelense atingiram, nas últimas semanas, um nível sem precedentes desde
1956, quando Israel resolveu atacar o Egito, em operação conjunta com a Inglaterra e a França, sem prévio conhecimento
da Casa Branca, para tomar o controle do
Canal de Suez (veja a matéria na pág. 8).
E já afetam as relações entre a facção mais
“dura” da cúpula das Forças Armadas americanas (ligada aos neoconservadores, favoráveis a um ataque ao Irã, se necessário
com armas nucleares) e os apoiadores da
linha mais cautelosa adotada por Obama.
Para complicar um pouco mais o xadrez regional, cresce entre os palestinos a
rejeição ao atual presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, líder do
grupo moderado Fatah, com o fortalecimento do grupo islâmico radical Hamas,
que controla a Faixa de Gaza desde 2007.
Em outubro passado, Abbas aceitou o adiamento de ações punitivas contra Israel,
previstas por um relatório da ONU que
condenava o Estado judeu por “crimes de
guerra” praticados durante ataques à Faixa de Gaza, entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009. O relatório, apresentado
pelo juiz sul-africano Richard Goldstone,
foi aprovado por 25 países contra seis (incluindo Estados Unidos e Israel) no âmbito da Comissão de Direitos Humanos
da ONU. A leniência de Abbas foi interpretada como traição por uma grande parcela de palestinos, incluído os habitantes
da Cisjordânia, onde o Fatah tem o apoio
da maioria.
Esse fato, mais a impotência de Autoridade Palestina diante de Israel, fazem
com que o destino político de Abbas seja
incerto. Ele mesmo fala em não mais disputar as eleições previstas para o final de
2010, tornando ainda mais densas as nuvens de incerteza que pairam sobre a Palestina. Uma nova vitória eleitoral do
Hamas, repetindo o feito de 2006, certamente colocaria mais lenha na grande fogueira regional.
2010 MAIO
M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A
6
ONALIZAÇÃO DO CONFLITO PALESTINO
ESGOTOU-SE A SOLUÇÃO DOS DOIS ESTADOS?
H
á quase duas décadas, em 1993, Israel e os palestinos assinaram os Acordos de
Oslo, que deveriam levar a paz à região. A solução de Oslo, no fim de um longo
processo, seria a criação de um Estado Palestino, que viveria em paz com Israel. Desse
modo, retomava-se o conceito da partilha da Palestina adotado pela ONU em 1947.
Oslo fracassou em tudo. No lugar de construir paulatinamente a confiança entre os dois lados, gerou frustração, violências e ódio. Sabotagens dos dois lados
podem ser apontadas. Mas não há nada mais destrutivo que a persistência de Israel
na colonização judaica dos territórios palestinos ocupados. Quando foi assinada a
Declaração de Oslo, existiam 32.750 unidades habitacionais judaicas na Cisjordânia
e na Faixa de Gaza. Em oito anos, até outubro de 2001, o número de habitações
cresceu 62%, para 53.121. Nos quatro primeiros anos do “processo de paz”, a população das implantações israelenses nos territórios ocupados cresceu 61%.
A cláusula 7 do artigo 31 da Declaração de Oslo dizia: “Nenhum dos lados deve
tomar iniciativas ou adotar qualquer passo que conduzam à mudança no estatuto
da Cisjordânia a da Faixa de Gaza, pendentes dos resultados das negociações sobre
o estatuto definitivo.” A colonização judaica já criou um bolsão quase contínuo de
assentamentos entre Jerusalém e Belém, principal corredor econômico da Cisjordânia
e núcleo de um futuro Estado Palestino (veja o mapa).
Assentamentos
em Jerusalém
Leste e
Cisjordânia
4 km
Zona industrial
LÍBANO
E1: Área de
expansão de
assentamentos
judaicos
ISRAEL
Limites
municipais
MAR MEDITERRÂNEO
Linha Verde:
Fronteira de
Israel até 1967
0
Ramalah
Cidade
Velha
Tel Aviv
CISJORDÂNIA
Jerusalém
Jerusalém
Setor
Ocidental
Rota do muro
Pontos
de passagem
ISRAEL
Setor
Oriental
Áreas de
construções
palestinas
Belém
Áreas de
construções
judaicas além
da Linha Verde
EGITO
JORDÂNIA
C I S J O R D Â N I A
FONTE: Jornal Folha de S. Paulo,
22/04/2010, página A14
Evolução demográfica em Israel/Palestina
6000
5000
milhões
4000
3000
2000
1000
0
1948
1999
Judeus
2009
Árabes-palestinos
FONTE: Sergio DellaPergola, Demography in Israel/Palestine,
IUSSP XXIV General Population Conference, 2001; World Factbook, 2010
Israel não foi levado à mesa de Oslo apenas pelas pressões americanas, nem
mesmo unicamente pela força da Intifada (revolta) palestina. A decisão decorreu
essencialmente de um cálculo político de fundo demográfico. Naquele ponto, já
estava evidente que, em pouco tempo, a população árabe-palestina ultrapassaria a
população judaica no conjunto Israel/Palestina.
O crescimento vegetativo dos árabes-palestinos sempre foi maior que o dos judeus, mas as ondas imigratórias para Israel compensavam com folga a diferença e
produziram uma maioria judaica no conjunto Israel/Palestina. Contudo, a última
dessas ondas imigratórias foi o fluxo de judeus russos, na primeira metade da década
de 1990. Depois dele, o resultado seria determinado pelo diferencial de crescimento
vegetativo. Em 1999, os judeus eram 55,2% da população total do conjunto, e os
palestinos, 44,8%. Em 2009, a população árabe-palestina ultrapassara a judaica, perfazendo 50,7% do total, uma parcela que inclui 23% da população de Israel propriamente dita, que são os árabes-palestinos com cidadania israelense (veja o gráfico).
A “bomba demográfica” continua a explodir. Num futuro próximo, os árabes-palestinos serão uma ampla maioria no conjunto Israel/Palestina. O problema demográfico, que
empurrou os líderes israelenses para Oslo, recoloca-se agora como realidade inescapável.
No fim das contas, o futuro de Israel depende da solução que será encontrada.
A demografia indica, inapelavelmente, que Israel não pode ter três coisas simultaneamente: 1) um Estado judeu; 2) um Estado democrático; 3) um Estado que
exerce soberania sobre toda a Palestina histórica. Só é possível ter duas dessas coisas,
em qualquer combinação.
A primeira hipótese, um Estado judeu e democrático, convivendo lado a lado
com um Estado palestino, é a meta professada por todos os governos israelenses e
também pela Autoridade Palestina desde 1993. Entretanto, a continuidade dos assentamentos evidencia a distância entre o discurso oficial e a vontade real de alcançar
uma paz baseada na partilha, que depende de um acordo aceitável para os palestinos.
A segunda hipótese, um Estado judeu que exerce soberania sobre toda a Palestina
histórica, é a meta mais ou menos explícita do polo minoritário de partidos nacionalistas e religiosos que atualmente desempenha o papel de fiel da balança nas coalizões
governistas israelenses. A possibilidade existe, mas implica a renúncia à democracia,
além de uma guerra de ocupação permanente. O Estado judeu em todo o conjunto
Israel/Palestina configuraria uma ditadura imposta à maioria de seus habitantes e um
regime de tipo apartheid, que condena a maioria a viver sob o estatuto de não cidadãos. No fundo, implicaria o abandono dos valores políticos professados por Israel
desde a fundação do Estado judeu (veja a matéria na pág. 9).
A terceira hipótese, um Estado democrático no território integral de Israel/Palestina, é a meta almejada por correntes de esquerda minoritárias tanto entre os
israelenses quanto entre os palestinos. Tal solução redundaria na renúncia à natureza judaica de Israel, pois geraria um Estado binacional, com direitos iguais para
todos os seus habitantes. Nesse horizonte, extinguiria-se historicamente o sionismo, doutrina na qual se condensou o moderno nacionalismo judaico.
Sob o impacto do fracasso do “processo de Oslo”, desmancha-se a legitimidade
da Autoridade Palestina (AP). O presidente da AP, Mahmoud Abbas, fraco sucessor
do líder histórico Yasser Arafat, declara que não tentará a reeleição. Uma hipótese é
o fortalecimento do Hamas, o partido fundamentalista islâmico que já controla a
Faixa de Gaza. Do ponto de vista de Israel, há uma hipótese mais temível: a desistência palestina da solução dos dois Estados.
Entre os palestinos, inclusive entre os árabes com cidadania israelense, difunde-se
a ideia de substituir a reivindicação nacionalista de um Estado Palestino pela reivindicação democrática de um Estado com direitos iguais para todos no conjunto Israel/
Palestina. Israel tem os meios militares para enfrentar e derrotar o Hamas. Não tem os
meios políticos para responder a uma reivindicação desse tipo, que seria acompanhada pela dissolução da AP e do arremedo de administração autônoma palestina nos
territórios ocupados.
MAIO 2010
7
PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O
ISRAEL/PALESTINA
ALIANÇA ESTRATÉGICA EUA-ISRAEL RESISTE
ÀS DIVERGÊNCIAS
A
decisão do governo de Benjamin Netanyahu de construir mais 1.600 casas para colonos judeus em Jerusalém
Leste – área de maioria árabe ocupada pelos israelenses
desde 1967 – abriu uma das mais sérias crises na aliança
estratégica entre Estados Unidos e Israel. Numa dura
conversa telefônica mantida com o premiê israelense, em
março, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton,
classificou o anúncio como “um sinal profundamente
negativo de Israel a respeito das relações bilaterais”.
Autoridades israelenses se exasperaram e, na visita que
fez a Washington, dias depois, Netanyahu foi obrigado a
atuar como bombeiro, desautorizando um colaborador
que teria dito que o governo Obama “é o maior desastre
para Israel” e reiterando que “as relações entre os Estados
Unidos e Israel são relações entre aliados e amigos, baseadas na tradição de há muitos anos”. O fato é que elas
estão estremecidas porque a atual linha de confronto das
autoridades israelenses ameaça a política externa de Obama para o chamado Grande Oriente Médio, que inclui o
Irã, o Iraque, o Paquistão e o Afeganistão, passando pela
costura de um acordo entre Israel e os palestinos.
Não é a primeira vez que americanos e israelenses se
estranham por causa de atitudes adotadas pelo Estado
judeu em relação aos palestinos ou a países árabes vizinhos. Em 1981, quando o ditador sírio Hafez al-Assad
declarou que não faria a paz com Israel “nem mesmo em
cem anos”, o premiê israelense Menachem Begin reagiu
anexando as colinas de Golã, ocupadas militarmente por
Israel na Guerra dos Seis Dias (1967). A decisão israelense irritou o então presidente Ronald Reagan, um notório
entusiasta de Israel. Em resposta, Reagan suspendeu um
acordo de cooperação estratégica bilateral que havia sido
assinado dias antes. No dia seguinte, Begin chamou o
embaixador americano em Tel Aviv e passou-lhe uma
descompostura. Aquela foi, talvez, a mais dura reprimenda
de Israel às tentativas de Washington de manter seu parceiro na linha com “corretivos”. Mas Tio Sam engoliu a
seco, pois Israel era uma peça estratégica fundamental no
tabuleiro do Oriente Médio.
Não foi sempre assim. Na hora da fundação do Estado de Israel, em 1948, fruto da partilha da Palestina elaborada pela ONU, o governo americano estava dividido
sobre a questão. Clark Clifford, assessor do presidente
Harry Truman, defendia o imediato reconhecimento de
Israel, enquanto o secretário de Estado, George Marshall,
se opunha tenazmente a isso, por temer uma reação adversa dos países árabes. Na última hora, o presidente optou por reconhecer Israel mas, depois que estourou a
guerra da independência, impôs um embargo sobre a
venda de armas a qualquer país no Oriente Médio – o
que obrigou Israel a recorrer à Tchecoslováquia para se
defender do ataque dos países árabes que tentaram impedir pela força a criação do Estado judeu.
No início, Washington oscilou entre Israel e os árabes. Mas, com o aumento da
influência soviética no mundo árabe, o Estado judeu converteu-se em aliado crucial
dos Estados Unidos
© Pete Souza
Cláudio Camargo
Especial para Mundo
Apesar dos apelos do presidente Barack Obama pela interrupção da construção de novos
assentamentos israelenses na Palestina, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu mostra-se
intransigente e cria tensão entre os dois governos
As tensões irromperam de novo em 1956, quando
britânicos, franceses e israelenses ocuparam o Canal de
Suez nacionalizado pelo Egito. Então, o governo de
Dwight Eisenhower forçou seus aliados a uma retirada
incondicional. Na época, Washington jogava todas as
cartas na região, com preferência pelos árabes, e o grande
aliado de Israel era a França. Com a aliança, os franceses
puniam o Egito liderado por Gamal Abdel Nasser, que
dava sustentação aos guerrilheiros anticolonialistas da
Frente de Libertação Nacional na Argélia.
A nova percepção americana sobre o papel estratégico de Israel articulou-se entre o final da década de 1950
e o início da década de 1960, quando os Estados Unidos
detectaram o crescimento da influência soviética no mundo árabe. Mas a postura de Washington em relação ao
Estado judeu só mudou qualitativamente depois da Guerra dos Seis Dias, na qual Israel, em ação fulminante, humilhou militarmente seus vizinhos árabes e ocupou Gaza,
Cisjordânia, Golã e o Sinai – com armas francesas, é preciso lembrar. Os israelenses atacaram unilateralmente o
Egito, a Jordânia e a Síria para romper o bloqueio egípcio ao Golfo de Aqaba, algo que Estados Unidos, França
e Grã-Bretanha não conseguiram fazer pela diplomacia.
“Impressionados com o aparato das forças de dominação de Israel, os Estados Unidos resolveram incorporá-lo
como um novo recurso estratégico”, diz o historiador israelense Norman Finkelstein. “A assistência militar e econômica começou a crescer assim que Israel transformou-se
em representante do poder os Estados Unidos no Oriente
Médio”, completa. A partir daí, a aliança estratégica ganhou consistência. Em 1970, por exemplo, o governo de
Richard Nixon solicitou que os israelenses ajudassem o rei
Hussein, da Jordânia, a enfrentar os guerrilheiros da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), que constituíam um poder paralelo naquele país.
Paradoxalmente, o novo papel de Tel Aviv reduziu a
margem de manobra israelense. Em 1973, durante a
Guerra do Yom Kippur, os americanos garantiram o fornecimento de munição e suprimentos para o Exército de
Israel, que sofrera enormes perdas durante a ofensiva egípcia. Em 1991, durante a Guerra do Golfo, o governo de
George H. Bush (o pai) pressionou para que Israel não
reagisse aos ataques de mísseis Scud do Iraque, porque
Washington precisava manter a coalizão anti-iraquiana,
que incluía vários países árabes. Os americanos instalaram baterias de antimísseis em Israel e enviaram equipes
militares para operá-las. Era uma mudança simbólica
importante: pela primeira vez, a orgulhosa defesa de Israel passou a depender de soldados estrangeiros.
Apesar das discordâncias pontuais entre os Estados
Unidos e Israel depois da ascensão de Barack Obama, os
dois parceiros tendem a se acomodar, como já aconteceu
várias vezes no passado. Tio Sam sabe que não tem aliado
mais confiável no Oriente Médio e Israel precisa do apoio
americano para a defesa de seus interesses.
Cláudio Camargo é jornalista e sociólogo
2010 MAIO
M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A
8
ISRAEL/PALESTINA
OCUPAÇÃO ENVENENA A VIDA POLÍTICA
DE ISRAEL
Bernardo Sorj
Especial para Mundo
O controle sobre os territórios palestinos e a implantação de assentamentos corroem as
instituições israelenses e degradam os valores democráticos sobre os quais se ergueu o país
omo consequência da derrota do Império Otomano,
na Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações entregou à Grã-Bretanha o mandato para administrar uma
região que incluía o atual Estado de Israel e os territórios
palestinos. Em novembro de 1947, as Nações Unidas
decidiram a partição deste território em dois Estados, um
judeu e outro árabe. A decisão foi rechaçada pelos países
árabes e pela população árabe-palestina, dando início a
uma guerra que culminou, em 1949, com a vitória de
Israel e uma nova configuração geopolítica. Israel consolidou um território maior que o decidido pelas Nações
Unidas e parte da população árabe foi deslocada para fora
de suas fronteiras. A Cisjordânia, incluindo a parte antiga de Jerusalém e a porção leste da cidade, majoritariamente árabes, foi ocupada pela Jordânia. A Faixa de Gaza
foi ocupada pelo Egito.
Na Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967, o exército de Israel derrotou uma coalizão formada por Egito,
Jordânia e Síria, ocupando a Faixa de Gaza e a Cisjordânia,
além das montanhas do Golã, em território sírio, e a Península do Sinai, no Egito. O Sinai retornou à soberania egípcia em 1979, como produto das negociações de
paz promovidas pelos Estados Unidos.
A ocupação se deu num contexto internacional polarizado pela Guerra Fria, um pano de fundo sobre o qual
a maioria dos dirigentes árabes e palestinos pregavam a
destruição do Estado de Israel. Naquele contexto, que
parecia se prolongar eternamente, sucessivos governos de
Israel avançaram uma política de colonização dos territórios ocupados, sob as justificativas de que a estratégia
aumentaria o poder de barganha em futuras negociações
ou de que os territórios palestinos configurariam, por
razões bíblicas, parte inseparável do Estado de Israel. Nos
territórios sob ocupação, Israel implantou assentamentos judaicos que abrigam, atualmente, uma população
estimada em 300 mil pessoas. Em 2007, os assentamentos na Faixa de Gaza foram desocupados.
Mais de quatro décadas depois da Guerra dos Seis Dias,
evidenciam-se as múltiplas consequências da ocupação
sobre a sociedade e as instituições de Israel. Economicamente, a a estratégia não implicou nenhum ganho relevante. Pelo contrário, os custos militares da manutenção
da ocupação, a criação de infraestrutura que liga os assentamentos com o território de Israel e, sobretudo, a construção de casas em assentamentos consumiram dezenas de
bilhões de dólares.
Politicamente, a opinião pública israelense dividiu-se
entre os que se opõem à ocupação e aqueles que, movidos por posições nacionalistas ou religiosas, consideram
que o território conquistado deve ser integrado ao do
Estado de Israel. Parte considerável da população israelense flutua entre os dois polos – ou seja, entre os temores de que um Estado Palestino coloque problemas de
© Paolo Cuttitta/Flickr
C
Israel mantém e amplia a construção do “Muro da Vergonha”, condenado pela ONU
e por cortes internacionais
segurança e de que a integração de uma população de
milhões de árabes transforme os judeus em minoria (veja
a matéria na pág. 7).
Militarmente, a ocupação descaracterizou o objetivo
das forças armadas de Israel de defesa do território nacional, desviando parte de seus contingentes para tarefas de
policiamento e confronto com a população civil palestina.
Muitos oficiais e recrutas se recusam a cumprir tais tarefas,
que enfraquecem a motivação dos novos conscritos.
Institucionalmente, a ocupação fragilizou a democracia israelense. A população dos assentamentos, extremamente ativista e extremista, passou a usufruir de um poder
desproporcional, inclusive se negando a acatar as decisões
do governo e, muitas vezes, agindo de forma independente contra a população palestina. O poder discricionário
das forças armadas nos territórios ocupados, cujos habitantes não são considerados cidadãos de Israel (com exceção dos moradores de Jerusalém), provoca violações constantes de direitos civis e políticos da população palestina,
limitando e desfigurando o papel do poder judiciário.
Ideologicamente, a ocupação fortaleceu as tendências religiosas nacionalistas-fundamentalistas, cujos integrantes constituem o principal contingente da população dos assentamentos. Embora o Estado de Israel tenha
sido produto de um movimento político secular, o sionismo, e a grande maioria da população judia de Israel
não se identifique com o judaísmo ortodoxo, a procura
de justificativas para a ocupação fortaleceu uma narrativa nacionalista de inspiração religiosa. Enfatizando os
laços entre os territórios ocupados e lugares bíblicos, que
justificariam o direito da presença judia, a ocupação passou a contaminar o espaço público com argumentos religiosos estranhos aos princípios da democracia.
A ocupação afetou o processo de integração dos árabes-israelenses, que constituem 20% da população de
Israel. Os árabes-israelenses, que têm cidadania de Israel,
passaram a viver dilacerados entre sua crescente integração
na sociedade israelense e sua simpatia com as reivindicações nacionais palestinas.
No plano geopolítico, a ocupação isolou Israel da opinião pública dos países democráticos que, embora continue a apoiar a existência do Estado de Israel, rejeita a ocupação e favorece a criação de um Estado Palestino nos territórios ocupados em 1967. Nas últimas décadas, a situação do Oriente Médio e a geopolítica mundial mudaram
profundamente. A ocupação e os assentamentos revelaram-se erros históricos insustentáveis. O fim da ocupação
e a criação de um Estado Palestino, que viva em paz e
segurança com Israel, permitirá aos palestinos assumirem
a responsabilidade por seu futuro. Também permitirá aos
israelenses superar uma situação que distorce os valores
morais professados por uma sociedade democrática.
Bernardo Sorj, professor titular de Sociologia da UFRJ
e diretor do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais,
acaba de lançar o livro Judaísmo para todos
(Civilização Brasileira)
MAIO 2010
9
PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O
RÚSSIA
“O
ATENTADOS REFORÇAM A COOPERAÇÃO
ENTRE PUTIN E OBAMA
presidente quer convencer os líderes
regionais a assumir uma nova atitude para
com a Rússia, no sentido de que os antigos temores de russos conspirando estão
fora de moda”, afirmou um “alto funcionário da Casa Branca”, referindo-se a
Barack Obama, ao The New York Times.
Os “líderes regionais” são os presidentes e
primeiros-ministros dos onze países ex-comunistas que hoje fazem parte da OTAN,
a aliança militar liderada pelos Estados
Unidos. A declaração foi feita às vésperas
de uma visita de Obama a Praga, no início de abril, onde ele assinou, com o presidente russo Dmitri Medevedv, um novo
acordo Start, de redução dos arsenais nucleares das duas potências.
O porta-voz anônimo causou espanto, até indignação, entre os “líderes regionais”, dada a recentíssima história de
opressão nacional exercida por Moscou
sobre os países da Europa Oriental, nos
tempos do “império soviético”, dissolvido em 1992. A “mão pesada” de Vladimir
Putin, ex-presidente e atual primeiro-ministro russo, não ajuda muito.
Putin está tentando passar a imagem de
estadista preocupado com a normalização
da relação com os seus vizinhos europeus.
Ele próprio tomou a iniciativa, sem precedentes, de convidar o presidente polonês
Lech Kaczynski e o primeiro-ministro
Donald Tusk a uma cerimônia em homenagem a cerca de 22 mil soldados poloneses massacrados pelo Exército Vermelho, em 1940, em Katyn. Putin responsabilizou diretamente o ex-ditador soviético Josef Stalin pelo massacre. Em
1990, o ex-dirigente soviético Mikhail
Gorbatchev reconheceu a responsabilidade da União Soviética pelo massacre, mas
foi a primeira vez que as autoridades polonesas receberam um convite oficial para
homenagear os mortos.
A importância simbólica do gesto é
óbvia, dado o papel historicamente estratégico que a Polônia ocupou na história
das relações da Rússia com a Europa – e,
também, dado o passado do próprio Putin,
oficial da KGB, a polícia política soviética, até 1991. A cerimônia acabou ofuscada pelo acidente aéreo que matou
Kaczynski e diversas autoridades que o
acompanhavam, justamente na viagem a
Katyn. Mas Putin e Tusk, enlutados, depositaram flores no local do massacre.
Explosões de trens de metrô, que refletem a continuidade da
crise separatista na Chechênia, dão impulso à aproximação
estratégica da Rússia com os Estados Unidos
Grupos religiosos
da região do Cáucaso
R
Ú
S
S
I
A
Chechênia
Ingúchia
KabardinoKaratchai- Balkária
Tcherkess
Ossétia
Daguestão
do Norte
Abkházia
Ossétia
do Sul
MAR
NEGRO
MAR
CÁSPIO
GEÓRGIA
AZERBAIJÃO
Adjária
ARMÊNIA
42ºN
2
TURQUIA
1
IRÃ
0
20 km
45ºL
Muçulmanos sunitas
1
Naktchevan (Região autônoma do Azerbaijão)
Muçulmanos xiitas
2
Nagorno-Karabakh
(Região do Azerbaijão de maioria armênia)
Cristãos ortodoxos
FONTE: Conflitos do Mundo; Olic, Nelson B. e Canepa, Beatriz - Moderna - S. Paulo - 2009, pág. 102
Os gestos de boa vontade, as declarações amistosas e a política de boa vizinhança entre Moscou, Washington e vizinhos
europeus contrastam com a política extre-
mamente dura e repressiva de Putin para
com os movimentos separatistas da
Chechênia e outras repúblicas russas do
norte do Cáucaso, como Ingúchia e
Tolstoi, Khadji Murat e a Chechênia
O russo Lev Tolstoi (1828-1910), um dos mais importantes escritores da literatura
mundial, publicou livros célebres como Guerra e paz (1865-1969) e Ana Karenina (18751977), que retratam momentos marcantes da história do Império Russo no século XIX.
É dele, também, Khadji Murat, publicado postumamente, em 1912.
Neste livro, bem menos conhecido, Tolstoi lança um olhar sobre a região do Cáucaso,
mais especificamente para a Chechênia, durante a conquista da região pelo Império
Russo, à qual os chechenos opuseram encarniçada resistência. Khadji Murat era um
rebelde pertencente a uma das inúmeras etnias da região que, por razões de vingança
pessoal, alia-se aos seus antigos inimigos russos.
Tolstoi foi o pioneiro a tratar dos dramas da região e, de certa forma, vaticinou que
eles se repetiriam no futuro. De fato, entre 1943 e 1944, acusados por Stalin de cooperação com o invasor nazista, os chechenos tiveram toda a sua comunidade deportada
para as “zonas de povoamento especial”, na Ásia Central. Em 1956, Nikita Krushev, o
sucessor de Stalin, os reabilitou e permitiu o retorno às terras de origem.
As duas guerras recentes da Chechênia, em 1994-1996 e 1999-2001, deram novas
dimensões às tragédias caucasianas. Os atentados praticados pelas “viúvas negras” representam mais um capítulo de uma história de sangue e vingança que parece não ter fim.
Daguestão (veja o mapa). Putin foi o responsável, em setembro de 2004, por uma
operação contra separatistas chechenos
que tomaram uma escola em Beslan, na
Ossétia do Norte. O episódio resultou na
morte de 344 civis, incluindo 186 crianças. Seu governo também foi caracterizado por censura à imprensa, perseguição
de opositores e uma dura oposição às tentativas do ex-presidente George W. Bush
de armar um “cinturão” em torno da
Rússia, mediante a instalação de bases na
Polônia, Ucrânia e Geórgia.
A Chechênia é uma antiga pedra no
sapato do expansionismo imperial russo
no Cáucaso (veja o box). Atualmente, a
república teoricamente autônoma é governada por Ramzan Kadyrov, um ex-rebelde que se aliou a Moscou em troca de ajuda financeira e muita repressão para manter a “ordem” interna. A brutalidade da
polícia tem como contrapartida a prática
aberta da corrupção. Os dois atentados a
bomba em estações de metrô de Moscou,
em 29 de março, que mataram 39 pessoas, foram realizados pelas “viúvas negras”,
mulheres de guerrilheiros separatistas
islâmicos mortos por tropas russas. Uma
delas, Dzhennet Abdurakhmanova, viúva
de Umalat Magomedov, tinha 17 anos; a
outra, não identificada, tinha 20 anos. Os
ataques foram reivindicados por Doku
Umarov, líder separatista checheno. Putin
declarou que iria “esmagar” o movimento
separatista, e obteve imediato apoio da
Casa Branca na “guerra ao terrorismo”.
Com isso, sedimenta-se uma aliança
entre Moscou e Washington. Aparentemente, há um acordo entre ambas as potências
sobre a necessidade de “preservar a ordem”
na Ásia Central, um imenso barril de pólvora agitado pela guerra do Afeganistão, que
já ultrapassou suas fronteiras e envolve regiões inteiras do Paquistão, país dotado de
arsenal nuclear. Dada a importância estratégica da região, onde estão situadas vastas
reservas de petróleo e gás, a “estabilização”
interessa a todos. Essa mesma lógica explica o relativo “endurecimento” de Moscou
em relação ao Irã, alvo de pressão constante dos Estados Unidos. Em troca da ajuda
de Putin na contenção do Irã, Washington
estende o tapete vermelho para Moscou,
que busca aproximação e negócios com os
países europeus.
2010 MAIO
M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A
10
Renata Pires
Especial para Mundo
inha primeira visita à China começou
com uma passagem rápida por Pequim,
cidade fascinante que acomoda o que há
de mais belo da nova e velha China. É difícil não se impressionar com a beleza e
magnitude dos pavilhões e edifícios de
madeira em estilo tradicional da Cidade
Proibida, o complexo de palácios do século XV que foi sede do Império do Centro por quase 500 anos, período durante
o qual era fechada ao público. São cerca
de nove mil quartos, nos quais outrora viveram os imperadores e suas milhares de
concubinas.
O portão principal da Cidade Proibida é encabeçado por um pôster gigantesco de Mao Tsé-Tung, pai da Revolução
Comunista na China. Do outro lado da
rua está Tiananmen Square, a Praça da Paz
Celestial que, apesar de parecer uma praça como outra qualquer, ainda evoca inevitavelmente a memória do massacre de
estudantes pelo governo durante os protestos pró-democracia em 1989. Quando
estive na praça, a área encontrava-se fechada, por conta de uma conferência de
representantes dos governos regionais da
China – uma prova de que as tensões desse passado recente ainda estão presentes.
Guilin, no sul do país, era meu destino seguinte. A caminho do aeroporto, o
guia avisou: “No sul da China, come-se
tudo o que voa, menos avião; tudo o que
tem quatro pernas, menos mesa, e tudo o
que tem duas pernas, menos os pais.” Suspirei, preocupada. A gastronomia do sul
não desapontou. As especialidades locais
incluem cachorro, tofú fedido, olho de
peixe, estômago de boi, caramujos de água
doce e cérebro de macaco, entre outras
iguarias. No mercado da cidade, vi também cobras vivas e corações de boi desidratados à venda.
Na manhã seguinte, percorri de barco o
cenário idílico do rio Li, cujas águas serpenteiam em meio a altas montanhas de pedra
cobertas por vegetação, até a cidade de
Yangshuo. No caminho, registrei a prática
tradicional dos pescadores que, em barcos
simples de bambu, utilizam cormorões,
grandes aves treinadas, para caçar peixes.
Detalhe: eles colocam pedaços de arame na
garganta das aves para impedir que elas engulam os peixes maiores.
As grandes metrópoles chinesas e suas áreas de influência
R
CAZAQUISTÃO
Ú
S
S
I
RÚSSIA
M
© Omar A./Flickr
UMA CONSTELAÇÃO DE CHINAS
A
MONGÓLIA
XINJIANGUIGUR
AFEG.
Pequim
PAQUISTÃO
ng
Rio
TIBETE
C
H
I
se
gT
Ian
Rio
Rio Sinkiang
ÍNDIA
BANGLADESH
GOLFO DE MIANMAR
BENGALA
Área de
influência direta
Área de
influência regional
Nankin
Wuhan
A
Xangai
Chunking
NEPAL
PEQUIM
JAPÃO
COREIA
DO SUL
Ho
a
Hu
N
COREIA
DO NORTE
OCEANO
PACÍFICO
Cantão
Macau
VIETNÃ
XANGAI
HONG KONG/CANTÃO
Área de
influência direta
Área de
influência regional
A paisagem serena da região converteu-se
em fonte de inspiração para uma grande comunidade de artistas que se formou quando
pintores, poetas e escritores foram exilados
para lá, nos tempos terríveis da Grande Revolução Cultural (1966-1976). No entanto,
a chegada em Yangshuo revelou de imediato
que o tempo não para: o desembarque é seguido por uma passagem obrigatória pela
“Hello Street”, onde ambulantes empolgados
anunciam todo tipo de bugigangas aos gritos
de “Hello! Hello!”.
À noite, assisti ao show mais fantástico da minha vida. Criado pelo famoso
diretor de cinema Zhang Yimou, o majestoso espetáculo tem como palco o próprio rio Li e as montanhas de Yangshuo,
refletindo as proporções inimagináveis de
produção só atingíveis na China. Cente-
TAIWAN
Hong
Kong
Área de
influência direta
Área de
influência regional
nas de pescadores locais e atrizes encenam
práticas tradicionais das minorias étnicas
da região, enquanto um complexo jogo de
luzes dirige a atenção dos espectadores para
o lugar onde acontece cada encenação.
Xangai foi um verdadeiro choque. Avenidas largas, quarteirões enormes, engarrafamentos intermináveis, prédios monstruosos e viadutos colossais dominam a paisagem da metrópole. Lá, é possível realmente
sentir o que significa estar num país com
população superior a 1,3 bilhão. O desenvolvimento urbano incomparavelmente rápido das últimas décadas parece, à primeira
vista, uma prova irrefutável da eficiência das
tiranias. Entretanto, ele tem seu preço: aqui,
nenhuma propriedade privada está a salvo
de desapropriações sumárias, com compensações bem abaixo do valor de mercado ou
até inexistentes. Além disso, os milhões de
migrantes das áreas rurais que modernizam
Xangai e outras grandes cidades são relegados ao subemprego e vivem em condições
deploráveis, devido à lei que os impede de
acessar serviços básicos fora do seu local de
nascimento.
Situada no delta do rio Yang-Tsé
(Azul), Xangai conecta a economia mundial à China interior (veja o mapa). A cidade funciona como sede de corporações
globais instaladas na China. Ao mesmo
tempo, é o paraíso dos que buscam itens
de marca bem abaixo do preço – e não se
preocupam com sua procedência. No famoso “Fake Market” acha-se cópias de
tudo, desde roupas e acessórios até artigos
eletrônicos de última geração. Um jantar
em um dos restaurantes no topo de edifícios com vistas de 360o da cidade é a maneira ideal de se despedir da metrópole
mais cosmopolita da China.
De Xangai parti para Taipei, Taiwan.
Uma visita a essa capital é um convite a
rever a história recente da China. Hoje
considerada algo como uma “filha rebelde” da China continental, Taiwan se tornou sede do governo central do Partido
Nacionalista Chinês (Kuomitang), cujas
lideranças partiram para o exílio na hora
do triunfo de Mao Tsé-Tung, em 1949.
Seu líder autoritário, Chiang Kai-Shek,
permanece imortalizado em Taipei, onde
um mausoléu de mármore de proporções
faraônicas foi erguido em sua homenagem.
Taipei é diferente em quase tudo das
cidades da China continental. Cidade de
ruas estreitas e cheias de vida, inundada
por cartazes, letreiros coloridos de neon e
aromas de barraquinhas de comida de rua,
Taipei permanece acesa noite adentro. Ao
contrário de Xangai ou Pequim, onde os
restaurantes fecham cedo, na capital da
“outra China” é possível achar desde tofú
fedido até roupas da última moda em
mercados noturnos abertos até alta madrugada – provas do dinamismo do seu
mercado interno e do elevado poder de
consumo da população do Tigre Asiático.
Renata Pires é mestre em
desenvolvimento internacional pela
London School of Economics e trabalha
para a Organização Internacional para
Imigração, em Londres
MAIO 2010
11
PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O
Stock.xchng
Nelson Bacic Olic
Da Redação de Mundo
Série sobre os oceanos e mares
EUA, ÍNDIA E CHINA EXERCEM
INFLUÊNCIA NA ÁREA DO ÍNDICO
C H I N A
TURQUIA
OCEANO
PACÍFICO
AFEG.
IRÃ
PAQUISTÃO
G.
PÉ
RS
ARÁBIA ICO
EGITO
BANGL.
MIANMAR
ÍNDIA
SAUDITA
TAIL.
VIETNÃ
OMÃ
GOLFO DE
BENGALA
IEMEN
SUDÃO
QUÊNIA
r
ado
Equ
MALÁSIA
SING.
I N D O N É S I A
MALDIVAS
SO
M
ETIÓPIA
ÁL
IA
SRI
LANKA
OCEANO
IS.
SEYCHELES
E
IQU
MB
IS.
COMORES
MA
DAG
ASC
AR
TANZÂNIA
ÇA
om extensão bem inferior às dos oceanos Pacífico e Atlântico, o Índico banha cerca de 40 países que se localizam
entre a costa leste da África e o litoral
ocidental da Austrália. Ao sul, seu limite
é o paralelo 60º S, desde o cabo das Agulhas (África do Sul), até a ilha da
Tasmânia (Austrália). Em virtude de seus
recortes litorâneos, existem no Índico
estreitos de grande importância estratégica como os de Bab-el-Mandeb, Ormuz
e Málaca, além de inúmeros arquipélagos e penínsulas (veja o mapa).
Algumas das primeiras civilizações do
mundo, como as da Mesopotâmia, do
Antigo Egito e do Subcontinente Indiano, que surgiram ao longo de vales fluviais como os do Tigre, Eufrates, Nilo e
Indo, desenvolveram-se próximas do litoral do Índico. Nas primeiras décadas
do século XV, o almirante Zheng He liderou frotas de navios do então Império
da China em várias viagens pelo Oceano Ocidental, como os chineses denominavam o Índico.
Ao final daquele século, Vasco da
Gama contornou o Cabo da Boa Esperança e os europeus estenderam a sua influência para a região. Num primeiro
momento, Portugal esteve à frente, construindo fortificações nos estreitos e portos mais importantes. Mas, rapidamente, o país foi perdendo espaço para
Holanda, França e Grã-Bretanha. No
século XIX, a Grã-Bretanha se transformou na potência dominante da região,
especialmente após a abertura do Canal
de Suez, inaugurado em 1869.
Após a Segunda Guerra Mundial, os
Estados Unidos substituíram a Grã-Bretanha na esfera do Índico, quase ao mesmo tempo em que a União Soviética desenvolveu a estratégia de ampliar sua influência geopolítica junto a países da região. O choque de interesses levou as duas
superpotências a se envolverem, direta e
indiretamente, em todos os conflitos que
ocorreram na região que bordeja o Índico
durante a Guerra Fria, como no Sudeste
MO
C
A BACIA DO ÍNDICO
Base de
Diego Garcia
(EUA)
AUSTRÁLIA
ÍNDICO
IS.
MAURÍCIO
TASMÂNIA
ÁFRICA
ta
bo
DO SUL Ro
Ca
o
d
Projecão Bertin
Países banhados pelo Índico
Principais Estreitos (1- Bab-el-Mandeb / 2 - Ormuz / 3 - Málaca)
Região afetada por atos de pirataria
Asiático (Indochina), Oriente Médio, Afeganistão e África Austral.
Atualmente, três países – Estados Unidos, Índia e China – possuem grandes interesses geopolíticos na região. Como única potência verdadeiramente global, os Estados Unidos estão ali presentes através de
bases militares e facilidades oferecidas por
países aliados. A presença da hiperpotência
ampliou-se a partir de 2001, em decorrência das ações militares no Afeganistão.
A posição estratégica crucial de Washington é a base de Diego Garcia, situada a meio caminho entre a África e a
Indonésia. Com apenas 44 km2 de extensão, o atol onde está situada tornou-se território britânico no século XIX. Na década de 1960, o governo britânico firmou
um acordo com os Estados Unidos transformando a ilha em base militar. Para que
ela fosse construída, cerca de 2 mil habitantes foram transferidos compulsoriamente para as ilhas Maurício.
Com mais de 7 mil quilômetros de linha costeira, a Índia é o único dos três países que possui litoral no Índico. Sua vasta
e rica Zona Econômica Exclusiva exige
constante vigilância, especialmente porque
o país vê com preocupação o aumento da
presença chinesa na área. A Índia julga fundamental tornar seguras suas rotas marítimas e, por isso, busca a cooperação com os
governos da ilhas Seychelles e Maurício, a
fim de dispor de facilidades de escala ou de
bases permanentes.
O Índico é essencial para o comércio
da China. Por ele, transitam cerca de um
quarto de suas exportações e 15% das
importações. Aproximadamente 75% das
importações chinesas de hidrocarbonetos,
essenciais para sua segurança energética,
circulam por suas rotas. A estratégia de
Pequim é de dispor de bases navais e facilidades nesse espaço marítimo. A política
da China para o oceano mira três objetivos maiores: fazer frente à multiplicação
de atos de pirataria, garantir a segurança de seus navios e, no caso de um conflito, defender seus interesses na área.
O estreito de Málaca é a passagem
mais vulnerável. Este estreito, juntamente com o de Cingapura, constitui uma
das principais artérias comerciais do
mundo, já que por ali transita a maior
parte dos bens intercambiados entre a
Europa e Ásia. Nessa região, entre a
Malásia, Indonésia e Cingapura, agem
inúmeros grupos criminosos assaltando
os navios. Nos últimos anos houve também crescimento de atos de pirataria
junto às costas da Somália. A multiplicação de atentados perpetrados por extremistas islâmicos tem reforçado a ideia
de ataques suicidas contra petroleiros.
Outra preocupação da China é a forte presença dos Estados Unidos na região de Málaca. Na hipótese de uma
crise dramática entre os dois países, os
americanos não teriam grandes dificuldades em paralisar o comércio chinês,
estrangulando a passagem no estreito.
O sentimento de vulnerabilidade é ainda mais acentuado pela circunstância de
que a China não possui nenhuma base
naval verdadeiramente operacional na
região capaz de sustentar missões de segurança prolongadas. No momento, a
estratégia naval de Pequim se apoia principalmente em Mianmar, Bangladesh,
Maldivas e Paquistão.
O regime ditatorial de Mianmar ofereceu a Pequim um acesso marítimo ao
golfo de Bengala. Em Bangladesh, os
chineses obtiveram facilidades navais no
porto de Chittagong. Nas ilhas Maldivas, a China poderá construir uma base
naval destinada a seus submarinos.
Quanto ao Paquistão, o interesse é o
porto de Gwadar, cuja construção foi
possível graças ao apoio técnico e financeiro de Pequim. O uso do porto permitiria a ligação terrestre entre o Índico
e a região ocidental chinesa do Xinjiang
através do Paquistão, evitando o caminho dos estreitos do Sudeste Asiático.
2010 MAIO
M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A M U N D O PA N G E A
12