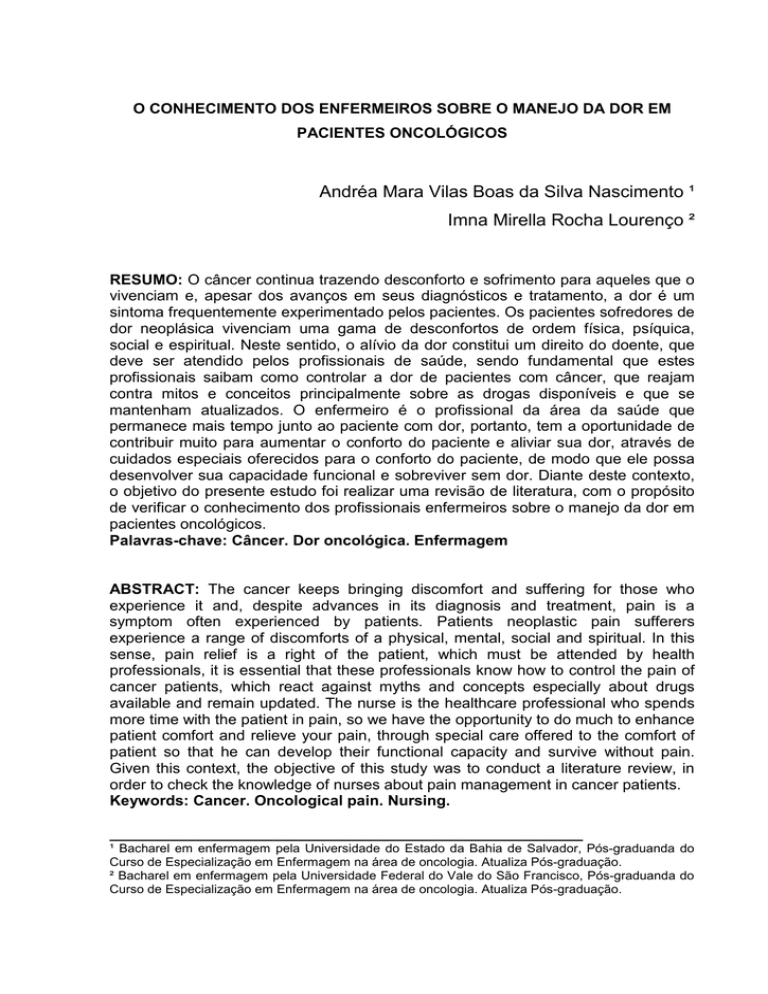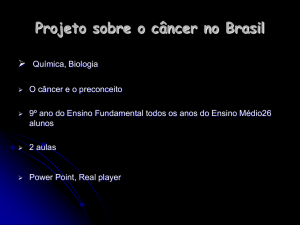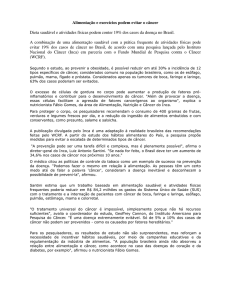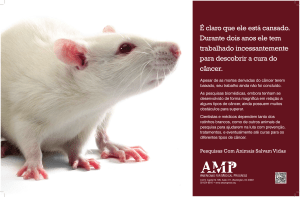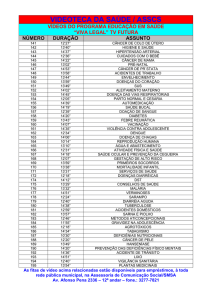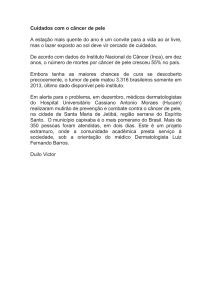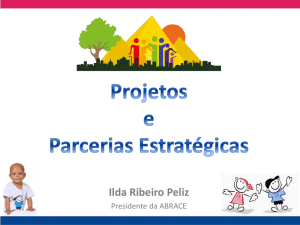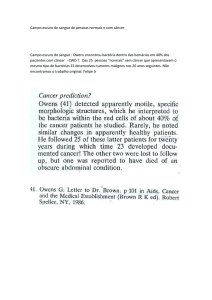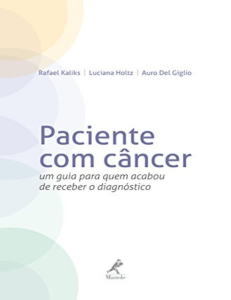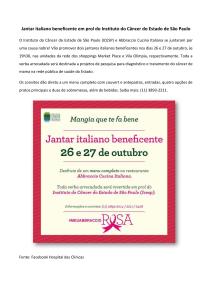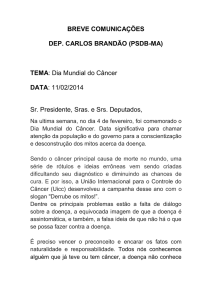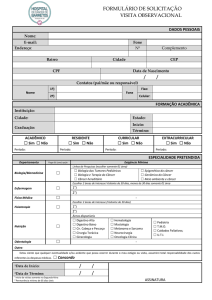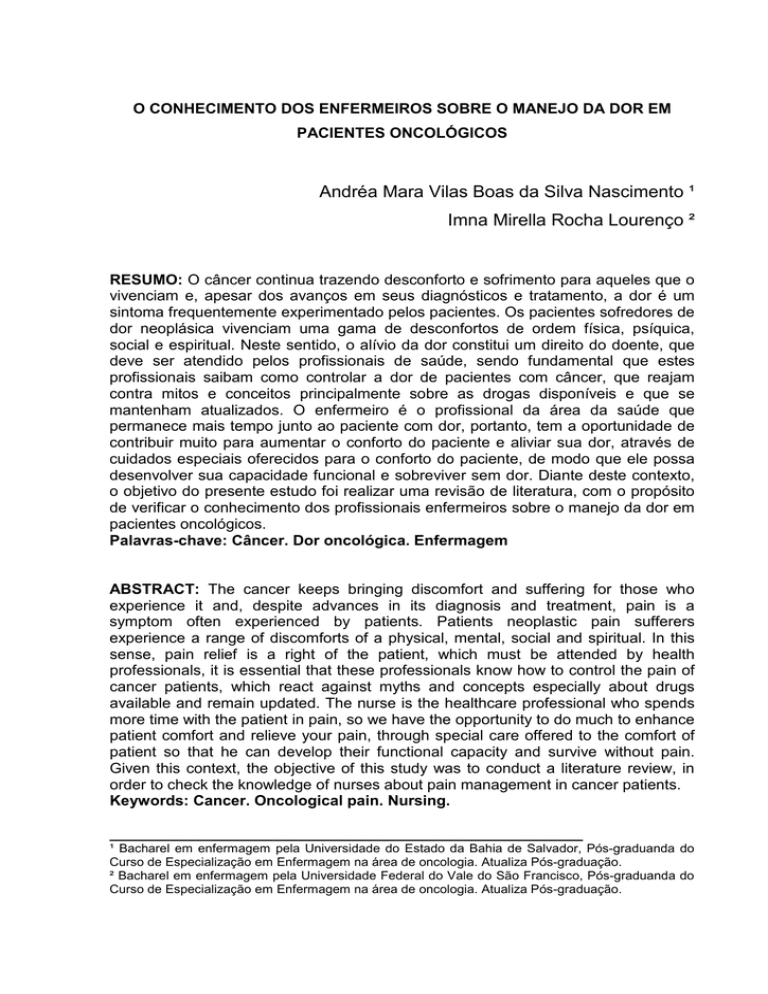
O CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE O MANEJO DA DOR EM
PACIENTES ONCOLÓGICOS
Andréa Mara Vilas Boas da Silva Nascimento ¹
Imna Mirella Rocha Lourenço ²
RESUMO: O câncer continua trazendo desconforto e sofrimento para aqueles que o
vivenciam e, apesar dos avanços em seus diagnósticos e tratamento, a dor é um
sintoma frequentemente experimentado pelos pacientes. Os pacientes sofredores de
dor neoplásica vivenciam uma gama de desconfortos de ordem física, psíquica,
social e espiritual. Neste sentido, o alívio da dor constitui um direito do doente, que
deve ser atendido pelos profissionais de saúde, sendo fundamental que estes
profissionais saibam como controlar a dor de pacientes com câncer, que reajam
contra mitos e conceitos principalmente sobre as drogas disponíveis e que se
mantenham atualizados. O enfermeiro é o profissional da área da saúde que
permanece mais tempo junto ao paciente com dor, portanto, tem a oportunidade de
contribuir muito para aumentar o conforto do paciente e aliviar sua dor, através de
cuidados especiais oferecidos para o conforto do paciente, de modo que ele possa
desenvolver sua capacidade funcional e sobreviver sem dor. Diante deste contexto,
o objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão de literatura, com o propósito
de verificar o conhecimento dos profissionais enfermeiros sobre o manejo da dor em
pacientes oncológicos.
Palavras-chave: Câncer. Dor oncológica. Enfermagem
ABSTRACT: The cancer keeps bringing discomfort and suffering for those who
experience it and, despite advances in its diagnosis and treatment, pain is a
symptom often experienced by patients. Patients neoplastic pain sufferers
experience a range of discomforts of a physical, mental, social and spiritual. In this
sense, pain relief is a right of the patient, which must be attended by health
professionals, it is essential that these professionals know how to control the pain of
cancer patients, which react against myths and concepts especially about drugs
available and remain updated. The nurse is the healthcare professional who spends
more time with the patient in pain, so we have the opportunity to do much to enhance
patient comfort and relieve your pain, through special care offered to the comfort of
patient so that he can develop their functional capacity and survive without pain.
Given this context, the objective of this study was to conduct a literature review, in
order to check the knowledge of nurses about pain management in cancer patients.
Keywords: Cancer. Oncological pain. Nursing.
_______________________________________________________
¹ Bacharel em enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia de Salvador, Pós-graduanda do
Curso de Especialização em Enfermagem na área de oncologia. Atualiza Pós-graduação.
² Bacharel em enfermagem pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Pós-graduanda do
Curso de Especialização em Enfermagem na área de oncologia. Atualiza Pós-graduação.
2
1 INTRODUÇÃO
Mais de 12,7 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas todo ano com
câncer e cerca de 7,6 milhões de pessoas morrem vítimas da doença (IASP, 2008).
O termo câncer é empregado para designar mais de uma centena de
diferentes doenças (BRASIL, 2009). Os sintomas mais frequentemente relatados por
pacientes com câncer avançado são dor (64%), anorexia (34%), constipação
intestinal (32%), fadiga (32%) e dispneia (31%) (CORADAZZI E OLIVEIRA, 2011).
O controle da dor do câncer é um assunto que tem despertado interesse e
questionamentos na comunidade médico-científica e, também, entre outros
profissionais da saúde que lidam, diretamente, com o paciente portador da dor
oncológica (SAMPAIO; MOURA; RESENDE, 2005).
O enfermeiro é um dos profissionais que trabalha de forma direta com o
paciente oncológico, não só durante seu tratamento, mas também na fase paliativa
da doença, quando a dor é o sintoma mais freqüente e causa de sofrimento desse
paciente.
Dessa forma, o estudo teve como objetivo revisar a literatura científica para
verificar o conhecimento dos profissionais enfermeiros sobre o manejo da dor em
pacientes oncológicos.
1.1 REFERENCIAL TEÓRICO
Conhecido há muitos séculos, o câncer foi amplamente considerado como
uma doença dos países desenvolvidos e com grandes recursos financeiros. Há
aproximadamente quatro décadas, a situação vem mudando, e a maior parte do
ônus global do câncer pode ser observada em países em desenvolvimento. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que, no ano 2030, podem-se esperar
27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75
milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer. O maior efeito desse aumento
vai incidir em países de baixa e média renda (BRASIL, 2011).
3
No Brasil, as estimativas para o ano de 2012 serão as mesmas para o ano de
2013 e aponta a ocorrência de aproximadamente 518.510 casos novos de câncer,
reforçando a magnitude do problema do câncer no país. Os tipos mais incidentes
serão os cânceres de pele não melanoma, próstata, pulmão, cólon e reto e
estômago para o sexo masculino; e os cânceres de pele não melanoma, mama, colo
do útero, cólon e reto e glândula tireóide para o sexo feminino (BRASIL, 2011).
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 80% dos pacientes com câncer em
progressão experimentarão dor em algum momento da evolução da doença. Afirma
também que a dor é uma das mais freqüentes razões de incapacidade e sofrimento
para estes pacientes (BRASIL, 2001).
O fenômeno doloroso segue descrito na história da humanidade, sendo
interpretado e tratado conforme a concepção vigente de cada época. A
experimentação sempre esteve presente e a utilização de ervas e outras medidas
foram se consolidando pelos resultados obtidos na observação empírica,
constituindo um corpo de conhecimentos que embasam, ainda, muitas das
intervenções atuais.
Séculos de busca pelo saber e constatou-se que nos últimos 20 anos, são
inúmeros os trabalhos que apontam para a sub-identificação e sub-tratamento da
dor, apesar do expressivo número de publicações sobre o tema (CHAVES; LEÃO,
2004).
A dor é um fenômeno humano passível de explicação do ponto de vista da
filosofia, mas que ao mesmo tempo, requer compreensão, sendo um fenômeno da
ordem da subjetividade e, portanto, carregado de significado para quem a sente
(CHAVES; LEÃO, 2004).
A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) define a dor como
uma experiência emocional, com sensação desagradável, associada à lesão tecidual
presente, potencial ou descrito nos termos de tal dano. Trata-se de uma
manifestação subjetiva, que envolve mecanismos físicos, psíquicos e culturais
(CALIU; PIMENTA, 2005).
A dor pode ser classificada de acordo com o seu mecanismo fisiopatológico
em dor nociceptiva e dor neuropática. A primeira compreende a dor somática e
visceral e ocorre diretamente por estimulação química ou física de terminações
nervosas normais, resultante de danos teciduais no qual a mensagem de dor viaja
dos receptores de dor (nociceptores), nos tecidos periféricos, através de neurônios
4
intactos, até a medula espinhal e estruturas corticais e sub-corticais e, a segunda,
resulta de alguma injúria a um nervo ou de função nervosa anormal em qualquer
ponto ao longo das linhas de transmissão neuronal, dos tecidos mais periféricos ao
sistema nervoso central (RANG et al, 2007).
Ainda quanto a sua classificação, a dor pode ser caracterizada em aguda e
crônica, distinguindo entre si por seu tempo de duração, em que a dor aguda tem
início súbito e duração limitada e a dor crônica é uma dor prolongada no tempo,
normalmente com difícil identificação temporal e/ou causal, que causa sofrimento,
podendo manifestar-se com várias características e gerar diversos estádios
patológicos (ALVES NETO, et al, 2009).
Para Moreira Júnior & Souza (2003) dor aguda é funcional e pode ser
considerada basicamente uma resposta fisiológica ao dano tecidual, enquanto que a
dor crônica envolve mecanismos psicológicos e comportamentais que conferem
ainda mais complexidade ao caráter subjetivo desse tipo de dor.
Na experiência dolorosa, além da etiologia e do seu caráter temporal, os
aspectos sensitivos, emocionais e culturais são indissociáveis e devem ser
igualmente investigados.
Como evidenciado anteriormente, a dor é a manifestação mais freqüente em
pacientes com câncer e pode ocorrer em qualquer momento durante a doença
resultando em desconforto para os pacientes, portanto a queixa de dor deve ser
sempre valorizada e respeitada para que as intervenções sejam implementadas de
formas eficazes.
A dor associada ao câncer possui etiologia multifatorial, podendo ser
relacionada ao tumor primário ou suas metástases, à terapia anticancerosa e aos
métodos de investigação. Seu controle merece prioridade por várias razões, uma
vez que o não tratamento da dor causa sofrimento desnecessário. A dor prejudica a
atividade física, o apetite e o sono, podendo debilitar ainda mais o paciente (DUCCI
& PIMENTA, 2003).
As estimativas da prevalência da dor no câncer têm variado bastante,
principalmente pela falta de padronização nas definições de dor e nas medidas
usadas para avaliá-la, e por causa da heterogeneidade de condições de dor
nociceptiva e neuropática (IASP, 2008).
De acordo com a estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), das
cinco milhões de pessoas que morrem de câncer a cada ano, quatro milhões
5
morrem com dor não controlada. Entretanto, muito do sofrimento provocado pela dor
é desnecessário, pois mais de 90% dos casos de dor no câncer podem ser
efetivamente controlados (DUCCI; PIMENTA, 2003).
Segundo o INCA a prevalência da dor em pacientes com câncer aumenta
com a progressão da doença, estima-se que 30% dos pacientes com câncer
recebendo tratamento apresentem dores moderada a intensa em contrapartida aos
60 a 90% de manifestação dolorosa dos pacientes com câncer avançado (BRASIL,
2001).
É condição imprescindível que os profissionais de saúde saibam como
controlar a dor de pacientes com câncer avançado, que reajam contra mitos e
conceitos principalmente sobre as drogas disponíveis e que se mantenham
atualizados (BRASIL, 2001).
Para que o tratamento seja efetivo é necessário reconhecer que a dor no
câncer tem origem multifatorial, isto é, o sucesso no tratamento da dor requer uma
avaliação cuidadosa de sua natureza, entendimento dos diferentes tipos e padrões
de dor e conhecimento do melhor tratamento. No entanto, apesar do considerável
progresso científico e farmacológico, a dor continua sendo substancialmente
subtratada (BRASIL, 2001).
O enfermeiro é o profissional da área da saúde que permanece mais tempo
junto ao paciente com dor, portanto, tem a oportunidade de contribuir muito para
aumentar o conforto do paciente e aliviar sua dor, através de cuidados especiais
oferecidos para o conforto do paciente, de modo que ele possa desenvolver sua
capacidade funcional e sobreviver sem dor.
Assim, o adequado preparo de enfermeiros é estratégia fundamental para o
controle da dor e demais sintomas prevalentes em pacientes com câncer avançado,
uma vez que, avaliam a resposta a terapêuticas e a ocorrência de efeitos colaterais,
colaboram na reorganização do esquema analgésico e propõem estratégias não
farmacológicas, auxiliam no ajuste de atitudes e expectativas sobre os tratamentos,
preparam os doentes e treinam cuidadores para a alta hospitalar (BRASIL, 2001).
6
2 METODOLOGIA
A revisão bibliográfica do tipo descritiva foi o método adotado para a
pesquisa. Noronha e Ferreira (2000) definem revisão bibliográfica como estudos que
analisam a produção bibliográfica em determinada área temática, dentro de um
recorte de tempo, fornecendo uma visão geral ou um relatório do estado-da-arte
sobre um tópico específico, evidenciando novas idéias, métodos, subtemas que têm
recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada.
Taylor e Procter (2001) ratificam a definição de Noronha e Ferreira (2000),
pois definem revisão de literatura como uma tomada de contas sobre o que foi
publicado acerca de um tópico específico.
Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados como referências artigos
científicos publicados em revistas eletrônicas brasileiras de elevado prestígio na
comunidade científica, bases de dados da internet como Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS), LILACS e SCIELO, utilizando como base os artigos publicados entre os anos
de 2000 e 2012, com o auxílio dos seguintes descritores: câncer; dor e enfermagem.
De acordo com os descritores utilizados foram encontrados 37 artigos, destes
10 se identificaram com o assunto.
Foram incluídos nesse trabalho: pesquisas e livros mais recentes e/ou de
referência sobre o tema. A busca realizada foi limitada aos artigos publicados em
português, espanhol e inglês. Outras referências encontradas manualmente, a partir
da busca inicial, foram consideradas.
7
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O problema da dor no paciente com câncer é preocupante e exige atuação
eficaz dos profissionais de saúde para seu manejo (MORAES, 2007). Por isso, fazse necessário, antes de se programar a terapêutica complementar, o conhecimento
sobre a dor associada ao câncer, suas causas e os mecanismos fisiopatológicos
envolvidos.
Considerando que o processo doloroso prejudica o doente com câncer em
todas as suas dimensões (física, psicológica, social e espiritual), a sua abordagem
deve ser ampla e de forma integral, devendo ser visto como um ser biopsicossocial
que apresenta não apenas uma doença ou uma dor, mas todo o sofrimento
ocasionado por ela (SAMPAIO; MOURA; RESENDE, 2005).
Os resultados e discussões desse estudo foram analisados em 3 categorias:
a) a problemática da dor em pacientes com câncer, b) o manejo da dor oncológica
pela equipe multidisciplinar e c) o conhecimento do enfermeiro acerca do manejo da
dor oncológica.
3.1 A problemática da dor em pacientes com câncer
A preocupação com a compreensão da dor do paciente oncológico tem
aumentado muito nestes últimos anos, assim como os recursos terapêuticos, mas a
dor ainda permanece sem resposta satisfatória. Esse tema continua incomodando
muitos profissionais da saúde, estimulando-os a buscar respostas nas pesquisas,
para melhor avaliação e seu controle (SILVA; ZAGO, 2001).
A dor é uma manifestação freqüente em neoplasias malignas em todas as
fases e se acentua com a evolução da doença. Pode estar presente em 20% a 50%
dos doentes no início do tratamento e ocorrer em cerca de 70% - 90% daqueles com
doença avançada (SILVA & PIMENTA, 2003), muitas vezes, por ação direta do
tumor, invadindo e comprimindo vasos e terminações sensitivas ou decorrente do
próprio tratamento oncológico, destacando-se os procedimentos operatórios, a
radioterapia e a quimioterapia (IKSILARA, 2004).
8
Por conseguinte, por ser algo subjetivo, difícil de interpretar ou descrever,
muitas vezes, a dor é subdiagnosticada e subtratada, principalmente em pacientes
com câncer, nos quais as variáveis psicológicas e outras comorbidades clínicas
contribuem para a inadequada abordagem da dor e, consecutivamente, queda da
qualidade de vida (PENA; BARBOSA; ISHIKAWA, 2008).
Os estudos evidenciam que a dor, quando não aliviada, limita o indivíduo nas
atividades de vida diária, altera o apetite, o padrão de sono, a deambulação, a
movimentação, o humor, o lazer, as atividades profissionais, sociais e familiares.
Nos doentes com câncer a dor pode desencadear frustração, processo depressivo,
isolamento social e familiar, exacerbação do medo e da dor. A dor, quando não
tratada adequadamente, afeta a qualidade de vida dos doentes e de seus
cuidadores em todas as dimensões: física, psicológica, social e espiritual (SILVA &
PIMENTA, 2003).
Dentre os fatores que influenciam a sensação dolorosa, evidenciam-se os
sentimentos e as experiências emocionais como mágoa, luto, temor, angústia e
culpa. Portanto, a reação a um estímulo doloroso é individual, depende do estado
físico e emocional do sujeito em situação a dor (SILVA; ZAGO, 2001).
O alívio da dor oncológica é um trabalho delicado, que demanda
conhecimento técnico e científico por parte do profissional que presta cuidado e,
sobretudo, sensibilidade para atender a todas as necessidades do paciente, quer
sejam físicas, emocionais, psicossociais e espirituais e, posteriormente, intervir não
somente no quadro doloroso, mas também no sofrimento decorrente da dor e da
doença (FONSECA; BRITTO, 2009).
Assim, o relato da experiência dolorosa pelo paciente aos profissionais de
saúde é fundamental para a compreensão do quadro álgico, implementação de
medidas analgésicas e avaliação da eficácia terapêutica.
3.2 O manejo da dor oncológica pela equipe multidisciplinar
É fundamental, salientarmos a importância da multidisciplinaridade e da
interdisciplinaridade, diante das necessidades do paciente oncológico. O tratamento
9
da dor oncológica é complexo, e seu sucesso terapêutico requer múltiplos esforços
para a obtenção de bons resultados.
A abordagem do paciente oncológico deve ser ampla e de forma integral; ele
deve ser visto como um ser biopsicossocial que carrega não apenas uma doença ou
uma dor, mas todo o sofrimento causado por ela.
É preciso ressaltar que a avaliação da experiência dolorosa não é um
procedimento simples, visto tratar-se de fenômeno individual e subjetivo, cuja
interpretação e expressão envolvem elementos sensitivos, emocionais e culturais.
Os objetivos da avaliação são caracterizar a experiência dolorosa em todos os seus
domínios, identificar os aspectos que possam estar determinando ou contribuindo
para manifestação dos sintomas, aferir as repercussões da dor no funcionamento
biológico, emocional e social do indivíduo. Acredita-se que o insuficiente controle da
dor deva-se à avaliação inadequada (SILVA; ZAGO, 2001).
A experiência dolorosa é um fenômeno individual e, para caracterizá-la,
devem ser realizadas avaliações sistemáticas. O registro de tais informações permite
que os dados sejam compartilhados entre os diversos plantões e a equipe
multiprofissional, possibilitando melhor assistência. A comunicação entre o doente e
os profissionais que o atendem é de extrema importância para compreensão do
quadro álgico e de seu alívio (PIMNENTA; SILVA, 2003).
O alívio da dor e do sofrimento aumenta a tolerância dos pacientes aos
procedimentos diagnósticos e terapêuticos do câncer, proporcionando ao doente
maior bem estar, melhora funcional e melhor qualidade de vida (SAMPAIO; MOURA;
RESENDE, 2005). Sendo assim, Silva e colaboradores (2007) relatam que o
controle da dor é mais efetivo quando há o emprego de uma abordagem multimodal,
que abranja, tanto intervenções farmacológicas, quanto não farmacológicas.
Apesar dos esforços no sentido de se construir um novo modelo que possa ir
ao encontro da integralidade na assistência, ainda predomina na maioria das
escolas um modelo centrado na racionalidade técnica, na transmissão do
conhecimento, numa ótica de que para assegurar a qualidade da formação, o
exercício profissional, deva ser precedido de uma sólida base científica. Essa
formação, essencialmente voltada para a dimensão biológica favorece o despreparo
desses profissionais para enfrentar as outras dimensões presentes em sua prática
profissional (LIMA; RIBEIRO, 2002).
10
Talvez esse fato justifique os resultados do estudo com abordagem
multiprofissional realizado por Menossi & Lima (2004), os quais constataram que
entre os tratamentos utilizados para o alívio da dor das crianças e adolescentes com
câncer, o recurso medicamentoso destaca-se como a principal intervenção a ser
utilizada, evidenciando a predominância do eixo biológico. Outro aspecto relevante
foi à referência à dor de forma compartimentalizada, diferenciando a dor
física/orgânica e a dor psicológica/emocional o que os fizeram concluir que a
separação entre dor física e dor psíquica é limitante, dado que o físico e o psíquico
não são isoláveis.
A avaliação da dor é um importante passo para o planejamento do cuidado.
Ela impõe não apenas a determinação do problema físico do paciente, mas também
os elementos psicológicos, sociais e emocionais do seu sofrimento e deve ser
realizada, em conjunto, por todos os profissionais que acompanham o paciente
(SILVA; ZAGO, 2001).
Entretanto, para poder proporcionar aos pacientes esse cuidado, é
fundamental que os profissionais desenvolvam conhecimentos sobre a dor e, por
meio dele, alcance condições de avaliar e dimensionar a sua complexidade
(WATERKEMPER; REIBNITZ, 2010).
Portanto, é preciso uma avaliação conjunta dos profissionais, que possibilite a
percepção dos diferentes componentes envolvidos na dor que se evidencia no
paciente com câncer e conseqüentemente, permita a escolha da melhor forma de
intervenção entre as possibilidades terapêuticas existentes e a avaliação da eficácia
da terapêutica escolhida, considerando-se as peculiaridades de cada paciente e
cada família.
3.3 O conhecimento do enfermeiro acerca do manejo da dor oncológica
A dor é um dos sinais e sintomas que o paciente com câncer mais apresenta
e relata. O seu controle para o alívio do desconforto e sofrimento é uma das
preocupações mais presentes no dia-a-dia do enfermeiro que trabalha com esse tipo
de paciente, assim, a atuação do profissional, de modo independente e colaborativo,
11
compreende a identificação de queixa álgica e a seleção de estratégias para seu
controle (WATERKEMPER; REIBNITZ, 2010).
Se no tratamento de pacientes com dor é necessário considerar vários fatores
que interagem no processo, ressalta-se a importância de analisar e compreender a
dor como decorrente desses fatores, e não isoladamente, visto que o objetivo do
tratamento é a reabilitação global do indivíduo e não apenas corrigir um dos
aspectos isolados de sua expressão sintomática. Nesse sentido, a avaliação da dor,
pelo enfermeiro, é o ponto fundamental para o planejamento do tratamento e do
cuidado (SILVA; ZAGO, 2001).
Assim, o enfermeiro deve exercer seu papel no controle da dor, uma vez que
tem responsabilidade na avaliação diagnóstica, na intervenção e monitorização dos
resultados do tratamento, na comunicação das informações da dor do paciente,
como membro da equipe de saúde (SILVA; ZAGO, 2001).
Portanto, vem se evidenciando a atuação do enfermeiro no manejo da dor,
pois, geralmente, pela maior proximidade junto aos que necessitam de cuidados, é
ele quem faz a identificação do quadro álgico, avaliação da dor, notificação, quando
necessário, à equipe médica, implementação da terapêutica prescrita e avaliação da
analgesia, além de desempenhar outras atividades relacionadas à reabilitação global
do indivíduo (SILVA; LEÃO, 2007).
Neste sentido, o enfermeiro pode utilizar diversas técnicas não invasivas, no
controle da dor no doente com câncer, que incluem medidas de ordem educacional,
física, emocional, comportamental e espiritual (PIMENTA; FERREIRA, 2006).
Porém, os enfermeiros apontam a falta de conhecimento para atuar de forma
mais efetiva, utilizando outras intervenções além do recurso medicamentoso e a falta
de autonomia como obstáculos ao cuidado desses pacientes (MENOSSI; LIMA,
2004).
O estudo realizado por Silva & Zago (2001) ratificam a descrição acima ao
concluírem que os critérios utilizados pelos enfermeiros para avaliarem a dor crônica
do paciente oncológico demonstram que eles baseiam-se na sua empatia com o
paciente, nas respostas emocionais e sociais dos pacientes, porém, também
explicitam noções insuficientes sobre o tema. As suas impressões estão
fundamentadas na cultura popular sobre a dor, determinada por suas crenças e
valores. Assim, esse processo não é sistemático, não há utilização de protocolos, é
12
essencialmente subjetivo e inadequado, incoerente com o conhecimento científico
que deve fundamentar a prática profissional.
Um estudo desenvolvido por Fonseca & Britto (2009), em uma unidade de
cuidados paliativos, também revelou que não há instrumento específico para o
registro das informações sobre a avaliação da dor e os itens que existem no
histórico de enfermagem e prescrição são pouco abrangentes. Além disso, os
enfermeiros e os demais profissionais não aplicam nenhuma escala de avaliação da
dor. Por este motivo, a avaliação da dor dos pacientes com câncer, realizada pelas
enfermeiras que atuam em cuidados paliativos, acontece de forma individualizada e
assistemática sem seguir protocolos ou instrumentos de avaliação.
Além da lacuna da falta de embasamento científico para avaliação e registro
da dor em pacientes oncológicos, a análise da atuação do enfermeiro no tocante ao
manejo da dor, tem evidenciado a falta de registro adequado quanto ao quadro
álgico desses pacientes.
Pimenta & Silva (2003) apontam que os registros de enfermagem sobre a dor
em pacientes oncológicos são limitados, uma vez que houve pouca coincidência
entre os registros e a avaliação dos pacientes sobre seu quadro álgico quanto ao
local, intensidade, duração, qualidade e prejuízos advindos da dor. Assim as autoras
concluíram que a adoção de um padrão de avaliação diária do doente,
especificamente sobre dor, possa contribuir para o aperfeiçoamento da assistência
de enfermagem.
Outra questão apresenta relevância quanto ao preparo desses profissionais
no manejo da dor oncológica, qual seja: a objeção dos enfermeiros em expressarem
suas dificuldades diante do sofrimento causado pelo câncer e pela dor. Assim, o
modo como alguns enfermeiros valorizam o cuidado multidisciplinar não está
baseado na integração de conhecimentos específicos de outras disciplinas mas, sim,
para suprir a sua insegurança em lidar especificamente com os comportamentos
psicossociais do paciente oncológico com dor (SILVA; ZAGO, 2001).
Assim, a incerteza, a tensão do trabalho a importância e a percepção do peso
da tarefa de cuidar do paciente oncológico com dor produzem um desconforto e uma
baixa auto-estima nos enfermeiros. Daí a necessidade deles aprimorarem seus
conhecimentos e habilidades para poderem com segurança e eficiência cuidar do
paciente com dor e de sua família (SILVA; ZAGO, 2001).
13
4 CONCLUSÃO
A abordagem holística do tratamento do câncer lida não só com os aspectos
físicos, os sintomas do paciente, mas também com sua atitude emocional e suas
crenças, a sua habilidade em se recuperar e a sua capacidade de resolver os seus
problemas emocionais.
Hoje se tem um consenso quanto ao caráter subjetivo e multifatorial da dor, o
que requer uma abordagem de tratamento especializada e multidisciplinar, de modo
a identificar e resolver os problemas de comunicação e mensuração da dor e a
ampliar os cuidados terapêuticos oferecidos ao paciente e suporte prestado à família
e cuidadores, e à equipe de saúde.
Apesar da existência de recursos tecnológicos, dentre eles, profissionais
competentes, equipamentos e medicamentos de última geração, instrumentos de
avaliação e protocolos, o atendimento a esses pacientes pode apresentar lacunas
que inviabilizam a constituição de um cuidado integral. Assim, compreendemos que
a composição de distintos saberes, a partir da ação articulada dos profissionais é um
dos fatores necessários para a concretização desse cuidado.
Os enfermeiros descrevem que suas ações são limitadas pela falta de
conhecimento de como intervir na dimensão afetiva ou expressiva. Assim, o cuidado
prestado é baseado no modelo médico, no qual os profissionais têm maior
segurança.
Os resultados deste estudo levam-nos a perspectiva de que a educação
continuada é necessária para eliminar a ignorância disseminada dos profissionais de
saúde sobre o câncer, a dor e o controle da dor no câncer, pois, a atenção deve ser
dada a todos os aspectos do sofrimento – físico, psicológico, social e espiritual.
Devido à magnitude do problema do cuidado com o paciente oncológico com
dor, expostos neste estudo, fazem-se necessárias intervenções que venham
transformar esse cuidado. Como estratégia, consideramos que o currículo de
graduação de enfermeiros deva inserir conteúdos sobre o tema. Em nível
institucional, a educação continuada é a recomendação para se alcançar às metas
de qualidade do cuidado a esses pacientes.
14
REFERÊNCIAS
ALVES NETO, A.; COSTA, C. M. C.; SIQUEIRA, J. T. T., TEIXEIRA, M. J. Dor:
princípios e prática. Porto Alegre: Artmed, 2009. p.27-55, 145-71.
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Cuidados paliativos
oncológicos: controle da dor. Rio de Janeiro: INCA, 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Estimativa 2010:
Incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2009. Disponível em URL:
http://www.inca.gov.br/estimativa/2010/.
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Estimativa 2012:
Incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2011. Disponível em URL:
http://www.inca.gov.br/estimativa/2012/.
CALIL, A. M.; PIMENTA, C. A. M. Intensidade da dor e adequação de analgesia.
Revista Latino Americana de Enfermagem, n.5, v. 13, p. 692-699, 2005.
CHAVES, L. D.; LEÃO, E. R. Dor, o 5º Sinal Vital: Reflexões e Intervenções de
Enfermagem. Curitiba: 2004.
CORADAZZI, A. L.; OLIVEIRA, J. S. Controle dos sintomas no paciente oncológico:
o eterno desafio. Revista Onco&- Oncologia para todas as especialidades, p. 4044, abril/maio, 2011. Disponível em URL:
http://www.revistaonco.com.br/artigos/page/3/.
DUCCI, A. J.; PIMENTA, C. A. M. Programas educativos e a dor oncológica. Revista
Brasileira de Cancerologia, v. 49, n. 3, p. 185-192, 2003.
FONSECA, J. F. D; BRITTO, M. N. Terapias complementares como técnicas
adjuvantes no controle da dor oncológica. Revista Saúde e Pesquisa, v. 2, n. 3, p.
387-395, 2009.
International Association for the Study of Pain. IASP. Ano mundial contra a dor no
câncer. Boletim técnico. Outubro 2008/ 2009. Disponível em URL:
http://www.dor.org.br/profissionais/s_campanhas_cancer.asp
IKSILARA, M. C. Atuação da enfermeira na cordotomia cervical percutânea para
controle da dor oncológica. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 56, n.2, p. 198200, 2003.
LIMA, V. V., RIBEIRO, E. C. O. Desafios na construção de novos modelos
pedagógicos nos cursos de medicina e de enfermagem. Olho Mágico, v.9, n.1, p.
48-48, 2002.
MENOSSI, M. J.; LIMA; R. A. G. A dor da criança e do adolescente com câncer:
dimensões do seu cuidar. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 57, n.2, p. 178-82,
2004.
15
MOREIRA JR. E. D.; SOUZA, M. C. Epidemiologia da dor crônica e dor neuropática:
desenvolvimento de questionário para inquéritos populacionais. Revista Brasileira
de Medicina, v.60, n.8, p.610-615, 2003.
NORONHA, Daisy Pires; FERREIRA, Sueli Mara S. P. Revisões de literatura. In:
CAMPELLO, Bernadete Santos; CONDÓN, Beatriz Valadares; KREMER, Jeannette
Marguerite (orgs.) Fontes de informação para pesquisadores e profissionais.
Belo Horizonte: UFMG, 2000.
RANG, H. P. et al. Rang & Dale Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
p.640-665, 2007.
SAMPAIO, L. R.; MOURA, C.V.; RESENDE, M. A; Recursos fisioterapêuticos no
controle da dor oncológica: revisão da literatura. Revista Brasileira de
Cancerologia, v. 51, n. 4, p. 339-343, 2005.
SILVA, L. M. H., ZAGO, M. M. F.O cuidado do paciente oncológico com dor crônica
na ótica do enfermeiro. Revista Latino-americana de Enfermagem, v. 9, n.4, p. 4449, 2001.
SILVA, E. A. et al. Práticas e condutas que aliviam a dor e o sofrimento em crianças
hospitalizadas. Com. Ciências Saúde, v. 18, n. 2, p. 157-166, 2007.
SILVA, M. J. P.; LEÃO, E. R. Práticas complementares no alívio da dor. In: CHAVES,
L. D.; LEÃO, E. R. Dor 5º sinal Vital: reflexões e intervenções de enfermagem. 2.
ed. São Paulo, SP: Martinari, 2007. p. 557-579.
SILVA, Y. B.; PIMENTA, C. A. M. Análise dos registros de enfermagem sobre dor e
analgesia em doentes hospitalizados. Revista da Escola de Enfermagem da USP,
v. 57, n.2, p. 109-118, 2003.
TAYLOR, D.; PROCTER, M. The literature review: a few tips on conducting it.
Disponível em URL: http://www.utoronto.ca/writing/litrev.html
WATERKEMPER, R.; REIBNITZ, K. S. Cuidados paliativos: a avaliação da dor na
percepção de enfermeiras. Revista Gaúcha de Enfermagem, v.31, n. 1, p. 84-91,
2010.