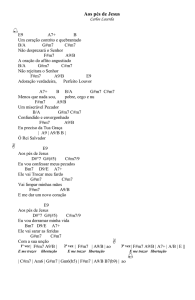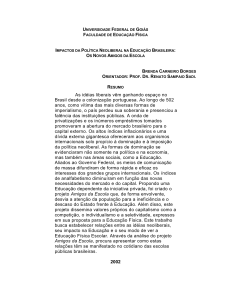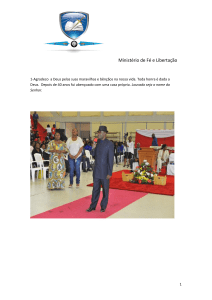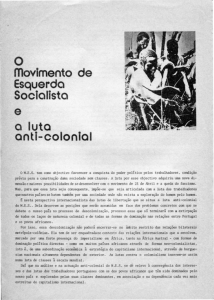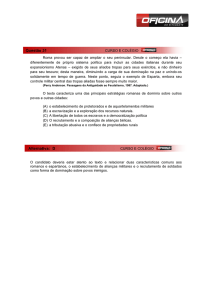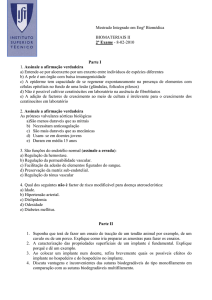Leopoldo Zea
(México)
A Filosofia Latino-americana
como
Filosofia da Libertação
[1973]
O problema da dependência latino-americana, que é também compartilhado por muitas
outras regiões do nosso planeta, faz referência a diversas expressões humana, que vão do político, econômico e social ao que chamamos cultural. Os povos que formam a América Latina
apenas haviam se emancipado de suas metrópoles na Europa: Espanha e Portugal, quando já
se lhes colocaram o problema que muitos de nossos pensadores chamaram “emancipação
mental”. Havia também que se libertar de hábitos, costumes e modos de pensar impostos pelas metrópoles; isto é, de uma certa concepção do mundo e da vida, de uma certa cultura, para
adotar, livremente, a outra. E digo adotar, porque esse foi o miolo do problema colocado. Adotar, e não criar. Adotar o que? Algo já existente, algo já criado. Por quê? Por uma suposta
urgência de tempo. Não bastava arrancar, pela violência, as ligações de dependências política
que os povos latino-americanos tinham com suas metrópoles dominantes, haver-se-ia também
que arrancá-las de imediato, assim como a cultura que lhe fora imposta. Não havê-lo feito
desta forma, deu origem a uma longa e sangrenta guerra intestina, originada da resistência que
os próprios latino-americanos impunham a mudar de hábitos, costumes e cultura. Hábitos,
costumes e cultura, criados pelas metrópoles para garantir seus domínios. Não bastava então
arrancar as ligações políticas, era preciso também arrancar de imediato, todas as relações culturais. Isto é, formas de educação, de pensar e desejar que garantiam o domínio político imposto. À luta pela libertação política, dever-se-ia seguir a luta pela libertação mental e cultural. A longa luta, no século XIX, entre liberais e conservadores, federalistas e unitários, pipiolos e pelucones, futuro contra passado, civilização contra barbárie, foi expressão de novo ato
libertário. Nesta ruptura, sem tempo para criar o futuro, a civilização que deveriam ser, se
adotou os modelos estrangeiros. Isto é, modelos tomados de outras culturas. “Sejamos como o
Estados Unidos da América do Norte!”, pediam alguns dos próceres da emancipação mental
da América. “Sejamos os Ianques do Sul”, propõe outro. “Pensemos ou filosofemos à maneira
inglesa e à francesa”, pedem outros. Porém, por que não ao nosso modo? Porque aqueles modos nos havia sido imposto pelas metrópoles colonizadoras através de três séculos de dominação.
Para libertarmos do domínio cultural das metrópoles ibéricas adotamos os modelos da
cultura chamada ocidental. Nos empenhamos, ao longo do século XIX, em ser como as nações que encarnavam esta cultura. Para libertarmos dos hábitos e costumes da colônia, adotamos a filosofia positivista e prática dos homens que haviam feito do progresso uma meta
sempre aberta. Porém ao fazer isto estávamos, talvez inconscientemente, adotando uma nova
forma de dependência, a dos homens e interesses dos que eram expressão dessa cultura e filosofia imitada. Esta foi a mensagem de José Enrique Rodó ao terminar o século XIX e iniciarse o século XX. Sua mensagem frente à nordomania e outras expressões desta infausta ado-
1
ção. Com a adoção de novos modelos de cultura, de uma suposta filosofia que não havíamos
criado, adotamos, também, formas de submissão a interesses que não eram os nossos. Substituímos o colonialismo ibérico pelo neocolonialismo dos nossos dias. O neocolonialismo que é
agora objeto de nossa reflexão. Uma reflexão que se assemelha em muito à dos próceres de
nossa frustrada emancipação mental, no passado século XIX.
Romper com o passado e adotar um futuro? Foi esta a solução buscada por nossos
emancipadores mentais? Parece tê-lo sido, ainda que não de maneira tão concludente, em vários deles. Foi exemplar a postura de Juan Bautista Alberti, o qual falou não tanto de uma imitação taxativa, como de uma seleção. Seleção na adoção de filosofias que servissem para abrir a possibilidade de uma cultura não-dependente, nossa, americana. Seleção que tivesse sua
origem em nosso modo de ser, um modo de ser que, quiséssemos ou não, havia sido constituído em três longos séculos de dominação. Havia algo neste nosso modo de ser que nos fazia
também aspirar pela conquista da liberdade, que muito embora não havíamos vivido, conhecíamos de alguma forma. Disso falou com grande ênfase Andrés Bello. Havia algo neste nosso
passado que nos impulsionava a libertar-nos da dominação. Deste algo, falava, também, Francisco Bilbao. Este algo, este sentimento de liberdade que não tínhamos adotado, mas que sentíamos como algo próprio, era o que nos impulsionava a lutar e a adotar novas formas de vida.
Adotamos, em meio à urgência, algo que também tínhamos dentro de nós, porém que não nos
havia sido dado na longa noite da dominação imposta pelo imperialismo ibérico. Algo disso
haviam trazido, também, sem saber e sem propor, os próprios dominadores, algo que eles tinham e que acabou por ser também nosso. Tínhamos que selecionar para adotar, porém também era necessário selecionar para negar. Nem tudo devia ser adotado, nem tudo devia ser
negado. Nesta seleção, nesta eleição, entre o que havíamos sido e o que queríamos vir a ser,
estava expresso o que tanto desejávamos: a liberdade. Nossa liberdade. A liberdade que nos
permitia adotar uma determinada forma do passado e uma determinada forma do futuro.
Nossos problemas, o problema do nosso pensamento, da nossa filosofia, se originou
do fato de tratarmos de nos mantermos entre duas abstrações. A abstração de um passado não
considerávamos nossos, e a abstração de um futuro que nos é estranho. Um futuro já realizado
por outros homens que, muito embora tenham algo de comum conosco, pelo fato de haver
sido feito por homens, não é nosso uma vez que não participarmos de sua realização. Queremos saltar de um vazio para outro. O vazio do que negamos e o vazio do que afirmamos. Vazio do que negamos, porque no final das contas não negamos nada, porque o que negamos
está incorporado a nós, constituindo este nosso modo de ser do qual, em vão, buscamos nos
libertar. E vazio do que queremos ser, porque é a negação do que somos. Propomos o modelo
do que queremos ser, porém negamo-nos antes como ser. Deixamos de ser, nos nihilizamos,
para ser algo que ainda não somos. Por isso, querendo escapar de uma dominação caímos em
outra. Nós eliminamos algumas correntes e nos colocamos outras. Não fazemos nosso o passado, para fazer de suas correntes armas da nossa libertação, algo próprio; porém tampouco
fazemos do futuro nosso futuro, mas um futuro que consideramos estranho, tão estranho que
para torná-lo nosso consideramos ser necessário negar-nos. É por isso, que entre nossos primeiros emancipadores mentais se colocou também a questão a respeito do que deveria ser
adotado ou imitado. Era mister adotar, não já os frutos da cultura que nos servia de modelo,
mas o espírito que a havia tornado possível. Imitar, não um determinado sistema filosófico,
mas o espírito que o havia realizado.
Qual era este espírito? O espírito crítico, diríamos em nossos dias, próprios de todos os
homens e povos. A capacidade de selecionar, em função de nosso próprio modo de ser, sem
duvidar desta necessidade. Um modo de ser que, naturalmente sofre mudanças, como toda
expressão do desenvolvimento natural do homem, da humanidade. Deixar de ser algo, não
2
porque se decida que este algo já não nos é próprio, mas porque se deixou de sê-lo, por se
haver tornado algo naturalmente distinto. Porém sempre sendo algo no que se está sendo. Algo inclusive na modalidade do que se foi. O homem deixa de ser menino, ou jovem, para amadurecer, porém só amadurece pelo fato de haver sido menino e jovem. Não por uma decisão impossível de pretender jamais haver sido menino ou jovem. Ao contrário, sendo algo
novo, porém como natural desenvolvimento do que foi. Não iniciar, como ainda se pretende
em nossos dias, a partir do zero. Nossos emancipadores mentais tiveram consciência da impossibilidade deste fato, em que pese falarem também, de “a partir do zero”, do nada, para
poder ser distinto do que se era e do que se queria negar.
Aí está, pelo contrário, a experiência cartesiana. Descartes, o filósofo da modernidade,
– o filósofo da libertação do homem que já havia se perfilado como um renascentista –, falava
de como criar o âmbito de possibilidade de um novo homem. De um homem livre dos supostamente obscuros tempos da Idade Média. Era preciso se criar um mundo para este novo homem, um mundo planejado, feito como as cidades nas quais só interveio um único arquiteto e
não como aquelas cidades nas quais ao longo das épocas se vão acumulando estilos, modos
diversos de habitar e de viver. Construir cidades a partir do “zero”. Em que pese tudo isso,
Descartes pensava que enquanto estas cidades fossem construídas, seria necessário se viver
nas velhas casas. Ou seja, não viver na intempérie. Descartes falou de uma moral provisória
ao falar da necessidade da moral que tornaria possível a passagem do homem de ontem ao
novo homem. Moral provisória, a moral dentro da qual havia surgido a necessidade de mudança. A mudança como semente de um passado que só podia ser negado pela via da assimilação, ou seja, por aquilo que depois Hegel chamou de Aufhebung. Deste modo de ser, do
espírito, próprio dos homens que haviam feito a cultura cujos frutos os latino-americanos nos
empenhamos em imitar, falou Ortega y Gasset dizendo: “O homem europeu foi democrata,
liberal, absolutista, feudal, porém já não o é. Isto quer dizer, rigorosamente falando, que não
continue sendo de algum modo? Claro que não. O homem europeu continua sendo todas estas
coisas, porém o é de na forma de havê-las sido. Se não houvesse feito essas experiências, se
não as tivesse vivido em seu passado e nem continuassem sendo de acordo com essa sua peculiar forma de haver sido, é possível que, diante das dificuldades da vida política atual, resolvesse ensaiar com ilusão alguma dessas atitudes. Porém haver sido é a força que mais automaticamente o que impede de voltar a sê-lo.”
Tal era o espírito, que alguns dos nossos libertadores culturais propunham adotar, em
lugar dos frutos deste espírito, ou seja, constituições políticas, sistemas filosóficos, culturais e
educativos. Não refazer modelos criados por esse espírito, sem criar ou recriar com um espírito ou atitude semelhante que não é, no final das contas, o que é próprio dos europeus senão
algo que seja próprio do homem, de todo homem, em qualquer circunstância. Expressão própria do homem, para manter e ampliar sua liberdade. Adotar modelos que surgissem do nosso
autêntico modo de ser, negar-nos como ser para adotar o que foi expressão de um ato de afirmação de outros homens em outras circunstâncias, que acabam não sendo as próprias, é o que
deu origem a esta nossa permanente subordinação, não só a povos estrangeiros, mas ao próprio espírito dos homens que lhes deram origem, fazendo de nossa aceitação, instrumentos
para sua própria afirmação e desenvolvimento. O mexicano Antonio Caso, expunha em contraposição com aquele espírito europeu de que falava Ortega, o modo de ser que parece próprio dos latino-americanos, dizendo: “Os problemas nacionais jamais foram resolvidos sucessivamente”. “O México, em vez de seguir um processo dialético uniforme e graduado, procedeu acumulativamente”. “Causas profundas, que precedem à Conquista, e muitas outras, que
depois se conjugaram com as primeiras e com todas entre si, engendraram o formidável problema nacional tão abstruso e difícil, tão dramático e desolador”.
3
“Todavia não resolvemos o problema que a Espanha nos legou com a Conquista; ainda
não resolvemos tampouco a questão da democracia, e já está sobre o tapete da discussão histórica, o socialismo em sua forma mais aguda e premente”. Uma vez mais a urgência, a pressa
de copiar modelos como solução para os nossos problemas, em lugar de que essas soluções
sejam o produto de nossa forma de assimilar, de forma a torná-las nossas, assimilando o passado ao presente, para ser o futuro que teremos de ser.
Agora se nos volta a esboçar, como no século XIX, o problema da nossa emancipação
mental e cultural. Emancipar-nos? Libertar-nos? Frente a quê? Agora frente aos frutos de uma
eleição; porque foi uma eleição; a eleição de uma cultura que vão e inutilmente tratamos de
imitar, o que impediu a possibilidade de apoio em si mesmo, em nosso próprio passado. Não
formos liberais, porque não assumimos e assimilamos nosso ser colonial. Porque junto com os
frutos do liberalismo ocidental com o qual pretendemos apagar nosso ser colonial, adotamos
novas formas de subordinação. As que são próprias de uma filosofia que fazia da liberdade de
outros homens instrumento de sua própria liberdade. Filosofia que firmava a liberdade de seus
credores, porém ao mesmo tempo a submissão de outros homens, homens que pareciam ser
alheios a esta liberdade. Se falou de liberdade dos mares e liberdade de comércio, como agora
de liberdade de inversão, para afirmar o direito de alguns interesses sobre outros. Isto é a liberdade como instrumento de dominação, a liberdade como justificação daqueles que em seu
nome afirmaram e afirmam seus interesses, justificando em nome da liberdade crimes na Ásia, na Ásia e na América. O liberalismo, paradoxalmente, como filosofia de dominação. E
com esta filosofia toda uma concepção do mundo, e todo um sistema para justificar que muitos povos continuem submetidos. Se coloca então o problema do que fazer com uma cultura
de dominação, e a filosofia que a justifica, para realizar a própria liberdade, para afirmar uma
filosofia da libertação. Pode, dentro de uma cultura de dominação, surgiram uma cultura livre? Dentro de uma filosofia que justifica a dominação, uma filosofia da libertação? E uma
vez mais se coloca a necessidade de questionar e subverter essa cultura, essa filosofia. Foi esta
mesma preocupação que deu origem a filosofia da libertação dos emancipadores mentais latino-americanos do século XIX. Se questionou, se apresentou a crítica, a herança cultural da
Colônia. E para não pensar dentro dela, para não sofrer o que se considerou, igualmente, sua
influência dominadora, se falou da necessidade de começar do zero. De começar como se não
tivéssemos passado. Adotando, como tal e para transformá-lo em presente, a cultura e a filosofia de um mundo engendrado, na Europa, como réplica ao mundo do qual ainda éramos
dependentes. A modernidade que se havia engendrado na teocracia e feudalismo da Idade
Média européia, se apresenta na América Latina como algo estranho. Tão estranho que a liberdade por ela expressa acabou se convertendo em nova forma de dominação. O que no
mundo chamamos ocidental havia sido resultado de desenvolvimento natural, na América
significou um salto mortal. Ter que deixar de ser para ser algo que ainda não se era. E este
fato Augusto Salazar Bondy chama de inaltenticidade. Esta foi nossa primeira filosofia libertária, uma filosofia inautêntica, e por sê-lo, longe de por fim à situação de domínio a afiançou.
Vamos agora repetir a mesma experiência? Vamos afirmar algo que não saia plenamente de nossas entranhas, como saiu das entranhas dos povos em que uma nova cultura, uma
nova filosofia está se tornando presente?
Qual há de ser, então, a filosofia a ser construída por nossos povos, a filosofia de nossa
libertação? “ ... se torna claro – diz Augusto Salazar Bondy – que a filosofia que temos que
construir não pode ser uma variante de nenhuma das concepções do mundo que corresponde
aos centros de poder de hoje, ligadas como estão aos interesses e metas destas potências. Ao
lado das filosofias vinculadas com os grandes blocos atuais ou de futuro imediato é preciso,
pois, forjar um pensamento que, por sua vez, se enraíze na realidade histórico-social de nossas
4
comunidades e traduza as suas necessidades e metas, sirva como meio para eliminar o subdesenvolvimento e a dominação que tipificam nossa condição histórica”. Por seu lado, Enrique
Dussel, colocou uma necessidade semelhante e, como Salazar Bondy, se perguntou: “E possível uma filosofia autêntica em nosso continente subdesenvolvido, dependente e oprimido cultural e filosoficamente?” “E possível – responde – só com uma condição, que a partir da autoconsciência de sua alienação e opressão, sabendo que está em sua própria frustração, pense a
dialética da dominação a partir de dita opressão e continue pensando a partir da práxis libertadora uma filosofia também libertadora. Ou seja, uma filosofia que emirja da práxis histórica e
que a pense a partir da existência personalizada do filósofo, o qual sabendo-se profeticamente
libertador vive antecipadamente um homem novo”. A partir deste ponto de vista, a filosofia
moderna e européia, na qual nos formamos, assim como a que surgiu da adaptação feita pelos
latino-americanos desta filosofia, pensando que com isto encontraria solução para os nossos
problemas, é uma filosofia inautêntica porque não nasce das nossas necessidades. São filosofias alheias a nós, isto é, inúteis para libertação que desejamos. Dussel falou de uma filosofia
latino-americana dizendo: “A filosofia latino-americana é, então, um novo momento da história da filosofia humana, um momento analógico que nasce depois da modernidade européia,
russa e norte-americana, porém antecedendo à filosofia africana e asiática pós-modernas que
constituirão conosco o próximo futuro mundial: a filosofia dos povos pobres, a filosofia da
libertação humano-mundial”.
Porém analisemos ainda mais a idéia que se vai formando a respeito do que há de ser
esta filosofia da libertação que, ao que parece, surgirá na nossa América. Disse Salazar
Bondy: “A constituição de um pensamento genuíno e original e seu normal desenvolvimento
não poderão surgir sem que se produza uma decisiva transformação de nossa sociedade mediante a eliminação do subdesenvolvimento e da dominação”. Esta filosofia está assim determinada, como possibilidade, pela mudança que há de anteceder-lhe, isto é, a eliminação do subdesenvolvimento e da dominação. Cancelados estes, a filosofia será possível. Nesse caso surgiria uma filosofia livre, autêntica, porém não da libertação, que agora necessitamos porque
esta libertação deverá ser previamente alcançada. “Nossa filosofia genuína e original — acrescenta Salazar Bondy — será o pensamento de uma sociedade autêntica e criadora, tanto
mais valiosa quanto mais altos níveis de plenitude alcance a comunidade hispano-americana”.
Porém aqui voltamos a cair na utopia. À filosofia, nossa suposta filosofia, como uma esperança a mais, como possibilidade que dependerá de mudanças estruturais que ainda não foram
realizadas. Isto é uma volta ao nada. Salazar Bondy é consciente deste fato quando acrescenta,
“porém — esta filosofia — pode começar a ser autêntica como pensamento da negação do
nosso ser e da necessidade de mudança, como consciência da mutação inevitável de nossa
história”. Nesse caso, como uma prévia filosofia da libertação. Como filosofia encaminhada a
dar ao latino-americano, consciência de sua situação de dependência e da necessidade de pôrlhe fim. Porém cuidado para não cair nas novas ilusões, em uma nova inautenticidade.
Porém aqui caímos em algo em que já caíram nossos antepassados e sobre o que já
vínhamos falando. Na negação de nosso ser. Para que o negamos? Para sermos livres!, se poderá nos responder. Porém, livres de quê? Livres de si mesmos? Porém não é nosso o ser que
deve ser mudado. É este ser que deve ser liberto, porém não negado. Frantz Fanón nos disse:
“A descolonização é simplesmente a substituição de uma espécie de homens por outra espécie
de homens”. E acrescenta em outro parágrafo, “pela Europa, por nós mesmos e pela humanidade, companheiros, temos que mudar de pele, desenvolver um pensamento novo, tratar de
criar um homem novo”. Uma “espécie de homens por outra espécie de homens”, “mudar de
pele”, creio que nestas palavras está o centro do problema e, eventualmente, sua solução. Já
não se trata de negar nenhum ser, mas de mudar o modo, a espécie de alguns homens deter-
5
minados, por outro modo de ser ou espécie. Se trata de arrancar destes de uma determinada
pele a da subordinação. Porém, o que há debaixo desta pele? Pura e simplesmente o homem.
Porém, e nisso deve também se insistir, o homem concreto, uma determinada espécie de homem, que não tem porque ser nem mais nem menos homem que o restante da humanidade.
Salazar Bondy, Dussel, Fanón, e aqueles com eles que lutam ou lutaram por uma filosofia da libertação, falam do homem novo e da nova filosofia deste homem. Deste homem
novo também falam, e falaram os filósofos europeus. Porém, falamos os não-europeus do
mesmo homem novo? Penso que uns e outros falamos, pura e simplesmente do homem. Do
homem que teve que ir arrancando a pele da dominação uma e outra vez. E neste sentido toda
a filosofia, até nossos dias, foi uma filosofia de libertação. Porém como é que esta mesma
filosofia pode, por sua vez, se transformar em uma filosofia da dominação? Até agora a libertação parece repousar na dominação de outros homens. Uma espécie de homens se libertam
para impor, por sua vez, sua dominação a outra espécie de homens, até que estes adquiram
consciência e se libertem, porém para impor novas subordinações. Por quê? Parece que a liberdade alcançada repousar na possibilidade da denominação de outros. Isto tem sido assim
até agora. E isto é o que não deve continuar sendo. A liberdade não pode continuar repousando na libertação de um domínio para impô-lo a outros. Na história vemos como o homem
grego se liberta do despotismo do sátrapas orientais, porém para garantir sua liberdade considera impor um novo domínio, a escravidão, sobre o não grego. O bárbaro cristianizado, doador de escravos, se liberta por sua vez do domínio do herdeiro da Grécia, do romano, para
impor, por sua vez, novas formas de subordinação sobre outros homens aos quais considera
menos homens, criando novas servidões, servidões que, o homem do Renascimento se propõe
terminar. A Revolução Francesa, como sua antecessora, a Revolução Estadunidense, serão
uma expressão desta nova filosofia da libertação. Porém, esta mesma filosofia, uma vez supostamente alcançada a libertação do homem por ela eleita, estabelece novas dominações para
supostamente garantir a possibilidade de uma libertação universal. Não é frente a esta filosofia da liberdade-dominação, que se propõe agora outra filosofia da libertação? Entramos em
uma etapa a mais desta história dialética da libertação-dominação? Em sua Fenomenologia e
sua Filosofia da História, Hegel descreveu o desenvolvimento desta dialética. A dialética de
uma filosofia que parecia haver alcançado suas últimas metas na Revolução Francesa; porém
na qual já está gestando uma nova forma de subordinação, subordinação à qual agora pretendemos por fim. Para justificar o novo domínio da filosofia e da história de Hegel põe no campo pura possibilidade, a nossa América, Ásia e África, o conjunto de povos que agora denominamos Terceiro Mundo. Tudo isto é, precisamente, o que não deve ser mantido. Nossa filosofia e nossa libertação, não podem ser só uma etapa a mais da libertação do homem, mas sua
etapa final. O homem a libertar não é só um homem da América e do Terceiro Mundo, mas o
homem, em qualquer lugar que este ser encontre, incluindo o próprio dominador. É esta espécie de homem, o dominador do homem o que deve desaparecer, não o homem. Não o ser, mas
um determinado modo de ser.
Um homem novo, sim; porém um homem que não tenha nem a pele do dominador e
nem a pele do dominado. Isto é, um homem consciente de que o homem não pode e nem deve
ser nem um nem outro. Para conseguir isto terá que assimilar a experiência do que esta [dominação] significou na história do homem, para tal experiência não volte a se repetir. Sartre,
falando de Fanón, disse que este não odeia o branco, o europeu, mas o ignora. Eu não diria
que o ignora, simplesmente já não é o modelo a tomar, senão um homem a mais com seus
problemas especiais. O homem visto por outro homem. Por um homem que, querendo ou não,
se sente parte da humanidade, a partir da qual há de ser criada uma nova imagem do homem,
uma nova espécie de homem. O europeu é a expressão de um tipo de homem que já não deve
6
continuar existindo, porém um homem que, apesar de sua condição, deu a origem ao homem
que agora adquire consciência da dominação sofrida e busca pôr-lhe fim. Este homem ignora,
não o homem de pele branca, mas o homem que está deixando de ser dominador. Já não é o
inimigo, é outro homem, um semelhante, do qual, em todo caso, tem que arrancar a pele de
dominador, porém, evitando, por sua vez, que não se transforme em outro dominado. Não se
trata de fazer do dominado um novo dominador, nem do dominador um novo dominado. Como tampouco se trata de se encontrar novos dominados que nos garantam nossa liberdade.
Creio, como Dussel, que esta filosofia, a filosofia deste novo homem, deve ser analógica, isto
é, capaz de reconhecer no outro o semelhante. Semelhante em sua diversidade, em seu ser
distinto. Porém, não tão distinto, nem tão diverso que acabe acreditando-se um super-homem
ou um sub-homem. Não o homem com uma determinada filosofia abstrata, mas um homem e,
como todo homem concreto, e com uma filosofia que partindo da sua concretude, sua própria
experiência, possa comunicá-la até fazer dela filosofia pura e simplesmente. Não uma filosofia especial, que acabe sendo como as filosofias anteriores da libertação. Isto é, filosofias próprias do homem que as refletiu, disposto sempre a marginalizar qualquer reflexão que não
encaixasse na estrutura de suas reflexões. É assim que surgiram filosofias, não analógicas,
capazes de justificar genocídios de homens e povos em nome da liberdade e para sua suposta
defesa.
Porém voltamos ao ponto de partida nestas reflexões, à situação que fez, supostamente, do nosso pensamento passado, uma filosofia inautêntica. A este nosso desejo por libertação
do passado colonial sob o mundo ibérico de ontem, e sob o capitalista de hoje, adotando modelos que longe de libertar-nos criaram novas formas de subordinação. O fracasso dos modelos adotados dependeu, precisamente, da impossibilidade do latino-americano de deixar de ser
latino-americano transformando-se em saxão, ianque, ocidental, etc. Isto é, fracasso por não
haver sabido incorporar à sua própria estrutura de homem concreto expressões da estrutura de
outros homens. Por isso, ao contrário do europeu que nos servia de modelo, nunca fomos democratas ou liberais, como tampouco fizemos parte dessa estrutura capitalista senão na forma
de instrumento, sob uma nova subordinação. Fomos, pura e simplesmente, homens colonizados e não foi negando-nos simplesmente como tais que deixamos de sê-lo. Adotar, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos não nos converteu em um conjunto de povos democratas e liberais. Como tampouco a adoção do positivismo fez de nós homens práticos, capazes de inventar e utilizar as técnicas que agora imperam no mundo. Em que pese isso continuamos sendo um povo colonizado, dependente, porque assimilamos nossa colonização, nossa
dependência, tal e como o europeu assimilou etapas de sua história nas quais também alguns
homens foram dominados por outros. Pensamos que fechando os olhos para o nosso passado,
e para o nosso presente, íamos saltar, milagrosamente, para a liberdade. Pensávamos que imitando os frutos de homens que haviam alcançado essa liberdade iríamos ser como eles, livres.
Não imitamos estes homens na atitude que tornou possível estes frutos, mas tratamos de remedia-los dando origem apenas a paródias, paródias de um mundo que não podia ser nosso. E
não poderia sê-lo, precisamente, porque iniciamos não considerando esse mundo como nosso.
Sabíamos que ele era distinto, inclusive oposto ao nosso ser, ao ser que considerávamos nos
haver sido imposto em longos anos de colonização. E era por ser distinto, por considerá-lo
diametralmente oposto ao que procurávamos ser que tentamos apagar, como se isto fosse possível, o que havíamos sido. Por isso, o que em outros homens havia sido expressão de uma
filosofia da libertação, ao ser adotado por nós se transformava em uma filosofia da dominação. Em uma nova forma de dominação, eleita, adotada e aceita por nós. Para agora voltar a
repetir a história, como se não tivéssemos história alguma, buscando apagar novas formas de
dominação.
7
Por isso, se não repetirmos experiências que não tem porque se repetir, não há porque
cair nos mesmos erros do nosso passado imediato. Temos já uma longa história, uma longa
história de dependência, de colonização, qualquer que seja o significado que tenha tomado ou
tome. Devemos terminar com esta situação, porém não de forma inautêntica, disfarçando-nos
de homens livres, mas lutando por ser livres e sendo livres nesta luta. É nosso ser o que deve
libertar-se da dependência, não tratando de anular este nosso ser em nome da independência.
É o próprio homem dependente aquele que tem que ser livre. Não livre de acordo com um
novo modelo, mas livre de acordo com si mesmo. E a liberdade, se há de ser autêntica, tem
que se dar na relação com outros homens. Liberdade frente a quem domine e pretenda dominar, porém também liberdade para quem pudesse ser dominado. Neste sentido a liberdade dos
outros é, também, expressão de nossa própria liberdade; como nossa liberdade deverá ser expressão de liberdade dos outros. Já não tem sentido falar de modelos a seguir na liberdade,
porque não pode haver modelo, arquétipos de liberdade, mas simplesmente homens livres,
qualquer que seja a forma em que esta liberdade se expresse ou vá se expressando. Já que são
os modelos os que acabam impondo novas subordinações. Aceitar um modelo já é aceitar
uma subordinação. O que se deve é reconhecer a liberdade nos outros e fazer com que esta
liberdade seja reconhecida pelos outros. Nenhum homem, nenhum povo, pode ser modelo de
liberdade, simplesmente todo homem, todo povo, deve ser livre e por sê-lo, capaz de reconhecer a liberdade em outro por distintos e semelhantes que estes pareçam. São os modelos que
criam os paternalismos, as ditaduras para a liberdade e em nome da liberdade. Uma liberdade
que se nega a si mesma ao não reconhecer no outro homem sua possibilidade.
A partir deste ponto de vista a experiência libertária da Europa, do Mundo Ocidental,
dos Estados Unidos, da URSS, China são também nossas experiências. Experiências que devem ser assimiladas como também deve ser assimilada nossa consciência da dependência e a
necessidade de seu fim. Uma filosofia da nossa libertação, porém só a título de que sejamos
seu possível e concreto ponto de partida, uma filosofia que faça própria a dupla experiência,
de que falamos: a européia e a latino-americana.
Já não imitar mas assimilar experiências para uma tarefa que há de ser comum a todos
os homens, e abra a possibilidade de um homem novo; novo por sua capacidade para fazer de
seu longo passado o material de sua novidade. E aqui volto a Fanón, que disse: “se queremos
fazer do mundo não ocidental uma cópia do mundo ocidental, deixemos que sejam os ocidentais os que se encarreguem de fazê-lo. Porém se queremos participar da feitura deste novo
mundo, desse homem novo sem que deixe de ser homem, então inventemos, descubramos.”
Inventar, acrescentamos nós, é reajustar o existente, mudar a ordem que torna possível
o domínio, a dominação. No princípio não foi o nada, como reza a Bíblia, mas o caos, como
disse a mitologia. Do nada, não sai nada, salvo pela arbitrária decisão de um ente superior;
porém do caos sim pode surgir a ordem. Neste caso se trata de uma ordem em que todos os
homens, sem exceção, tenham o lugar que lhes corresponde como homens entre homens. Por
isso Fanón, sem se sentir negro, latino-americano ou africano, mas homem concreto com a
concreção que é própria de todos os homens disse: “Se queremos que a humanidade avance
com audácia, se queremos elevá-la a um nível distinto do qual a Europa lhe impôs, então temos que inventar, temos que descobrir”. E este descobrimento e invenção se farão, não só em
benefício do homem que se propôs faze-lo, senão de todos os homens. Não a título de exclusividade, que foi o grande erro e pecado do homem ocidental. Mas como uma expressão do
homem, do homem com independência de situação e concreta forma de ser, isto é, abeta a
todos os homens. Simplesmente do homem e para o homem.
8