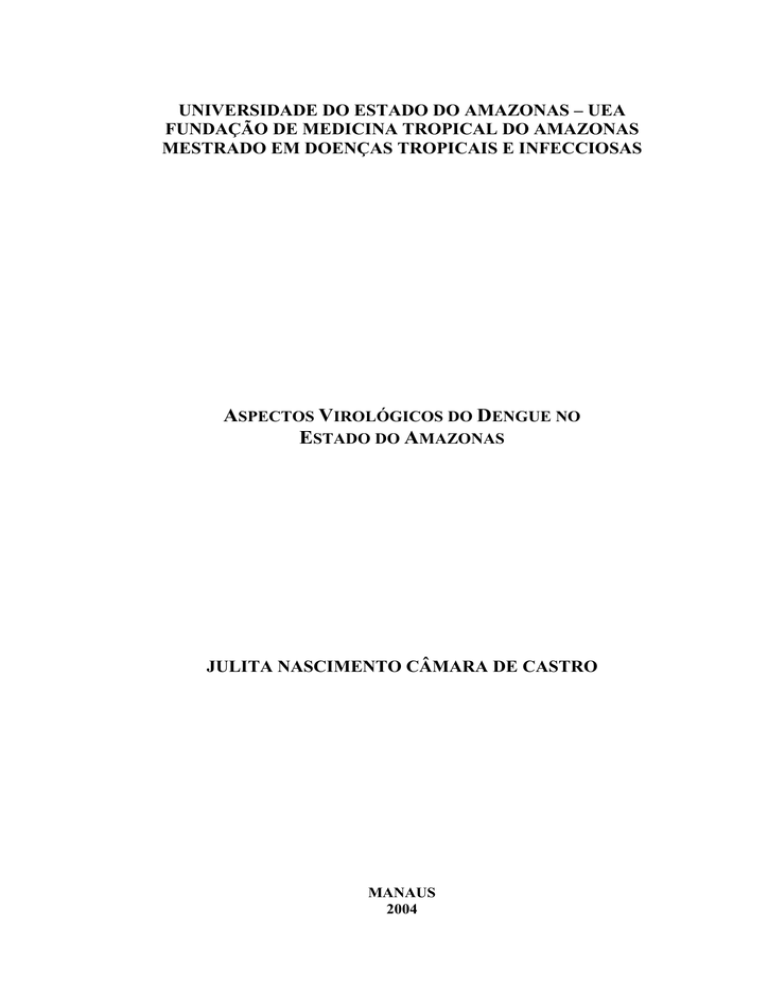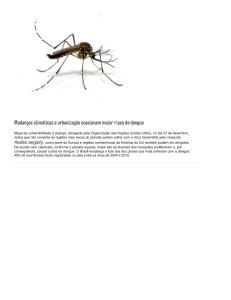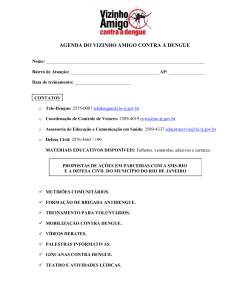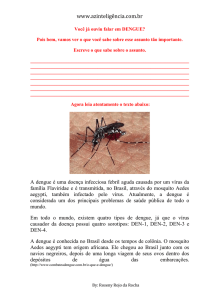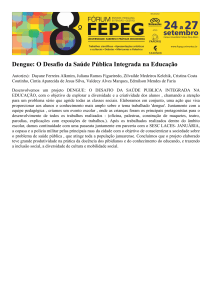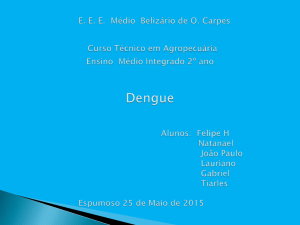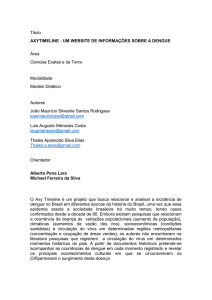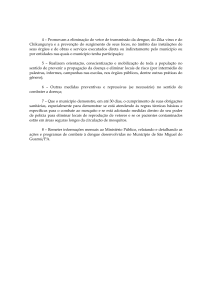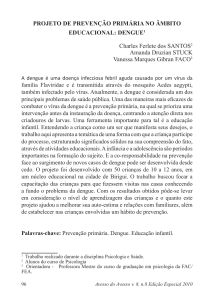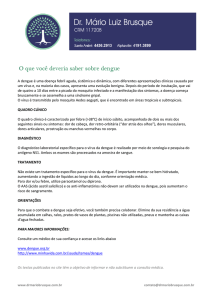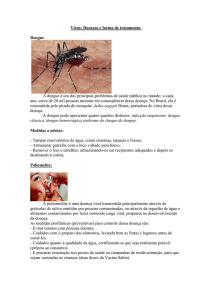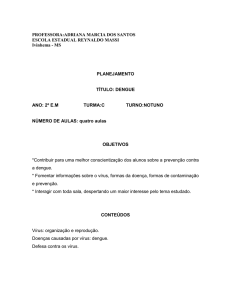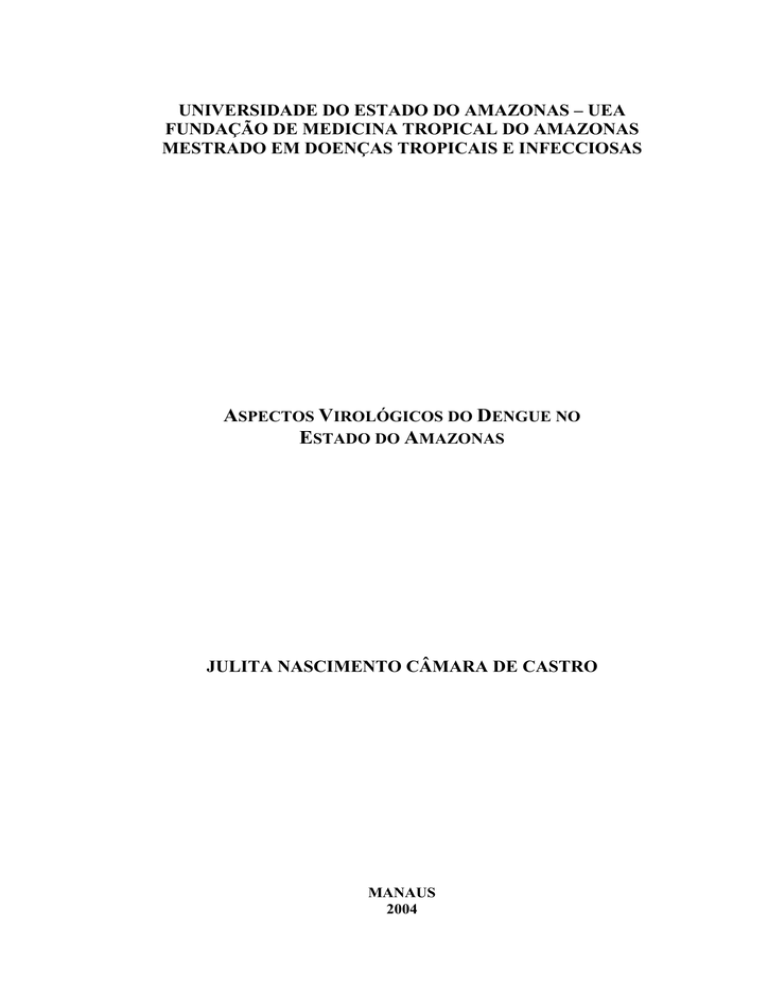
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO AMAZONAS
MESTRADO EM DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS
ASPECTOS VIROLÓGICOS DO DENGUE NO
ESTADO DO AMAZONAS
JULITA NASCIMENTO CÂMARA DE CASTRO
MANAUS
2004
JULITA NASCIMENTO CÂMARA DE CASTRO
ASPECTOS VIROLÓGICOS DO DENGUE NO
ESTADO DO AMAZONAS
Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação da Universidade do Estado do
Amazonas para obtenção do grau de Mestre
em Doenças Tropicais e Infecciosas.
Orientador: Prof. Dr. Cristóvão Alves da Costa
Co-orientadora: Regina Maria P. Figueiredo – MSc
MANAUS
2004
RESUMO
A dengue é uma das mais importantes doenças virais transmitidas por artrópodes.
Anualmente, há uma estimativa de 50-100 milhões de casos de Febre do Dengue (FD), e
250.000 a 500.000 casos de Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) no mundo. Metade da
população mundial vive em área de risco de infecção, em zonas infestadas por vetores
particularmente o Aedes aegypti e com circulação dos quatro sorotipos quase que de forma
simultânea.
No Amazonas, os casos de dengue só começaram a ser notificados a partir de 1998,
atingindo em 2000 um total de aproximadamente 26 mil casos clínicos, nesses quatro anos
ocorreram duas epidemias, restrita à sua capital, Manaus. O presente estudo tem como
objetivo identificar os sorotipos do vírus dengue circulantes no Estado do Amazonas no
período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003; os soros foram processados, através de
cultura, em células clone de mosquitos C6/36 de Aedes albopictus, os resultados foram
analisados utilizando os softwares Epi-info 2000 e Excel 5.0. Coletaram-se 303 amostras de
pacientes com suspeita e sintomatologia de dengue. A positividade foi de 32% para Flavivirus
e vírus dengue, na estratificação das amostras foram identificados 37,11% para o sorotipo
DEN-1, 21,65% para DEN-2, 3% para DEN-3 e 0% para DEN-4; quanto ao gênero, 56,10%
foram do sexo feminino e 43,9% do masculino, a faixa etária que mais foi acometida pela
doença foi entre 15-30 anos; as zonas da cidade de Manaus em que mais foram identificados
os sorotipos foram as Zonas Centro-Oeste 26,66% e Centro-Sul com 23,3%, sendo o sorotipo
DEN-1 o mais freqüente. Nos municípios do Estado do Amazonas que participaram do
estudo, foram identificados o DEN-1, DEN-2 e outros do gênero Flavivirus.
Palavras-chave: Dengue, sorotipos, isolamento viral, cultura de células, diagnóstico virológico.
ABSTRACT
The dengue is one of the most important diseases viral transmitted by arthropods.
Annually, there is an estimate of 50-100 million of Fever cases of the Dengue (FD), and
250.000 to 500.000 cases of Hemorrhagic Fever of the Dengue (FHD) in the world. Half the
world population lives in infection risk area, in zones infested by vectors particularly Aedes
aegypti and with circulation of the four sorotipos almost of simultaneous form.
In Amazonas the dengue cases only started to notify being starting from 1998,
reaching in 2000 a total of about 26 thousand clinical cases, in these four years occurred two
epidemics, restricted your capital Manaus. The Present study has as goal identify serotype of
the circulating dengue virus in Amazonas’ State; the serums were prosecuted, through culture,
in mosquitos clone cells C6/36 de Aedes albopictus, the results were analyzed using the
softwares Epi-info 2000 and Excel 5.0. They collected 303 patients' samples with symptoms
of dengue. The positiveness belonged to 32% to Flavivirus and dengue virus, in the bedding
of the samples identified 37% to serotype DEN-1, 22% to DEN-2 and 3% to DEN-3;
regarding the gender 57% went of the feminine sex and 43% of the masculine, the zones of
the city of Manaus in which they were most identified serotype were the Center-west zones
20,69% and center south with 10,34% behing the serotype frequents most DEN-1. In
Amazonas State Municipal districts who took part in the study, it was identified DEN-1,
DEN-2 and another of the gender Flavivirus.
Key Words: Dengue, Serotype, Viral Isolation, Cells Culture, Virologics Aspects.
LISTA DE ABREVIATURAS
Ae.
Aedes aegypti
BTI
Bacillus thuringhiensis
BUS
Bussuquara
CPC
Caciporé
DEN-1
Sorotipo dengue 1
DEN-2
Sorotipo dengue 2
DEN-3
Sorotipo dengue 3
DEN-4
Sorotipo dengue 4
ECP
Efeito citopático
FC
Fixação do complemento
FD
Febre do dengue
FDH
Febre Hemorrágica do dengue
FMTAM
Fundação de Medicina Tropical do Amazonas
IEC
Instituto Evandro Chagas
IF
Imunofluorescência
IGU
Iguape
IH
Inibição de hemaglutinação
ILH
Ilhéus
INPA
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
LACEN
Laboratório Central de Manaus
N
Neutralização
ROC
Rocio
SCD
Síndrome do choque do dengue
Sd
Desvio padrão
SLE
Encefalite São Luis
1
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Resultados da imunofluorescência das amostras com suspeita clínica de dengue.. 26
Figura 2 – Distribuição dos sorotipos e gênero Flavivirus de isolados em cultura de células
C6/36 ................................................................................................................................... 27
Figura 3 – Distribuição das amostras positivas por gênero ...................................................... 27
Figura 4 – Distribuição de isolamentos por gênero .................................................................. 28
Figura 5 – Distribuição de isolamentos segundo grupo etário ................................................. 29
Figura 6 – Diagnóstico virológico de dengue segundo os dias de viremia .............................. 29
Figura 7 – Distribuição de dengue e gênero Flavivirus no Estado do Amazonas .................... 30
Figura 8 – Localização de sorotipos por zonas geográficas na cidade de Manaus-AM ........... 31
Figura 9 – Distribuição de gênero Flavivirus por zonas geográficas na cidade de Manaus .... 32
Figura 10 – Distribuição por procedência das amostras ........................................................... 33
Figura 11 – Distribuição de isolados por procedência das amostras. ....................................... 33
Figura 12 – Procedência das amostras e casos isolados do vírus dengue e gênero Flavivirus. 34
Figura 13 – Distribuição anual de isolamentos do vírus dengue e gênero Flavivirus. ............. 35
Figura 14 – Distribuição anual de isolamentos do vírus dengue .............................................. 35
2
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 4
1.1 ARBOVIROSES..................................................................................................................... 4
1.1.1 Flavivirus brasileiros ................................................................................................... 5
1.2 DENGUE.............................................................................................................................. 6
1.2.1 Características do Vírus Dengue ................................................................................. 6
1.2.2 Transmissão dos Vírus Dengue ................................................................................... 7
1.2.3 Distribuição sazonal .................................................................................................... 7
1.2.4 Quadro Clínico ............................................................................................................ 8
1.2.5 Imunidade .................................................................................................................... 9
1.2.6 Patogenia ..................................................................................................................... 9
1.2.7 Condicionantes da Circulação Viral .......................................................................... 10
1.2.8 Dinâmica da Transmissão do Dengue ....................................................................... 11
1.3 VETOR .............................................................................................................................. 12
1.4 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO VIRAL DA DENGUE ......................................................... 14
1.5 DENGUE NO MUNDO ......................................................................................................... 15
1.6 DENGUE NAS AMÉRICAS ................................................................................................... 16
1.7 DENGUE NO BRASIL.......................................................................................................... 17
1.7.1 Dengue em Manaus ................................................................................................... 19
1.8 PREVENÇÃO ...................................................................................................................... 19
1.8.1 Controle do Vetor ...................................................................................................... 20
2 OBJETIVOS .............................................................................................................................. 22
2.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................................................. 22
2.2 ESPECÍFICOS ..................................................................................................................... 22
3 METODOLOGIA ....................................................................................................................... 23
3.1 TIPO DE ESTUDO ............................................................................................................... 23
3.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO E SELEÇÃO DAS AMOSTRAS ....................................................... 23
3.3 OBTENÇÃO DOS DADOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ..................................................... 23
3.4 PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS ................................................................................... 23
3.4.1 Coleta do material ...................................................................................................... 23
3.4.2 Diagnóstico virológico em células C6/36 (clone de Aedes albopictus) .................... 24
3.4.3 Identificação Viral ..................................................................................................... 24
3.5 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS ........................................................................ 25
3.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS .................................................................................................. 25
3
4 RESULTADOS .......................................................................................................................... 26
4.1 RESULTADO VIROLÓGICO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO ...................................................... 26
4.1.1 Coleta das amostras clínicas ...................................................................................... 26
4.1.2 Exame virológico e sorotipagem pela imunofluorescência ....................................... 26
4.1.3 Característica da população de estudo quanto ao gênero e sorotipo ......................... 27
4.1.4 Tempo de doença e isolamento viral ......................................................................... 29
4.1.5 Distribuição geográfica das amostras ........................................................................ 30
4.1.6 Distribuição dos sorotipos por zonas da cidade de Manaus ...................................... 30
4.1.7 Distribuição para outros Flavivirus por zonas geográficas na cidade de Manaus..... 32
4.1.8 Diagnóstico virológico por procedência das amostras .............................................. 32
4.1.9 Distribuição Sazonal de Amostras Isoladas............................................................... 34
5 DISCUSSÃO ............................................................................................................................. 36
6 CONCLUSÃO ........................................................................................................................... 41
7 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 42
ANEXOS
FICHA DE NOTIFICAÇÃO DO DENGUE
4
1
INTRODUÇÃO
1.1
ARBOVIROSES
As arboviroses representam um grave problema de saúde pública no Brasil. Entre elas,
aquelas transmitidas por mosquitos e causadas por Flavivirus são as mais importantes
causadoras de surtos ou epidemias78,21. São doenças causadas por um grupo de vírus
ecologicamente bem definidos chamados de arbovírus. Constituem problema de importância
em todos os continentes onde se apresentam sob forma endêmica ou epidêmica. A natureza da
doença produzida no homem varia conforme o tipo de arbovírus responsável pela infecção. A
maioria provoca uma síndrome febril benigna com ou sem exantema, enquanto outros
determinam quadro hemorrágico ou de encefalite, acompanhado de significante letalidade.
Em quase sua totalidade são zoonoses mantidas em ambiente silvestre – no qual se situam os
nichos ecológicos dos arbovírus – onde são atingidas com maior freqüência. No entanto,
certas arboviroses têm surgido periodicamente em áreas urbanas, aonde chegam a causar
epidemias, tais como o dengue e a febre do Oropouche, ou mesmo persistir, endemicamente,
como é o caso do Dengue78.
Dá-se o nome de arbovírus a vírus de diferentes famílias, que se mantêm na natureza
através de ciclos complexos, envolvendo um hospedeiro vertebrado e um artrópode vetor que
transmite a picada100,89. O Brasil, particularmente na região amazônica, é recordista mundial
em isolamentos de arbovírus, sendo que, até 1985, 134 vírus diferentes haviam sido
encontrados e 84 destes eram novos para o mundo16,77.
Os arbovírus possuem genoma constituído por acido ribonucléico (RNA), que pode ser
segmentado ou não segmentado. Arbovírus com genomas não segmentados incluem os
Alphavirus (Togaviridae), Flavivirus (Flaviviridae) e Rhabdovirus (Rhabdoviridae), enquanto
os segmentados incluem os Bunyavirus (Buniaviridae) e os Orbivirus (Reoviridae)60.
São classificados de acordo com suas propriedades antigênicas ou físico-químicas. A
classificação antigênica dos arbovírus decorre de observações de diversos cientistas e que
foram reunidas e interpretadas por Casals10. Os arbovírus são isolados e identificados por meio
de provas de inibição da hemaglutinação (IH), fixação do complemento (FC) e neutralização
em culturas de tecidos de camundongos recém-nascidos (N). Os três primeiros grupos
caracterizados foram designados A, B e C, e os demais receberam o nome dos primeiros vírus
5
isolados no respectivo grupo4. Dessa maneira, foram agrupados em famílias, com base em
suas propriedades físico-químicas, sendo as principais: família Togaviridae (Alphavirus)
Grupo A, Flaviviridae (Flavivirus) Grupo B, Buniaviridae (Bunyavirus) Grupo C,
Rhabdoviridae (Rhabdovirusi) e Reoviridae (Orbivirus) causam infecções somente em
animais, ressaltando-se, no entanto, que nem todos os membros destas famílias são
necessariamente arbovírus67,66.
1.1.1
Flavivirus brasileiros
A família Flaviridae possui 70 membros, sendo 69 pertencentes ao gênero Flavivirus,
que correspondem ao grupo B dos arbovírus55. Alguns são transmitidos principalmente por
mosquitos, carrapatos e outros não estão associados com vetor artrópode. Os vírus
transmitidos por mosquitos incluem os de grande importância epidemiológica, como Febre
Amarela (FA), Encefalite de St. Louis (SLE), Rocio (ROC) e o vírus Dengue (DEN), todos
capazes de determinar epidemias explosivas. No Brasil, 10 Flavivirus já foram isolados e são
transmitidos como zoonoses silvestres que ocasionalmente podem acometer o homem e
animais domésticos em contato com ecossistemas onde tais zoonoses ocorrem. Exemplo
típico é o vírus da febre amarela silvestre que tem como reservatório macacos (Callitrichidae
e Cebidae), sendo transmitida pelos mosquitos de copas das árvores Haemagogos
janthinnomys e Haemagogos leucocelaenus16,89.
Outros Flavivirus silvestres brasileiros são Bussuquara (BUS), Caciporé (CPC),
Iguape (IGU), Ilhéus (ILH), Rocio (ROC) e o vírus da Encefalite de St. Louis (SLE). O ILH
ocorre em todo o Brasil e o BUS na região amazônica, causando doenças febris sem
características definidas, que podem ser confundidas com gripes ou outras viroses98,76. O CPC
foi isolado de uma ave na região amazônica, e o Iguape (IGU) de camundongos sentinela, na
região do Vale do Ribeira em São Paulo61, desconhece-se a doença humana causada por esses
vírus. O ROC causou uma epidemia grave na região do Vale do Ribeira. Durante esta
epidemia, que durou de 1973 a 1980, foram notificados aproximadamente 100 óbitos e mais
de 200 pessoas ficaram paralíticas em conseqüência da encefalite. Os vetores e reservatórios
desse vírus ainda não foram claramente determinados. Os SLE, no Brasil, não estão
associados à encefalite61,76, mas foram isolados em pacientes que apresentavam febre e
icterícia76.
6
1.2
DENGUE
A febre do dengue é uma doença infecciosa não contagiosa causada pelo vírus dengue,
reconhecida como entidade clínica desde 1779. Sua etiologia, no entanto, só foi estabelecida
neste século. É um sério problema de saúde pública mundial, sendo uma das mais importantes
doenças virais transmitidas por artrópodes que atinge o homem, é responsável por cerca de
100 milhões de casos/ano em população de risco que é de 2,5 a 3 bilhões de seres humanos101.
A febre hemorrágica do dengue (FHD) e a síndrome do choque por dengue (SCD) atingem
aproximadamente 500 mil pessoas/ano, apresentando taxa de mortalidade de até 10% para
pacientes hospitalizados e 30% para pacientes não tratados48.
No Brasil, em 1998, foram registradas 15 mil mortes e 1,2 milhões de casos de dengue
e febre hemorrágica do dengue. Estima-se cerca de 50 milhões de casos de infecção por ano e
mais de dois bilhões o número de pessoas que vivem em locais infestados pelos vetores94.
Epidemias da doença têm ocorrido em quase todos os Estados do Brasil. A circulação
simultânea do sorotipo DEN-1 e DEN-2 e, mais recentemente, também do sorotipo DEN-3,
aumenta o risco de epidemias de dengue hemorrágico58.
1.2.1
Características do Vírus Dengue
O vírus dengue pertence ao grupo B dos arbovírus, família Flaviviridae, gênero
Flavivirus. Compreende quatro sorotipos imunologicamente distintos: DEN-1, DEN-2, DEN3 e DEN-4. Este vírus tem muitas características em comum com outros Flavivirus, tem um
genoma com cadeia única de RNA com polaridade positiva, contendo aproximadamente
11kb, envolto por um nucleocapsídeo icosaédrico e recoberto por um envelope lipídico. O
vírion tem aproximadamente 50nm de diâmetro onde estão inseridas pequenas proteínas de
membrana e espículas de natureza glicoprotéica, a partícula viral completa apresenta uma
densidade de 1,19 a 1,23 µ/mL29,52. A partícula viral mantém seu título infectivo por pelo
menos cinco anos a -70ºC ou liofilizado armazenado em 5ºC52.
O vírus possui três proteínas estruturais: a proteína C, localizada no nucleocapsídeo
ou proteína do núcleo; proteína M, que está associada com a membrana; proteína E do
envelope é a principal proteína e está relacionada com a imunidade e provável virulência da
amostra. O vírus dengue tem sete outras proteínas não estruturais que estão relacionadas com
a infecção viral17.
Os quatro sorotipos do vírus dengue são antigenicamente diferentes, porém existem
evidências de que pode existir subcomplexos sorológicos em cada grupo. Estes vírus têm sido
analisados através de estudos moleculares, por sequenciamento do vírus que permite uma
7
visualização maior das relações genéticas, permitindo reuni-los em grupos genômicos ou
subgrupos95.
1.2.2
Transmissão dos Vírus Dengue
O vírus dengue é transmitido ao homem através da picada de mosquitos infectados do
gênero Aedes, principalmente do Aedes aegypti. Uma vez infectado, um mosquito assim
permanece durante a sua vida inteira, transmitindo o vírus aos indivíduos susceptíveis durante
a sondagem e a alimentação. As fêmeas infectadas também podem passar os vírus à próxima
geração de mosquitos por meio da transmissão transovariana, mas isso ocorre com pouca
freqüência e provavelmente não contribui significativamente com a transmissão humana. Os
humanos são os principais hospedeiros multiplicadores do vírus, apesar de alguns estudos
demonstrarem que os macacos de algumas partes do mundo podem ser infectados e talvez
sirvam de fonte de vírus para os mosquitos29.
O Aedes aegypti adquire o vírus quando se alimenta de sangue de um indivíduo que
esteja em viremia, o vírus então se multiplica no mosquito durante um período de incubação
extrínseca de 8 a 10 dias. A partir de então o vetor torna-se competente para transmitir a
doença, até o final da vida, que é de seis a oito semanas para o Aedes aegypti,03,12 ao homem
em sondagens ou alimentação subseqüentes; neste último, o período de incubação do dengue
varia de 2 a 7 dias.
No homem, cada um dos quatro sorotipos pode causar febre clássica do dengue ou
febre hemorrágica do dengue com ou sem choque, e não é reconhecido se um tipo é mais
patogênico que o outro. A fase aguda da infecção pelo vírus dengue, que perdura de 5 a 7
dias, é seguida por uma resposta imune, contra o tipo de vírus inoculado pelo mosquito vetor
(resposta primária). O primeiro ataque dá somente proteção temporária e parcial contra os
outros três sorotipos, permitindo que infecções secundárias ou seqüenciais sejam possíveis
após um curto período de tempo60.
1.2.3
Distribuição sazonal
É evidente a distribuição sazonal do dengue no Brasil. Com a chegada do período
chuvoso no Amazonas, há um aumento do índice pluviométrico, o que determina diminuição
da atividade da forma alada do vetor ocasionado pelo frio e diminuição da reprodução de
mosquitos por falta de chuvas. Esse período corresponde aos meses de maio a setembro.
Durante o verão, o aumento da temperatura e das chuvas provoca uma explosão na eclosão
8
dos ovos com surgimento de milhares de mosquitos adultos, e muitos podem já estar
infectados (transmissão transovariana)60.
1.2.4
Quadro Clínico
O termo “dengue”, de origem espanhola, provém de uma manifestação marcante da
doença, ou seja, dores articulares intensas, particularmente nos joelhos, levando a um andar
característico, o andar “dengoso”. Por esta razão, a enfermidade também foi descrita como
febre quebra-ossos, doença dos joelhos, febre de polca e melindre 37,75,85.
É freqüente a descrição clínica do dengue em formas polarizadas: o dengue clássico ou
febre do dengue, benigno, e o dengue hemorrágico com manifestações de comprometimento
sangüíneo, evoluindo freqüentemente para um quadro de choque
35,37,42,46,103
. Com um quadro
que varia desde infecções inaparentes, principalmente na infância, até sintomas gerais como
febre, cefaléia, náuseas, vômitos, dor retrorbital, mialgias, artralgias e erupção cutânea, o
dengue clássico tem um período de incubação de 2 a 15 dias, com cefaléia intensa e febre
elevada (39ºC a 40ºC)85,87,103. A febre pode desaparecer no segundo dia, mas as manifestações
podem progredir. A doença evolui para cura dentro de cinco a sete dias, no máximo dez.
Alguns sintomas podem prenunciar gravidade mesmo que não haja alterações laboratoriais
características do dengue hemorrágico, tais como vômitos muito freqüentes, dor abdominal,
tonturas com hipotensão postural e hemorragias. Além disso, condições prévias ou associadas
como referência de dengue anterior, idosos, hipertensão arterial, diabetes e asma podem
constituir fatores capazes de favorecer a evolução com gravidade15.
O dengue hemorrágico ou febre hemorrágica do dengue inicia-se à semelhança do
dengue benigno, com febre, mialgias e artralgias. Entretanto, esse quadro clínico se modifica
de forma rápida, surgindo manifestações hemorrágicas que vão desde uma prova do
torniquete positiva, equimoses, hemorragia espontânea de ferimentos leves até hematemese e
melena. Ao exame laboratorial, manifesta-se uma trombocitopenia acentuada, aumento dos
tempos de sangramento, concentração do hematócrito e hipoproteinemia. Esta sintomatologia
pode agravar-se, evoluindo para um quadro de choque do dengue por uma diminuição do
volume plasmático por aumento da permeabilidade vascular42,103.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o dengue hemorrágico é
caracterizado pela concomitância de alterações laboratoriais e de alterações clínicas
associadas à síndrome febril, apresentada com gravidades variáveis:
GRAU 1 – Hemorragia de pele induzida pela prova do torniquete ou do laço (deixa-se
o manguito do tensiômetro entre a pressão máxima e a mínima por cinco minutos e a prova é
9
positiva se aparecer na dobra do cotovelo), numa área mínima de 2,5 cm2 ou mais de 20
pontos vermelhos que são denominadas petéquias.
GRAU 2 – Acrescem-se hemorragias espontâneas de pele e mucosas (nasais,
gengivais, aumento do fluxo menstrual, sangramento urinário e/ou vômitos sanguinolentos).
GRAU3 – Acrescem-se derrames cavitários: pleural, peritoneal, pericárdico; e/ou
sinais de pré-choque: redução da pressão arterial, do fluxo urinário e do enchimento capilar,
pulso fino e rápido, extremidade fria, palidez e sonolência.
GRAU 4 – Sinais de choque: os sinais acima se agravam com pulso e pressão
imperceptíveis, ausência de diurese, torpor, perda da consciência que podem evoluir a óbito.
Entretanto, essa classificação tem problemas práticos porque, em significativa parte
dos casos, o paciente pode evoluir sem apresentar alterações hemorrágicas clínicas ou
laboratoriais para síndrome de pré-choque, ou pode apresentar outras manifestações graves,
neurológicas, hepáticas e/ou cardíacas, também sem ter tido hemorragias prévias15.
1.2.5
Imunidade
Estudos sorológicos demonstram a formação de anticorpos neutralizantes, fixadores do
complemento e inibidores de hemaglutinação, como resposta à infecção pelo vírus dengue
37,87,103
.
Anticorpos neutralizantes e inibidores de hemaglutinação surgem nos primeiros sete
dias da doença e podem durar toda a vida. Os anticorpos fixadores do complemento aparecem
entre 7 a 14 dias depois do começo da enfermidade e persistem por curto tempo. Anticorpos
heterotípicos aparecem ao mesmo tempo em que aqueles homotípicos, porém em menor
concentração. Reações cruzadas são encontradas em diferentes sorotipos e com outros
arbovírus do grupo B, embora usualmente os títulos dos anticorpos específicos se apresentem
em concentrações bem mais elevadas. As infecções naturais produzem uma imunidade
prolongada a uma reinfecção pelo mesmo sorotipo e protegem contra uma infecção por tipo
diferente por um período de dois a três meses37,103.
1.2.6
Patogenia
Estudos sobre a patogênese do dengue a partir de observações em humanos e em
modelos com macacos Rhesus demonstram que o vírus tem um tropismo pronunciado por
células do tecido linfóide37. Antígenos virais foram visualizados em macrófagos, histiócitos e
células de kuppfer41,43,62, assim a multiplicação do vírus se daria nos locais de entrada, gânglios
linfáticos e posteriormente se multiplicaria em endotélio vascular, particularmente na
10
epiderme. É possível que alguns ou todos os sorotipos se multipliquem nas células hepáticas,
tecidos linfoprotéico, muscular e tecido conectivo. As células parasitadas provavelmente se
eliminam pela citólise induzida pelo vírus ou por um mecanismo de hipersensibilidade
retardada40,81.
Um grupo de pesquisadores considera que o dengue clássico e o dengue hemorrágico
representam os extremos de um espectro gradual de sintomas e sinais que abrangem desde a
infecção assintomática até a manifestação severa de choque46,85.
A existência de diferença na virulência de cepas dos quatro sorotipos seria responsável
por tal variação, sendo raras aquelas que provocam um quadro grave de enfermidade86. Esse
padrão não se diferenciaria do conhecimento existente sobre outras viroses, tal como a
poliomielite, cuja freqüência de paralisia é baixa em relação às infecções inaparentes e não
paralíticas. Entretanto as cepas virais isoladas nos pacientes com FHD conservam
características similares àquela produtora do dengue clássico, quer em cultura de tecidos, quer
em animais de laboratório35. Há estudos de que o dengue hemorrágico pode ser produzido por
qualquer dos quatro sorotipos virais, embora o dengue sorotipo 2 seja o mais freqüente
atribuído como agente causal5,39,46.
A teoria mais aceita ou mais difundida atualmente é a de que uma primeira infecção
com o dengue sensibilizaria alguns indivíduos, os quais, numa segunda infecção por outro
sorotipo, desenvolveriam uma resposta imunológica alterada apresentando um quadro clínico
hemorrágico37,39,42.
O dengue hemorrágico acontece com maior freqüência em regiões infectadas por mais
de um sorotipo viral e está associado aos quatro sorotipos; ocorre mais freqüentemente em
indivíduos que já sofreram uma infecção prévia. A maioria dos pacientes com choque
hemorrágico apresenta uma resposta de anticorpos do tipo secundário; a síndrome do choque
apresenta-se em maior proporção em infecções com resposta de tipo secundário em
comparação com aquelas de resposta primária; e os níveis de complemento sérico estão
abaixo do normal em pacientes com síndrome do choque do dengue sugerindo a formação
numa infecção seqüencial de dengue85.
1.2.7
Condicionantes da Circulação Viral
Os principais fatores que têm sido apontados como condicionantes das apresentações
epidemiológicas e clínicas do dengue são fundamentais na dinâmica de circulação dos vírus,
as formas com que se organiza o espaço geográfico dos centros urbanos, o modo de vida de
suas populações e os seus reflexos no ambiente, que criam as condições para proliferações dos
11
vetores91. O espaço social organizado influencia na interação sinérgica dos três elementos
(vetor, homem e vírus) da cadeia biológica e epidemiológica. Entretanto, o dengue distinguese de outras doenças infecciosas e parasitárias porque a ocorrência da maioria delas está
estreitamente relacionada com as más condições sociais e econômicas92,14.
1.2.8
Dinâmica da Transmissão do Dengue
A doença foi reconhecida há mais de 200 anos e tem apresentado caráter epidêmico e
endêmico variado tendendo a agravar nos últimos anos. As mudanças na dinâmica da
transmissão da dengue podem ser explicadas pela baixa prevalência do vírus até
recentemente, quando houve maior disponibilidade de hospedeiros humanos44. O aumento da
concentração humana em ambiente urbano propiciou o crescimento substancial da população
viral. As linhagens, que surgiram antes das aglomerações e movimentações humanas terem
iniciado, tinham poucas chances de causar grandes epidemias e terminavam por falta de
hospedeiros susceptíveis48. Entretanto, as alterações ambientais de natureza antrópica têm
propiciado o deslocamento e/ou dano à fauna e flora, bem como o acúmulo de detritos e de
recipientes descartáveis. Paralelamente, as mudanças nas paisagens têm promovido alterações
microclimáticas que parecem ter favorecido algumas espécies vetoras, em detrimento de
outras, oferecendo abrigos e criadouros bem como a disponibilidade de hospedeiros48.
A partir de dados conhecidos atualmente, estima-se que os quatro sorotipos do vírus da
dengue tenham surgido há cerca de 2.000 anos e que o rápido aumento da população viral e a
explosão da diversidade genética tenham ocorrido há 200 anos aproximadamente, coincidindo
com o que conhecemos por emergência da dengue em registros históricos, a saber:
Primeira fase: separação dos vírus dos demais Flavivirus. Esta separação pode ter
ocorrido há 2.000 anos.
Segunda fase: o vírus tornou-se sustentável na espécie humana. É provável que fosse,
primariamente, silvestre, circulando em macacos e mudando para doença humana com
transmissão em ambiente urbano, no fim do século 17.
Terceira fase: em meados da década iniciada em 1950 ocorreram os primeiros casos
notificados da dengue hemorrágica48.
O impacto dessa doença sobre a população humana é notado, não só pelo desconforto
que causa, como pela perda de vidas, principalmente entre crianças. Na Ásia, é a segunda
causa de internações hospitalares de crianças. Há, também, prejuízos econômicos expressos
em gastos com tratamento, hospitalização, controle dos vetores, absenteísmo no trabalho e
perdas com o turismo48,101.
12
O ressurgimento da dengue, em escala global, é atribuído a diversos fatores, ainda não
bem conhecido. Os mais importantes estão relacionados a seguir:
As medidas de controle dos vetores de dengue, nos países onde são endêmicos,
são poucas.
O crescimento da população humana com grandes mudanças demográficas;
Expansão e alteração desordenadas do ambiente urbano, com infra-estrutura
sanitária deficiente, propiciando o aumento da densidade da população vetora;
O aumento acentuado no intercâmbio comercial entre múltiplos países e
conseqüente aumento no número de viagens aéreas, marítimas e fluviais,
favorecendo a dispersão dos vetores e dos agentes infecciosos.
Qualquer que seja a causa, o aumento da variabilidade genética do vírus da dengue é
observação que se reveste de extrema importância porque as populações humanas estão sendo
expostas a diversas cepas virais, e algumas podem escapar da proteção imunológica obtida
com a exposição prévia ao sorotipo. Acresce considerar que podem surgir cepas com
patogenicidade e infectividade aumentadas e que populações silvestres do vírus dengue,
geneticamente diferente, quando introduzidas em populações de hospedeiros, podem
desencadear epidemias. Embora as populações de vírus com seqüências de nucleotídeos
conhecidas sejam esparsas, especialmente em populações africanas, encontram-se quatro
genótipos para o DEN-2 e DEN-3 e dois para o DEN-1 e DEN-4, com diversidade máxima de
aminoácidos, de aproximadamente 10% para o gene E. Mesmo não se dispondo de amostras
históricas para se avaliarem as possíveis alterações genéticas através do tempo, as
observações mostram que a variabilidade genética está aumentada3.
No entanto, o fator de preocupação é que a diversidade genética dos quatro subtipos de
vírus dengue está provavelmente ligada ao crescimento da população humana podendo
aumentar no futuro. A alta variabilidade genética do vírus pode está relacionada com o
surgimento de casos graves da doença causados, possivelmente, pelo efeito anticorpodependente em resposta a populações virais geneticamente diferentes3.
1.3
VETOR
O Aedes aegypti é uma espécie tropical e subtropical de um mosquito encontrado no
mundo inteiro, geralmente entre as latitudes 35º N e 35º S, correspondendo aproximadamente
a uma curva isotérmica de inverno de 10ºC47. Apesar de o Aedes aegypti ser encontrado até
45º à norte, tais invasões ocorreram durante a estação mais quente e os mosquitos não
sobreviveram ao inverno. É um dos mosquitos vetor mais eficiente para os arbovírus, porque
13
é altamente antropofílicos e prospera em proximidade com os humanos e geralmente
sobrevive em ambientes fechados. Os surtos de dengue também foram atribuídos ao Aedes
albopictus, Aedes polynesiensis e várias espécies do complexo Aedes scutellaris. Cada uma
dessas espécies tem sua própria distribuição geográfica; no entanto, são vetores epidêmicos,
menos eficientes que o Aedes aegypti. Apesar da transmissão vertical do vírus da dengue ter
sido demonstrada tanto no laboratório quanto em campo, a importância deste fato na
manutenção do vírus ainda não foi estabelecida. Um fator que complica a erradicação do vetor
é que os ovos do Aedes aegypti podem resistir a longos períodos de dessecação, às vezes por
mais de um ano29,88.
No Brasil, chegou no século 18 com as embarcações que transportavam escravos.25
Esse mosquito tem se caracterizado como um inseto de comportamento estritamente urbano,
sendo raro encontrar amostras de seus ovos ou larvas em reservatórios de água nas matas. Em
média, cada Aedes aegypti vive em torno de 30 dias e a fêmea chega a pôr entre 150 a 200
ovos de cada vez, ela é capaz de realizar inúmeras posturas no decorrer da vida, já que copula
com o macho uma única vez, armazenando os espermatozóides em suas espermatecas
(reservatórios presentes dentro de seu aparelho reprodutor). Uma vez com o vírus da dengue,
a fêmea torna-se vetor permanente da doença e calcula-se que haja probabilidade entre 30% a
40% de chances de suas crias nascerem também infectadas25.
Criando-se quase que exclusivamente em recipientes artificiais em torno de hábitat
humano, é um mosquito semidoméstico com características urbanas12. Penetra nas habitações,
mostrando maior preferência por alimentar-se em seres humanos, principalmente no período
diurno. A fêmea deposita os ovos individualmente nas bordas dos recipientes, acima ou ao
nível da água, raramente sobre a sua superfície. Os ovos toleram bem ao dessecamento por
vários meses e maduram rapidamente quando o recipiente se enche novamente de água. A
eclosão se dá após 2 ou 3 dias da postura se a temperatura for alta. Os hábitats típicos para os
estágios aquáticos do mosquito são vasos, jarras, pneus, cisternas, tonéis, calhas, latas e
mesmo buracos em troncos de árvores. Em condições favoráveis, as larvas completam o seu
desenvolvimento em um período de 6 a 10 dias, prolongado em temperaturas mais baixas.
Assim o ciclo de vida pode completar-se em menos de 10 dias, prolongando-se por mais de
três semanas em condições desfavoráveis. Em áreas de clima tropical as gerações se sucedem
rapidamente, mas em regiões frias a forma adulta não resiste. Em função dessas
características, a densidade do mosquito sofre variações sazonais, ocorrendo maior
concentração nas estações chuvosas e quentes e diminuindo em períodos mais secos e de
temperaturas mais baixas29.
14
O Aedes albopictus é uma espécie oriunda de selvas asiáticas até recentemente restrita
àquele continente. Nos últimos quatorze anos, em conseqüência do intenso comércio
intercontinental de pneus por intermédio dos transportes marítimos, disseminou-se para as
Américas, sendo inicialmente detectado nos Estados Unidos em 1985, onde já está presente
em 25 Estados. Logo depois, em 1986, é identificado no Brasil, já tendo se disseminado para
1.465 municípios distribuídos em 14 unidades federadas. Atualmente, está presente em mais
de seis países da América Central e do Sul, na África, Nigéria e em algumas ilhas do Pacífico
e no sul da Europa64.
O Aedes albopictus não é doméstico como o Aedes aegypti. Prefere os ocos de árvores
para depositar seus ovos e têm hábitos antropofílicos e zoofílicos diurnos e fora dos
domicílios. Sua competência vetorial vem sendo objeto de estudo e investigação, uma vez que
tais hábitos podem estabelecer um elo entre o ciclo do vírus do dengue nos macacos e no
homem, além de haver referência quanto à sua responsabilidade pela transmissão de surtos
epidêmicos de dengue clássico e hemorrágico na Ásia53.
Ibanez-Bernal e cols, de outro lado, em 1997, registraram, pela primeira vez nas
Américas, a infecção natural pelo Aedes albopictus pelo vírus dengue, em espécimes coletada
durante um surto que ocorreu na cidade de Reynosa, no México. Estes autores chamam a
atenção para o fato de que os sorotipos 2 e 3 foram detectados em um pool de dez mosquitos
machos, o que indica haver transmissão transovariana nesta espécie, como acontece com o
Aedes aegypti. Este novo achado é de grande importância epidemiológica pelo potencial de
transmissão do vírus do dengue para outras áreas geográficas livres do Aedes aegypti, mas que
estão infestadas pelo Aedes albopictus, a exemplo do sul da Europa e dos Estados Unidos24.
1.4
ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO VIRAL DA DENGUE
O isolamento do vírus dengue só ocorreu na década de quarenta, por Kimura em 1943,
e Hotta, em 1944, tendo-se denominado Mochizuki a esta cepa. Sabin e Schlesinger, em 1945,
isolaram a cepa Havaí, quando o primeiro, neste mesmo ano, ao identificar outro vírus em
Nova Guiné, observou que as cepas tinham características antigênicas diferentes e passou a
considerar que eram sorotipos do mesmo vírus. As primeiras cepas ele denominou sorotipo 1
e a de Nova Guiné sorotipo 2. Em 1965, no curso da epidemia de dengue hemorrágico no
Sudeste Asiático, foram isolados os vírus 3 e 4, definindo-se, a partir daí, que o complexo
dengue é formado por quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-456,63,102.
Nos últimos anos, um dos sistemas biológicos mais empregados para o isolamento do
vírus dengue, apesar de sua baixa sensibilidade, tem sido a inoculação em ratos lactantes por
15
via intracerebral. Também se tem utilizado diferentes sistemas celulares de mamíferos, entre
os mais utilizados estão: BSC1, VERO, BHK-21 e LLCMK2.
A demonstração por Singh e Paul em 1969 de que os quatro sorotipos do vírus dengue
podiam ser multiplicados em uma linhagem celular obtidas em larvas de mosquitos Aedes
albopictus, representou um passo importante para o avanço do isolamento do vírus da
dengue90, a partir disto, nas últimas décadas, tem-se desenvolvido uma série de linhagens de
mosquitos que apresentam resultados muito mais sensíveis à infecção do vírus dengue que os
sistemas anteriores, são: AP-61(Aedes pseudocutelaris), C6/36 (Aedes albopictus), TRA-284
(Toxorynchites amboinensis). A elevada sensibilidade destes sistemas tem permitido alcançar
um alto índice de isolamentos.
As células de mosquitos são mais sensíveis que a dos mamíferos, relativamente fáceis
de cultivar em condições de laboratório, inclusive em temperatura ambiente, e ainda as
culturas podem ser mantidas durante 14 dias sem necessitar trocas de meio de cultura, podem
ser utilizadas em condições de campo e inoculadas direto no soro de pacientes. Algumas
cepas são capazes de induzir a formação do efeito citopático (ECP) como formação de
sincícios, presença de células gigantes e fagocitose, sua presença em geral é variável.
Atualmente são as mais utilizadas no diagnóstico de rotina para dengue por sua adequada
sensibilidade e possibilidade de processar um elevado número de amostras relativamente a
baixo custo36,99.
1.5
DENGUE NO MUNDO
O dengue se reconhece clinicamente há mais de 200 anos; relatos clínicos e
epidemiológicos potencialmente compatíveis com dengue são encontrados em uma
enciclopédia chinesa datada de 610 d.C., não havendo precisão quanto ao ano exato dessa
ocorrência. São descritos também surtos de uma doença febril aguda no oeste da Índia
Francesa, em 1635, e no Panamá, em 1699, não existindo consenso quanto a terem sido febre
do dengue ou Chinkungunya30,53.
As descrições de uma epidemia de febre articular em Java, por David Bylon, em 1779,
e de enfermidade semelhante ocorrida na Filadélfia, por Benjamin Rush, em 1780, são os
eventos de melhor identificação dos sorotipos37,75,85. Embora atualmente possam não ser
consideradas como descrições de uma mesma nosologia, e que clinicamente poderiam
representar infecções causadas por vírus do gênero Chikungunya, as manifestações causadas
por esses Alphavirus e pelo vírus dengue (Flavivirus) foram indiscriminadamente rotuladas
como “febre do dengue” durante a maior parte do século 1941. Após a 2ª Guerra aparece um
16
novo padrão epidêmico da doença, acompanhado por um crescimento da incidência da febre
hemorrágica do dengue no Sudeste Asiático8,6. Os primeiros surtos foram descritos nas
Filipinas, em 1953, e cinco anos mais tarde foi identificado na Tailândia constituindo então
um importante problema de saúde pública nas zonas do oeste do Pacífico e Sudeste Asiático6.
De acordo com Halstead (1980), esta forma clínica não seria uma doença nova, pois com tal
sintomatologia haviam sido descritas no Sudeste Asiático em 1922 e, em 1927-1928, na
Grécia, identificou-se uma grave epidemia de dengue hemorrágico com circulação dos
sorotipos DEN-1 e DEN-2.
Progressivamente outros países do Sudeste Asiático foram apresentando surtos de
dengue hemorrágico: Vietnã do Sul (1960), Cingapura (1962), Malásia (1963), Indonésia
(1969) e Birmânia (1970). Nesta região, nos anos oitenta, a situação agrava-se e a doença
expande-se para Índia, Sri Lanka, Maldivas e leste da China. Atualmente, sob a forma de
epidemia ou endemia, milhares de casos e de óbitos vêm ocorrendo a cada ano,
predominantemente em crianças, e a circulação do dengue 1 e dengue 2 vem mantendo-se até
o presente14,30.
1.6
DENGUE NAS AMÉRICAS
No Continente americano o vírus dengue circula desde o século passado até as
primeiras décadas do século 20. A primeira descrição de uma enfermidade semelhante ao
dengue ocorreu em 1780, na Filadélfia, Estados Unidos, quando então há um silêncio
epidemiológico7,71. Em 1963 detectam-se os primeiros casos na Jamaica relacionados ao DEN3, que depois se disseminaram para a Martinica, Curaçao, Antigua, Saint Kitts, Sanguilla e
Porto Rico8. Logo após atinge o norte da América do Sul, Colômbia, Venezuela e são
notificados nos Estados Unidos casos importados18. Entre 1968 e 1970, epidemias com o
DEN-2 e DEN-3 foram registradas no Caribe, na Guiana Francesa e na Venezuela92.
Em 1977, o sorotipo 1 é introduzido na Jamaica, disseminando-se por todas as ilhas do
Caribe e parte da América Central. Cerca de 702.000 casos de dengue foram descritos durante
o período compreendido entre 1977 até 1980, em que somente circulou o sorotipo 1 de
dengue na América6. No início da década de oitenta, é isolado o vírus DEN-4, mas este
período se destaca pela intensa circulação do vírus no Continente americano, e os países que
mais notificaram casos foram o Brasil, Colômbia, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai,
Porto Rico e Venezulela77,34.
A epidemia de febre hemorrágica do dengue, que afetou Cuba em 1981, é a primeira e
mais importante na história do dengue nas Américas, quando foram notificados 344.203
17
casos, incluindo 10.312 pacientes classificados como gravemente doentes de acordo com os
critérios da OMS (Graus III e VI), e 158 mortes das quais 101 eram crianças. O vírus DEN-2
é associado a esta epidemia, que foi precedida por outra, causada pelo vírus DEN-1, em
197757.
O segundo maior surto de DH/SCD da região ocorreu na Venezuela, de outubro de
1989 a abril de 1990. Um total de 11.260 casos de DH, e 136 mortes foram notificadas; os
sorotipos 1, 2 e 4 foram isolados durante estes surtos6. Os casos de DH e doenças semelhantes
têm sido notificados nas Américas a cada ano desde 1981. Os países ou territórios afetados
incluem Aruba, El Salvador, Guiana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Colômbia, República
Dominicana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Santa Lúcia,
Suriname e Venezuela. A dengue foi notificada praticamente em todos os Estados dos países
latino-americanos, com possíveis exceções da Argentina, do Chile e do Uruguai, e há indícios
de que a DH/SCD está se tornando endêmica em vários países das Américas, seguindo a
tendência observada na Ásia. O notável aumento da DH/SCD, observado nos países asiáticos
durante os últimos 30 anos, ilustra claramente a situação que as Américas poderão vir a
enfrentar29.
Nos anos 90, o quadro epidemiológico das Américas e do Caribe agravou-se e
epidemias de dengue clássico são freqüentemente observadas em vários centros urbanos,
muitas delas associadas à ocorrência de casos de dengue hemorrágico. Atualmente os quatro
sorotipos estão circulando neste Continente e só não há registros de casos no Uruguai e
Canadá, com ocorrência sistemática de casos de dengue hemorrágico74.
1.7
DENGUE NO BRASIL
No Brasil existem algumas evidências de epidemias de dengue em São Paulo, Rio de
Janeiro, Salvador e outras cidades, esta epidemia durou dois anos, sendo conhecida, à época,
por outros nomes: polca, patuléia, febre eruptiva reumatiforme. Entretanto, as primeiras
referências a casos de dengue na literatura médica datam de 1916 em São Paulo e 1923 em
Niterói75, neste último ano um navio francês, com casos suspeitos, aportou na Bahia, mas não
foram registrados casos autóctones nesta cidade75.
As primeiras campanhas para a erradicação do Aedes aegypti visavam ao combate da
febre amarela e foram instituídas por Emílio Ribas, no período de 1901 a 1903 em algumas
cidades de São Paulo; a base dessas campanhas era a eliminação de focos de mosquitos e a
remoção de recipientes que pudessem servir para a reprodução do vetor. Em 1904, uma das
campanhas mais famosas do Rio de Janeiro, foi orientada por Oswaldo Cruz, cuja estratégia
18
era evitar que o mosquito se infectasse ao picar o doente e impedir a proliferação do mesmo.
Para alcançar este objetivo, orientou a utilização do isolamento do paciente, tendo, para tanto,
usado instrumentos jurídicos coercitivos bastante polêmicos. Ainda assim conseguiu, em
1909, a erradicação do mosquito23.
Atribui-se a esta campanha a responsabilidade da não ocorrência do dengue no Brasil
no período de 1923 a 1981. Justifica-se essa suposição, uma vez que somente cinco anos
depois é que se tem registro de casos de dengue em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde foi
identificado o sorotipo DEN-1 disseminado por toda aquela região e cidades vizinhas,
causando epidemias na população, tendo sido notificado em 1987 cerca de 95.000 casos
clínicos da doença1,28,104.
Um inquérito sorológico realizado em 1953-1954, na Amazônia, encontrou
soropositividade para dengue, sugerindo que houve circulação viral na região.11 Entretanto, a
primeira epidemia do dengue com confirmação laboratorial ocorreu em 1982 na cidade de
Boa Vista, Estado de Roraima, causada pelos sorotipos 1 e 4, com cerca de 11 mil pessoas
infectadas, que corresponde a aproximadamente uma incidência de 22,6%72. Estes sorotipos
estavam circulando em diversos países do Caribe e no norte da América do Sul e sua
introdução, possivelmente, deu-se por via terrestre pela fronteira da Venezuela18, a propagação
viral para o restante do país não ocorreu nessa época devido ao rápido combate e controle do
vetor na região24.
O dengue reapareceu no Brasil, cinco anos depois, na cidade de Nova Iguaçu, Estado
do Rio de Janeiro, com identificação do sorotipo DEN-1. A partir de então, a virose
dissemina-se para outras cidades vizinhas, inclusive Niterói e Rio de Janeiro, notificando-se
33.568 casos em 1986 e 60.342 em 1987. Em 1986 foram registradas epidemias nos Estados
do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas e Ceará causadas pelo sorotipo DEN-196.
Após essas epidemias de dengue clássico, observa-se um período de dois anos que se
caracteriza pela baixa endemicidade. Em 1990, ocorre um recrudescimento de grandes
proporções, conseqüente do aumento da circulação do DEN-1 e da introdução do DEN-2 no
Rio de Janeiro, onde a incidência da doença atinge 165,7 por 100 mil habitantes. Naquele ano,
e em 1991, 163,8 casos por 100 mil habitantes54. É neste período que surgem os primeiros
relatos de dengue hemorrágico, com 1.316 notificações, 462 confirmações diagnósticas e oito
óbitos25,26. Em abril de 1991, o sorotipo 2 causou uma grande epidemia em Araguaína,
Tocantins, tendo sido notificados 2.194 casos da doença, todos de febre clássica do dengue24.
Um inquérito soro-epidemiológico realizado após a epidemia estimou que
aproximadamente 83.250 pessoas foram acometidas97. O genótipo dessas amostras foi
19
classificado como Jamaica82. Nesse mesmo ano, esse sorotipo foi também detectado a partir de
julho no Estado de Alagoas24. No Brasil, a semelhança do que vem ocorrendo em vários países
das Américas, nas últimas décadas vem se registrando epidemias de dengue em vários
Estados. Observa-se, ainda, a endemização da doença na maioria dos locais onde ocorre
transmissão. As ocorrência de dengue hemorrágico também se tornam mais freqüentes em
concomitância com a circulação dos sorotipos 1 e 2 do vírus em uma mesma área73.
1.7.1
Dengue em Manaus
Desde novembro de 1996, detectou-se a presença do transmissor da febre amarela
urbana e dengue, o mosquito Aedes aegypti, no município de Manaus, a partir daí o vetor foi
se disseminando progressivamente por toda a cidade, conforme atestam as pesquisas
realizadas50.
No Amazonas os casos de dengue só começaram a ser notificados a partir de 1998,
atingindo em 2000 um total de aproximadamente 26 mil casos notificados. Nesses quatro anos
ocorreram duas epidemias, restrita à sua capital, Manaus50. A partir do primeiro trimestre de
1998, o número de pacientes que apresentavam sintomas de doenças exantemáticas
compatíveis, principalmente com dengue clássico, foi aumentando progressivamente.
Diante dessa situação, realizou-se uma investigação epidemiológica mais severa e
coletaram-se amostras de soros dos suspeitos clínicos. Em janeiro de 1998 o Laboratório de
Arbovirologia da FMTAM, envolvendo pacientes procedentes de Manaus e de outras capitais,
diagnosticou 10 casos positivos para DEN-1, dos quais sete foram classificados, através da
investigação epidemiológica, como autóctones da cidade de Manaus, 2 de Belém (PA) e 1 de
Imperatriz (MA); 18 foram negativos; considerando a presença do vetor e de casos autóctones
da dengue e com o crescente aumento no atendimento de doentes no FMTAM, estava
caracterizado o início de uma epidemia da doença na capital do Estado do Amazonas51.
A presença do vetor, a população suscetível, aliado à intensificação do intercâmbio
turístico entre Manaus e os países do Caribe, bem como a cidade de Belém que vivia uma
epidemia em 1997, podem ter contribuído para a introdução e reprodução da doença na
cidade.
1.8
PREVENÇÃO
O número elevado de casos de dengue e dengue hemorrágico, a presença dos quatro
sorotipos do vírus dengue em algumas regiões e a grande variedade com que se apresenta o
vetor obriga a intensificar as atividades de prevenção e controle da enfermidade. No
desenvolvimento de uma vacina mediante atenuação viral, existe perigo pois, pode
20
desenvolver-se a febre hemorrágica do dengue e síndrome do choque por dengue; e no caso
de não utilizar uma vacina que inclua os quatro tipos antigênicos, irá imunizar uma pessoa de
somente um sorotipo viral, podendo a mesma sofrer uma segunda infecção por sorotipo
diferente45,64. Por não se dispor de vacina, a prevenção primária de dengue só pode realmente
ser efetivada nas áreas sob risco quando a vigilância entomológica ou combate ao vetor
antecede a introdução do vírus. Quando a circulação de um ou mais sorotipos em uma região
já está estabelecida, as medidas de combate ao vetor e a vigilância epidemiológica da doença
têm baixa efetividade e os órgãos responsáveis pela prevenção do dengue enfrentam uma série
de
dificuldades
técnico-científicas
e
operacionais,
relacionadas
à
complexidade
epidemiológica dessa doença.24 A possibilidade atual de administrar os quatro sorotipos se
encontra em estudos e deve enfocar a genética, biologia molecular e virulência viral35.
O surgimento da dengue hemorrágica, na década de 50, acompanhado de pandemia,
tem agravado a situação da patologia, tanto em número de casos quanto em gravidade. Os
quatro sorotipos do vírus circulam com mais agilidade, sendo comum sua simultaneidade,
com potencialidades patogênicas diversas. Há também uma hipótese de surgimento de novos
sorotipos do vírus, já se predizendo identificação de possíveis sorotipos variantes 5 e 6105.
A tendência atual da dengue é atingir cada vez mais novas regiões, onde o número de
hospedeiros humanos sem exposição prévia é grande, e restabelecer-se nos países tropicais de
forma endêmica, com possíveis surtos de dengue hemorrágica, a cada introdução de novas
populações do vírus3.
1.8.1
Controle do Vetor
As ações de combate ao Aedes aegypti, único elo vulnerável da cadeia epidemiológica
do dengue, estão centradas em duas estratégias: controle ou erradicação, que se diferenciam
quanto as suas metas, o que implica distintas extensões de cobertura, estrutura e organização
operacional. Entretanto, ambas incluem três componentes básicos: saneamento do meio
ambiente; ações de educação, comunicação e informação; e combate direto ao vetor31,27,70,80,83.
O componente de saneamento visa a reduzir os potencias do mosquito mediante:
aporte adequado de água para evitar seu armazenamento em recipientes que servirão para
oviposição; proteção de recipientes úteis; tratamento ou eliminação de criadouros naturais.
Dependendo da estratégia e meta do programa, este componente pode ser restrito às
atividades específicas que são desenvolvidas pelos recursos humanos do próprio programa,
por meio de orientações aos moradores de residências para promoção do saneamento intra e
peridomiciliar, ou mesmo limitado apenas a estas últimas, ou ser mais amplo, com
21
envolvimento dos órgãos setoriais de saneamento responsáveis pela melhoria do sistema de
abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos70.
Da mesma forma, o segundo componente varia conforme as definições estratégicas e a
importância que é dada às ações de educação, comunicação e informação, que podem ser
confinadas apenas à atuação dos agentes de saúde em cada residência, associada ou não a
algumas campanhas pontuais de educação e ou comunicação de massa, ser mais abrangente
com participação efetiva de setores sociais e governamentais; e à busca da participação das
comunidades no processo de prevenção, implementação de metodologias pedagógicas
capazes de proporcionar mudanças de comportamento no que diz respeito aos cuidados
individuais e coletivos em saúde, com ênfase na necessidade de redução e eliminação dos
criadouros potenciais do mosquito transmissor do dengue27,70.
No combate ao mosquito adulto se tem realizado utilizando diferentes inseticidas, tais
como o DDT, Malathion e outros. A medida mais importante para controle da doença é a
erradicação das larvas, através do controle biológico baseado na introdução de organismos
vivos capazes de competir, eliminar ou parasitar as larvas ou formas aladas do vetor, e ainda
não se tem experiência de aplicação em larga escala. O Bacillus thuringhiensis H-14 (BTI) e
peixes larvicidas das espécies Gambusia afinis e Poecilia ssp têm sido mais utilizados e
preconiza-se o seu uso mais amplo nos programas de combate. Ensaios com larvas de outros
mosquitos (Toxorhynchites) e algumas pulgas-d’água (Mesoscyclops, Macrocyclops) também
vêm sendo experimentados70.
22
2
OBJETIVOS
2.1
OBJETIVO GERAL
Caracterizar ao nível de sorotipos os vírus dengue circulantes no período de dezembro
de 2002 a dezembro de 2003 no Estado do Amazonas.
2.2
ESPECÍFICOS
Identificar os sorotipos circulantes do dengue no município de Manaus e outros
municípios do Estado do Amazonas.
Descrever a distribuição dos sorotipos do vírus dengue de acordo com as
seguintes variáveis: localidade de moradia, gênero, idade, dias de doença, local
de atendimento e sazonalidade.
23
3
METODOLOGIA
3.1
TIPO DE ESTUDO
Este foi um estudo descritivo, onde foram identificados os sorotipos do vírus dengue
em amostras estocadas no Laboratório de Arbovirologia da Fundação de Medicina Tropical
do Amazonas – FMTAM no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003.
3.2
POPULAÇÃO DE ESTUDO E SELEÇÃO DAS AMOSTRAS
Para fins deste estudo foram consideradas exclusivamente as amostras de sangue de
pacientes que apresentaram quadro clínico característico de dengue com um período médio de
0-5 dias, a partir do início dos sintomas, independente de idade e sexo, atendidos na Fundação
de Medicina Tropical (FMTAM) e em outras unidades de saúde da cidade de Manaus durante
o período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003. As amostras foram estocadas no
Laboratório de Arbovirologia da FMTAM e eram coletadas no Serviço de Pronto
Atendimento, Ambulatório e Enfermarias da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas;
60 amostras foram coletadas no Laboratório Central de Manaus (LACEN) e enviadas
posteriormente ao Laboratório de Arbovirologia da FMTAM para diagnóstico virológico.
3.3
OBTENÇÃO DOS DADOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS
As informações de interesse foram obtidas das fichas de Notificação do Dengue
(Anexo 1) padronizada pela Fundação de Medicina Tropical do Amazonas (FMTAM), e vem
sendo utilizada na rotina do Ambulatório, Enfermarias e Pronto Atendimento. Esta ficha
epidemiológica contém os dados do paciente como: sexo, idade, local de residência,
procedência do atendimento, sintomas apresentados, data da coleta e início dos sintomas.
Essas informações eram obtidas no momento da coleta do material biológico a ser analisado.
Os dados dos pacientes do LACEN foram enviados juntos com as amostras em formulário
padrão do Laboratório Central. Esses dados foram utilizados para a construção do banco de
dados deste estudo.
3.4
3.4.1
PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS
Coleta do material
As amostras sangüíneas coletadas na FMTAM foram obtidas por punção venosa
coletando-se um volume de 10 ml de sangue, e em seguida para obtenção dos soros foram
centrifugadas a 1.500 rpm a 5ºC durante 15 minutos e armazenados a -70°C. Essas amostras
24
foram processadas sob condições de esterilidade mantendo-se em cadeia fria durante todo o
processo.
As amostras biológicas provenientes do LACEN foram coletadas no Laboratório
Central de Manaus, por processo semelhante ao obtido na FMTAM, e posteriormente
enviadas ao Laboratório de Arbovirologia para diagnóstico virológico.
3.4.2
Diagnóstico virológico em células C6/36 (clone de Aedes albopictus)
A técnica escolhida para o isolamento do vírus dengue foi a cultura de células; a
linhagem celular selecionada foi de células de mosquito C6/36 (clone de Aedes albopictus)49,
por serem mais sensíveis que as de mamíferos, relativamente fáceis de cultivar em condições
de laboratório e temperatura ambiente. As células C6/36 foram cultivadas em garrafas de 25
cm3 com meio de crescimento L-15, contendo 5% de soro bovino fetal, 10% de solução de
triptose fosfato e 100 UmL de penicilina e estreptomicina, transferidas em tubos descartáveis
(1,5 ml tubo), uma ou duas vezes por semana, dependendo da quantidade de amostras a serem
testadas.
Os soros foram inoculados na diluição 1:10 em tubos contendo monocamadas de
células, incubados para penetração do vírus a 28ºC. Cada tubo foi observado diariamente
durante uma semana para observação do efeito citopático (ECP), caracterizado pela presença
de sincícios, células gigantes multinucleadas e fagocitose. Após uma semana de incubação,
foi realizado o teste de imunofluorescência (IF)2 para confirmação da infecção celular.
3.4.3
Identificação Viral
A técnica utilizada para identificação das culturas apresentando efeito citopático ou
não foi a da imunofluorescência direta, que permitiu a identificação inicial de amostras
positivas para Flavivirus, utilizando um anticorpo policlonal na diluição 1:10 (líquido ascítico
hiperimune de rato ou um soro humano de alto título de anticorpos antidengue). Uma segunda
imunofluorescência indireta, com anticorpos monoclonais (diluição de 1:15) a cada um dos
quatro sorotipos do vírus, permitiu a tipificação do sorotipo. As lâminas foram preparadas de
acordo com o protocolo descrito por Gubler em 1984. Esse procedimento consistiu em
raspagem, mistura ao fluido de cultivo e transferência das células para os spots de lâmina
própria para o teste (lâmina para imunofluorescência). O material foi seco e fixado por 10
minutos em acetona gelada; na primeira etapa deste processo (imunofluorescência direta) foi
acrescentado fluido ascítico hiperimune na diluição de 1:10 em PBS. Incubou-se a lâmina a
37ºC, por 30 minutos, acrescentou-se o conjugado ao isotiocianato de fluoresceína, na
25
diluição de 1:60, em PBS; incubou-se a 37ºC, por 30 minutos, após cada procedimento se
procedia a lavagem da lâmina, 10 minutos, 2 vezes em PBS e 1 vez em água. O mesmo
processo foi realizado, na segunda etapa (imunofluorescência indireta), usando anticorpos
monoclonais do dengue DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.
Após este processo fez-se a leitura do teste em microscópio de fluorescência,
equipado com lâmpada de mercúrio de alta pressão. O teste foi considerado positivo, quando
houve evidente fluorescência celular quando comparado com os dois tipos de controle
positivo, o de líquido ascítico hiperimune (para classificar em grupo B) e outro com os
anticorpos monoclonais específicos para o DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.2
3.5
PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
As fichas epidemiológicas foram digitadas utilizando o software Microsoft Excel para
a construção do banco de dados e foi utilizado para análises estatísticas o Epi-info 2000. As
análises estatísticas dos dados são baseadas em descrição de freqüências, prevalências e
associações dos sorotipos com variáveis avaliadas como: distribuição dos sorotipos por zonas
da cidade, sexo, idade, procedência e dias de doença.
3.6
CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
Todos os procedimentos para realização do estudo, utilizando dados dos pacientes
envolvidos na pesquisa, foram iniciados após parecer da Comissão de Ética e Pesquisa da
Fundação de Medicina Tropical do Amazonas – FMTAM.
O termo de consentimento livre e esclarecido não foi necessário, pois as amostras
foram retiradas da soroteca do Laboratório de Arbovirologia da Fundação de Medicina
Tropical do Amazonas.
26
4
RESULTADOS
4.1
RESULTADO VIROLÓGICO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO
4.1.1
Coleta das amostras clínicas
Foram colhidas 303 amostras de sangue de pacientes com suspeita clínica de dengue
no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003. Desse total, 172 eram do sexo
feminino e 131 do masculino, com idades variando de 1 a 80 anos.
4.1.2
Exame virológico e sorotipagem pela imunofluorescência
Foram processadas e analisadas 303 amostras de soro. Foram negativas para o gênero
Flavivirus e vírus dengue 68% (206) e 32% (97) foram positivas (Figura 1). As amostras
positivas apresentaram a seguinte estratificação: 37,11% não apresentaram sorotipagem
específica, mas reativas para outros Flavivirus; 38,14% foram positivas para sorotipo DEN-1;
21,65% positivas para DEN-2; 3,1% para o DEN-3 (Figura 2).
32%
IF POSITIVO
68%
IF NEGATIVO
Figura 1 – Resultados da imunofluorescência das amostras com suspeita clínica de dengue
27
38%
DEN-1
37%
outros
Flavivirus
3%
DEN-3
22%
DEN-2
Figura 2 – Distribuição dos sorotipos e outros Flavivirus de isolados em cultura de células C6/36.
4.1.3
Característica da população de estudo quanto ao gênero e sorotipo
A imunofluorescência foi realizada a partir de material clínico inoculado em cultura de
células. O padrão de fluorescência para os sorotipos é o mesmo, distinguindo-se somente pelo
anticorpo monoclonal específico utilizado. Das amostras positivas, obteve-se 57% do sexo
feminino e 43% do sexo masculino, entretanto não se observou diferença estatisticamente
significativa (Figura 3).
MASCULINO
43%
FEMININO
57%
Figura 3 – Distribuição das Amostras positivas por gênero
28
Considerando os sorotipos virais na identificação por gênero, verificou-se que em
19,6% foram isolados os sorotipos DEN-1, 15,5% DEN-2, 1% DEN-3 e 18,5% outros
Flavivirus em pacientes do sexo feminino; 18,5% DEN-1, 6,2% DEN-2 e 18,5% de outros
Flavivirus em pacientes do sexo masculino (Figura 4).
20
19,6%
18
18,5%
18,5%
18,5%
16
CASOS TIPADOS
15,5%
14
12
DEN-1
DEN-2
10
DEN-3
Flavivirus
8
6
6,2%
4
1%
2
0%
0
FEMININO
MASCULINO
GÊNERO
Figura 4 – Distribuição de isolamentos por gênero
4.3 Característica da população de estudo quanto à faixa etária e sorotipos
Em relação à distribuição de sorotipos identificados por faixa etária, observou-se que o
grupo 15-30 anos foi responsável por 43,3% do total de amostras isoladas neste estudo, sendo
28 anos a média de idade em que mais foram isoladas amostras positivas (sd = 16,1 anos)
(Figura 5).
29
Figura 5 – Distribuição de isolamentos segundo grupo etário
4.1.4
Tempo de doença e isolamento viral
A Figura 06 mostra a distribuição das amostras positivas por tempo de viremia, onde
se observa o maior número, independentes de sorotipos, em amostras do 3.º ao 5.º dia, sendo
mais freqüente no 3.º dia com 21 isolamentos correspondendo 22,8%, e do 4.º dia com 20,7%
em 18 isolamentos.
DEN-1
DEN-2
DEN-3
12
Numero de isolamentos
10
8
6
4
2
0
1 DIA
2 DIA
3 DIA
4 DIA
Dias de viremia
Figura 6 – Diagnóstico virológico do dengue segundo os dias de viremia
5 DIA
30
4.1.5
Distribuição geográfica das amostras
Das amostras positivas, 91,8%, eram de pacientes residentes em Manaus e 8,3% eram
procedentes de outros municípios do Estado do Amazonas, distribuídas em: amostras
positivas para outros do gênero Flavivirus: Eirunepé – 1; Itacoatiara – 1; São Gabriel da
Cachoeira – 1 e Manaus 33 amostras. Positivas para vírus dengue: Itacoatiara = 1 DEN-1, 1
DEN-2; São Sebastião do Uatumã = 1 DEN-2, e no município de Manaus: DEN-1=36, DEN2=19 e DEN-3=3 (Figura 7).
1 caso gênero
33 casos gênero Flavivirus
36 casos DEN-1
19 casos DEN-2
3 casos DEN-3
1 caso DEN-2
1 caso gênero Flavivirus
1 caso DEN-1
1 caso DEN-2
1 caso gênero
Figura 7 – Distribuição de casos de dengue e outros do gênero Flavivirus no Estado do Amazonas
FONTE, Mapa: Geografia do Amazonas, 2002.
4.1.6
Distribuição dos sorotipos por zonas da cidade de Manaus
Os sorotipos detectados e isolados eram provenientes das seguintes zonas geográficas
da cidade de Manaus: a maior concentração dos sorotipos identificados neste estudo foi na
zona centro-oeste e centro-sul, que correspondem a 31,03% e 18,98% dos casos,
respectivamente (Tabela 1 e Figura 8).
31
Tabela 1– Distribuição de amostras isoladas por zonas geográficas da cidade de Manaus
ZONA
DEN-1% a
DEN-2
DEN-3
Total %b
CENTRO-OESTE
20,69
10,34
0,0
31,03
CENTRO-SUL
10,35
6,90
1,72
18,98
OESTE
6,90
5,17
0,0
12,07
SUL
8,62
3,45
1,72
13,79
LESTE
8,62
1,72
0,0
10,34
NORTE
1,72
0,0
0,0
1,72
NÃO INFORMADAS
5,17
5,17
1,72
12,07
62,08
32,76
5,17
100
TOTAL
a – Percentual em relação ao total do sorotipo.
b – Percentual em relação ao total da zona.
Figura 8 – Localização de sorotipos por zonas geográficas na cidade de Manaus-AM
32
4.1.7
Distribuição para outros Flavivirus por zonas geográficas na cidade de Manaus
A maioria das amostras reativas somente para outros Flavivirus era de moradores da
zona centro-sul, leste e sul da cidade de Manaus, correspondendo a 73% do total, seguida da
zona Norte 12% ,Oeste 6% , Centro- Oeste 3% e 6% não informada (Figura 9).
Figura 9 – Distribuição de outros Flavivirus por zonas geográficas na cidade de Manaus
4.1.8
Diagnóstico virológico por procedência das amostras
Do total de amostras examinadas (303), 59% dos pacientes procuraram
espontaneamente a FMTAM para diagnóstico de dengue; 21% foram encaminhadas de outras
unidades de saúde da cidade de Manaus tanto de serviços ambulatoriais como de emergências
para diagnóstico virológico de dengue na FMTAM, e 20% foram amostras provenientes do
LACEN. A FMTAM unidade de referência para diagnóstico virológico do dengue, recebeu
um quantitativo maior de pacientes com suspeita clínica de dengue e consequentemente
proporcionando maior número de isolamentos (Figuras 10, 11 e 12).
33
PARTICULARES
AMB ADULTO
8%
7%
AMB INFANTIL
EMERGÊNCIA
2%
4%
LACEN 20%
FMTAM PA
9%
FMTAM ENF
FMTAM AMB
2%
48%
Figura 10 – Distribuição das amostras por procedência
Figura 11 – Distribuição de isolados por procedência das amostras
34
Figura 12 – Distribuição dos casos isolados de dengue e outros Flavivirus conforme procedência.
4.1.9
Distribuição sazonal de amostras isoladas
A ocorrência da distribuição temporal do vírus dengue apresentou uma freqüência
anual desse vírus, entretanto, observa-se maior predominância do vírus nos meses de janeiro a
maio, época de índices pluviométricos elevados no Estado do Amazonas (Figuras 13 e 14).
35
Figura 13 – Distribuição anual de isolamentos do vírus dengue e outros do gênero Flavivirus
Figura 14 – Distribuição anual de isolamentos do vírus dengue
36
5
DISCUSSÃO
O dengue vem apresentando importância crescente em saúde pública nas últimas
décadas. No Brasil, à semelhança do que vem ocorrendo em vários países das Américas, vemse registrando epidemias de dengue em vários Estados. Observa-se, ainda, a endemização da
doença na maioria dos locais onde ocorre transmissão60; nos últimos 16 anos vêm aumentando
no Brasil epidemias e a expansão geográfica do vetor, a co- circulação dos sorotipos DEN-1 e
DEN-2 está presente em 25 dos 27 Estados brasileiros24,68.
Este estudo confirma a presença dos sorotipos DEN-1, DEN-2 e DEN-3 do vírus
dengue no Estado do Amazonas. O percentual de 32% obtidos nas tentativas de isolamento
viral pode ser considerado satisfatório, pois se compara com resultados obtidos em estudos
semelhantes, como exemplo em estudos de CARDOSA, em 1997, que apresentou de 5 a 40%
de positividade dos isolamentos.
Algumas amostras inoculadas com material biológico apresentaram efeito citopático
em células de mosquitos C6/36, onde foi observada destruição celular, células gigantes e
formação de sincícios. Contudo, a presença de alteração citopática nestes casos não deve ser
conclusiva no diagnóstico de dengue, por não ser observada em todas as inoculações e
também por ocorrer com gênero Flavivirus e arbovírus de outras famílias.36,99 Além disto,
alguns sorotipos, como exemplo o DEN-4, produz um efeito citopático muito discreto capaz
de passar despercebido, por estes motivos, as células de todos os tubos inoculados com
material clínico para isolamento do vírus, com ou sem efeito citopático, devem ser submetidas
à reação de imunofluorescência21,84.
Em Manaus ocorreram duas grandes epidemias causadas pelo vírus dengue, a primeira
em 1998, onde foi identificado o sorotipo DEN-1, e a segunda, em 2001, que foi associada ao
sorotipo DEN-233.
A ocorrência de positividade no estudo deve servir de alerta às autoridades de saúde
do Estado. Tendo em vista que foram isolados três dos quatro sorotipos do vírus dengue no
Estado do Amazonas, segundo a teoria de Halstead, a FHD ocorre principalmente após
epidemias de febre do dengue, seguindo-se à introdução de um sorotipo diferente ao anterior44,
o estudo da circulação de mais de um sorotipo evoluindo para formas graves também foi
realizada na Tailândia em 2002, autores enfatizam a complexidade da transmissão do vírus
37
dengue e a severidade da doença, e com isso se tem implicações importantes para controle do
dengue e desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz. Por ser a viremia humana a
principal, talvez a única fonte de infecção para o Aedes aegypti, mosquito transmissor de
maior importância epidemiológica para o vírus dengue, os centros urbanos estão infestados
por esse vetor, a persistência da circulação é favorecida pelas elevadas densidades de
populações humanas, taxas de nascimentos e migração, que continuamente recompõem o
número de indivíduos susceptíveis, criando as oportunidades para perpetuar o ciclo de
transmissão do vírus83.
Podemos levar em consideração que o isolamento viral de dengue é a metodologia
mais viável para conhecimento do sorotipo, mas devido à dificuldade de coleta do material,
podemos ter um número muito maior de pessoas que foram expostas ao vírus dengue e que
não foi possível identificar o sorotipo neste estudo. Essa dificuldade na coleta também foi
observada em estudos realizados em Jeddah, Arábia 199919.
Nas amostras avaliadas, o isolamento viral foi obtido em sua maioria no terceiro e
quarto dias de doença (43,5%), confirmando o que se tem observado em outros estudos com a
mesma técnica, onde a maior positividade para isolamento do vírus não excede 5.º dia de
viremia, coincidindo com a queda no número de partículas virais infectantes e com elevação
dos títulos de anticorpos neutralizantes séricos32.
Considerando a prevalência da infecção por sexo, ao contrário do que foi descrito
anteriormente em outras epidemias (Manaus 1998 e 2000), não se observou significância
estatística. Isto sugere que embora a população estudada apresente maior número de pessoas
do sexo feminino, a exposição é a mesma entre os gêneros. Desse modo, os resultados deste
estudo indicam que a transmissão ocorre tanto em local extradomiciliar como nas residências,
resultados semelhantes ao encontrado em um estudo de Vasconcelos e colaboradores em
199896.
Em relação à distribuição por faixa etária, observamos que a média de idade mais
acometida por infecção do vírus dengue foi de 28 anos. A exposição ao vírus vem
aumentando nos mais jovens, sendo esta população a mais susceptível ao vetor enquanto que
os mais idosos vão se tornando imunizados durante os anos. O intervalo de idade entre 15-30
anos obteve 43,3% do total de isolamentos deste estudo, o número maior de infectados foi
mais freqüente nos mais jovens do que em idosos, estes resultados são semelhantes aos de
38
Guzman et al (1999)34, onde se constatou que, durante epidemias em Santiago, as pessoas
mais jovens infectadas estavam acima dos 15 anos de idade.
A maioria das pessoas que efetivamente referiram sintomatologia para dengue
apresentou como sintomas mais freqüentes febre, mialgias, cefaléia, dor retrorbital, artralgias,
prurido e exantema, não diferindo daquele freqüentemente associado com a dengue. A análise
de prevalência deste estudo não mostrou significância estatística. Esses dados confirmam os
achados em outras epidemias estudadas no Brasil e em Porto Rico97,15.
O percentual de amostras positivas para outros Flavivirus e negativas para dengue
(37,11%) sugere que no Estado do Amazonas há circulação de outros Flavivirus ou de
genótipos diferentes como descrito em estudo realizado por Figueiredo, em 1997, que também
evidenciou esta circulação (Inquérito pós-epidêmico)22.
Estudos realizados sobre a variabilidade genética dos vírus dengue demonstraram os
genótipos Caribean e Jamaica para DEN-1 e DEN-2, respectivamente, mas a análise
genômica recentemente executada por Rico Hesse et al82 proveu a existência de uma nova
variante do vírus DEN-2 nas Américas, relacionadas a amostras circulantes na Ásia que são
altamente virulentas quando envolvidas na infecção secundária. Simultâneas infecções são
esperadas quando mais de um sorotipo co-circulam em uma mesma população. As epidemias
causadas por múltiplos sorotipos se tornaram mais freqüentes no mundo nos últimos 18
anos13,59.
As amostras provenientes do LACEN, apesar de 20% do total de amostras analisadas
durante o período do estudo, apresentaram baixa positividade nos isolamentos, este resultado
poderia ser decorrente da coleta do material não ter sido no intervalo adequado para
diagnóstico do vírus (0-5 dias), e/ou acondicionamento da amostra biológica não ter
obedecido aos critérios de temperatura, os soros destinados ao isolamento viral podem ficar a
4ºC, no máximo por 6 horas, logo devem ser congelados no freezer a -70ºC ou em nitrogênio
líquido. O número de positividade das amostras da FMTAM confirma que a coleta,
acondicionamento adequado da amostra biológica no período virêmico (0-5 dias) e em
temperatura adequada (-70ºC) elevam as chances de isolamentos do vírus dengue de acordo
com Rosa e colaboradores no Manual de Técnicas do Instituto Evandro Chagas84.
A estratificação da população deste estudo foi importante para visualizar a distribuição
do vírus dengue e seus sorotipos nas zonas da cidade de Manaus. A maior concentração de
sorotipos isolados neste estudo ocorreu na Zona Centro-Oeste e Centro-Sul, que
39
compreendem os bairros que têm melhor infra-estrutura, organização espacial, serviços de
saúde e localização geográfica de fácil acesso para unidades de saúde e a Fundação de
Medicina Tropical do Amazonas que é referência para o diagnóstico virológico de dengue no
Amazonas. A valorização destes dados tende a fornecer informações da possibilidade do
menor ou maior risco de dengue hemorrágico no Estado.
A Zona Centro-Oeste foi mais acometida por dengue com 28,10% dos casos isolados,
sendo 12 para sorotipo DEN-1 e 4 para DEN-2, que compreendem aos bairros Planalto,
Alvorada, Dom Pedro, Redenção e Bairro da Paz, estes bairros estão mais próximos da
Fundação de Medicina Tropical do Amazonas e talvez por isso o maior número de casos
foram identificados nesta área da cidade de Manaus.
Foi interessante observar que estas Zonas – Centro-Oeste e Centro-Sul – concentram
uma população de poder socioeconômico privilegiado em relação a outras zonas da cidade
que se conseguiu encontrar os maiores índices de positividade. Como normalmente essas
áreas apresentam melhor infra-estrutura, seria de esperar que menores índices fossem
encontrados, o que não ocorreu; a distribuição dos riscos de exposição do vírus dengue, em
relação às distintas situações sociais e econômicas das grandes cidades, ainda é controversa e
que tem sido relacionada tanto as áreas onde residem populações com condições precárias de
vida quanto aquelas em situações mais favoráveis. Estes resultados diferenciam-se daqueles
encontrados por Medronho no Rio de Janeiro,65 onde a dengue atingiu mais as populações
residentes em áreas de baixa infra-estrutura, o que, segundo o autor, corresponde às zonas da
cidade onde a população possui nível socioeconômico mais precário. Pontes e cols73 também
registraram na epidemia de 1990-1991, em Ribeirão Preto, uma grande concentração de
bairros com alta incidência de dengue, situados nas áreas de vida mais desfavorável.
Distintamente, Vasconcelos e colaboradores96, em inquéritos sorológicos realizados em duas
capitais do Nordeste, verificaram que a prevalência da doença foi maior em áreas com
melhores índices socioeconômicos.
Nas áreas mais privilegiadas, os índices de escolaridade são mais elevados, mas nem
sempre correspondem a uma educação também direcionada para a conservação do meio
ambiente, embora disponham de coleta de lixo mais adequada, deixam dispostos nas suas
residências inúmeros tipos de criadouros potenciais do mosquito como uso excessivo de
descartáveis, o hábito de manter plantas aquáticas, entre outros.
40
Na distribuição mensal de amostras positivas deste estudo, apresentam maiores índices
de isolamentos, demonstrando padrão sazonal que coincide com a época chuvosa do Estado
do Amazonas, o que propicia um aumento da densidade e proliferação do vetor e com isso
maiores casos da enfermidade. A sazonalidade das infecções pelo vírus dengue é bem
evidente no Brasil, na maioria dos Estados onde circulam o vírus sua incidência eleva-se
significativamente nos primeiros meses do ano, alcançando maior magnitude de março a
maio, seguida de redução brusca dessas taxas a partir de junho. Este padrão sazonal, que nem
sempre é observado em outros países, tem sido explicado pelo aumento da densidade
populacional do vetor, em virtude do aumento da temperatura e umidade, que é registrado em
grandes extensões do território brasileiro51.
O combate do dengue no país deve considerar a erradicação do Aedes aegypti como
principal meta, e todos os esforços neste sentido ainda não foram totalmente bem-sucedidos.
O vírus pode ser transportado rapidamente de uma cidade à outra devido ao grande fluxo de
tráfego aéreo e terrestre e até de um Continente a outro no sangue de indivíduos na fase
virêmica. Existem grandes possibilidades de epidemias do dengue hemorrágico, uma vez que
o Brasil tem a maior concentração de indivíduos susceptíveis do mundo sob risco de dengue
hemorrágico79.
Dengue é uma preocupação de saúde global, e nenhuma vacina efetiva está disponível
para prevenir a infecção. O aumento compreensivo desta doença, busca um modelo
importante
em que estratégias de saúde pública podem ser introduzidas para controlar
transmissão do vírus e testar a segurança e eficácia de uma vacina para os quatro sorotipos do
vírus dengue.
41
6
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos nos permitem concluir que:
1 – Os sorotipos do vírus dengue circulantes no Estado do Amazonas são os sorotipos
DEN-1, DEN-2 e DEN-3, destes o mais freqüente é o sorotipo DEN-1, o sorotipo DEN-4 não
foi encontrado nas análises deste estudo.
2 – Outros Flavivirus do grupo B dos arbovírus estão circulando no município de
Manaus e em alguns interiores do Estado do Amazonas (São Gabriel da Cachoeira, Itacoatiara
e Eirunepé).
3 – Quanto aos dias de doença em que melhor obtivemos êxito no isolamento viral
foram os terceiro e quarto dias de doença.
4 – O efeito citopático não foi observado na maioria das amostras isoladas e então este
não deve ser um dado conclusivo para positivar uma amostra para vírus dengue.
42
7
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARRETO, M. L. Emergentes, reemergentes e permanentes: tendências recentes das doenças
infecciosas e parasitárias no Brasil. In: MS/FNS/CENEPI. Informe epidemiológico do SUS,
Brasília, p. 7-14, 1996.
BHAMARAPRAVATI, N.; BOOYAPAKNAVIK, R. Pathogenetic studies on thai haemorrhagic
fever: immnuoflorescent localization on dengue virus in human tissue. Bull WHO, 35: 50-51,
1996.
BORGES, S. M. A. Importância epidemiológica do Aedes albopictus nas Américas. São Paulo,
2001 [Dissertação de Mestrado – Faculdade de Saúde Pública da USP].
CALISHER, C. H., KARABASTOS, N. Arbovírus serogroups: Definition and geographic
distribution. In: MONATH, T. P. (Ed.). The Arboviruses: Epidemiology and ecology. Boca Raton,
USA: CRC press, v. 1, p. 19-58, 1988.
CALUNGA, M.; KOURIK, G.; BRAVO, J. E.; RODRIGUESR, R. Algunos aspectos
epidemiologicos del dengue hemorragico em Cuba. Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri,
Ministério de Salud Publica, 1981.
CANTELAR, N. & FERNANDES, A. Epidemiologia do dengue/dengue e dengue hemorrágico.
Oficina em Febre Amarela e Dengue, Roraima, 1998.
CANTELAR, N. & FERNANDES, A. Dengue em Cuba. Tecer Congresso International de Virologia,
Madri, 1975.
1.
CANTELAR. N.; FERNANDES, A.; ALBERT, L.; PEREZ, E. Circulación de dengue em
Cuba, 1978-1979. Ver. Cub. Trop., 33: 7-78, 1981.
CARDOSA, J. Dengue vírus isolations by antibody-dependent enchancement of infectivity, 1987.
CASALS, J. The arthopode – borne group of animal viruses. Transactions New York Academic
Science, v. 19, p. 219-235, 1957.
CAUSEY, O. R.; THEILER, M. Virus antibody survey an sera of residents of the Amazon Valley in
Brazil. Revista Serviços Especiais de Saúde Pública, n°. 12, v.1, : 91-101, 1962.
43
CENTERS FOR DISEASE CONTROL l; U. S. Departament of Health and Human Services. Vectors
tropics n.º 2. control dengue, 1980.
CHAMBERLAIN, R. W.; SUDIA, W. D.; Dual infection of eastern and western encephalitis virus in
culex tarsalis. J. Infect. Dis., 101: 233-236, 1957.
COSTA, M. C. N.; TEIXEIRA, M. G. A concepção de espaço na investigação epidemiológica.
Cadernos de Saúde Pública, p. 271-279, 1999.
CYRINO, J. C. B. Espaço e ambiente na epidemia de dengue em Manaus. Dissertação de
Mestrado, Manaus: Universidade Federal do Amazonas, 1999.
DEGALLIER, N.; ROSA, A. P. A. T.; HERVÉ, J. P.; ROSA, J. F. S. T.; VASCONCELOS, P. F. C. et
al. A comparative study of yellow fever in Africa and South America. Journal of Brazilian
Association for the Advancement of Science. V. 44, p. 143-151, 1992.
DEUBEL, V.; NOGUEIRA, R. M. R.; DROUET, M. T. Direct sequencing of genomic DNA
fragments amplified by the polymerase chain reaction for molecular epidemiology of dengue -2
viruses. Arch. Virol., v. 129, p. 197-210, 1993.
DONALISIO, M. R. de C. O enfrentamento de epidemias: as estratégias e perspectivas do
controle do dengue. [Tese de Doutorado]. Campinas: UNICAMP, 1995.
FAKEEH, M.; ZAKIi, A. M. Virologic and serologic survelleice for dengue fever in Jeddah Saudi
Arabia, 1994-1999. American Journal of Tropical and Hygiene, 65: 764-767, 2001.
FIGUEIREDO, L. T. M.; FONSECA, A. L. B. Dengue. In: VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado
de infectologia. São Paulo: Atheneu, p. 201-214, 1992.
FIGUEIREDO, L. T. M. Os arbovírus do Brasil. Anais da Segunda Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Pesquisadores Nikkeis, Sessão III – Virologia, São Paulo, p. 45-58, 1994.
FIGUEIREDO, L. T. M.; BATISTA, W. C.; IGARASHI, A. Detection and identification of dengue
vírus isolates from Brazil by a simplified reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)
method. Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo, p. 79-83, 1997.
FRAIHA, H. Reinfestação do Brasil pelo Aedes aegypti. Considerações sobre o risco de urbanização
do vírus da febre amarela silvestre na região infestada. Ver. Inst. Med. Trop. São Paulo 1968; 10(05):
289-94.
FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, 2001. Dengue: situação epidemiológica, riscos e medidas
de controle. Boletim epidemiológico eletrônico, http://www.funasa.gov.br.
44
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico (in press),
Brasília (DF), 1999.
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Ministério da Saúde. Instruções para pessoal de combate ao
vetor: Manual de normas técnicas. PEAa. Brasília (DF), 82, 1997.
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Ministério da Saúde. Plano diretor de erradicação do Aedes
aegypti do Brasil, Brasília (DF), p. 158, 1996.
FUNDAÇÃO NAIONAL DE SAÚDE. Guia de vigilância epidemiológica, 4.ª ed. Brasília: Ministério
da Saúde, 1998.
GIANNINI, M. L. Dengue hemorrágico, diagnóstico, tratamento, prevenção e controle. 2.ª ed.,
Santos, SP, 2001.
GLUBER, D. J. Dengue and dengue hemorrhagic fever: its history and resurgence as a global
health problem. In: GLUBER, D. J.; KUNO, G. Editors. Dengue and dengue hemorrhagic fever. New
York: CAB International, p. 1-22, 1997.
GLUBER, D. J.; CLARK, G. G. Community based integrate control of Aedes aegypti: a brief
overview of currents programs. American Journal of Tropical and Hygiene, 50 (6): 50-60, 1994.
GLUBER, D. J.; SHUARYONO, W.; LUBIS, I.; ERAM. S. Epidemic dengue 3 in central Java
associated with low viremia in man. American Journal of Tropical and Hygiene, v. 30, p. 1.0941.099, 1981.
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. Epidemia de dengue na cidade de Manaus-AM.
Relatório elaborado pela Comissão Técnica Estadual de Erradicação do Aedes aegypti, mimeo, 1998.
GUZMÁN, M. G.; KOURI, G. & GONZALES, J. R. B. La emergencia de la fiebre hemorrágica del
dengue em las Americas. Reemergencia del dengue. Revista Cubana de Medicina Tropical, 51: 513, 1999.
GUZMÁN, M. G.; TIRADO. Dengue II. Diagnostico de laboratorio. Immunidad. Epidemiologia. Rev.
Cub. Méd. Trop., 32: 3, 1980.
GUZMÁN, M. G.; KOURI, G.; Advance in dengue diagnosis. Clin. Diagnostic Lab. Immunol, 6:
621-7, 1996.
HALSTEAD, S. B. Dengue haemorrhagic fever – a public health and field for reaserch. Bulletin
of the World Health Organization, 58: 1-21, 1980.
45
HALSTEAD, S. B. Epidemiology of dengue and dengue hemorrhagic fever. In: GLUBER, D. J.;
KUNO, G. Editors. Dengue and dengue hemorrhagic fever. New York: CAB International, p. 23-44,
1997.
HALSTEAD, S. B. Observations related to pathogenesis of dengue haemorraghic fever. VI
Hypotheses and discussion. Yale Journal of Biology and Medicine, p. 42, 1970.
HALSTEAD, S. B. Observations related to phatogenesis of dengue hemorrhagic fever. VI
Hypotheses and discussion. Yale J. Biol. Med., 42, 350, 1970.
HALSTEAD, S. B. Pathogenesis of dengue: challenges to molecular biology. Science, 234: 476480, 1988.
HALSTEAD, S. B. The pathogenesis of dengue. Molecular epidemiology in infectious diaseases,
American Journal of Epidemiology, Baltimore, v. 114, n.º 5, p. 632-648, nov., 1981.
HALSTEAD, S. B.; ROUKE, E. J. Dengue viruses and mononuclear phagocytes. I. Infection
enhancement by nonneutralizing antibody. Journal of Experimental Medicine, 146: 201-217, 1977.
HALSTEAD, S. B.; GLUBER, D. J.; KUNO, G. Editors. Em dengue and dengue hemorrhagic
fever. New York: CAB International, p. 23-44, 1997.
HALSTEAD, S. B.; PAPAVANGELOU, G. El controle del dengue. Vectors topics, 2, Center for
Disease Control, Athanta, Geórgia, 1977.
HAMMON, W. McD. Dengue hemorrhagic fever – do we know its cause? The American Journal of
Tropical Medicine and Hygiene, p. 82-91, 1973.
HERRERA; BASTOS, I. E.; PREVOTS, D. R.; ZARATE, M. L.; SILVA, J. L. First reported
outbreak of classical dengue fever at 1700 meters above sea level in Guerrero State, Mexico,
june, 1998. The American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 6 (6): 649-653, 1992.
HOLMES, E. C.; BARTLEY, L. M.; GARNET, G. P. The emergence of dengue past, present and
future. In: KRAUSE, R. M. Emerging infectors, London: Academic Press, p. 301-25, 1998.
IGARASHI, A. Isolation of singhs Aedes albopictus cell clone sensitive to dengue and
chinkugunya viruses. Journal of General Virology, 40: 531-544, 1978.
INFORME EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE. Governo do Estado do Amazonas, Secretaria
Estadual de Saúde e Departamento de Vigilância em Saúde, Ano II, n.º 1, janeiro, Manaus-AM, 2002.
46
INFORME EPIDEMIOLÓGICO DO SUS. FUNASA. Vol. 8, n.º 4, Epidemiologia e medidas de
prevenção do dengue, 1999.
JAWETZ, E. Y et al. Manual de microbiologia médica. 7.ª ed., El Manual Moderno, México, p. 430,
1977.
JUMALI S.; GLUBER, D. J.; NALIM, S.; Eram, S.; Suliant, S. Epidemic dengue fever in rural
Indonésia, Entomological studies, 28: 717-724, 1979.
JURBERG, C. Dengue epidemic strikes Rio de Janeiro: as expected, Bulletin of the World Health
Organization, 80 (7): 606-607, 2002.
KARABASTOS, N. International catalogue of arboviroses including certain other viruses of
vertebrates, 3.ª ed., San Antonio, USA: American Society of Tropical Medicine & Hygiene, 1985.
KIMURA, R.; HOTTA, S. On the inoculation of dengue virus into mice. Nippon Igakka, 3.379, p.
629-633, 1994.
KOURI, G. P.; GUZMÁM, M. G.; BRAVO, J. Dengue hemorrágico em Cuba. Crônica de uma
epidemia. Boletin de la Oficina Sanitária Panamericana, 100 (3): 322-329, 1996.
KUNO, G. Editors. Dengue and dengue hemorrhagic fever. New York: CAB International, p. 4560, 1997.
LAM, K. S.; MARSHALL, I. D. Dual infections of Aedes aegypti with arbovírus. Arboviruses that
have no apparent cytopathic effect in the mosquito. Am. J. Trop. Med. Hyg., 17: 625-636, 1968.
LEÃO, R. N. Q.; e cols. Doenças infecciosas e parasitárias: enfoque amazônico, Belém: Ed.
CEJUP, 1997.
LOPES, O. S.; COIMBRA, T. L. M.; SACCHETTA, L. A.; PEREIRA, L. E. Isolation of St. Louis
Encephalitis virus in south Brazil. Am. J. Trop. Med. Hyg., v. 28, p. 583-585, 1979.
MARCHETTE, N. J.; HALSTEAD, S. B.; FLAKLER, W. A. Studies on the pathogenesis of dengue
infection in monkeys. III. Sequential distribution of virus primary and heterologous infections.
Journal of Infections Disease, 128: 23-30, 1973.
MARTINEZ TORRES, M. E. Dengue hemorrágico em crianças. Jose Marti: Editorial Havana,
180p, 1990.
47
MÁS, P. (1979). Dengue fever in Cuba in 1977: Some laboratory aspect. In: Pan American
Health Organization. Dengue in Caribbean, PAHO, Washington D.C.: Scientific Publication, 375, p.
40-43, 1977.
MEDRONHO, A. R.; Geoprocessamento e saúde: uma nova abordagem do espaço do processo
saúde e doença. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 1995.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Departamento de Operações. Coordenação
de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores. Manual de Dengue: Vigilância epidemiológica e
atenção ao doente, 2.ª ed. Brasília (DF), 1996.
MUCHAS-MACIAS, J. Arbovírus, In: VERONESI, R. Doenças infecciosas e parasitárias, 5.ª ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 210-216, 1972.
NOGUEIRA, R. M. R.; MIAGOSTOVICH, M. P.; FILIPINIS, A. M. B.; PEREIRA, M. A. S.;
SCHATZMAYR, H. G. Dengue vírus type 3 in Rio de Janeiro, Brazil, 1986-1998. Mem. Inst.
Oswaldo Cruz, 96: 925-926 2001.
NOGUEIRA, R. M. R.; MIOGOSTOVICH, M. P.; SCHATZMAYAR, H. G.; SANTOS, F. B.;
ARAÚJO, E. S. M.; SOUZA, R. V.; ZAGNE, S. M. O. Dengue in State of Rio de Janeiro, Brazil,
1986-1998, Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 83, p. 219-225, 1999.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Dengue. Disease status. Burdens and trends [on-line]
[capturado em 2002]. Disponível em: http://www.who.int/ctd/dengue/burdens.htm
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE – OPS. Dengue y dengue hemorrágico en las
Americas: Guia para su prevención y control. Washington DC: OPS (Publicacion Científica, 548),
1995.
OSANI, C. H. A epidemia de dengue em Boa Vista, Território Federal de Roraima, 1981-1982
[Dissertação de Mestrado]. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública, 1984.
PONTES, R. J. S. Estudo da epidemia de dengue no município de Ribeirão Preto-SP [Tese de
Doutorado]. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, 1997.
PAHO. Dengue and dengue haemorragic fever in the Américas: Guidelines for prevención and
control, Washington: Pan American Health Organization (Scientific publication, 548), p. 98, 1994.
PEDRO, A. O dengue em Nictheroy, Brazil-Médico, 1: 173-177, 1923.
PINHEIRO, F. P. Bussuquara fever. In. BERAN, G. W. Ed. CRC Hebook series in Zoonosis,
Viral Zoonosis, Boca Raton, CRC Press, p. 168-171, 1981.
48
PINHEIRO, F. P. Situação das arboviroses na região amazônica, Internacional Simposium on
Tropical Arboviruses and Haemorrhagic Fever, Belém; Academia Brasileira de Ciências, Rio de
Janeiro, p. 27-48, 1982.
PINHEIRO, F. P.; TRAVASSOS DA ROSA, A. P. A.; TRAVASSOS DA ROSA, J. F. S.
Arboviroses. In: NEVES, J. Diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e parasitárias, 2.ª
ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 291-302, 1983.
PRATA. As condutas terapêuticas de suporte no paciente com dengue hemorrágico, Iesus, 2: 87101, 1997.
REITER, P.; GLUBER, D. J. Surveillance and control of urban dengue vectors. In: GLUBER, D.
J.; KUNO, G. Editors. Dengue and dengue hemorrhagic fever. New York: CAB International, p.
45-60, 1997.
RHODES, A. J.; VAN ROOYEN. Textbook of virologia. Baltimore: Ed. The Williams Co., p. 717,
1968.
RICO, H. Molecular evolution and distribution of dengue viruses type 1 and 2 in nature,
Virology, New York, v. 174, p. 1-15, 1990.
RIGAU; PEREZ; GLUBER, D. J. Surveillance for dengue and dengue hemorrhagic fever, In:
GLUBER, D. J.; RODHAIN, F.; ROSEN, L. Mosquito vectors and dengue virus-vector relation ships,
In: GLUBER, D. J.; KUNO, G. Editors. Dengue and dengue hemorrhagic fever, New York: CAB
International, p. 45-60, 1997.
ROSA, A. P. A. T.; ROSA E. S. T.; DEGALLIER, N. et al. Os arbovírus no Brasil: generalidades,
métodos, técnicas de estudo, doc. Tec. 2, Belém: IEC/FNS, 1994.
ROSEN, L. The emperors new clothes revisited or reflections on the pathogenesis of dengue
haemorrhagic fever, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 26: 337-343, 1977.
ROSEN, L. The emperors new clothes revisited or reflections on pathogenesis of dengue
hemorrhagic fever, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 26: 337, 1997.
SABIN, A. B. Research on dengue during World War II, American Journal of Tropical Medicine
and Hygiene, 1: 30-50, 1955.
SCOTT W. T.; CLARCK, G. G.; LORENZ, L. H.; AMERASIGHE, P. H.; Reiter, P.; EDMAN, J.
Detection of multiple blood feeding in Aedes aegypti, during a single gonothophic cycle using a
histologique technique. Jornal Medicine Entomology, 30 (1): 94-99, 1993.
49
SHOPE, R.; SATHER, G. E.; Arboviruses. In: Lennete F. N. (Eds). Diagnostic Procedures for viral,
rickettsial and clamydial infection, Washington: American Public Health Association, 1979, p. 767814.
SINGH, K. R. P.; PAUL, R.; Isolation of dengue viruses in Aedes albopictus cell cultures, Bull
Who, 40: 982, 1969.
SOARES, P. Etiologia symptomatologia e prophylaxia da dengue – a epidemia do navio francês
Antarès no porto da Bahia, Arquivo do Hospital de Isolamento em Mont Serrat, Salvador, Bahia,
1928.
TEIXEIRA, M. G.; BARRETO, M. L. Porque devemos, de novo, erradicar o Aedes aegypti:
Ciência e Saúde Coletiva, p. 1: 122-135, 1996.
Transmission of dengue 1 and 2 viruses in Greece in 1928, American Journal of Tropical and Hygiene,
29 (4): 635-637, 1980.
Urbanização do vírus da febre amarela silvestre na região infestada. Ver. Inst. Méd. Trop. São Paulo,
10 (5): 289-94, 1968.
VASCONCELOS, P. F. et al. Concomitant infections by malária and arboviruses in brazilian
Amazon region. Revista Latino Americana de Microbiologia, Mexico, v. 32, n. 4, p. 291-294, 1990.
VASCONCELOS, P. F. C.; LIMA, J. W. O.; ROSA, A. P. A. T.; TIMBÓ M. G.; ROSA E. S. T.; et al.
Epidemia de dengue em Fortaleza, Ceará, 1994: inquérito soro-epidemiológico aleatório, Revista
da Saúde Pública, 1998.
VASCONCELOS, P. F. C.; ROSA E. S. T.; ROSA, A. P. A. T.; et al. Epidemia de febre clássica do
dengue causada pelo sorotipo 2 em Araguaína, Tocantins. Brasil, Revista do Instituto de Medicina
Tropical de São Paulo, 35: 141-148, 1993.
VASCONCELOS, P. F. C.; ROSA, A. P. A. T.; DEGALLIER, N.; ROSA, J. F. S. T.; PINHEIRO, F.
P. Clinical and ecoepidemiological situation of human arboviruses in Brazilian Amazônia.
Journal of the Brazilian Association for the Advencement of Science (Ciência e cultura), p. 117-124,
1992.
VOURDAM, V.; KUNO, G.; Laboratory diagnosis of dengue virus infecctions, Cab. Internaional,
1997.
WESTAWAY, E. G. et al. Flaviviridae intervirology. Basel, v. 24, p. 183-192, 1985.
50
WORDL HEALTH ORGANIZATION. Dengue haemorrhagic fever diagnosis, treatment,
prevention and control, 2.ª ed. Geneva: Who, 1997.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guide for diagnosis, treatment and control of dengue
haemorrhagic fever. Technical advsisory comiteeon dengue haemorrhagic fever for Southeast
Asian and Western Pacific Regions, 1975.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guide for diagnosis, treatment and control of dengue
haemorrhagic fever. Technical advsisory comiteeon dengue haemorrhagic fever for Southeast
Asian and Western Pacific Regions, 1980.
ZAGNE, S. M. O. et al. Dengue and dengue haemorrhagic fever in the state of Rio de Janeiro,
Brazil. A study of 56 confirmed cases. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and
Hygiene. London, v. 88, p. 677-679, 1994.
ZANOTTO, P. M. A.; GOULD, E. A.; GAO, G. F.; HARVEY, P. H.; HOLMES, E. C. Population
dynamics of flaviruses revelead by molecular phylogenies, Proc, Natl. Acad. Sci., USA, 93: 548-53,
1996.
8 . ANEXOS
8.1
FICHA DE NOTIFICAÇÃO DO DENGUE