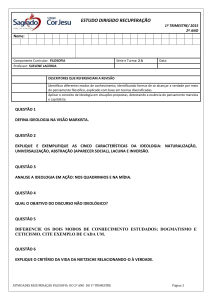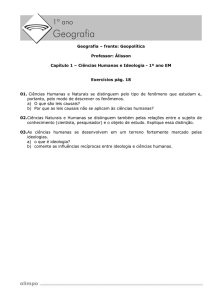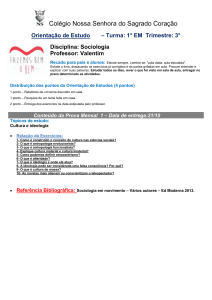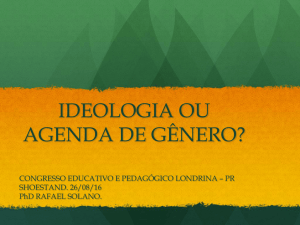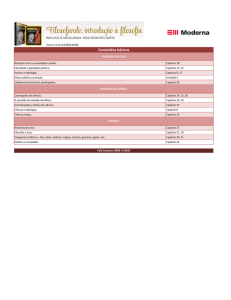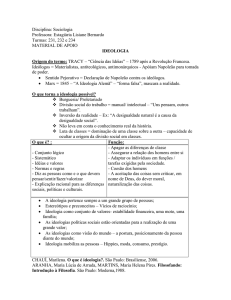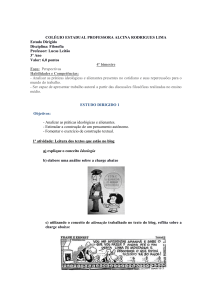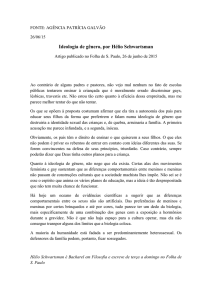Enviado por
common.user12709
Savio Cavalcante - As classes sociais no Brasil contemporaneo

39º Encontro Anual da ANPOCS GT 3 – As classes sociais no Brasil contemporâneo Reprodução social e revolta política da classe média no Brasil recente Sávio Machado Cavalcante Professor do Departamento de Sociologia (Unicamp) [email protected] Outubro de 2015 Caxambu/MG Introdução1 Este trabalho procura contribuir para a explicação e compreensão da lógica de reprodução social da alta classe média brasileira a partir de um campo específico de análise: a reação política recente percebida em setores sociais e profissionais a ela vinculados, principalmente em manifestações de rua ocorridas em 2015 em várias cidades brasileiras, especialmente São Paulo. A tese de fundo que orienta essa análise é a de que a revolta atual da classe média é a resposta, ainda difusa e com contornos multifacetados, aos efeitos das políticas econômica e social dos governos Lula e Dilma. Sem a pretensão de esgotar todas as dimensões desse aspecto, busca-se identificar as linhas gerais dessas políticas e destacar a dimensão, no tocante a políticas sociais, de programas compensatórios que secundarizam o critério meritocrático e promovem, direta ou indiretamente, impactos no modo de vida particular da classe média brasileira. O foco aqui é a camada superior da classe média, aquela que, desde o início da década de 2000, transitou de uma aversão genérica “ao sistema político” ou “à corrupção em geral” a uma oposição mais organizada e declarada ao projeto levado a cabo pelos governos dos Partidos dos Trabalhadores, cujo resultado foi o surgimento e/ou fortalecimento de reações de direita nessa camada da população brasileira. O texto divide-se em seis partes. No primeiro, apresentamos e justificamos o problema geral de pesquisa. No segundo, indicamos o modo pelo qual caracterizamos os governos Lula e Dilma, sugerindo a ideia de um “ciclo neodesenvolvimentista” que não rompe com a política neoliberal de fundo. No terceiro, são problematizadas as explicações existentes sobre a relação da classe média com o ciclo neodesenvolvimentista. No quarto, formulamos e desenvolvemos hipóteses explicativas que buscam apreender o fenômeno de modo alternativo à abordagem economicista. Para tanto, exige-se uma discussão conceitual e teórica sobre o funcionamento de diferentes ideologias nesse processo, o que discutimos na quinta parte deste texto. Ao fim, 1 Uma versão modificada deste texto (que foca problemas distintos a partir do mesmo objeto) será publicada com o título “Classe média e conservadorismo liberal”, ainda no segundo semestre de 2015, em livro organizado por Sebastião Velasco e Cruz, André Kaysel e Gustavo Codas. Agradeço a Armando Boito Jr. pela leitura e pelos comentários feitos a uma das versões do texto. 2 sugerimos como certas pesquisas de opinião sobre as manifestações podem revelar importantes dimensões para análises futuras. 1. O problema geral de pesquisa É preciso reconhecer, antes de tudo, que a relação entre o ciclo político caracterizado pelos governos Lula e Dilma e as classes médias no Brasil tornou-se um exercício sociológico difícil em razão de certos obstáculos conceituais que o debate sobre as classes sociais enfrentou no mesmo período, particularmente devido ao significativo aumento de renda verificado em parte da população, um estrato que, equivocadamente do ponto de vista sociológico, recebeu o nome de “nova classe média”. Não foi pouca a atenção dirigida a esse contingente da população, especialmente por ele ter se alçado à condição de um “novo consumidor” carente de serviços e mercadorias “específicos”. A confluência dos governos do PT com esses grupos – que são, na verdade, novos grupos da classe trabalhadora – tendeu a ocultar o que de fato ocorria em relação à classe média digna de ser assim designada: seu gradual afastamento político em relação aos projetos desses governos. O indício mais evidente desse processo é o mesmo descrito por A. Singer (2012) por meio da tese do realinhamento eleitoral, ocorrido especialmente a partir das eleições de 2006. Essa eleição é importante por explicitar dois movimentos fundamentais subjacentes ao “lulismo” na política brasileira: a adesão do subproletariado e o afastamento da alta classe média em relação à plataforma política representada pelos governos do PT2. É a partir desses fenômenos que se procura, neste trabalho, sugerir e desenvolver hipóteses explicativas que conjuguem esses dois movimentos com vistas a compreender os impactos causados por esse projeto na reprodução social da classe média nesse período. Além do realinhamento eleitoral, fenômenos recentes corroboram a oposição mais acirrada proveniente da classe média: a formação e radicalização de grupos liberais e/ou 2 É preciso observar, contudo, que entendemos o subproletariado e a alta classe média como “classesapoio” de programas políticos distintos e não como as classes que têm seus interesses priorizados por esses programas. Ver Boito Jr. (2013). 3 conservadores com presença marcante da classe média e manifestações de rua de 20133 e, principalmente, de 2015, que foram conclamadas em grande parte por esses mesmos grupos4. O perfil dos manifestantes, como revelam as pesquisas realizadas em 2015, denotam um caráter explicitamente de classe média ao movimento5. Ainda que não a realizemos nesse espaço, é uma tarefa necessária, em outro momento, diferenciar os efeitos da política econômica e social no conjunto heterogêneo que é a classe média. Contudo, como indicamos, nosso foco no momento é a alta classe média. Sugerimos que a aproximação a essa noção “prática” de pesquisa6 leve em consideração três dimensões que, na maior parte dos casos, se combinam quando o objetivo é identificar indivíduos ou famílias de alta classe média. A primeira aproximação é aquela que diz respeito estritamente ao âmbito da renda e teria como referência as famílias com rendimento superior a 10 salários mínimos e não pertencente ao 1% mais rico da sociedade brasileira. A segunda aproximação é determinada pelas relações de trabalho e faz referência a profissionais autônomos, como médicos e advogados, ou assalariados com graus mais elevados de autonomia, como professores universitários, e aqueles assalariados diplomados mais diretamente vinculados às funções de gestão e controle técnico-administrativo nas burocracias privadas ou estatais, como economistas e engenheiros. A terceira aproximação busca dar conta do âmbito social mais geral e se refere àqueles que monopolizam o acesso ao capital cultural e que transformam a pertença a esse espaço social em um atributo do talento e méritos individuais7. 3 Evidentemente que a referência não é ao “junho de 2013” de caráter popular, em que demandas de grupos que não se satisfizeram com a melhoria vivenciada da “porta para dentro de casa” exigiram um desenvolvimento mais agudo da “porta para fora”. Trata-se do momento das manifestações de 2013 dominado pela pauta contrária à corrupção em geral e de perfil notadamente de classe média. 4 Grupos com projetos e bandeiras distintos como “Vem Pra Rua”, “Movimento Brasil Livre”, “Revoltados On Line”. 5 Em São Paulo, as pesquisas (Ortellado et al., 2015; Perseu Abramo, 2015; Datafolha) convergem num perfil de manifestantes em que 70% têm ensino superior completo e de 40% a 50% possuem renda mensal superior a 10 salários mínimos. 6 O termo “noção prática de pesquisa” foi utilizado por Décio Saes (1977) com o intuito de observar, no plano metodológico, que o fenômeno da classe média não é um dado a priori deduzível de um sistema teórico, mas resultado de uma análise das práticas políticas de diferentes setores do trabalho assalariado no capitalismo. Em nossa definição provisória de alta classe média, estamos incluindo trabalhadores “autônomos” com níveis elevados de qualificação e não apenas a classe média assalariada. 7 Uma combinação, como se pode notar, da teoria marxista com formulações de Bourdieu e Passeron (1975) e Bourdieu (2007). 4 Não se trata, evidentemente, de um modelo fechado com pretensões estatísticas. Apenas uma orientação prática de pesquisa capaz de situar e tornar compreensíveis os espaços econômicos e sociais em que a alta classe média se reproduz. No registro individual, inúmeros casos poderiam ser situados em apenas um ou dois desses âmbitos. Porém, nos parece bastante razoável afirmar que o perfil sociológico específico de alta classe média brasileira responde positivamente a essas três dimensões de análise. Seguimos o argumento geral de Décio Saes segundo o qual a classe média é uma camada distinta de trabalhadores na medida em que absorve de maneira particular a ideologia dominante de valorização do trabalho e mobilidade social, em razão de sua posição nas funções intelectuais de produção e gestão em diversos setores da economia. A forma particular pela qual absorve a ideologia dominante produz sua ideologia orgânica específica, qual seja, a ideologia meritocrática própria a trabalhadores intelectuais mais distante da fábrica e do trabalho manual, os quais justificam e naturalizam a hierarquia do trabalho como se essa hierarquia fosse uma expressão de uma pirâmide natural de “dons e méritos”, como apresentaram Bourdieu e Passeron (1975). A contradição entre capital e trabalho é parcialmente apagada e substituída por um sentimento de superioridade do trabalho não manual conquistado por mérito individual, especialmente nas funções técnico-científicas. No Brasil, essa ideologia é potencializada pela herança escravocrata e é reproduzida por meio de uma complexa imbricação entre valores meritocráticos e privilégios de classe “naturalizados”. Eis a tese que aqui iremos desenvolver, ainda que sua completa fundamentação esteja em processo e diversas questões sejam apenas tangenciadas: a política econômica e social dos governos Lula e Dilma – a despeito de diferenças entre os mandatos – promoveu impactos significativos na reprodução social da classe média brasileira. Esse impacto não pode ser avaliado apenas em termos “financeiro-econômicos”. Trata-se de pensar a articulação com o componente ideológico e social mais geral que justifica o lugar superior desta classe na hierarquia social: por isso, enfatizamos como um dos efeitos mais importantes dessas políticas sociais (como Bolsa Família e cotas) o fato de que elas secundarizam o critério meritocrático como forma de escolha/seleção a serviços ou instituições públicas. 5 2. O ciclo político dos governos do PT As reações da classe média nos últimos anos precisam ser compreendidas no interior de um ciclo político específico inaugurado pelo governo Lula no Brasil. Trata-se de um tema bastante controverso, já que a caracterização desses governos mobiliza diferentes marcos teóricos e programas políticos em disputa. Não temos a intenção, neste breve espaço, de esgotar o problema, mas indicar o caminho de análise que adotamos neste texto. Nessa polêmica, destacam-se duas tendências mais claramente discerníveis. A primeira enfatiza o quadro macroeconômico que denota a preservação do modelo neoliberal herdado da década de 1990, em que se destaca a prioridade ao capital bancário-financeiro, e avalia a relativa melhora em aspectos sociais como resultado de políticas compensatórias ajustadas a esse modelo. Tratar-se-ia, de maneira geral, de um social-liberalismo. A segunda tendência enfatiza as descontinuidades com o modelo neoliberal e identifica um novo desenvolvimentismo como o traço característico desse ciclo, pois, ao reorientar a ação do Estado no âmbito das políticas de investimento, de crédito e social, teria ocorrido uma inversão da lógica neoliberal anterior. Orientamo-nos por uma posição distinta de ambas, que não se apresenta, importante observar, como um “meio-termo”, mas como deslocamento parcial de eixos de referência, isto é, neodesenvolvimentismo e neoliberalismo, nos marcos de um capitalismo internacionalmente financeirizado, não são, necessariamente, termos mutuamente exclusivos. O ciclo político do período foi marcado pela existência de uma frente neodesenvolvimentista que tinha como objetivo melhorar a posição da grande burguesia interna brasileira no interior do bloco no poder e, ao mesmo tempo, obter concessões, com medidas anticíclicas e pró-consumo, às classes populares. Porém, como tudo isso foi feito sem que fossem atacados diretamente os pilares da política neoliberal macroeconômica, há uma distância enorme entre a existência de uma frente neodesenvolvimentista e a consecução de seus objetivos. Com o ciclo em crise e possivelmente em seus estertores, é possível dizer que o limite foi justamente não conseguir abalar (ou sequer ter se proposto a tanto) os fundamentos que garantem a hegemonia da fração bancário-financeira, cujos interesses limitam tanto o 6 desenvolvimento no longo prazo quanto projetos mais substantivos de distribuição de riqueza. E, por estar baseado fortemente em setores exportadores de commodities, há pouca alteração da estrutura produtiva nacional. Ainda que numa formulação paradoxal, pensamos ser pertinente caracterizar esse ciclo como um desenvolvimentistas. modelo Algo neoliberal próximo modificado a que Boito parcialmente Jr. (2012) por políticas chamou de “desenvolvimentismo possível num modelo neoliberal periférico reformado” e que Saad Filho e Morais (2011) mostraram como o caráter complementar, mas não substitutivo, de propostas neodesenvolvimentistas em relação à política econômica neoliberal. Para os objetivos aqui traçados, mesmo que, desse processo, o resultado tenha sido um “reformismo fraco”, o fato é que ele produziu efeitos significativos e importantes quando se toma como referência o ponto de partida do projeto, como salienta Singer (2012): uma sociedade com altos níveis de pobreza e miséria, com uma desigualdade extremamente elevada e parte considerável da população sequer integrada à massa que vende força de trabalho nos moldes capitalistas. 3. Classe média e o ciclo neodesenvolvimentista Se existem diferenças importantes, como já assinalamos, na relação da baixa classe média com o ciclo neodesenvolvimentista, o sentimento de aversão e reação negativa aos efeitos mais gerais desse projeto por parte da alta classe média é o que predomina em suas fileiras. As manifestações de rua em 2015 contra o governo podem ser vistas como o clímax de um processo que anunciava uma revolta conservadora. Interessa-nos mais propriamente entender como se efetivou esse processo, que fez a discordância se transformar em oposição explícita, mais bem articulada e, não raro, virulenta. Duas explicações destacam-se na literatura sobre o tema e nas intervenções dos próprios agentes: a revolta contra a corrupção e os impactos socioeconômicos negativos sentidos pela alta classe média nos últimos anos. Essas duas razões tocam em aspectos importantes do processo, mas se mostram insuficientes ao descurar de determinações de maior alcance. No tocante à corrupção – a mais forte motivação autodeclarada dos próprios manifestantes – é inegável que esse tema tenha se transformado no maior aglutinador das 7 reações contrárias ao governo, especialmente a partir da crise do “mensalão” ocorrida no primeiro governo Lula. Para parte significativa dos manifestantes de 2015, a revolta se dirige ao “sistema político como um todo”8. Seria um equívoco desconsiderar o papel que tem cumprido a crítica à corrupção na escalada de rejeição aos governos petistas e, mais ainda, menosprezar as consequências gerais de um projeto político (como o do PT) que, para alcançar seus objetivos, não construiu alternativas às já tradicionais formas, legais ou ilegais, de financiamento de campanha e conquista de apoio político, isto é, que admitiu como uma “necessidade tática” seguir as regras existentes. Contudo, como a corrupção é estrutural a qualquer sistema político que está inscrito no interior da luta entre frações da classe dominante e grupos econômicos – e as particularidades da formação brasileira servem aí de mola propulsora – qualquer luta anticorrupção é necessariamente seletiva e orientada por fins diversos. Em outras palavras, para que o discurso anticorrupção ganhe corpo e se mostre atrativo não apenas a “indivíduos”, mas a uma classe ou camada social como um todo, outros interesses precisam ser despertados e o decisivo é saber que programa alternativo se pretende implantar em substituição ao que é atacado. Assim, ainda que, no limite, tal movimento possa estar reacendendo um espírito udenista já conhecido na história brasileira, é preciso reconhecer suas novas feições. A segunda razão mais comumente oferecida – desta feita, pelos críticos aos protestos - atribui a um declínio socioeconômico as causas da revolta de classe média. Ressalta-se, igualmente, que a elevação de renda de estratos inferiores fez com que espaços reservados à classe média e à burguesia (o caso dos aeroportos é emblemático) começassem a ser frequentados também por camadas populares, o que teria se chocado com a “demofobia das elites”. Parece-nos, de fato, que essa consideração toca parte da base objetiva que condiciona a reação negativa da alta classe média. Porém, é preciso evitar um viés economicista de apreensão dos fenômenos que pode daí surgir – ou mesmo superestimar o impacto econômico que teria sofrido a classe média. O fato é que a política econômica neodesenvolvimentista não pode ser vista simplesmente como negativa para a alta classe média, e as possíveis perdas financeiras 8 Ver Ortelado et al. (2015). 8 devem ser avaliadas em termos absolutos e relativos. Se, por um lado, é possível que as classes populares tenham se aproximada da classe média em geral – o que se conclui a partir da queda de índices que expressam a desigualdade social – por outro lado, alguns dos espaços mais importantes de reprodução socioeconômica dos indivíduos de classe média perceberam um crescimento importante em comparação à década de 1990. É o caso, sobretudo, da trajetória de expansão dos concursos públicos e do emprego em geral no funcionalismo vinculado ao Estado. Gomes e Sória (2014) mostram que os governos Lula e Dilma interromperam a trajetória de declínio do funcionalismo público e o nível de emprego neste setor recuperou os índices do começo da década de 1990, ou seja, antes dos programas mais abrangentes de redução de empregos públicos. Novas diretrizes foram estabelecidas, especialmente as que tinham por objetivo substituir funcionários com baixa qualificação por quadros técnicos com escolarização mais elevada. E, importante destacar, o campo mais positivamente afetado foi a área de educação: quase metade dos novos servidores públicos, no período de 2002 a 2013, eram vinculados ao Ministério da Educação, principalmente via o programa REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Públicas). Porém, como indicamos a seguir, a estrutura geral do mercado de trabalho e as políticas de transferência de renda sinalizam pressões no sentido inverso, isto é, movimentos que tendem a deteriorar de maneira absoluta ou relativa os ganhos da alta classe média. De qualquer modo, evitar o economicismo das análises significa não reduzir um problema sociológico a um cálculo utilitário de ganhos e perdas. Em verdade, não se deve entender o “econômico” de modo limitado, como um sinônimo de problema “monetário” ou “financeiro”, mas numa concepção mais ampla, que o concebe simultaneamente como estrutura determinada e determinante na relação que estabelece com as estruturas políticas e ideológicas. A hipótese aqui levantada é a seguinte: mesmo que existam possíveis perdas em termos de renda, o impacto econômico só pode ser avaliado por “perturbações” ideológicas e simbólicas que atingem um modo de vida de classe média. Indo além, diríamos que é o componente ideológico que parece potencializar de forma mais aguda a revolta da classe média. Essa revolta será marcada, nesse sentido, por uma reação político-ideológica particular: para sustentar o privilégio de classe média – produto da 9 formação brasileira que resistiu à incorporação completa da ordem competitiva de classes – recorre-se a um apego peculiar à meritocracia que se combina com uma aversão conversadora à massa “ignorante e preguiçosa” que é “complacente” com a corrupção ou “comprada” pelo governo. Mas, como a ideologia e condições materiais não se dissociam, comecemos por analisar o grau e sentido de algumas transformações do mercado de trabalho. A característica mais importante do ciclo foi promover um crescimento econômico que, embora moderado na média, permitiu, ao ser combinado com outros fatores, um decréscimo forte do desemprego, aumentou as taxas de formalização do emprego e elevou a renda média per capita. Em 2003, a taxa de desocupação nas maiores regiões metropolitanas do Brasil, segundo o IBGE, era de 12% - uma das maiores do mundo à época. Uma década depois, o sentido foi invertido e o país apresentava uma das menores taxas mundiais, em torno de 5%. O estoque de empregos formais praticamente duplicou entre 1999 e 2013, de 25 para 48 milhões de vínculos (Oliveira, 2015). O rendimento do trabalho na renda nacional aumentou 14,8% de 2004 a 2010 e o grau de desigualdade na distribuição pessoal da renda do trabalho diminuiu em 10,7% (Pochmann, 2012). O índice de Gini – se construído com base na distribuição do rendimento médio mensal de todos os trabalhos das pessoas acima de 15 anos – caiu de 0,563, em 2001, para 0,494, em 2013 (Oliveira, 2015). Outra marca do período foi o processo de valorização do salário mínimo (SM), que ocupou um papel fundamental na redução da pobreza ao lado das políticas de transferência de renda. O valor real do salário mínimo mais do que duplicou em uma década e, segundo boletim do Banco Central (BC 2015), seu poder de compra em 2015 foi o maior desde agosto de 1965, mais precisamente, o maior da série histórica à exceção do período de 1954 a 1965. As políticas de oferta de crédito, ampliadas desde o primeiro mandato de Lula, tiveram também um efeito importante ao destravarem um potencial de consumo popular represado. Porém, está igualmente no mercado de trabalho o lado frágil do neodesenvolvimentismo: o ciclo de crescimento econômico não alterou a estrutura produtiva nacional a ponto de elevar na mesma proporção os postos de trabalho que exigem maior qualificação. O parque industrial e as cadeias produtivas continuaram 10 dependentes da lógica externa e a proeminência da exportação de commodities promoveu os receios de uma desindustrialização negativa para o país. Um dos sinais mais claros é o fato de quase 95% dos empregos criados na década de 2000 estiveram na faixa de até 1,5 salário mínimo (Pochmann, 2012), majoritariamente no setor de serviços e em postos com exigência de baixa qualificação. Se, em 2000, os empregos reunidos nessa faixa correspondiam a 29,7% do total de empregos, em 2013 eles representam 49,9%. Na parte superior, o movimento foi contrário: os empregos na faixa dos 5 a 10 SM caíram de 16,2% para 9,2%, e a faixa acima dos 10 SM recuou de 10,7% para 4,9%9. No tocante à renda, os dados da PNAD indicam que houve uma relativa melhora da distribuição de rendimentos no período10. Os 10% mais ricos, em 2004, se apropriavam de 45,5% da renda total, enquanto os 40% mais pobres detinham 10,6%. Em 2013, essas proporções passaram a ser, respectivamente, de 41,4% e 13,2%. Mudança pequena, se comparada ao “ponto de partida” brutalmente desigual, como observou A. Singer, mas nem por isso desprezível. Ainda que fraco e muito aquém de um viés socialdemocrata tradicional ou um reformismo forte, esse processo acarretou, entre outras questões, dois movimentos significativos para a compreensão mais geral que temos até aqui discutido. Para as camadas organizadas da classe trabalhadora, representou um poder de barganha desconhecido por uma geração e que permitiu, após negociações e greves, reajustes quase sempre acima da inflação. Para a massa empobrecida e precariamente inserida nas relações de trabalho, houve um processo de maior integração ao mercado (de consumo ou de venda da força de trabalho). O outro pilar desse ciclo foi construído por políticas sociais que tiveram um papel importante na redução dos níveis de pobreza extrema e por projetos na área de educação responsáveis por ampliar o acesso, especialmente, ao ensino superior. Nesse sentido, é crucial apreender os efeitos causados pelos principais programas do governo, como Bolsa Família, programas de cotas sociais e étnico-raciais e aumento de vagas, no ensino 9 Ver dados do DIEESE em Oliveira (2015). Quando as pesquisas se baseiam em outras fontes, como informações tributárias, percebe-se que mesmo a limitada queda da desigualdade não se aplica quando a referência é a renda do 0,1%, 1% e 5% mais ricos da população. Ver Medeiros et al. (2014). O fato é que há dificuldades de se auferir as rendas do topo apenas com pesquisas de amostras domiciliares. 10 11 superior público e, além das vagas, bolsas e crédito estudantil no sistema privado (REUNI, PROUNI e FIES). O Bolsa Família provoca um efeito aparentemente contraditório: se, por um lado, vai de encontro à ideologia burguesa geral de valorização do trabalho ao desvincular renda de emprego, por outro, ajusta-se e fortalece uma concepção liberal de resolução de problemas sociais na medida em que a sociedade é vista como uma divisão de ricos e pobres. Os pobres, nesse esquema, não são aqueles produzidos por um tipo específico de desenvolvimento do capitalismo, mas apenas os que não têm “ainda” a chance de serem ricos – não é à toa que seus principais formuladores foram economistas liberais que conseguiram reduzir propostas originais de renda básica universal a políticas focalizadas compensatórias com certas condicionalidades. Já os programas de cotas atingem frontalmente a ideologia meritocrática que, embora subproduto da ideologia burguesa de valorização do trabalho em geral, é uma ideologia orgânica a trabalhadores de classe média – aprofundaremos esse ponto a seguir. Por fim, a expansão do ensino superior, ao elevar (com qualidade ou não) o número de diplomados, altera as relações de oferta e demanda por força de trabalho qualificada e potencialmente acirra a disputa por determinados postos de trabalho. 4. Hipóteses sobre a revolta de classe média Como, afinal, esse conjunto de mudanças afeta a reprodução social da alta classe média? As respostas que oferecemos a seguir tentam incorporar o “econômico” sem cair no economicismo. a) o resultado da soma de efeitos causados pela queda do desemprego, aumento da renda média do trabalho com queda da desigualdade e pelo Bolsa Família é um impacto considerável tanto em termos econômicos quanto simbólicos, o que significa dizer que há uma série de variáveis que pressiona os gastos que socialmente caracterizam uma vida de classe média. E, nesse aspecto, os serviços pessoais tradicionalmente prestados pelo subproletariado, especialmente o emprego doméstico, ganham destaque. Alguns dados da cidade de São Paulo são bastante expressivos nesse sentido. Serviços “essenciais” para a alta classe média – como babá, caseiro, faxineira, lavadeira, passadeira, motorista particular, auxiliar de enfermagem, emprega doméstica e outros de 12 serviços eventuais de construção e reparo, como pintores e marceneiros – tiveram seus preços elevados em patamares muito superiores aos da inflação no período de 2008 a 2013. Nesse período, a inflação (pelo índice IPC-Fipe) foi de 31%. A variação dos preços de todos os serviços indicados ficou acima dos 50%: babá (102%), caseiro em São Paulo (89%), caseiro no interior/litoral (80%), faxineira/lavadeira/passadeira (66%), motorista particular (61%), auxiliar de enfermagem (54%), empregada doméstica (51%), diferentes tipos de pintura (cerca de 110%), colocação de revestimento em parede (80%) e colocação de piso (59%) (Datafolha, 201311). As elevações dos preços não são simples fatos “de mercado”. Estão diretamente ligadas aos efeitos de medidas tomadas pelo governo, como a política de valorização do salário mínimo e programas de qualificação técnica para a população de baixa renda que, em conjunto, diminuem relativamente a oferta de força de trabalho nessas ocupações. E, importante notar, não se trata apenas de possível elevação dos gastos, mas também de nova conformação política da relação entre “patrões” e “empregados” com o advento da lei que regulamenta a profissão de trabalhador(a) doméstico. Segundo J. Souza (2009), seria esta uma cotidiana e silenciosa “luta de classes”, a saber, entre a classe média e a “ralé”12, que não tem alternativa de sobrevivência exceto se vender como corpo e energia muscular bruta para famílias de classe média que, “por comparação com suas similares europeias (...), têm o privilégio de poder poupar o tempo das repetitivas e cansativas tarefas domésticas, que pode ser reinvestido em trabalho produtivo e reconhecido fora de casa” (p.24). Para a classe média, dificilmente o mérito de seus filhos será relacionado, pela proporção inversa, aos “desvios” e demérito dos filhos dessa outra classe. b) Ainda que o Brasil atual apresente uma desigualdade brutal – e, em parte, justamente por isso – o ritmo de queda na década de 2000 foi muito forte. Segundo o estudo de S. Soares (2010), a taxa de redução do coeficiente de Gini no Brasil até 2006 foi comparável ou até superior àquela relativa aos processos de implementação de Estados de Bem-estar Social na Europa. Contudo, décadas de manutenção desse ritmo 11 “Valores dos serviços superam inflação”. Pesquisa Datafolha de 7/02/2013. É o termo que Souza utiliza para se referir à situação de classe mais precária e ignorada da sociedade, próximo ao que temos indicado aqui por subproletariado. 12 13 (apoiadas em políticas de desenvolvimento) seriam necessárias para estabelecer um padrão social distinto. Mesmo assim, esse sentimento não passou incólume nas camadas superiores da classe média. Não é que eles tenham percebido, via cálculo prospectivo, que, se mantida a redução anual de 0,7 no Gini para as próximas duas décadas, como observa Soares (2010, p. 376), não seria possível continuar a viver num país com tantas contradições, que continue a ver “um exército de empregados particulares passando as roupas, encerando os pisos e lavando os banheiros da classe média”. Mas, possivelmente, tiveram que aprender a lidar de outro modo com indivíduos que, se antes já frequentavam os mesmos espaço, estavam ali apenas na condição de subordinados. Talvez quem mais bem capturou esse espírito tenha sido um célebre conservadorliberal do momento, que, por estilo, não perde a chance de se autoelogiar por não temer expor seus sentimentos ante o “politicamente correto”. Assim se expressou L. F. Pondé: Estou a 25 mil pés de altitude, voando num desses turbohélices. Adoro o som da hélice. Lá embaixo, paisagens distantes. Gosto de voar. Comecei a voar com um ano de idade, quando meu pai, então um jovem capitão médico da aeronáutica, me levava para voar em aviões da FAB. Entretanto, detesto aeroportos e classes sociais recém-chegadas a aeroportos, com sua alegria de praças de alimentação. Viajar, hoje em dia, é quase sempre como ser obrigado a frequentar um churrasco na laje (Folha de São Paulo, 15/11/2010). Essa avaliação não seria explicitada (pelo menos dessa forma) pelo sujeito médio de classe média, porém, é interessante notar como a crítica ao “consumismo” do pobre que percebeu aumento de renda assume tons moralistas – justamente por uma classe que se entrega ao consumo de maneira conspícua. c) se focarmos, agora, o impacto dos programas que elevaram o contingente de alunos no ensino superior, percebe-se um dos efeitos perversos do neodesenvolvimentismo: ao não promover mudanças estruturais no mercado de trabalho – o aumento dos empregos foi em setores de baixa intensidade tecnológica e com pouca exigência de qualificação – ocorre o que os liberais chamam de “diminuição do retorno de investimento em capital humano”. As credenciais de antes não garantem os postos de trabalho do presente. Eleva-se uma competição entre diplomados que, por um lado, contribui para diminuição da desigualdade de renda, mas, por outro, faz com que 14 gradualmente os esforço dispendidos em educação se transformem em frustações, dificuldades de reprodução da condição social dos pais ou, simplesmente, dívidas13. Para que as frustações e dívidas não abatam a alta classe média, novos “investimentos” em educação precisam ser feitos em estágios superiores14. Há um adiamento da entrada de jovens no mercado de trabalho, o que causa, cada vez mais, um atraso da saída dos filhos das casas dos pais – efeito bastante presente e discutido também na Europa. Trata-se, portanto, do efeito inverso ao provocado pelo desenvolvimentismo antigo, principalmente no período militar, em que a transformação da base produtiva aumentou a oferta de postos de trabalho qualificados no seio de uma população semiletrada. O resultado foi uma enorme disparidade de ganhos em favor dos diplomados. Chegamos, nesse ponto, a uma questão fundamental. O desenvolvimento do capitalismo no Brasil efetivou-se deixando à margem boa parte da população, que pouca concorrência exerce com a classe trabalhadora. Esse contingente é força de trabalho barata para prestação de serviços pessoais, principalmente para classe média e burguesia. Assim, se o desenvolvimentismo tradicional construiu o melhor dos mundos para a classe média– gerou maiores oportunidades de emprego e renda preservando as condições precárias de parte da população que sustenta um modo de vida particular –, o neodesenvolvimentismo, se radicalizado, poderia ser o pior dos mundos: a existência de uma inclusão social e pressão dos de baixo, ainda que relativa, sem proporcional melhoria de sua inserção no mercado de trabalho. É possível que, subjacente às manifestações de ódio político seletivo que crescem nesses setores, exista um sentimento de frustação e indignação quanto à dificuldade de reproduzir as mesmas condições um determinado modo de vida – ainda mais em um programa que concede bolsas e prioriza grupos da população em nome de uma forma de justiça social15. 13 Ver, para tanto, a análise de A. Cardoso (2010) sobre o fim do padrão desenvolvimentista de inserção ocupacional, que se expressa por uma deterioração das chances, por parte dos mais qualificados, em aceder aos mesmos postos de trabalho. 14 Dados recentes da PNAD revelam que, de fato, os assalariados com mais anos de estudo tiveram um crescimento significativamente menor da renda em comparação aos demais. Contudo, há indícios de novas (e fortes) desigualdades sendo constituídas um “passo adiante”, isto é, em relação aos que possuem pósgraduação. 15 Nas palavras de outro célebre liberal-conservador, ainda em 2007, ao comentar a crítica feita ao movimento “Cansei” por ser de classe média: “Um grito de protesto da classe média é ilegítimo? É ela hoje o verdadeiro ‘negro’ do Brasil: paga impostos abusivos; não utiliza um miserável serviço do Estado, sendo obrigado a arcar com os custos de saúde, educação e segurança; tem perdido progressivamente a 15 d) É preciso discutir, portanto, os efeitos dos programas sociais e de cotas. E, com isso, atingimos a questão central do argumento que temos desenvolvido: a reação conservadora da classe média se efetiva em meio a mudanças materiais e objetivas importantes, mas o teor e intensidade da revolta explicam-se em maior medida em razão de uma afronta a ideologias que fornecem a justificação de mundo da classe média. A introdução de cotas sociais e étnico-raciais tem um efeito duplo: retiram espaços em universidades públicas e em outros concursos que antes constituíam reservas de mercado da classe média. E, ao fazer isso, questionam a validade prática e normativa de mecanismos meritocráticos. Essa perturbação na “normalidade meritocrática” de processos sociais constitui um elemento decisivo para a consolidação de um sentimento de revolta na classe média16. Essa forma de apreender o problema remete a um cuidado que Saes (1985) apresentou ao discutir a adesão da classe média aos governos da ditadura militar. A tese comum procurava mostrar que a classe média havia sido seduzida (como se “comprada”) pelo crescimento do consumo possibilitado à época. Saes recusa o viés economicista da explicação e sugere que o apoio aos militares por parte especialmente do corpo técnicocientífico da classe média era fruto de um sentimento que via no modelo ditatorial militar uma força social competente e disciplinadora da força de trabalho. O autoritarismo dos militares era, portanto, “a imagem engrandecida de suas práticas cotidianas” nas grandes empresas que então se desenvolviam no Brasil. Nosso argumento procura enfatizar, de modo semelhante, que, hoje, essa “imagem” que vem de cima é justamente o inverso da lógica que sustenta a justificação de mundo de classe média. Não se trata, portanto, apenas de reações advindas de (possíveis) perdas financeiras, mas de um medo mais geral de um processo que atinge o mecanismo que justifica, até entre os dominados, seu lugar superior na sociedade. Parafraseando a sociologia francesa que discute o déclassement, diríamos que a classe capacidade de consumo e poupança; é o esteio das políticas ditas sociais do governo, e, por que não lembrar?, ninguém a protege (...)” (Reinaldo Azevedo, Veja, 8/08/2007). Azevedo e R. Sherazade foram os “comentaristas políticos” citados como os mais confiáveis pelo público da manifestação de 12 de abril de 2015 (Ortellado e Solano, 2015). 16 Nas manifestações de 12 de abril e 16 de agosto, a oposição às cotas, por elas gerarem “privilégios” e “racismos”, foi declarada por 70% dos entrevistados (Ortellado e Solano, 2015 e Ortellado et al. 2015). Voltaremos a esse ponto no item final. 16 média não reage por propriamente passar por um processo de desclassificação social, mas pelo medo que tem dele quando certos pilares sociais e ideológicos são tocados. Para que esse argumento seja desenvolvido, é preciso discutir conceitualmente diferentes ideologias que tornam a reprodução do capitalismo possível e justificável nas diferentes classes sociais. 5. Ideologia de valorização do trabalho em geral e ideologia meritocrática Na linguagem cotidiana, as ideologias de valorização do trabalho em geral e a ideologia meritocrática são frequentemente mobilizadas como equivalentes. Mesmo no campo teórico, costuma-se operar com a ideia de que existe uma noção geral de “desempenho” em sociedades capitalistas ou na ordem social competitiva a partir da qual os indivíduos informam suas ações e baseiam suas avaliações. O efeito dessa ideologia em geral seria o de construir uma base valorativa que justifica e naturaliza a posição social desigual de cada um em razão de uma desigualdade anterior, qual seja, a diferença de esforços e competências que cada indivíduo “investiu” em sua formação, o que “explicaria”, para dominantes e dominados, as razões que colocam uns, e não outros, em posições superiores da sociedade em termos de acesso ao capital econômico e cultural. Contudo, é preciso diferenciar analiticamente essas duas ideologias. E, a partir disso, destacar e apreender como cada uma delas se torna mais ou menos funcional às diferentes classes e frações: burguesia, classe média e classes populares (classe trabalhadora/proletariado e subproletariado/ralé). O ponto de partida é considerar que a ideologia burguesa fundamental que informa todas as demais é aquela que valoriza – isto é, fornece um sentido e uma ética a – qualquer tipo de atividade laborativa, ou seja, a ideologia de valorização do trabalho duro em geral. Como perceberam Marx e Weber, cada um a seu modo, a burguesia no capitalismo apresenta uma característica fundamental que a diferencia de outras classes proprietárias e dominantes existentes: ela se vê e se justifica perante os outros como produtiva e trabalhadora17. Diferentemente, portanto, da negação ou apatia em relação ao trabalho da época pré-moderna, a exaltação do trabalho duro, disciplinado e ascético se populariza entre todos os indivíduos submetidos à logica de produção capitalista, 17 Discuto a “base objetiva” da noção de produtividade da classe burguesa em outro trabalho: Cavalcante, 2012. 17 proprietários ou não proprietários. Se essa escolha era uma “opção” para os primeiros empreendedores do capitalismo racional, como observa Weber, para os demais, com o sistema reproduzindo-se continuadamente, tal predisposição torna-se um imperativo – no qual o poder das máquinas agrega um componente técnico impessoal de coerção. Ao se constituir como moral dominante em relação à atividade produtiva, a sociedade burguesa constrói a sua “sociedade do trabalho”. Em seu interior, apenas são vistos como legítimos e reconhecidos os indivíduos que aceitam, consciente e inconscientemente, a disciplina necessária ao trabalho. Importante frisar: necessária a qualquer tipo de trabalho. A própria noção de cidadania passa a ser determinada por essa sujeição, de modo que riqueza ou a pobreza acabam por ser avaliadas mediante a capacidade de cada indivíduo em galgar as posições “abertas” pelo mercado. Cada classe, porém, absorve de uma maneira específica a ideologia de valorização do trabalho em geral. E, no que interessa à nossa discussão, a classe média apresenta uma diferença importante em relação às demais, pois uma ideologia derivada, mas com relativa autonomia, é mobilizada pelos grupos sociais que a compõem, a saber, a ideologia meritocrática. Como apontamos, a ideia de mérito já está presente na ideologia de valorização do trabalho em geral e, consequentemente, nas visões que se orientam pela ascensão social via trabalho duro e disciplinado. Contudo, em sociedades capitalistas “modernas” com aparelhos escolares universais, essa ideia tende a se descolar de noções gerais a qualquer esforço de trabalho e passa a ser organicamente utilizada para justificar a desigualdade entre trabalhadores socialmente vistos como “intelectuais” e “manuais”18. Análise com orientações distintas permitem uma visualização mais profunda da questão. Em seus estudos sobre a “ralé” e a nova classe trabalhadora brasileira, chamada de “batalhadores”, J. Souza (2009, 2010) apresenta e diferencia dois tipos de “éticas” por meio das quais indivíduos de classes sociais distintas são condicionados ao trabalho. Nas famílias da nova classe trabalhadora, prevalece a transmissão direta de uma “ética do 18 Lembramos, contudo, a ressalva de Poulantzas (1977, p. 95): “Esta distinção (entre trabalho ‘manual’ e ‘intelectual’), com efeito, e Gramsci notou-o bem, não vale como tal. A não ser que se perca em argúcias fisiológico-biológicas duvidosas, está claro que todo trabalho manual comporta componentes ‘intelectuais’ e vice-versa”. De forma que, “em contraposição, a distinção ‘trabalho manual’/‘trabalho intelectual’ é uma categoria surgida da vivência operária, que leva a distinções reais, mas que não são distinções físicobiológicas: leva a distinções políticas e ideológicas no seio das empresas”. 18 trabalho” duro e disciplinado, diferente da classe média em que essa ética do trabalho é aprendida como prolongamento natural da “ética do estudo”: Os batalhadores, na sua esmagadora maioria, não possuem o privilégio de terem vivido toda uma etapa importante da vida dividida entre brincadeira e estudo. A necessidade do trabalho se impõe desde cedo, paralelamente ao estudo, o qual deixa de ser percebido como atividade principal e única responsabilidade dos mais jovens como na “verdadeira” e privilegiada classe média. Esse fator é fundamental porque o aguilhão da necessidade de sobrevivência se impõe como fulcro da vida de toda essa classe de indivíduos. Como consequência, toda a vida posterior e todas as escolhas – a maior parte delas, na verdade, escolhas “pré-escolhidas” pela situação e pelo contexto – passam a receber a marca dessa necessidade primária e fundamental (Souza, 2010, p. 51). Os batalhadores encontram-se a meio caminho entre a “prisão da necessidade cotidiana”, que acomete a parte excluída da população (“ralé”), e o “privilégio de ‘poder esperar e se preparar para o futuro’”, que caracteriza a classe média. Dessa maneira, sem ter as condições de se dedicar exclusivamente aos estudos – ou, poderíamos também dizer, sem perspectivas concretas que identifiquem nos estudos uma saída plausível para o futuro – esses trabalhadores apresentam tendencialmente menor apropriação de capital cultural e escolar. Por conseguinte, os “privilégios da escolha” são tolhidos: “o trabalho e o aprendizado das virtudes do trabalho vai ser, para muitos (...), a verdadeira ‘escola da vida’”(p. 52)19. Não é sem razão que uma atitude comum de grupos proletários em determinados contextos com pessoas “estudadas” é a brincadeira ou ironia de que estes pouco sabem da realidade da vida, do que não se ensina nos livros. No interior do debate marxista, foi D. Saes quem, já na década de 1970, procurou analiticamente expor a especificidade da ideologia meritocrática e sua relação com a classe média. O autor enfatizou o caráter direto da subordinação da classe média ao capital, o que a distancia de situações e ideologias da pequena burguesia tradicional, esta apenas subordinada indireta e externamente ao capital (Saes, 1977). O fenômeno da classe média seria, de fato, para Saes, da ordem da estratificação social, como queriam as 19 Souza (2010) levanta um argumento importante a partir de suas pesquisas: os indivíduos provenientes da ralé ou dos batalhadores que percebem um aumento de renda em razão de pequenos negócios que têm êxito não deixam para trás os laços comunitários, ainda que o volume de suas empresas se torne maior. Isso se evidenciaria com a recusa, por parte desses indivíduos, em mudar de bairro e na defesa que fazem de políticas compensatórias, como o Bolsa Família, que visam a erradicação da miséria. Sua origem de classe preservariam os laços comunitários e solidários com os trabalhadores pobres. 19 análises orientadas pela sociologia weberiana. Contudo, é uma questão de estratificação social profundamente determinada pela divisão capitalista do trabalho. Nas palavras do autor: a estratificação social sendo aqui entendida como o aspecto da ideologia dominante que reduz a divisão capitalista de trabalho a uma hierarquia do trabalho, correspondente, para empregar a expressão de Bourdieu e Passeron, a uma “escala de dons e méritos”. Mais claramente: a ideologia dominante apaga da consciência de certos trabalhadores improdutivos – aqueles menos diretamente “ligados ao mundo da fábrica” e às tarefas mais claramente manuais – a contradição entre capital e trabalho assalariado, substituindo-a aí pelo sentimento da superioridade do trabalho não-manual com relação ao trabalho manual. Nessa perspectiva, a “classe média” se define como o conjunto dos efeitos políticos reais produzidos sobre certos setores do trabalho assalariado pela ideologia dominante, que apresenta a hierarquia do trabalho como a expressão de uma pirâmide natural de dons e méritos (Saes, 1977, p. 99, grifos do autor). Subjacente ao argumento de Saes está o fato de que não há nenhuma garantia objetiva, dada pela divisão do trabalho, de que trabalhadores intelectuais serão mais bem valorizados econômica e socialmente do que trabalhadores manuais. É preciso uma luta social e ideológica para que essa distinção seja validada pelo conjunto das classes. Seria esta, portanto, a dimensão que a ideologia meritocrática alude, mas também oculta: a luta pela não igualização social e econômica de todos os trabalhadores. Seria este o cerne da ideologia meritocrátrica: este grupo precisa provar ao conjunto da sociedade, e mais especificamente à classe capitalista, que os detentores dos postos de trabalho não-manual, dentro da divisão capitalista do trabalho, ocupam esses lugares por terem provado – na vida escolar, em provas, em concursos, etc. – que são os mais competentes para tanto (Saes, 2005, p. 102). Como observa Boito Jr. (2004), ao enaltecer especificamente o produto particular do seu esforço, o trabalho intelectual, a ideologia meritocrática não se confunde com a valorização do trabalho em geral, tal como faz a burguesia, e nem com a versão proletária que, politicamente, valoriza o trabalho como forma de se opor aos proprietários e ao parasitismo em geral. Ocorre que, por razões opostas, a ideologia meritocrática, definida nesses termos, não é diretamente funcional nem à burguesia, nem às classes populares. A burguesia, em razão da propriedade jurídica dos meios de produção, no limite prescinde do aparelho 20 escolar para preservar sua reprodução enquanto classe. Não é difícil encontrar casos e mais casos de desapego à vida acadêmica por parte dos filhos dessa classe, cuja transmissão se efetiva desde cedo nos trabalhos das empresas dos pais. Já para as classes populares – novamente, entendidas aqui como a junção de trabalhadores proletários e do subproletariado – também há um distanciamento, mas por razões “negativas”: a falta de propriedade e de poupança e condições sociais capazes de manter os jovens exclusivamente nos estudos fazem com que a relação com essa ideologia seja distante e não correspondente à dinâmica de suas vidas. É evidente que, em toda essa discussão, fazemos referência à lógica que orienta ações e organizações coletivas de classe, ou seja, formas de conduta que são mais ou menos condizentes com a condição de classes não de um ou outro indivíduo, mas de todos aqueles sujeitos a uma determinada condição. No plano das representações individuais, a distância ou proximidade da ideologia meritocrática – ou da ideologia de valorização do trabalho em geral – se explica por um conjunto variados de fatores, não apenas o pertencimento de classe. Qualquer indivíduo pode expressar, a qualquer momento, a ideologia meritocrática. Mas, quando se analisam ações coletivas, como a partir das posições de entidades profissionais ou de manifestações de rua com perfil social homogêneo, torna-se possível colocar a questão das especificidades e relações de cada ideologia com as classes que delas se utilizam organicamente. 6. Considerações finais: as ideologias das manifestações de 2015 Para concluir, reunimos aqui algumas considerações preliminares que permitem construir hipóteses de trabalho a partir de pesquisas de opinião realizadas mais amplamente em São Paulo, nas manifestações de rua ocorridas em 2015 contra o governo Dilma e contra “a corrupção”. Como foi indicado, o perfil de classe média – com grande destaque para a alta classe média – denota-se pelos critérios de renda, cor/etnia, escolaridade e ocupação profissional. Isso não significa que setores populares estivessem completamente ausentes nas manifestações – desconsiderando, é claro, o subproletariado que encontrou nesses eventos chances de ganho com a venda de bebidas, artefatos, bandeiras, etc. Mas, pelos dados e pela experiência in loco, elas podem ser considerados uma minoria. 21 As avaliações mais gerais do que foi retratado pelas pesquisas tornam-se limitadas pela ausência de quadros de referência mais abrangentes com o restante da população. Apenas alguns temas apresentam pesquisas em que dados podem ser avaliados comparativamente. Um aspecto importante refere-se a questões que envolvem liberdades individuais, como o casamento ou a união homoafetiva e a descriminalização do uso de certas drogas. A princípio, uma tendência mais “progressista” é delineada pelo público das manifestações se a comparação for feita com pesquisas com toda população. Esse movimento, contudo, segue o perfil de grupos mais escolarizados em geral. Uma discussão mais pormenorizada nesse sentido – incluindo também a defesa da redução da maioridade penal – nos levaria a problematizações que estão além dos objetivos e limites deste texto. Porém, há elementos diretamente relacionados ao que discutimos até aqui. Na pesquisa coordenada por Ortellado et al. (2015), uma correlação muito emblemática foi estabelecida pelas perguntas formuladas para manifestantes do evento de 16 de agosto de 2015. Em uma delas, os entrevistados foram interrogados se concordam os discordam da seguinte sentença: “É justo quem estudou e se esforçou mais na vida tenha alguns privilégios”. Em outra, cinco perguntas após a anterior, os mesmos entrevistados eram questionados se concordam ou discordam da frase: “Negros não devem usar a cor da pele para conseguirem privilégios como cotas raciais”. Instados a reagir, portanto, a duas formas de “privilégio”, o resultado, ainda que de certa forma esperado, não deixa de ser revelador do conteúdo das ideologias que foram mencionadas: 70,4% concordaram (total ou parcialmente) com a primeira frase e 79,5 concordaram (total ou parcialmente) com a segunda: “privilégios” são aceitos, apenas se forem para aqueles que se esforçaram e estudaram. É certo que inúmeras questões de ordem metodológica e conceitual poderiam ser levantadas. Será que a noção de “privilégio” opera da mesma forma nas duas sentenças? De nossa parte, chamamos a atenção para o fato de que, na primeira pergunta, as noções de mérito pelo estudo e ascensão pelo trabalho duro parecem se confundir na mesma avaliação – sinal, por certo, do modo conjunto pelo qual comumente se avaliam essas questões. 22 Em outra pesquisa, coordenada por M. Cortês e P. Trópia (2015), sobre os manifestantes do protesto de 12 de abril, o mesmo perfil socioeconômico foi identificado. As pesquisadoras solicitaram aos entrevistados que enumerassem três ações dos governos do PT que mais os afetavam negativamente, numa lista de quinze medidas de maior alcance. Os três mais indicados foram: Bolsa Família (44,5%), Auxílio reclusão a famílias de detentos (43,7%) e os programas de cotas raciais nas universidades públicas (35,6%). Todos esses dados carecem ainda de melhor interpretação e controle, além dos quadros de referência mais gerais. Contudo, são importantes por expressarem a forte adesão da classe média às ideologias de valorização do trabalho em geral e da meritocracia. Se elas aparecem indistintas nas reações políticas, é necessário, do ponto de vista analítico, distingui-las. Trata-se de uma tarefa importante na medida em que cada uma responde a problemas específicos e afetam de maneira desigual a reprodução social da classe média brasileira. Uma hipótese que, aqui, apenas mencionamos em linhas gerais seria a seguinte: como a crítica ao pobre “vagabundo” que supostamente recebe sem trabalhar parece ter maior aderência social em outras classes e na população em geral, a classe média se sente à vontade para impulsionar a recusa a esses programas sociais porque isso também ampliaria as chances de fomentar posições críticas a temas mais diretamente comprometedores da ideologia meritocrática, como é o caso das políticas de cotas sociais e étnicos/raciais, isto é, serviria para fortalecer seus interesses últimos de resistência à igualização social. Essa postura explicar-se-ia pela dificuldade da pauta geral da classe média ser incorporada em nível partidário e eleitoral na atual conjuntura política brasileira. Questões que, evidentemente, exigem outros esforços de explicação e análise. Referências bibliográficas BANCO CENTRAL. Boletim Regional do Banco Central do Brasil. Brasília, vol. 9, n.1, p. 1-113, 2015. BOITO Jr., Armando. O lulismo é um tipo de bonapartismo? Uma crítica às teses de André Singer. Crítica Marxista, n.37, p.171-181, 2013. 23 ______. “Governo Lula: a nova burguesia nacional no poder”. In: BOITO, Armando e GALVÃO, Andréia. Política e classes sociais no Brasil dos anos 2000. São Paulo: Alameda, 2012. _____. Classe média e sindicalismo. Col. Primeira Versão, n. 123. Campinas: IFCH, 2004. BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: EDUSC/Porto Alegre: Zouk, 2007. BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean Claude. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975. CARDOSO, Adalberto. A construção da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigação sobre a persistência secular das desigualdades. Rio de Janeiro: Ed. FGV/Faperj, 2010. CAVALCANTE, Sávio. Classe média e modo de produção capitalista: um estudo a partir do debate marxista. Tese de Doutorado. Campinas, IFCH/Unicamp, 2012. CORTÊS, Mariana; TRÓPIA, Patrícia. Pesquisa “Manifestando na Paulista”. INCIS/UFU, 2015. FPA PESQUISA. Manifestações de Março/2015. Fundação Perseu Abramo, 2015. GOMES, Darcilene; SÓRIA, Sidartha. Política de recursos humanos do Governo Federal: a experiência dos governos Lula e Dilma Rousseff. Revista da ABET, v. 13, n. 2, Julho a Dezembro de 2014. MEDEIROS, Marcelo; SOUZA, Pedro H. G. F.; CASTRO, Fabio Avila. O topo da distribuição de renda no Brasil: primeiras estimativas com dados tributários e comparação com pesquisas domiciliares (2006- 2012), 2014. Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=2479685. Consulta em junho de 2015. MORAIS, Lecio e SAAD-FILHO, Alfredo. Da economia política à política econômica:o novo-desenvolvimentismo e o governo Lula. Revista de Economia Política, vol. 31, nº 4 (124), pp. 507-527, 2011. OLIVEIRA, Tiago. Trabalho e padrão de desenvolvimento: uma reflexão sobre a reconfiguração do mercado de trabalho brasileiro. Tese de Doutorado, Campinas, Unicamp, 2015. ORTELLADO, Pablo; SOLANO, Esther. Pesquisa manifestação política 12 de abril de 2015. Disponível em: http://gpopai.usp.br. Consulta em maio de 2015. ORTELLADO, Pablo; SOLANO, Esther; NADER, Lucia. Pesquisa manifestação política 16 de agosto de 2015. Disponível em: http://gpopai.usp.br/pesquisa/. Consulta em agosto de 2015. POULANTZAS, Nicos. As classes sociais. In ZENTENO, R. (Org.), As classes sociais na América Latina, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. SAES, Décio. Classe média e políticas de classe (uma nota teórica). Contraponto, n. 2, 1977. ______. Classe média e sistema político no Brasil. São Paulo: T. A. Queiroz, 1985. ______. Classe média e escola capitalista. Crítica Marxista, n. 21, 2005. 24 SINGER, A. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. SOARES, Sergei. O ritmo na queda da desigualdade no Brasil é aceitável? Revista de Economia Política, vol. 30, n. 3 (119), p. 364‑380, 2010. SOUZA, Jessé. Ralé brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: ed. UFMG, 2009. _____. Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora? Belo Horizonte: ed. UFMG, 2010. 25