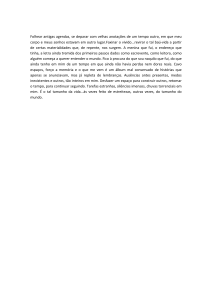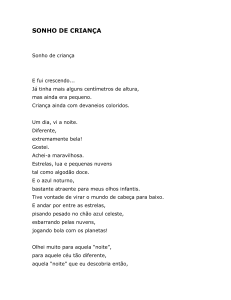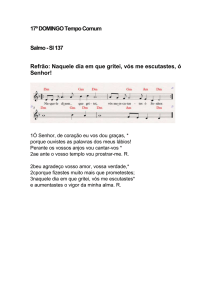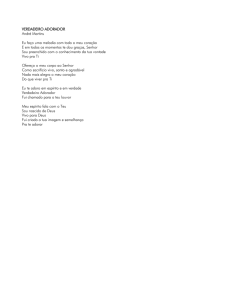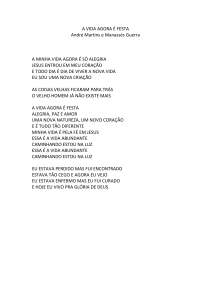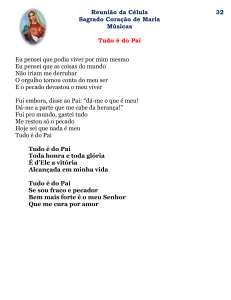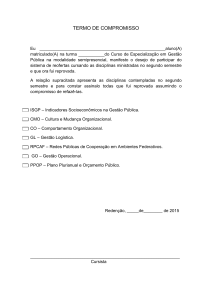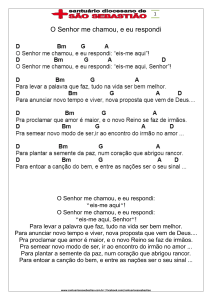Enviado por
common.user3287
Terramoto de 1755-dário

Terramoto de 1755 - diário de um desastre E lá estava eu, mais um dia, a acordar encostado ao Castelo de S. Jorge. Estava sujo e despenteado, tinha um pano velho e grande enrolado à volta do meu corpo, as pessoas passavam e deviam pensar que era um bêbado ou coisa parecida. O dia estava calmo, acinzentado demais para Dia de Todos os Santos, era uma manhã de Outono como todas as outras, mais um dia de sofrimento para um desgraçado mendigo como eu. Estava meio atordoado, por ter acabado de acordar, ainda não sabia o que ia fazer, olhei em redor e vi que estava mais gente do que era habitual. Fui dar uma volta ao cemitério e, por estranho que pareça, estava cheio, nunca tinha visto tanta gente junta num cemitério. Entrei para ver o que se passava e com o meu pé sujo e cortado, enclavinhado num chinelo velho e roto, pisei uma coisa qualquer de formato circular, presa num fio, com pauzinhos no meio, um maior e outro mais pequeno, que apontavam para uns números pequenos de um a doze. Pensei para mim próprio: - Coisa estranha, mas bonita! Perguntei a uma pessoa que ia a passar: - Olhe, se faz favor, pode-me dizer do que se trata este objecto estranho? - É um relógio amigo! – disse-me o cidadão, espantado com a estranha pergunta. - E como é que isto funciona? – perguntei. - Está a ver o ponteiro pequeno? - Sim. – respondi. - Serve para ver as horas que são, percebeu? - Não. - respondi com convicção. Depois de uma longa e explícita explicação, percebi. Voltei para o meu cantinho, sujo e mal cheiroso, sentei-me e contemplei a beleza do suposto relógio que tinha na mão. Olhei para as horas e o ponteiro pequeno marcava as 9 horas e o grande, os 40 minutos. De repente, a terra começou a tremer, cada vez e cada vez mais, caíam casas, o pânico implantava-se na cidade de Lisboa, tentei esconder-me na arcada da Igreja da Sé de Lisboa, mas foram oito minutos e meio de terramoto. A cidade tinha sofrido uma grande catástrofe; sem o Rei na capital, não se podia fazer nada, caíam prédios, igrejas, morriam pessoas, outras ficavam presas nos estilhaços dos pedaços das poucas casas que ainda estavam de pé. Corri em frente e fui dar ao Terreiro do Paço, tinha muita gente, era o único sítio onde não podia desabar nada. Poucos eram os que não tinham pelo menos um corte numa perna ou num braço. O rio recuava, recuava, recuava e, por estranho que pareça, fui-me embora. Não tinha um bom pressentimento, andei com o coração quase a saltar-me da boca, de tão apavorado e, subtilmente, olhei para trás e uma onda de mais ou menos vinte metros, aproximava-se com grande velocidade. - Fujam! Corram! – gritava toda a gente, mais do que assustada com o momento da destruição, tendo todos sido embaladas na gigantesca onda. Por estranheza divina e grande surpresa, fui dar ao meu cantinho em frente ao Castelo de S. Jorge. Subiram todas as pessoas que puderam, incluindo eu, para a torre do Castelo; nunca tinha visto tal destruição, parecia o inferno subido à terra. Quando parecia tudo ter acabado, começaram os incêndios, seis dias mortíferos de incêndios acabaram com grande parte da população que tinha sobrevivido e foi queimada viva, esturricada pelo terrível acontecimento. Eu, ileso de todos os acontecimentos, estava deitado a tremer na torre, sozinho e abandonado por toda a gente, e decidi espreitar para ver como estavam as coisas. Fiquei espantado, apavorado, assustado, admirado, aterrorizado, tudo e mais alguma coisa, coisa tal sem explicação, não havia ninguém na rua. - Ei! - Onde estão? - Está aí alguém? Perguntava e pedia auxílio, ninguém respondia, era como se tivéssemos sido presos num mundo de silêncio e horror. Fui a andar e caiu-me uma viga de uma casa em cima; gritei, gritei, gritei, ninguém apareceu, ninguém respondeu. Morri da maneira mais simples que podia haver, no meio daquela grande destruição. (Carlos Paulino, 8º B, Concurso Viajar no Tempo- articulação entre Língua Portuguesa e História))