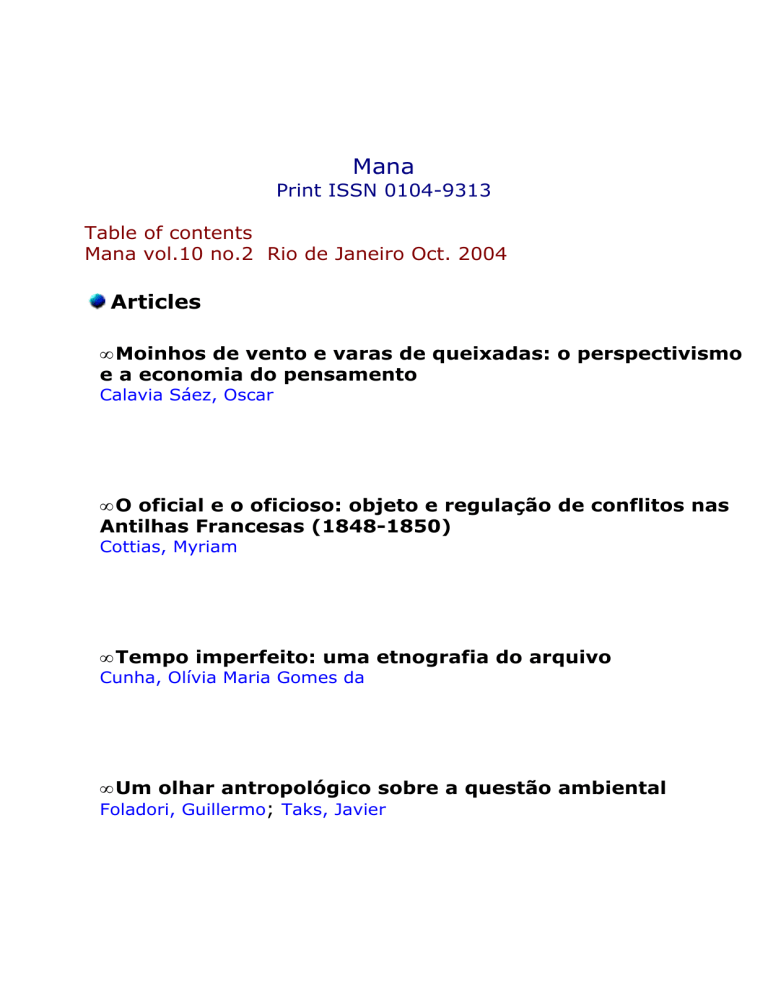
Mana
Print ISSN 0104-9313
Table of contents
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
Articles
• Moinhos de vento e varas de queixadas: o perspectivismo
e a economia do pensamento
Calavia Sáez, Oscar
• O oficial e o oficioso: objeto e regulação de conflitos nas
Antilhas Francesas (1848-1850)
Cottias, Myriam
• Tempo imperfeito: uma etnografia do arquivo
Cunha, Olívia Maria Gomes da
• Um olhar antropológico sobre a questão ambiental
Foladori, Guillermo; Taks, Javier
• "Não congelarás a imagem", ou: como não desentender o
debate ciência-religião
Latour, Bruno
Review Article
• Para o conhecimento das línguas da Amazônia
Franchetto, Bruna; Gomez-Imbert, Elsa
Interview
• Por uma antropologia do centro
Latour, Bruno
Reviews
• Tempo de Brasília: etnografando lugares-eventos da
política
Quirós, Julieta
• Enciclopédia da Floresta: o Alto Juruá: práticas e
conhecimentos das populações
Balée, William
• Poder, hierarquia e reciprocidade: saúde e harmonia
entre os Baniwa do Alto Rio Negro
Kelly, José Antonio
• Cultura, a visão dos antropólogos
Campos, Roberta Bivar C.
• Intrigas e questões: vingança de família e tramas sociais
no sertão de Pernambuco
Chaves, Christine de Alencar
• Vocabulario de la lengua guaraní (1640) e Arte de la
lengua guaraní (1640)
Noelli, Francisco Silva
• Voices of The Magi: enchanted journeys in Southeast
Brazil
Chaves, Wagner Neves
• Heroína: Lisboa como território psicotrópico nos anos
noventa
Frois, Catarina
Mana
Print ISSN 0104-9313
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
→
ARTIGOS
Moinhos de vento e varas de queixadas. O
perspectivismo e a economia do pensamento*
Oscar Calavia Sáez
Oscar Calavia Sáez é professor de antropologia do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social da UFSC. E-mail: <[email protected]>
RESUMO
O artigo passa em revista uma série de confrontos entre o que poderíamos chamar de
percepções "perspectivistas" e "naturalistas" do mundo: o processo de cristianização
do ocidente medieval, o declínio da magia européia, o apogeu e crise da caça às
bruxas no início da Idade Moderna e o argumento de um clássico, o Dom Quixote de
Miguel de Cervantes. Trata-se, em cada caso, de motivos característicos da grande
narrativa do triunfo da razão e do contraste entre o pensamento racional e seus
contrários que, examinados em detalhe, mostram porém a coexistência de
pensamentos, o caráter imediato e reversível de suas transformações. A noção de
perspectivismo permite assim agilizar a descrição histórica das reformas
epistemológicas e dessubstancializar as noções antropológicas de "racional" e "nãoracional". No final do texto são sugeridas algumas vias de estudo sobre o encontro
entre os xamanismos ameríndios (o universo do qual é tomada a noção de
perspectivismo tal como aparece no artigo) e suas reelaborações recentes.
Palavras-chave: Perspectivismo, Literatura, Cervantes, Cosmologia, Ocidente
ABSTRACT
The article reviews a series of confrontations between what we could dub 'perspectivist'
and 'naturalist' perceptions of the world: the process of Christianization of the medieval
west, the decline of European sorcery, the apogee and crisis of witch-hunting at the
dawn of the Modern Age and the publication of Miguel de Cervantes' Dom Quixote.
Each case deals with themes characteristic of the grand narrative of the triumph of
reason and the contrast between rational thinking and its opposites which, when
examined in detail, actually reveal the co-existence of modes of thinking, as well as the
immediate and reversible character of their transformations. The notion of
perspectivism thus enables a more nuanced and versatile historical description of these
epistemic reforms and the de-substantialization of anthropological notions of the
rational and the irrational. The text concludes by suggesting some ways to study the
encounter between Amerindian shamanisms (the universe from which the notion of
perspectivism as it appears in the article is taken) and their recent re-elaborations.
Key words: Perspectivism, Literature, Cervantes, Western culture, Cosmology
Os guias de leitura dos clássicos caem com freqüência em uma paródia involuntária. E
as paródias involuntárias dessa paródia complexa e cheia de intenções que é o Quixote
têm sido, em geral, simples e sisudas em excesso. A mais antiga é a que entende o
livro como uma sátira contra os romances de cavalaria. De fato, é esse o propósito
manifesto do autor já no prefácio, e os contemporâneos parecem ter lido sua obra (um
grande sucesso de vendas) desse modo. Mas essa interpretação afunda na obviedade:
se, no mesmo ano (1605) em que sai a público a primeira parte do livro, as figuras de
Dom Quixote e Sancho já aparecem como máscaras em festas de estudantes, se
paródias da cavalaria andante já existiam na época, é porque a matéria já estava
carnavalizada1. O autor do Quixote apócrifo2, comentando uma das aventuras do
cavaleiro, revela-nos que era comum dar espaço a loucos nos torneios festivos de
começos do século XVII. Zombar da épica não era mais novidade. Compreende-se que
Cervantes justificasse uma obra extravagante com um álibi moral, mas não é cabível
que esbanjasse inventiva, e se tornasse um clássico, arrombando portas abertas.
Menos trivial, embora algumas vezes mais obtusa, é a interpretação legada pelo
romantismo, que se perpetua na acepção atual do termo "quixotesco": as aventuras do
fidalgo encenariam o duelo entre o ideal e a razão prática, o sonho e a realidade etc. O
dilema pode se tornar deprimente quando, em aliança com um certo nacionalismo
espanhol — talvez reagindo ao trauma de ver um louco consagrado como herói e
arquétipo pátrio —, passa a identificar o pólo do ideal e o sonho com a Espanha
castiça, derrotada sob os golpes de uma Europa moderna, pragmática e burguesa (é o
que faz, por exemplo, Miguel de Unamuno). Apesar do seu entusiasmo, é uma leitura
pouco gentil com uma obra extraordinariamente ambígua, e que de resto teve seus
seguidores mais ávidos não na Espanha, mas na Inglaterra, cabeça do pragmatismo e
da modernidade. Pouco gentil também com o autor, marginalizado pelo status quo
político e literário de sua época, pouco entusiasta de Felipe II, da Inquisição e do
regime castiço da idade clássica espanhola. Dom Quixote, longamente celebrado como
uma figura moral pró-moderna ou antimoderna, é um personagem cuja complexidade
deveria talvez lhe garantir um lugar não na história do bom senso ou dos bons
sentimentos ocidentais, mas, entre outras coisas, da reflexão sobre o conhecimento.
O Quixote como drama do sujeito
Dom Quixote, todo mundo sabe, é um solteirão já de idade que, mergulhado na leitura
de livros de cavalaria — uma literatura não tão distante, malgrado o óbvio
anacronismo, do atual universo dos Jedis, de Tolkien ou dos role games —, passa a ver
as coisas de outro modo: em lugar de moinhos movidos pelo vento, vê gigantes
movendo os braços; em lugar de rebanhos de carneiros, vê exércitos entrando em
batalha; em lugar de odres de vinho, cabeças ameaçadoras de mais gigantes; e em
lugar de um fidalgo pobre, fraco e provinciano, vê em si mesmo um cavaleiro andante.
Mas essa alienação não é mecânica. Na maior parte do tempo, o fidalgo é
perfeitamente racional, e inclusive um exemplo de bom senso, o que os personagens
do romance reconhecem melhor que o leitor extraviado por leituras convencionais. As
percepções alteradas de Dom Quixote não se repetem indefinidamente. De fato,
limitam-se a alguns episódios — iniciais e relativamente poucos, dada a extensão do
livro —, e o protagonista evolui4. No começo da segunda parte do livro (publicada em
1616), assiste-se a uma inversão dos papéis consagrados na primeira. Sancho, o
rústico "escudeiro" do fidalgo, fracassa na tarefa, que o seu amo lhe tinha
encomendado, de entregar uma carta a Dulcineia, sua amada imaginária; mas mente,
e diz tê-la entregado. Para ocultar a falta, quando Dom Quixote teima em se encontrar
de fato com a amada, improvisa um estratagema: vendo aproximar-se um grupo de
camponesas, Sancho anuncia que se trata de Dulcineia e suas damas. O diálogo que se
segue é uma inversão exata dos diálogos que Dom Quixote e Sancho mantêm na
primeira parte, nas aventuras dos moinhos ou dos rebanhos: Sancho diz ver princesas
onde Dom Quixote, desta vez porta-voz do bom senso, vê camponesas, que além de
tudo cheiram a alho. Sancho, com a lição bem aprendida, resolve explicar que esse
equívoco deve ser fruto do mesmo encantamento que outrora tinha revelado os
gigantes como moinhos ou odres de vinho: Dulcineia está encantada, transformada em
lavradora. Tão logo seus interlocutores identificam a chave de sua loucura, Dom
Quixote não precisa mais ser louco, porque todo mundo — o seu escudeiro, os seus
vizinhos e os aristocratas blasés com que topa na sua caminhada — conspira para
trazer suas fantasias para o mundo real. É mais que dúbio que isso constitua um duelo
entre realidade e ficção. Isso acontece no apócrifo de Avellaneda, cuja trama reitera
até o fastio encenações grotescas às quais o cavaleiro responde como um autômato
crédulo até acabar encerrado em um hospício. O Dom Quixote autêntico — o de
Cervantes — não é refutado, mas vencido dentro do próprio roteiro que ele conseguiu
impor, derrotado em duelo por um bacharel cuja propensão a se fantasiar de cavaleiro
andante, com o pretexto de trazer Dom Quixote de volta ao senso comum, resulta
suspeita. A seu modo, o fidalgo triunfa sobre os bacharéis e os duques que dele
zombam, fazendo-os recriar ad hoc o mundo que ele está postulando. Se a derrota e a
melancolia do final parecem expressar a vitória da dura realidade, não seria demais
lembrar que a literatura arturiana, modelo último de Dom Quixote, é também o relato
de um fracasso: o reino de Artur dissolve-se, seus cavaleiros acabam sua vida como
penitentes e a Igreja fica como guardiã única dos símbolos.
É bom ressaltar que os verdadeiros antagonistas de Dom Quixote não são, a rigor, os
autores das burlas, senão aqueles que se negam a participar do jogo, especialmente
clérigos que, como o capelão dos duques, estendem à mascarada a mesma censura
que a Igreja esgrimia contra a desenfreada imaginação dos romances de cavalarias5. A
antítese não se dá entre a imaginação e a realidade crua, mas entre dois contrapontos
imaginários dessa realidade: o da epopéia cavaleiresca e o da religião. É interessante
destacar que o universo religioso, registro dominante da sociedade espanhola da época
(mas um campo minado para escritores independentes), está singularmente ausente
da obra. Dom Quixote só se dedica verdadeiramente à religião na hora da morte, já de
volta à sensatez.
O dilema de Dom Quixote é perpendicular à dicotomia realidade/representação, que
ocupa o centro da reflexão européia do século XVII. Em duas ocasiões o fidalgo
enfrenta-se não com a "realidade", mas com representações teatrais: teatro de títeres
— muito semelhante aos que ainda hoje podem ser vistos em ação no teatro de puppi
na Sicília — e o auto sacramental de "Las cortes de la muerte". Em ambos os casos ele
sabe perfeitamente que se trata de teatro, e até aproveita a ocasião para dar fé de
empirismo: "es menester tocar la apariencia con las manos para dar lugar al
desengaño", embora em algum momento caia na tentação de entrar ele mesmo na
ação. A loucura de Dom Quixote pouco tem a ver com a amálgama barroca da vida
com o sonho ou com o teatro, essenciais em Calderón ou Shakespeare; ele,
definitivamente, não é um cartesiano, nem todo o contrário. O que lhe interessa é
descobrir agência, mesmo nos objetos inertes.
O de Dom Quixote é um universo de sujeitos, em que mesmo os moinhos e os
carneiros, produtos passivos por excelência da física aplicada e da zoologia aplicada,
são convertidos em protagonistas violentos. Atrás dessa interpretação está a certeza
de que as coisas não têm uma natureza estável, mas sim um ser que depende de um
desígnio próprio. Atrás de cada moinho de vento ou de cada odre de vinho que se
mostra como gigante, para se reduzir depois à matéria, está a vontade de um mago,
capaz de alterar o ser de todo o existente; e diante desse demiurgo malévolo ergue-se
o cavaleiro-herói capaz de identificar suas tergiversações. O mundo em que Dom
Quixote traça suas aventuras é um mundo de conflitos pessoais — raptos, tiranias ou
prisões —, travados entre pessoas, no qual não têm lugar os conflitos mediados pelo
poder objetivo das "coisas" (as riquezas, ou as condições inatas da natureza humana).
O dramatismo do livro reside no fato de que toda essa subjetivação do mundo se
destaca contra o pano de fundo de uma outra interpretação que poderíamos chamar
naturalista, nesse sentido agro que a palavra tomará no século XIX. Os seus sinais
encontram-se já no próprio título original: se Dom Quixote é um "engenhoso fidalgo",
anotam os filólogos, é em alusão a uma das categorias da caracterologia da época
(Martín de Riquer 1970; Halka 1981; Heiple 1979); esse dessecamento do cérebro
devido às leituras pode nos parecer uma metáfora expressionista, mas tem um sentido
bem mais concreto na fisiologia contemporânea dos humores. Dom Quixote, nesse
caso, teria se transformado em um "louco da cultura" porque já haveria uma causa
"física" para essa degeneração. À margem dessas pinceladas de paleopsicologia, a
Mancha onde a ação acontece — um cenário longe das florestas nórdicas povoadas de
símbolos da Matéria de Bretanha — é essa paisagem rasa de prosaísmo desolador,
feita de necessidades básicas, miséria e cinismo, que costumamos identificar à
realidade dura e crua. Se a narrativa naturalista do século XIX celebrou essa percepção
como o começo de uma noção científica do ser humano, as "novelas picarescas" do
XVII espanhol, conquanto artificiosas e sem álibis científicos, já tinham pintado essa
mesma paisagem de marginais, fracassados e cínicos, bem no século em que é
cunhada a noção moderna de natureza. A obra de Cervantes não é melhor que elas só
porque sabe retratar a natureza humana com mais fidelidade que outros, senão
também porque não se deixou fascinar por ela.
Os críticos literários — seguindo a pauta de Ortega y Gasset (1914), que toma de
Nietzsche o conceito —, têm chamado "perspectivismo" a esse modo de relação com a
realidade que descobrimos em Dom Quixote. O mérito que coloca a obra de Cervantes
no nascedouro do romance moderno está aí resumido: a trama do relato não é mais
responsabilidade de algum destinador (Deus, a Fatalidade, a Natureza), mas do
encontro de uma multidão de sujeitos, cada um com sua intenção e com sua verdade.
A intriga do livro é mínima, e a rigor dissolve-se em um desfile de episódios quase
independentes: o que movimenta a obra é a flutuação dos pontos de vista. É por
adotar um certo olhar sobre as ações, mais do que pelas ações como tais, ou pelos
seus atributos natos, que os personagens, inumeráveis, ganham sua individualidade6.
Mas o perspectivismo tem outras versões. Toda a descrição anterior das visões
quixotescas não deixará de evocar aos familiarizados com a literatura etnológica o
conceito de perspectivismo ameríndio que Viveiros de Castro (1996) tem definido como
o corolário etnoepistemológico de uma cosmologia animista cujo tecido se encontra
nos mitos e cujo formulador por excelência é o xamã. O xamã (tantas vezes descrito
como um louco pelos seus comentadores) é capaz também de ver sujeitos onde os
outros homens só costumam ver objetos, em particular, ele sabe ver os animais como
pessoas. Porém, à diferença do que em princípio acontece com Dom Quixote, essa sua
visão é entendida por seus concidadãos como uma visão privilegiada,
gnoseologicamente superior à dos profanos.
Dom Quixote — será necessário descartar uma simplificação tão extravagante? — não
é um xamã. E não só porque os seus contemporâneos lhe neguem a primazia na
interpretação da realidade — como vimos, ele consegue reverter isso até certo ponto.
O perspectivismo dos xamãs ameríndios, sempre segundo a exposição de Viveiros de
Castro, situa a especificidade dos seres no corpo; o corpo é ativo, é a sede viva dos
afetos. Não é o caso de Dom Quixote: a sua aventura situa-se dentro de um
paradigma que estabelece a pesada fisicidade do corpo, e em que o ponto de vista é
função de uma alma incorpórea. O corpo de Dom Quixote é um corpo com
necessidades, que precisa se alimentar e descansar, que fica doente, vomita ou
tropeça; de outro lado, é um corpo indiferente, que não intervém nos amores de Dom
Quixote, tristemente ascéticos, e que atravessa sem fraturas nem danos maiores uma
série terrível de espancamentos, apedrejamentos, feridas, quedas. O corpo de Dom
Quixote — bom cristão, afinal — é uma carga que não mostra nem demonstra nada.
Levado às suas últimas conseqüências, Dom Quixote transforma-se no Cavaleiro
Inexistente de Ítalo Calvino, uma armadura vazia mas animada pela vontade. A única
exceção encontra-se nos capítulos XXV-XXVI da primeira parte, quando Dom Quixote,
seguindo o roteiro de uma de suas aventuras favoritas, decide imitar a loucura de
Orlando: essa ocasião em que o cavaleiro se esfalfa dando cambalhotas e exibindo
suas partes íntimas é uma nova inversão do seu modelo, é a obra de um louco fazendose de louco, e só aí o corpo se torna significativo. O perspectivismo de Dom Quixote é
uma antítese do incipiente naturalismo do seu século, embora isso não o identifique
necessariamente com outras antíteses; como perspectivismo, porém, coincide em
alguns aspectos essenciais com o perspectivismo ameríndio.
O fim da epopéia e o declínio da magia
Outra das linhas clássicas de interpretação do Quixote é a que identifica nele um
testemunho do final da epopéia (Alonso 1970), ou do declínio do "pensamento mágico"
(Caro Baroja 1990:186-196), ou, em termos mais gerais, do divórcio entre as palavras
e as coisas (Foucault 1966). Claude Lévi-Strauss7 dedicou, na sua extensa obra sobre
os mitos ameríndios, um interessante capítulo à morte dos mitos e à sua
transformação em romance. O Quixote está, de fato, repleto dessas toxinas que
mataram os mitos: o apagamento das grandes oposições (o protagonista e seus
oponentes têm dimensões muito modestas), a serialidade dos episódios, a
predominância dos matizes sobre os grandes caracteres etc. Se essa morte do mito
está exemplarmente figurada nas novelas do ciclo arturiano, o Quixote a recapitula e a
amplifica; ainda mais, a encena e a tematiza; é uma morte consciente. Mas
prossigamos: o fim dos heróis é contemporâneo do fim dos mágicos. Julio Caro Baroja
identifica no relato de Cervantes a falência do "pensamento mágico"; uma falência, é
verdade, que merece algumas restrições, seja pelo periódico retorno dos magos, seja
pelo novo "ciclo bretão" que inunda hoje mesmo a indústria cinematográfica. Sem
esperar por isso, o próprio Cervantes, aponta Caro Baroja, mostra uma espécie de
recuo arcaizante em sua última obra, Persiles e Sigismunda, uma novela bizantina na
qual abunda o recurso à magia e à licantropia, inspirada na literatura clássica ou nos
relatos fabulosos sobre as regiões setentrionais. Tudo isso pode querer dizer que o
livro protomoderno de Cervantes indica não a morte natural do pensamento mágico,
do mito e da épica, mas uma morte orquestrada, e que ele se interessa menos por
essa morte que pelas formas em que mito e magia são capazes ainda de viver8.
Dois episódios famosos do Quixote lembrarão sem dúvida, aos especialistas em
sociedades exóticas, feições típicas das viagens do xamã. Um deles é o da Caverna de
Montesinos, onde Dom Quixote se interna, pendurado em uma corda, para ser içado,
sumido em profundo sono, horas mais tarde. Ao despertar, assegura ter ficado três
dias na caverna, e relata os episódios que pôde contemplar, protagonizados por heróis
da antiga épica — mas também, em uma curiosa inversão, episódios grotescos
encenados pelos sujeitos da sua própria fantasia, especialmente por Dulcineia. O
episódio da caverna é rodeado de toda uma cortina de ceticismo pelo autor do livro
(que adverte que se trata provavelmente de uma aventura "apócrifa") e pelos
personagens, especialmente por Sancho, que embora já habituado a levar a sério os
devaneios do seu mestre, dessa vez não tem pejo em duvidar deles. O outro episódio é
o de Clavileño, o cavalo voador. Dom Quixote e Sancho, vítimas de mais uma burla
dos seus anfitriões, os Duques, são empurrados a partir em uma viagem estelar sobre
um cavalo mágico. Ambos têm os olhos vendados e montam um cavalo de madeira. Os
comparsas dos duques criam a ilusão da viagem agitando a engenhoca, mimando com
foles e tochas o vento das alturas e o calor das estrelas. Acabada a burla, Sancho
declara para diversão de todos que ao longo da viagem, por uma fresta que lhe
deixava aberta a venda dos olhos, tinha podido ver a terra desde as alturas, e alguma
constelação encarnada na sua forma simbólica, e mantém sua história apesar das
argüições da duquesa e do próprio Dom Quixote, muito cético: "ou Sancho mente, ou
Sancho sonha". No final do capítulo, Dom Quixote chama à parte a Sancho e lhe diz:
"Sancho, pues vos quereis que se os crea lo que hábeis visto en el cielo, yo quiero que
vos me creais a mi lo que vi en la cueva de Montesinos. Y no os digo más".
Em uma obra repleta de referências às artes mágicas, essa exortação enigmática é
uma chave. O perspectivismo quixotesco não é o resultado de uma visão diferente:
isto é, os olhos do louco, como os do xamã, não estão feitos de uma outra matéria. A
compreensão de Dom Quixote por Cervantes corre de algum modo em paralelo à
compreensão do pensamento primitivo ao longo da história da antropologia: depois da
explosão da loucura nos primeiros capítulos, o autor descobre que ela não segrega o
cavaleiro da racionalidade; ele permanece um "louco entreverado" em que os
disparates se articulam com o bom senso. Mais tarde, descobre que, apesar de tudo, a
percepção desse louco entreverado não carece necessariamente de eficácia, porque
permite afinal entender o mundo, e mesmo destacar aspectos deste ocultos ao olhar
comum; finalmente, nas furtivas palavras dirigidas a Sancho que acabamos de citar,
sugere que essa percepção não depende de comprovações ou refutações da empiria,
mas de um acordo intersubjetivo sobre o que seja a realidade. Por caminhos muito
diferentes, Dom Quixote encontra a mesma combinação de ceticismo e exercício
mágico do xamã Quesalid, cuja história foi relatada por Boas e comentada em um
célebre artigo por Lévi-Strauss (1985).
Mas se o Quixote incorpora uma reflexão implícita sobre a magia, ou sobre o seu
declínio, o faz de um modo curiosamente indireto. O livro elude, como já dissemos,
qualquer alusão de relevo à religião, e isso em uma sociedade obsessivamente
religiosa; mas, do mesmo modo, se mantém afastado da feitiçaria contemporânea. A
magia que aparece no Quixote é uma magia livresca, tomada de livros de aventuras
arcaizantes, e não a magia que de fato praticavam na época inumeráveis saludadores
ou feiticeiras, tantas vezes chamados a prestar contas ante os tribunais da Inquisição,
e que aparece muito mais reconhecível em outros clássicos da literatura espanhola,
como a Celestina. De fato essa magia não servia aos propósitos de Dom Quixote: ela
não era (não era mais?) uma visão alternativa do mundo.
A magia contemporânea de Dom Quixote existe em uma sociedade que tem
estabelecida uma divisão entre feitiçaria e religião, cujo critério definidor é
fundamentalmente moral. Essa dicotomia é, em última instância — apesar do
persistente bias maniqueísta —, uma relação hierárquica, em que a feitiçaria é
subalterna: não possui um conjunto completo de códigos, mas recorre à cosmologia,
ao panteão e em parte ao ritual da religião dominante, distinguindo-se dela
fundamentalmente pelos seus agentes, pela maior parte de suas práticas e pela
marginalidade moral de uns e outras9. Essa hierarquia, aliás, se estabelece sobre um
gradiente, sem marcos bem definidos. Entre o terreno altamente especializado da
ortodoxia teológica e os baixos fundos estigmatizados e criminalizados da feitiçaria
estende-se uma série infinita de religiosidades ortodoxas porém imperfeitas, e de
"erros populares" que contam (sempre que não se articulem em torno de uma
heterodoxia) com uma ampla margem de tolerância. Enfim, toda essa configuração é
resultado de uma operação, já milenar naquela época, de transferência de poder em
direção a um centro ocupado pela Igreja.
Os primórdios dessa operação são bem conhecidos, registrados como estão em uma
série de obras de evangelizadores da Antiguidade tardia ou da primeira Idade Média às
quais os folcloristas europeus têm recorrido sempre para localizar as raízes pagãs da
religião popular. Na península ibérica temos, por exemplo, o De correctione rusticorum,
de Martinho de Braga, que no século VI traça um verdadeiro programa de expropriação
simbólica do que viemos depois a chamar natureza: os "rústicos" do título, embora
superficialmente evangelizados, continuam dando culto a árvores, animais, fontes,
pedras, aos quais atribuem personalidade, vida e um poder que, para que a
cristianização seja efetiva, deve ser inteiramente transferido para as figuras do
panteão cristão10.O texto de Martinho, como outros equivalentes contemporâneos,
poderia sem muito esforço ser adaptado para o uso desses evangelizadores que ainda
hoje tentam erradicar erros animistas das populações indígenas deste ou daquele
continente11.
Os resultados desse programa pouco mais de um milênio mais tarde — na época em
que Dom Quixote inicia suas atividades — são muito mais difíceis de resumir. Primeiro,
porque são indizivelmente ambíguos, e também porque os pesquisadores, na sua
maior parte, têm se interessado por eles com o olhar dirigido às origens. Farei aqui
referência às minhas próprias investigações sobre uma região setentrional da Espanha,
em boa parte apoiadas em documentos dos séculos XVI e XVII que descrevem
fenômenos cuja longue durée pode validar estas observações séculos antes ou depois
(Calavia Sáez 1991; 1997; 2002).
Apesar de Martinho de Braga e seus sucessores, a religião "popular" continua infestada
de árvores, santos, ursos, serpentes, cervos e fontes. Uma rápida revisão permite
constatar uma tensão entre a tendência clerical de fazer deles uma decoração natural
atrás das figuras do panteão cristão e as versões mais "populares" ou "arcaicas", ou
simplesmente menos clericais, que outorgam a todos eles um protagonismo em
continuidade com o que lhes atribuem os contos folclóricos. Um bom exemplo pode ser
o da relação entre as imagens de Nossa Senhora e as árvores. Embora tenham
acabado como simples pedestais sobre os quais a Virgem aparece (é o caso da
azinheira de Fátima, já no século XX), as árvores têm nas versões mais "arcaicas" um
papel muito mais ativo, como uma espécie de ventre gerador da imagem, ou como
vagas metonímias de espíritos florestais; ou se vêem inscritas em uma mitologia
implícita do mel e das abelhas não tão distante da que se pode encontrar entre os
ameríndios (Lévi-Strauss 1982 [1966]); a ursa que resgata a Santa Coloma dos seus
torturadores é uma ursa, sem que ninguém lembre de fazer dela um anjo do céu; e
não haveria como fazer anjos do céu dessas leoas e tigresas que assistem às
pregações de São Formério no deserto e depois o alimentam com seu leite.
Além dessa parcela do antigo sistema simbólico precariamente incorporada ao domínio
da religião oficial, estendem-se os domínios do diabo, para onde fora remanejada,
como sabemos, a parte menos assimilável do universo pagão. Mas o mundo dos
demônios não é uma área de preservação de velhos deuses; muito pelo contrário,
enquanto na área dos santos mantém-se pacificamente boa parte dos velhos atributos,
o mundo dos demônios é submetido a uma maior intervenção por parte da Igreja, e se
vê sujeito a radicais transformações em poucos séculos; em certo sentido, o inferno é
a mais cristã das regiões do cosmos católico.
Restringindo-nos a essa parte maldita (Calavia Sáez 1991), podemos perceber que
durante longo tempo (entre a época tardo-romana e a alta Idade Média) o diabo se
manifesta como uma alteração corporal do possesso, preso a uma espécie de
antidisciplina feita de maus gestos, gritos, espasmos e sujidade. É o seu ingresso no
corpo humano que dá realidade ao diabo, muito antes que se comece a lhe atribuir
uma forma corporal específica — feita da acumulação de extremidades animais sobre
um tronco humano — e antes que o mundo diabólico comece a constituir-se como esse
universo autônomo, com suas leis, suas hierarquias etc. que já encontramos na
literatura do século XIII. Transplantado assim para uma dimensão sobrenatural, o
diabo deve redefinir suas relações com o natural, e aqui, nas narrações que já no
século XVII se dedicam à possessão diabólica, se observa uma curiosa mutação: o
espalhafato e a violência dos antigos possessos continuam, mas agora são classificados
como melancolia, entenda-se, como o efeito anímico de um desequilíbrio dos humores
corporais. A possessão diabólica, por sua parte, não está ausente, mas seus resultados
são agora diametralmente diferentes: ela produz perturbações interiores, delírios,
tristezas, aflições da alma, em soma. No panorama das aflições contemporâneas do
Quixote encontramos vários elementos novos: a aparição de um domínio interior, o da
alma, e o definitivo espólio da atividade de um invólucro, o corpo, cujas manifestações
a partir daí decorrerão de condições puramente físicas. O triângulo ortodoxo de
natureza, sobrenatureza e humanidade está bem traçado, embora apareça borrado nas
precárias versões "populares".
Essa dicotomia entre natural e sobrenatural (com o humano servindo de fronteira ou
dobradiça) já está estabelecida bem antes de a "física" ser capaz de dar conta
suficientemente dos fenômenos físicos. A categoria de "milagre" é, por isso, vital para
selar as frestas que se abrem entre uma ordem simbólica apenas recalcada, em que
todos os seres gozam em princípio de subjetividade, e uma nova ordem divina, cuja
ação se mostra no funcionamento regular de uma natureza privada de autonomia. Essa
nova ordem é a que começa a se formular nas doutrinas de Santo Agostinho 12 ou de
Gregório o Grande: o milagre faz parte da ordem da natureza, só a nossa ignorância o
afasta dela. O milagre é, no limite, um signo, um artifício pedagógico de uma
divindade cuja ação é com freqüência ininteligível. A partir daí inicia-se o monopólio do
poder por um único sujeito divino: a potência dos santos ou mesmo de Nossa Senhora,
limite do monoteísmo prévio à Reforma, se verá reduzida a conseqüência do único
poder real, o divino, do qual todos eles são, no máximo, mediadores. O destino do
Diabo é mais delicado, mas, em último termo, não diferente: ele agirá sob sua própria
responsabilidade mas com a "permissão" de Deus, e o mal deverá ser entendido como
negatividade, não como uma realidade consistente. As obras diabólicas devem ser por
isso ilusórias, erros de percepção sem substância13.Por volta do século X, essa
doutrina já estava bem definida no célebre Canon Episcopi, que, em síntese, descarta
como heréticas as doutrinas que outorgam realidade às metamorfoses e outras obras
diabólicas, levando muito perto da sua conclusão a oposição entre natura non naturata
naturans (ou seja, Deus) e a natura naturata (naturans ou non naturans; ou seja, as
criaturas vivas ou não) de que falava Escoto Erígena; o passo seguinte será essa
natureza determinante mas inerte da visão positivista em sentido lato. Como bem
mostrou Keith Thomas (1991), a religião tomou a si o trabalho de erradicar o
pensamento mágico — um trunfo que depois a Ilustração usurpou —, deixando como
herança a dicotomia entre humanidade e natureza e convertendo a sobrenatureza em
um resíduo.
Na época de Dom Quixote, quando a Contra-Reforma começa a divulgar por todos os
meios essa dicotomia erudita entre populações deficientemente catequizadas, a magia
popular a tem assimilado já em boa medida, enquanto a magia culta se aproxima no
possível dos recursos da ciência (Caro Baroja 1990). A rigor, a magia não declina:
transforma-se em magia "naturalista". Corpo e alma são entidades bem separadas, e
toda uma mitologia tecida nas relações entre humanos e os seres de aí em diante
"naturais" deve ser relegada ao âmbito do absurdo, da crendice e do erro popular (ou
do milagre acontecido lá e quando Deus teve por bem permitir tais coisas). Trunfo da
Razão avant la page, essa reorganização do mundo simbólico tem o inconveniente de
uma radical concentração do poder simbólico e cognitivo em poucas mãos,
preferencialmente clericais; uma concentração pouco alvissareira para os gostos
nômades do cavaleiro.
Às voltas com o recalcado
Mas esse processo não foi uniforme nem linear. Há, por exemplo, uma certa reversão
nesse momento da Idade Média em que, como indica Le Goff (1985), se produz um
florescimento do imaginário que levará, entre outras coisas, à literatura arturiana. A
cultura simbólica dos laicos, que nunca se conformou totalmente com o monopólio
clerical, pode ser rastreada, por exemplo, nas mitologias das casas nobiliárias, que
exibem muito à vontade sua vinculação com seres prévios à consagração das
dicotomias, do tipo das sereias, que desde a literatura e a arte disputarão o lugar com
a cosmovisão teológica (Le Goff 1977; Prieto Lasa 1994). Essas aparições de Melusinas
ou Andramaris (seres mistos de humano e animal, ou vegetal, ou mineral) preludiam,
de resto, o uso que dois séculos mais tarde se dará às figuras da mitologia clássica.
Há um outro episódio, tristemente espetacular e surpreendente, que desenvolverá essa
mesma operação em um âmbito muito mais extenso: trata-se das famosas epidemias
de bruxaria, ou de caça às bruxas, que têm lugar principalmente entre os séculos XVI
e XVII. Conquanto uma vastíssima bibliografia já tenha se dedicado ao caso (Caro
Baroja 1973; Cohn 1980; Trevor-Roper 1985; Mandrou 1968, entre centenas), tem
aspectos que ainda vale a pena resumir e examinar à luz do presente argumento.
Notemos que, se todo esse processo de desencantamento do mundo se leva a termo
no essencial durante a Idade Média, é precisamente no início da Idade Moderna que,
por um tempo, se abole aquela relação hierárquica entre a religião e a magia e se
restabelece até certo ponto a dicotomia entre Deus e Diabo, restringindo em certa
medida o monopólio do primeiro. A operação pode ser entendida nas páginas do
famoso e nefasto Malleus Maleficarum, escrito pelos inquisidores Sprenger e Kraemer
como um manual completo de perseguição às bruxas. O Malleus apresenta-se, desde
as suas primeiras páginas, como uma refutação do Cânon Episcopi e de toda a tradição
que desembocava neste. Com todos os circunlóquios necessários ao caso (era preciso
desenvolver o argumento sem cair em doutrinas perigosas, como o maniqueísmo, o
que aconteceria caso se concedesse ao Diabo um poder substantivo), o que Sprenger e
Kraemer fazem é reivindicar a realidade da feitiçaria - ou, o que é mais, iniciar a sua
restauração entanto que religião perversa mas completa, com sua doutrina, sua moral,
seus rituais, seu sacerdócio (todos eles desenhados como uma inversão dos legítimos).
O Malleus, com numerosas edições e epígonos não menos numerosos, funcionou de
fato como uma obra aberta, que foi sendo completada durante mais de um século por
inquisidores de todas as nações européias e de todas as acepções do cristianismo. Os
inquisidores chegam a este resultado mediante uma bricolagem de citações de Pais da
Igreja, autores clássicos, e notícias esparsas tomadas do que poderíamos chamar o
folclore contemporâneo14.No seu auge, o modesto universo das bruxas rurais é
elevado à categoria de seita diabólica, cujas instituições e rituais são réplica invertida
dos da Igreja Católica. Durante um tempo, os caçadores de bruxas conseguem impor
uma interpretação durante séculos banida da ortodoxia, atribuindo realidade à
capacidade de transformação, às viagens noturnas e às ações mágicas, elementos que
alguma vez, provavelmente, fizeram parte do universo simbólico pré-cristão, e que
tinham sido abolidos no processo antes descrito.
Como sabemos, há quem tenha achado que todo esse universo não estaria abolido ou
alterado e sim, simplesmente, oculto, e que os inquisidores não fizeram senão trazê-lo
à luz de volta. Foi o caso de Margaret Murray, cuja teoria, passado seu tempo de auge,
caiu em descrédito, vítima de interpretações construtivistas, e que muito depois foi
objeto de uma reivindicação, parcial e matizada, da parte de Carlo Ginzburg (1988).
Mas parece claro que deveríamos entender a "seita das bruxas" como uma construção
dos inquisidores que, paradoxalmente, lhe teriam dado uma vida virtual por meio de
suas prédicas. O caso que deu origem a essa teoria construtivista é contemporâneo da
publicação do Quixote, e de fato acontece no intervalo entre a publicação de sua
primeira (1605) e segunda parte (1616). Como resultado das perseguições de Pierre
de Lancre no Pais Basco francês, a partir de 1609, surgem rumores e acusações de
bruxaria no lado espanhol da fronteira pirenaica, igualmente na região basca. A
Inquisição põe-se à obra e descobre o que queria descobrir: que a seita dos bruxos
está se estendendo nas montanhas bascas, que nelas celebra seus sabbaths (ou
akelarres, para usar a expressão local), que neles praticam todo tipo de crime e ritual
nefando etc. etc. Os inquisidores, seguindo o protocolo habitual, dão ampla publicidade
aos crimes que estão perseguindo, e chamam à delação, garantindo clemência a quem
confesse e revele os seus cúmplices. As acusações não se fazem esperar, e numerosos
"bruxos" e "bruxas" são presos. O processo, celebrado em Logroño, acaba com a
condenação à morte de sete réus, queimados depois do Auto-de Fé de 1614. O
veredicto foi dado com o voto contra de um dos membros do tribunal, o inquisidor
Alonso de Salazar y Frias, que pela rotação de cargos estava encarregado da
continuação das pesquisas no ano seguinte, e que sustentava uma tendência
"conservadora" fiel às posições do Canon Episcopi. No ano seguinte, Salazar y Frias
levou a termo a sua investigação, elaborando um relatório que desautorizava as
acusações, cancelava os processos, enfim, formulava em termos definitivos o que
séculos depois seria a teoria construtivista (a mesma que aparece nas páginas da
maior parte dos autores citados). A seita dos bruxos, segundo o cético inquisidor, não
passava de uma sobreinterpretação, a partir de dados viciados — acusações
interessadas, testemunhas frágeis ou desqualificadas, intimidações etc. — que tinham
como fonte de inspiração a própria propaganda inquisitorial. A epidemia das bruxas era
difundida pelos mesmos pregadores que tentavam erradicá-la, e o seu remédio estava
simplesmente na neutralização dessas fontes de informação. O ponto de vista de
Salazar impôs-se como doutrina oficial e, de fato, o processo de Logroño foi o ponto
final da perseguição às bruxas na península. À inquisição espanhola — rigorosamente
centralizada, à diferença de outras inquisições européias — atribuiu-se jurisdição
exclusiva sobre assuntos de bruxaria. Na prática, isso significou que as bruxas,
subtraídas à justiça civil (onde seu delito era motivo de pena capital), escapavam com
penas leves de penitência ou desterro; um mérito que não se pode negar a um tribunal
que, de resto, continuou sua perseguição implacável a heréticos (bem poucos já,
naquele momento) e judaizantes (cada vez menos)15.Talvez se possa extrair desse
contraste entre o apetite diferenciado dos inquisidores de uns e outros países uma
conclusão que paira entre Douglas e Foucault: em qualquer caso, havia a necessidade
de magnificar um inimigo que, se na Espanha já estava claramente dado pelas suas
minorias étnico-religiosas (cada vez mais imaginárias), na Europa — um tanto mais
tolerante com as diferenças de consciência — devia se manifestar também em uma
absoluta enteléquia. Por assim dizer, o velho xamanismo foi ressuscitado em todo o
seu vigor na Europa para justificar uma perseguição cruel dos seus mirrados herdeiros
e a glorificação inglória dos nascentes aparatos de poder.
Voltemos agora ao ponto de que há muito partimos, isto é, o gênero de magia que se
insere na trama profunda do Quixote. Nessa aproximação entre duas alucinações de
conseqüências tão diferentes, pode se observar que o processo que leva à loucura dos
inquisidores e das suas vítimas corre em paralelo ao que leva à loucura de Dom
Quixote: uns e outros são, por assim dizer, vítimas de leituras descontroladas; uns e
outros articulam, a partir de elementos pinçados na literatura, uma epistemologia que
os autoriza a ver um mundo que não existe e a crer-se quem não são (cavaleiros
andantes, bruxas, debeladores do diabo). O remédio proposto é equivalente em ambos
os casos: queimar a biblioteca de Dom Quixote, cancelar as prédicas que multiplicam
as bruxas. Em ambos os casos, encontramos modos de articular dados culturais
(velhas crenças, velhos mitos) que lhes dão um significado e um alcance diferentes: a
saber, um perspectivismo que — filosofia, etnoepistemologia? — repovoa de sujeitos
um mundo que vários séculos de trabalho simbólico iam já transfomando em natureza
inerte. Em ambos os casos, também, vemos que essa releitura perspectivista não se
produz em qualquer terra incógnita, senão, por assim dizer, nas vizinhanças da razão:
o cavaleiro louco é também um homem sensato; os inquisidores e caçadores de bruxas
são também agentes da expansão do poder do Estado, e elaboram seus delírios
seguindo os métodos escolásticos. As semelhanças param por aí: o Quixote acaba
sendo uma demonstração da conversibilidade das visões de mundo, enquanto a
nefasta epopéia da caça às bruxas, realizada em pleno alvorecer da Era da Razão,
acaba sendo fantasiada de paradigma da irracionalidade, e atribuída pelos
racionalistas, anacronicamente, à Idade Média. Mas as idades nunca estiveram tão
separadas quanto o grande relato moderno pretende.
O fio condutor que justifica este repasse de temas de sobra conhecidos é a
aproximação entre o perspectivismo do Quixote e o perspectivismo ameríndio. Vemos
que, em última análise, o clássico da literatura pode remeter a questões não tão
diferentes das que surgem do estudo dos mitos de tradição oral das terras baixas sulamericanas, a saber, a subjetividade como instância difundida na "natureza" e como
foco de um modo de conhecimento. Comparações desse tipo podem ter algo desse
atrativo estético que resulta de uma justaposição imprevisível de elementos muito
distantes; mas seus resultados intelectuais costumam ser exíguos. Não servem para
demonstrar algo que já está demonstrado: a universalidade do pensamento humano.
Também pouco podem dizer, porque as transições são quase infinitas, sobre as
relações concretas entre universos simbólicos distantes como o ameríndio e o europeu,
o dos caçadores e o dos Estados mercantilistas. O resultado pode ser mais
interessante, porém, se observarmos que o comparado aqui não foi uma diversidade
de Estados, de relatos ou de conjuntos simbólicos, senão uma série de transições, a
saber: a que se dá nas culturas ameríndias entre o olhar do xamã e o olhar digamos
"profano"; a que se dá entre a visão proposta pelo louco Dom Quixote e a visão
"realista" dos sãos que o rodeiam; a que se dá entre a natureza animista do
paganismo e a natureza dependente de um ser supremo que o cristianismo impõe; a
que se dá entre a crença no poder das bruxas e a negação deste poder. Em todos os
casos, encontramos duas alternativas em jogo: ora o mundo se entende como um
vasto conjunto de sujeitos capazes de uma agência e uma visão específica, ora estes
sujeitos são reduzidos a objetos mais ou menos inertes, dependentes de um sujeito
superior concentrado no exterior deles — a razão humana, Deus etc. Uma e outra
alternativa estão ligadas, aliás, a diferentes ritmos: à instabilidade no primeiro caso; à
fixação das formas e dos atributos no segundo.
É este um modo, como tantos, de sintetizar, neste caso em torno do par sujeitoobjeto, o contraste entre dois tipos de pensamento, chamados, respectivamente, de
"mágico" (ou "primitivo", ou "pré-lógico", ou um longo etc.) e "racional" (ou "positivo",
ou "científico" etc.). A mudança do primeiro para o segundo objeto de narrações bem
conhecidas, em que os casos que nos ocuparam aqui costumam ser citados em
destaque: o declínio da magia, o desencantamento do mundo, o advento das luzes etc.
Todos esses grandes relatos costumam coincidir no sentido da narração, que sempre
começa na magia e acaba nas luzes; coincidem também na fundamental
irreversibilidade do processo (cujas reviravoltas não passam de episódios anômalos).
Outro traço comum é a longue durée atribuída ao processo, adequada a uma
transformação cujos passos concretos não estão claros (há exceções, como a do
estudo já citado de Keith Thomas) e que, portanto, resulta mais verossímil quando
apresentada como uma lenta expansão capilar, como uma maturação constituída de
ínfimas mudanças. Como chegar do pensamento pré-lógico ao racional? Ambos estão
distantes, a viagem deve ter sido longa. Os casos que temos examinado aqui nos
indicam, porém, que os supostos pontos de partida e de chegada convivem na
sincronia (algo que tem sido mostrado à exaustão na literatura antropológica);
mostram igualmente (em termos hipotéticos no caso do Quixote, históricos no da caça
às bruxas) que o caminho pode ser revertido, o que também não é a rigor uma
novidade. Mas mostram, sobretudo, a economia de meios com que, no caso, um
universo perspectivista pode ser feliz ou infelizmente reerguido a partir de um universo
já consistentemente organizado em torno da dicotomia natural/sobrenatural. Se o
perspectivismo pode ser (parafraseando livremente Viveiros de Castro 1996) entendido
como uma epistemologia, e não necessariamente como uma epistéme, ou como uma
visão de mundo, é porque sugere algo muito mais autônomo e portátil, porém
socialmente mais denso (uma epistemologia precisa de agentes e de legitimação) que
uma alternativa cognitiva (Sperber 1982).
O perspectivismo não é um atributo inseparável de um universo simbólico, por
exemplo, animista; ele pode, como alternativa pragmática ou epistemológica, alicerçar
um uso e uma compreensão diferente dos mitos, ou se desvencilhar deles aplicando-se
a outro gênero de relatos. Um dos atrativos do Quixote é, precisamente, que ele
mostra, quase sem querer, o fácil entrelaçamento de duas acepções aparentemente
distantes desse mesmo conceito: o perspectivismo na narrativa e na transformação
dos seres.
Coda ameríndia
Voltando o olhar para o mundo ameríndio, que até agora só foi citado como um pano
de fundo imperceptível, essa autonomia de que acabamos de falar nos anima a
examinar as múltiplas variantes em que esse perspectivismo se manifesta, e também
as suas transformações quando confrontado a processos de cristianização ou de
folclorização dos universos simbólicos indígenas. Não poderei aqui senão retomar
exemplos que já tratei em outros escritos: sem sair de um campo cultural e
lingüisticamente muito homogêneo, e povoado por uma mesma mitologia, será
possível encontrar contrastes epistêmicos muito consideráveis. Duas mitologias tão
próximas como a dos Kaxinawá de começos de século (Abreu 1941) e a dos Yaminawa
dos finais desse mesmo século (Calavia Sáez 2001; 2002a; 2002b; 2004) podem,
sendo as duas perfeitamente "perspectivistas", dar versões diversas dessa mesma
teoria.
No caso kaxinawá, as relações entre os diversos domínios (humanos e não humanos)
aparecem de fato como metamorfoses: os humanos que, por um motivo ou outro,
decidem virar animais, conseguem-no se transformando fisicamente, adotando
posturas e hábitos alimentares animais, ou fabricando para si membros animais —
caudas, focinhos, cascos de quelônio —, a partir de galhos, argila ou tintas. O motivo
da transformação é, em todos os casos, um certo hiato corporal que já existe entre o
protagonista e o seu grupo, entendendo aqui a corporalidade em um sentido ampliado
para incluir as trocas de substância. Assim, um aleijado que não consegue deslocar-se
senão rastejando se transforma em jaboti, depois de pintar nas costas o padrão do
casco do animal; ou uma viúva com filhos, e sem homem que possa lhe prover
alimentos, se transforma em tamanduá com os seus rebentos, inserindo no ânus um
galho de palmeira que imita a cauda do animal, habituando-se à sua dieta sóbria; ou
todo um grupo frustrado pela atitude de um dos seus membros (uma jovem que se
nega a casar) se transforma em vara de queixadas, comendo um cozido de paxiubinha
e construindo com a ajuda de barro e pedaços de panela corpos e cabeças de porco
selvagem. Em qualquer caso, trata-se de corpos que, por meio de processos descritos
com um certo detalhe, adquirem novas formas e novas capacidades, ou, mais
exatamente, que elaboram positivamente uma diferença física que já marcava
negativamente sua situação anterior. Os artifícios aplicados no corpo constroem a
partir de uma prévia diversidade de naturezas.
No caso yaminawa, as narrações prendem-se a essa multiplicidade prévia, e a
transformação do corpo é residual: o que os mitos narram são essencialmente
transladações da visão, obtidas mediante o uso de uma espécie de colírio mágico e a
imersão em um domínio alheio — via de regra, o fundo das águas, mas também
eventualmente o interior da floresta, ou o cume das árvores —, ou em um caso
mediante o uso da ayahuasca 16.O protagonista, com a ajuda do remédio pingado nos
olhos, percebe as cobras, as queixadas ou os macacos como humanos, percebe os
poções do rio ou os barreiros como aldeias humanas, sem que a rigor nada aconteça
com os corpos ou os lugares em questão... Poderíamos até dizer que essa diferença
evocaria a diferença cristã entre transformações reais e ilusórias, não fosse por esse
"resíduo" corporal que de todo modo persiste nos relatos: o colírio muda o modo de
ver, mas também permite ao protagonista respirar sob as águas. O protagonista de um
dos mitos mais populares "vira queixada" só porque o colírio lhe deixa ver as
queixadas como pessoas; mas depois da longa convivência que lhe é assim permitida,
suas costas começam a ficar peludas e a sua postura curvada. O ponto de vista liga-se
ao corpo, embora desse modo tênue, com a mesma fidelidade que, em outro sentido,
faz com que nos contos fantásticos europeus uma princesa ou um empregado de
comércio transformados em asno ou barata conservem, mal que pese a sua nova
forma física, suas maneiras ou seus afetos de princesa ou de empregado, mantendo
estável a relação entre o sujeito e o que dentro dessa tradição constitui sua
subjetividade. Embora situadas inequivocamente no registro da percepção — e não no
da metamorfose —, as narrativas yaminawa são por isso uma versão "óptica" do
perspectivismo à ameríndia, e não uma versão amazônica do idealismo. A diferença
entre as transformações kaxinawá e as transladações yaminawa é consistente com um
outro contraste entre ambos os povos, bem conhecido pelos especialistas em etnologia
pano ou pelos indigenistas do Acre: os Kaxinawá entregam-se a um cultivo social do
corpo por meio de pinturas e rituais que falta entre aos Yaminawa17.Essa diferença não
pode ser facilmente reduzida a uma opção de preservação ou perda de acervo cultural;
de fato, os Yaminawa têm um tipo de pintura corporal — chamada precisamente de
yaminawa këne pelos vizinhos Kaxinawá — reduzida a pequenos grafismos sobre o
rosto, cuja relação com as pinturas kaxinawá, que tendem a cobrir o corpo com a sua
malha, é a mesma que os resíduos de corporalidade dos mitos yaminawa têm com a
construção de corpos transformados na mitologia kaxi. A ênfase na ação sobre o corpo
é a mesma na mitologia e na atividade ritual.
A mitologia dos Yaminawa caracteriza-se também por postular uma comunicação entre
os domínios que não se restringe a determinados seres exemplares: em lugar de se
articular em torno de algumas figuras arquetípicas (a onça, a sucuri, a queixada), ou
definir "donos" dos animais que representem a subjetividade de seres menos
significativos, põe em jogo diretamente uma série virtualmente infinita de seres (das
sucuris às árvores, das cerâmicas aos barrancos do rio, do excremento aos cachorros,
todos eles dotados de subjetividade). As narrações de transformação são, a rigor, um
gênero ou uma fórmula padronizada a partir da qual é possível gerar, dedicar a
qualquer ser um desses relatos. Poderíamos dizer que, em lugar de manter-se à
sombra de determinadas transformações ou transladações paradigmáticas, o
perspectivismo yaminawa impõe-se como uma chave narrativa e interpretativa de
alcance virtualmente universal. Pode-se supor que essa peculiaridade seja congruente
com a do modelo xamânico yaminawa. Entre os Kaxinawá, a atividade xamânica é a
rigor iniciada pelos espíritos, cuja ação (habitualmente, na forma de uma doença) leva
à prática, em grau mais ou menos especializado, um elevado número de sujeitos. Já o
xamã yaminawa empreende sua carreira de modo voluntário, e a culmina só depois de
um processo de aprendizado duro e longo, que impõe uma rígida restrição ao número
de xamãs. Aparentemente, essa raridade, essa segregação e, definitivamente, essa
"esoterização" dos xamãs yaminawa (Pérez Gil 2004) é um fenômeno recente, pois há
referências a iniciações coletivas no passado, ou pelo menos a uma distribuição muito
mais ampla dos saberes xamânicos. A comparação entre a atividade xamânica atual e
as narrações sobre o xamanismo do passado sugere também que, com o
desaparecimento de boa parte das velhas práticas bélicas, que implicavam de um
modo mais amplo o corpo do agente e uma gama maior de fármacos18,o mundo do
xamã yaminawa tem cada vez mais como eixo a experiência visionária fornecida pela
ayahuasca19,e que esta mesma experiência, antes muito mais comum (em
"bebedeiras" das quais participavam grupos inteiros, com as suas mulheres), vai se
limitando a grupos cada vez menores de praticantes. A generalização desse
"perspectivismo óptico" vai assim de encontro (se não é sua conseqüência) à ascensão
de um xamanismo visionário e restrito, e fracamente vinculado a tarefas mais
cotidianas de produção do corpo; a capacidade de generalizar uma teoria beneficia-se
da sua concentração em poucas mãos. Não haveria razões para dizer que essa
concepção visionária do mundo se deva a uma aproximação a noções universalistas
mais ou menos ocidentais, e menos ainda a algum tipo de sincretismo — a mitologia
yaminawa permanece definitivamente exótica —, mas é verdade que ela, chegando
mais perto dessa ecumene visionária da Alta Amazônia, em que convivem xamanismos
indígenas e mestiços e religiões próximas ao espiritismo, o catolicismo popular ou o
kitsch neoplatônico, oferece algumas pontes a cosmologias mais próximas à nossa.
Em um ponto muito distante desse continuum, e para citar um caso já tratado por mim
(Calavia Sáez 2001; 2002), vale a pena reparar na constituição por parte dos
Yawanawá de um universo simbólico que, reciclando e enriquecendo os velhos temas,
muda radicalmente sua economia. Neste caso, a elaboração tem a ver, sim, com uma
experiência de cristianização, mesmo que o seja em termos de reação a ela: os
Yawanawá foram durante um longo período alvo de uma missão fundamentalista — a
Missão Novas Tribos do Brasil —, mas empreenderam nos últimos dez anos um
processo de "recuperação" da cultura tradicional, centrado emblematicamente na
revalorização do Saiti (um festival de danças-cantos-jogos, designado também com o
termo "Mariri", um genérico acreano para os rituais indígenas) e das atividades
xamânicas. De párias em uma sociedade cristianizada, os xamãs têm sido promovidos
a "conselheiros" ou "assessores" do chefe, que, dando ao xamanismo um valor público
decerto pouco tradicional, se esforça às vezes em levar suas atividades para uma casa
ritual coletiva no centro da aldeia. Se pouco posso dizer aqui sobre o que aconteceu
com as tradições locais durante o período missionário, é fácil ver que a sua
recuperação está ligada a transformações dignas de nota. De um lado, assiste-se a
uma decidida adoção das queixadas como metáfora da sociedade, que exalta sua
unidade, sua energia gregária; o próprio etnônimo (em tempo, yawanawá vem a
significar "gente-queixada") tem plenamente reconhecida sua carga semântica — o que
raramente acontece com outros etnônimos pano. O mito que narra a transformação de
homens em queixadas, muito semelhante ao narrado pelos Yaminawa ou pelos
Kaxinawá, adquire no caso dos Yawanawa caráter de mito de origem do grupo. Enfim,
os membros do grupo, ou pelo menos aqueles considerados como Yawanawa
"legítimos", extraem de toda essa identificação um tabu alimentar referente à carne
dos seus epônimos. Nesse sentido, a re-paganização do grupo apresenta-se como algo
muito parecido à transformação do mito: os Yawanawa tornaram-se queixadas, ou pelo
menos se tornaram mais queixadas que nunca. De outro lado, a recuperação dos
velhos festivais, e sua consagração como marca de uma indianidade estabelecida, se
faz à custa da exclusão de um dos seus episódios mais lembrados, precisamente
aquele que encenava a transformação dos homens em queixadas (Carid Naveira
1999). A "brincadeira de queixadas" era, até poucos anos atrás, um jogo no qual os
homens, lambuzados de barro e batendo coquinhos para imitar o som característico
das mandíbulas dos animais, perseguiam as mulheres até isolar alguma delas. Ato
seguido, a mulher capturada era levada para o mato, malgrado a resistência de suas
companheiras. Os atos de licença sexual que aparentemente se seguiam, interpretados
na lembrança como ocasião para os desejos excedentes de homens ou mulheres, mas
que eventualmente podiam também dar lugar a matrimônios, implicavam que a
brincadeira só pudesse ser realizada com propriedade entre grupos diferentes, isentos
de vínculos de consangüinidade. Adverso ao gosto dos velhos missionários e dos novos
aliados no mundo das ONGs e do ecobussiness, e também, talvez, alheio à noção de
uma etnia discreta que a própria metáfora da vara de queixadas servia para ilustrar, o
animado jogo ficou fora da cultura indígena recuperada20.Com sua intrincada produção
de equações e vínculos simbólicos (homens e mulheres como representantes de
espécies diferentes; afins em posição relativa de caça e caçador; as queixadas, carne
de caça em sentido alimentar, tornadas caçadoras em sentido sexual; a transformação
ritual duplicando e invertendo a transformação narrada nos mitos etc. etc.), a
"brincadeira de queixada" era um bom exemplo do alto rendimento de uma cosmologia
perspectiva que tinha nos corpos seu principal campo de operação. Alterações muito
econômicas, no entanto, conseguiram fazer dessa cosmologia algo assim como um
totemismo no sentido clássico lévi-straussiano: mais um recurso classificatório que um
discurso sobre a conexão entre os seres. Parafraseando o que diz Foucault no final do
item dedicado ao Quixote em As palavras e as coisas, a questão não será mais a
dessas conexões (Foucault diz "similitudes"), mas a das identidades e das diferenças. A
partir daí, os mesmos símbolos passam a ser lidos de modo bem outro: os moinhos
serão gigantes porque, como supunha Unamuno, representam a força hercúlea da
modernidade; e as queixadas serão seres humanos porque representam a unidade
tradicional de um povo indígena.
Notas
* No que se refere à sua "coda ameríndia" este texto está baseado essencialmente nas
minhas pesquisas de campo entre os Yaminawa em 1993, auspiciadas pela Fapesp, e
entre os Yawanawa em 1998, dentro do projeto TSEMIM financiado pela União
Européia. A Miguel Carid e Laura Pérez, alunos do PPGAS-UFSC, devo valiosas
informações complementarias em ambos casos. Agradeço também a MCN sua leitura,
seus comentários e correções à primeira parte do artigo.
1 A leitura do Quixote que apresento aqui deve muito a uma dessas guias, a de Martín
de Riquer (1970) que, apesar de ser enfática nessa interpretação do Quixote como
sátira que estou a rejeitar, oferece um útil roteiro de leitura, oferecendo a profanos em
filologia (como o autor destas páginas) informações sobre o contexto, sobre as
sutilezas do texto, etc. Evitarei citar a cada momento, no meu resumo do Quixote,
essa fonte, que de outro lado, devido à fidelidade ao texto que se supõe própria da
profissão, evita no geral exegeses mirabolantes. Não é esse o caso de Américo Castro
(2002) filólogo também, mas filólogo talvez por falta de uma antropologia espanhola
condizente com a sua imaginação. Dele está tirada a ênfase na subjetividade como
clave do Quixote, e sua interpretação se estende também sobre questões que apenas
serão sugeridas aqui, como a inserção dessa literatura e dessa subjetividade no
universo dos outcast conversos espanhóis. De resto, e abundando na interpretação
satírica do romance, que como dissemos não é inferida, mas tomada literalmente
deste, deveríamos lembrar que ela não parece ser incompatível com o aberto elogio
(cf. capítulo VI) de algumas das obras mais características do gênero de cavalaria,
incluído o seu paradigma, o Amadis de Gaula, que deveria ser o objeto por excelência
do ataque.
2 O êxito editorial do primeiro Quixote suscitou a aparição de uma continuação, cujo
autor (sobre o qual tem se tecido hipóteses infindáveis) assinava com o pseudônimo
de Alonso de Avellaneda. O episódio foi importante, sobretudo porque empurrou
Cervantes a escrever a segunda parte do livro, muito mais complexa e enriquecida,
num traço "vanguardista", com os comentários do personagem à sua falsa biografia.
3 É interessante lembrar que a avaliação satírica foi também feita de um outro ponto
de vista, eventualmente romântico, como no caso de Lord Byron: a irrisão cervantina
seria responsável precisamente da decadência do heroísmo espanhol... A minha rápida
avaliação não faz, nem aspira a fazer, justiça ao rico e complexo mundo da
interpretação romântica do Quixote. Os interessados nesse assunto podem recorrer a
Close 1978, Bertrand 1914 e 1953.
4 Isso faz a enorme diferença entre o Quixote de Cervantes e alguns predecessores
(como o personagem do "Entremés de los Romances", que se identifica
vertiginosamente com uma série infindável de heróis, ou o Quixote "apócrifo" de
Avellaneda, reduzido a um desastrado guignol de disparates e pancadarias). Depois
dos primeiros capítulos, em que a identidade do cavaleiro se mostra instável, Dom
Quixote age com um certo sistema. Sobre os antecedentes da paródia cervantina cf.
Mancing 1975.
5 O pendant ortodoxo de Dom Quixote é Ignácio de Loiola, que decide ser santo lendo
vidas de santos: o paralelo não passou desapercebido aos comentaristas,
especialmente o basco e católico Unamuno. As vidas de santos -uma literatura, aliás,
não menos descabida que a que secou o cérebro do cavaleiro-, são o antídoto que
alguns personagens do livro recomendam para a intoxicação literária de Dom Quixote.
Sobre Loyola e a épica cf. Garcia Mateo 1991.
6 As excelências renovadoras do Quixote, aqui resumidas, seguindo a Ortega e Castro,
ao seu "perspectivismo" tem sido desdobradas pela maior parte dos críticos -nem
sempre seduzidos por essa démarche "filosófica"- em uma pluralidade de achados
sobre o estatuto da ficção na obra, sobre o uso da língua e da psicologia, etc. O
Quixote aqui apresentado é um Quixote obviamente reduzido para o uso comparativo
que seguirá.
7 Diga-se de passagem, um estímulo inicial deste artigo foi uma longa entrevista
oferecida por esse autor (Eribon 1989), onde Lévi-Strauss especula sobre a
possibilidade de escrever um livro inspirando-se no Quixote. Infelizmente, essa
reflexão não viu por enquanto a luz, e, embora distante das linhas gerais que LéviStrauss sugere a seguir, está em alguma medida inspirada por elas.
8 As páginas que Foucault dedica ao Quixote -capítulo III, item I-, destinam-se a
ilustrar a transição entre duas epistemes, e para isso utiliza uma versão simplificada do
personagem, sempre empenhado em desvendar, na realidade opaca, os signos da
épica moribunda, embora também, na segunda parte do livro, encarne o poder sobre
essa realidade dos signos, agora em forma de literatura. O propósito deste artigo é em
substância o oposto, isto é, mostrar alternativas que perpassam as grandes
periodizações, e para esse fim é valioso observar, como já fizemos, que Dom Quixote
pode se mostrar também capaz de interrogar os signos a partir da experiência; ou que
o desterro dos signos a um espaço virtual não os priva totalmente de eficiência.
9 Como Caro Baroja indica, a maior parte dessa magia está ligada à resolução de
questões eróticas, ou de modestos casos de micro-política.
10 De fato, Martinho de Braga (Barlow 1950) afirma que foram os demônios os que
ocuparam a matéria desses entes naturais, induzindo os humanos a render-lhes culto.
11 No século XVI, o primeiro manual de extirpação de idolatrias, o de Andrés de
Olmos, dedicado aos índios mexicanos, é uma adaptação direta do manual de Fray
Martín de Castañega dedicado já à bruxaria setentrional espanhola.
12 As referências ao milagre se encontram sobretudo em dois textos, De Trinitate e De
Genesi ad litteram.
13 Numa passagem muito conhecida de A Cidade de Deus (XVIII) Santo Agostinho
narra o caso de umas mulheres que, na Itália, eram capazes de transformar seus
hóspedes em jumentos, sugerindo, porém, que essa transformação não deveria ser
física, mas uma ilusão criada pelo diabo.
14 Ginzburg (2001) realiza a melhor indagação sobre as numerosas fontes do sabbath
europeu, e o encontro ou conflito entre tradições populares e eruditas que o sustenta.
15 O dia a dia do famoso tribunal, em um pais onde a sua ação havia chegado já a
resultados contundentes, estava dedicado a assuntos mais prosaicos, como a
blasfêmia: não estando aliada à heresia ou à condição de converso, este delito típico
de cristãos velhos era tratado com muita leniência. Vários autores tem elaborado
censos das vítimas da caça às bruxas. Por exemplo, Barstow (1995, apêndice B) para o
período de 1500-1650, estima umas 50.000 execuções (entre 100.000 acusações) no
Sacro Império Germânico, umas 5.000 (entre 10.000) na França, 2372 entre 5403 na
Grã Bretanha (mais a Nova Inglaterra) etc. etc. No extremo oposto, na Espanha
aparecem aproximadamente 100 execuções para um total de 3687 processos; na
Itália, apesar dos mais de dois milhares de acusações, aparentemente ninguém é
executado por bruxaria, o que sugere que a proximidade do papado levava aos
poderes a um ponto de vista mais conservador nesta questão.
16 Prinz (2003), retomando observações de Karl von den Steinen, refere-se também à
"falta de detalhe" das metamorfoses xinguanas, que põem sempre em jogo duas
formas discretas, original e final, sem contemplar um continuum de transformação.
17 Os rituais Kaxinawá são descritos, com ênfase especial na sua capacidade
construtiva, por Kensinger (1995), McCallum (2001) e Lagrou (1998)
18 O gesto agressivo do velho xamã, que muitas vezes vi ser imitado pelos Yaminawa,
consiste em recolher do corpo, e especialmente das axilas, humores que, acumulados
nas mãos, são então assoprados em direção ao inimigo. Segundo os Yawanawá, é a
pimenta intensamente ingerida pelo xamã a substância base desses humores.
19 Patrick Deshayes (2003) descreve um continuum do uso da ayahuasca, que vai
desde a "purga" com efeitos sobre o corpo (relacionado ao predomínio de um dos
componentes da decocção, precisamente o cipó Banisteriopsis) e um outro centrado na
produção de imagens (e portanto do outro componente clássico, a Psichotria); o
paradoxo de que seja o cipó, e não a Psichotria produtora das visões, quem tenha
dado nome à bebida, desaparece se consideramos que o papel da visão se incrementa
na medida em que nos afastamos do contexto original da prática, e só assume um
quase monopólio nas religiões "de branco" inspiradas no xamanismo indígena. Em
outra ordem de coisas, é bom notar que a mitologia Kaxinawa se confunde com a
Yaminawa quando se trata da ayahuasca (como acontece em versões recentes de
mitos; ver Lagrou 2000).
20 As sessões de sexo seqüencial que eventualmente decorriam da brincadeira não
tinham o caráter explicitamente punitivo que assumem alhures, por exemplo, quando
associadas aos tabus sobre as flautas sagradas (Gregor e Tuzin 2001). Mesmo assim,
podiam em alguns casos ser dirigidas a mulheres "orgulhosas", e não é por acaso que
em várias versões do mito de origem das queixadas a transformação se produza
precisamente como reação à atitude de uma jovem que recusa o matrimônio. Em
qualquer caso, parece ter sido decisiva, na abolição da brincadeira, a oposição de
mulheres ainda ligadas ao cristianismo dos missionários expulsos.
Referências bibliográficas
ABREU, João Capistrano de. 1941 [1914]. Rã-txa hu-ni-ku-i: grammatica, textos e
vocabulário Caxinauás. Rio de Janeiro: Sociedade Capistrano de Abreu.
ALONSO, Dámaso. 1970. "Prefacio". In: M. Riquer, Aproximación al "Quijote".
Barcelona: Teide.
BARSTOW, Anne Llewellyn. 1995. Witchcraze: a new history of the European witch
hunts. São Francisco, CA: Pandora.
BERTRAND, J.-J. A. 1914. Cervantes et le romantisme allemand. Paris: Félix Alcan.
___. 1953. "Génesis de la concepción romántica de Don Quijote en Francia [Primera
parte]". Anales Cervantinos, 3:1-41.
CALAVIA SÁEZ, Oscar. 1991. "La invención del enemigo". Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, XLVI:117-145.
___. 1997. "Naturaleza, religión y cultura tradicional". Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, LII:133-176.
___. 2001. "El rastro de los pecaríes: variaciones míticas, variaciones cosmológicas e
identidades étnicas en la etnología Pano". Journal de la Societé des Américanistes,
87:161-176.
___. 2002. Las formas locales de la vida religiosa. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
___. 2002a. "A variação mítica como reflexão". Revista de Antropologia, 45(1):7-36.
[ SciELO ]
___. 2002b. "Nawa, Inawa". Ilha, 4(1):35-57, Florianópolis.
___. 2004. "Extranjeros sin fronteras. Alteridad, nombre e historia entre los
Yaminawa". Indiana, 19-20:73-88, Berlin.
CARID NAVEIRA, Miguel. 1999. Yawanawa: da guerra à festa. Dissertação de
Mestrado, PPGAS-UFSC.
CARO BAROJA, Julio. 1973. Las brujas y su mundo. Madrid: Alianza Editorial.
___. 1990 [1967]. Vidas mágicas e inquisición. Barcelona: Círculo de Lectores.
CASTAÑEGA, Martín de. 1946. Tratado de las supersticiones y hechicerias (1529)
(editado por. A.G. de Amezúa). Madrid: Sociedad de Bibliófilos Españoles.
CASTRO, Américo. 2002. Cervantes y los casticismos españoles y otros estudíos
cervantinos. Madrid: Trotta.
CLOSE, Anthony. 1978. The romantic approach to "Don Quixote". Cambridge:
Cambridge University Press.
COHN, Norman. 1980. Los demonios familiares de Europa. Madrid: Alianza Editorial.
DESHAYES, Patrick. 2003. "L'Ayawaska n'est pas un hallucinogène". Psychotropes,
8(1).
FOUCAULT, Michel. 1966. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences
humaines. Paris: Gallimard.
GARCíA MATEO, Rogelio, S. J. 1991. "Ignacio de Loyola y el mundo caballeresco". In:
J. Caro Baroja e A. Beristain (eds.), Ignacio de Loyola, Magister Artium en París 15281535. Donostia-San Sebastián: Sociedad Gipuzkoana de Ediciones y Publicaciones. pp.
293-302.
GINZBURG, Carlo. 1988 [1966]. Os andarilhos do bem. Feitiçarias e cultos agrários nos
séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras.
___. 2001. História noturna: decifrando o Sabá. São Paulo: Companhia das Letras.
GREGOR, Thomas e TUZIN, Donald. 2001. "The anguish of gender: men's cults and
moral contradiction in Amazonia and Melanesia". In: T. A. Gregor e D. Tuzin (eds.),
Gender in Amazonia and Melanesia. An exploration of the comparative method.
Berkeley: University of California Press. pp. 309-336.
HALKA, Chester S. 1981. "Don Quijote in the light of huarte's examen de ingenios; a
reexamination". Anales Cervantinos, 19:3-13.
HARNER, Michael. 1973. "The role of hallucinogenic plants in European witchcraft". In:
Hallucinogens and shamanism. London: Oxford University Press.
HEIPLE, Daniel L. 1979. "Renaissance medical psychology in Don Quijote". Ideologies &
Literature, 9:65-72.
HENNINGSEN, Gustav. 1983. El abogado de las brujas. Brujería vasca e inquisición.
Madrid: Alianza Editorial.
KENSINGER, Kenneth. 1995. How real people ought to live. The Cashinahua of Eastern
Peru. Prospect Heights: Waveland Press.
LAGROU, Eljse 1998. Caminhos, Duplos e Corpos. Tese de Doutorado em Antropologia,
DA/FFLCH/USP.
___. 2000. "Two ayahuasca myths from the Cashinahua of Northwestern Brazil". In:
L.E. Luna e S. F. White (eds.), Ayahuasca reader. Santa Fe: Synergetic Press. pp. 3135.
LE GOFF, Jacques. 1977. "Mélusine maternelle et défricheuse". In: Pour un autre
Moyen Age. Temps, travail et culture en occident: 18 essais. Paris: Gallimard. pp. 307331.
___. 1985. "El desierto y el bosque en el occidente medieval". In: Lo maravilloso y lo
cotidiano en el occidente medieval. Barcelona: Ed. Gedisa.
LÉVI-STRAUSS, Claude. 1968 [1964]. Mitológicas I. Lo crudo y lo cocido. México:
Fondo de Cultura Económica.
___. 1982 [1966]. Mitológicas II. De la miel a las cenizas. México: Fondo de Cultura
Económica.
___. 1985. "O feiticeiro e sua magia". In: Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro. pp. 193-213.
MANCING, Howard. 1975. "Cervantes and the tradition of chivalric parody". Forum for
Modern Language Studies, 11:177-191.
MANDROU, Robert. 1968. Magistrats et sorciers en France au XVII.e siècle. Paris: Plon.
MCCALLUM, Cecilia. 2001. Gender and sociality in Amazonia. How real people are
made. Oxford: Berg.
ORTEGA Y GASSET, José. 1914. Meditaciones del Quijote. Madrid: Publicaciones de la
Residencia de Estudiantes.
PÉREZ GIL, Laura. 2004. "Chamanismo y modernidad: fundamentos etnográficos de un
proceso histórico". In: O. Calavia Sáez (ed.), Paraíso abierto, jardines cerrados.
Pueblos indígenas y biodiversidad. Quito: Abya-Yala.
PRIETO LASA, J. Ramón. 1994. Las leyendas de los señores de Vizcaya y la tradición
melusiniana. Madrid: Fundación Menéndez Pidal.
PRINZ, Ulrike. 2003. "Transformation und Metamorphose: Überlegungen zum Thema
der 'Bekleidung' im südamerikanischen Tiefland". In: B. Schmidt (org.), Festschrift für
Mark Münzel. Marburg: Curupira Verlag. pp. 99-110.
RIQUER, Martín de. 1970. Aproximación al Quijote. Barcelona/Madrid: Salvat/Alianza
Editorial.
SPERBER, Dan. 1982. "Les croyances apparemment irrationelles". In: Le savoir des
anthropologues. Paris: Hermann. pp. 49-85.
THOMAS, Keith. 1991. Religion and the decline of magic. London: Penguin Books.
TREVOR-ROPER, Hugh. 1985. "La caza de brujas en Europa en los siglos 16 y 17". In:
Religión, reforma y cambio social y otros ensayos. Barcelona: Argos. pp. 77-152.
UNAMUNO, Miguel. 1987. Vida de Don Quijote y Sancho. Madrid: Alianza Editorial
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1996. "Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo
ameríndio". Mana, 2(2):115-144.
Recebido em 15 de dezembro de 2003
Aprovado em 15 de fevereiro de 2004
MANA 10(2):227-256, 2004
MOINHOS DE VENTO
E VARAS DE QUEIXADAS.
O PERSPECTIVISMO E A
ECONOMIA DO PENSAMENTO*
Oscar Calavia Sáez
Os guias de leitura dos clássicos caem com freqüência em uma paródia
involuntária. E as paródias involuntárias dessa paródia complexa e cheia
de intenções que é o Quixote têm sido, em geral, simples e sisudas em
excesso. A mais antiga é a que entende o livro como uma sátira contra os
romances de cavalaria. De fato, é esse o propósito manifesto do autor já
no prefácio, e os contemporâneos parecem ter lido sua obra (um grande
sucesso de vendas) desse modo. Mas essa interpretação afunda na obviedade: se, no mesmo ano (1605) em que sai a público a primeira parte
do livro, as figuras de Dom Quixote e Sancho já aparecem como máscaras em festas de estudantes, se paródias da cavalaria andante já existiam
na época, é porque a matéria já estava carnavalizada1. O autor do Quixote
apócrifo2, comentando uma das aventuras do cavaleiro, revela-nos que
era comum dar espaço a loucos nos torneios festivos de começos do século XVII. Zombar da épica não era mais novidade. Compreende-se que
Cervantes justificasse uma obra extravagante com um álibi moral, mas
não é cabível que esbanjasse inventiva, e se tornasse um clássico, arrombando portas abertas.
Menos trivial, embora algumas vezes mais obtusa, é a interpretação
legada pelo romantismo, que se perpetua na acepção atual do termo “quixotesco”: as aventuras do fidalgo encenariam o duelo entre o ideal e a
razão prática, o sonho e a realidade etc. O dilema pode se tornar deprimente quando, em aliança com um certo nacionalismo espanhol — talvez reagindo ao trauma de ver um louco consagrado como herói e arquétipo pátrio —, passa a identificar o pólo do ideal e o sonho com a Espanha castiça, derrotada sob os golpes de uma Europa moderna, pragmática e burguesa (é o que faz, por exemplo, Miguel de Unamuno). Apesar
do seu entusiasmo, é uma leitura pouco gentil com uma obra extraordinariamente ambígua, e que de resto teve seus seguidores mais ávidos
228
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
não na Espanha, mas na Inglaterra, cabeça do pragmatismo e da modernidade. Pouco gentil também com o autor, marginalizado pelo status quo
político e literário de sua época, pouco entusiasta de Felipe II, da Inquisição e do regime castiço da idade clássica espanhola. Dom Quixote, longamente celebrado como uma figura moral pró-moderna ou antimoderna, é um personagem cuja complexidade deveria talvez lhe garantir um
lugar não na história do bom senso ou dos bons sentimentos ocidentais,
mas, entre outras coisas, da reflexão sobre o conhecimento.
O Quixote como drama do sujeito
Dom Quixote, todo mundo sabe, é um solteirão já de idade que, mergulhado na leitura de livros de cavalaria — uma literatura não tão distante,
malgrado o óbvio anacronismo, do atual universo dos Jedis, de Tolkien ou
dos role games —, passa a ver as coisas de outro modo: em lugar de moinhos movidos pelo vento, vê gigantes movendo os braços; em lugar de rebanhos de carneiros, vê exércitos entrando em batalha; em lugar de odres
de vinho, cabeças ameaçadoras de mais gigantes; e em lugar de um fidalgo pobre, fraco e provinciano, vê em si mesmo um cavaleiro andante.
Mas essa alienação não é mecânica. Na maior parte do tempo, o fidalgo é perfeitamente racional, e inclusive um exemplo de bom senso, o
que os personagens do romance reconhecem melhor que o leitor extraviado por leituras convencionais. As percepções alteradas de Dom Quixote
não se repetem indefinidamente. De fato, limitam-se a alguns episódios
— iniciais e relativamente poucos, dada a extensão do livro —, e o protagonista evolui4. No começo da segunda parte do livro (publicada em 1616),
assiste-se a uma inversão dos papéis consagrados na primeira. Sancho, o
rústico “escudeiro” do fidalgo, fracassa na tarefa, que o seu amo lhe tinha
encomendado, de entregar uma carta a Dulcineia, sua amada imaginária;
mas mente, e diz tê-la entregado. Para ocultar a falta, quando Dom Quixote teima em se encontrar de fato com a amada, improvisa um estratagema: vendo aproximar-se um grupo de camponesas, Sancho anuncia que
se trata de Dulcineia e suas damas. O diálogo que se segue é uma inversão exata dos diálogos que Dom Quixote e Sancho mantêm na primeira
parte, nas aventuras dos moinhos ou dos rebanhos: Sancho diz ver princesas onde Dom Quixote, desta vez porta-voz do bom senso, vê camponesas, que além de tudo cheiram a alho. Sancho, com a lição bem aprendida, resolve explicar que esse equívoco deve ser fruto do mesmo encantamento que outrora tinha revelado os gigantes como moinhos ou odres de
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
vinho: Dulcineia está encantada, transformada em lavradora. Tão logo
seus interlocutores identificam a chave de sua loucura, Dom Quixote não
precisa mais ser louco, porque todo mundo — o seu escudeiro, os seus vizinhos e os aristocratas blasés com que topa na sua caminhada — conspira para trazer suas fantasias para o mundo real. É mais que dúbio que isso constitua um duelo entre realidade e ficção. Isso acontece no apócrifo
de Avellaneda, cuja trama reitera até o fastio encenações grotescas às
quais o cavaleiro responde como um autômato crédulo até acabar encerrado em um hospício. O Dom Quixote autêntico — o de Cervantes — não
é refutado, mas vencido dentro do próprio roteiro que ele conseguiu impor, derrotado em duelo por um bacharel cuja propensão a se fantasiar de
cavaleiro andante, com o pretexto de trazer Dom Quixote de volta ao senso comum, resulta suspeita. A seu modo, o fidalgo triunfa sobre os bacharéis e os duques que dele zombam, fazendo-os recriar ad hoc o mundo
que ele está postulando. Se a derrota e a melancolia do final parecem expressar a vitória da dura realidade, não seria demais lembrar que a literatura arturiana, modelo último de Dom Quixote, é também o relato de um
fracasso: o reino de Artur dissolve-se, seus cavaleiros acabam sua vida como penitentes e a Igreja fica como guardiã única dos símbolos.
É bom ressaltar que os verdadeiros antagonistas de Dom Quixote não
são, a rigor, os autores das burlas, senão aqueles que se negam a participar do jogo, especialmente clérigos que, como o capelão dos duques, estendem à mascarada a mesma censura que a Igreja esgrimia contra a desenfreada imaginação dos romances de cavalarias5. A antítese não se dá
entre a imaginação e a realidade crua, mas entre dois contrapontos imaginários dessa realidade: o da epopéia cavaleiresca e o da religião. É interessante destacar que o universo religioso, registro dominante da sociedade espanhola da época (mas um campo minado para escritores independentes), está singularmente ausente da obra. Dom Quixote só se dedica
verdadeiramente à religião na hora da morte, já de volta à sensatez.
O dilema de Dom Quixote é perpendicular à dicotomia realidade/representação, que ocupa o centro da reflexão européia do século XVII. Em
duas ocasiões o fidalgo enfrenta-se não com a “realidade”, mas com representações teatrais: teatro de títeres — muito semelhante aos que ainda
hoje podem ser vistos em ação no teatro de puppi na Sicília — e o auto
sacramental de “Las cortes de la muerte”. Em ambos os casos ele sabe
perfeitamente que se trata de teatro, e até aproveita a ocasião para dar fé
de empirismo: “es menester tocar la apariencia con las manos para dar
lugar al desengaño”, embora em algum momento caia na tentação de entrar ele mesmo na ação. A loucura de Dom Quixote pouco tem a ver com
229
230
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
a amálgama barroca da vida com o sonho ou com o teatro, essenciais em
Calderón ou Shakespeare; ele, definitivamente, não é um cartesiano, nem
todo o contrário. O que lhe interessa é descobrir agência, mesmo nos objetos inertes.
O de Dom Quixote é um universo de sujeitos, em que mesmo os moinhos e os carneiros, produtos passivos por excelência da física aplicada e
da zoologia aplicada, são convertidos em protagonistas violentos. Atrás
dessa interpretação está a certeza de que as coisas não têm uma natureza estável, mas sim um ser que depende de um desígnio próprio. Atrás
de cada moinho de vento ou de cada odre de vinho que se mostra como
gigante, para se reduzir depois à matéria, está a vontade de um mago,
capaz de alterar o ser de todo o existente; e diante desse demiurgo malévolo ergue-se o cavaleiro-herói capaz de identificar suas tergiversações.
O mundo em que Dom Quixote traça suas aventuras é um mundo de conflitos pessoais — raptos, tiranias ou prisões —, travados entre pessoas, no
qual não têm lugar os conflitos mediados pelo poder objetivo das “coisas” (as riquezas, ou as condições inatas da natureza humana).
O dramatismo do livro reside no fato de que toda essa subjetivação
do mundo se destaca contra o pano de fundo de uma outra interpretação
que poderíamos chamar naturalista, nesse sentido agro que a palavra tomará no século XIX. Os seus sinais encontram-se já no próprio título original: se Dom Quixote é um “engenhoso fidalgo”, anotam os filólogos, é
em alusão a uma das categorias da caracterologia da época (Martín de
Riquer 1970; Halka 1981; Heiple 1979); esse dessecamento do cérebro
devido às leituras pode nos parecer uma metáfora expressionista, mas
tem um sentido bem mais concreto na fisiologia contemporânea dos humores. Dom Quixote, nesse caso, teria se transformado em um “louco da
cultura” porque já haveria uma causa “física” para essa degeneração. À
margem dessas pinceladas de paleopsicologia, a Mancha onde a ação
acontece — um cenário longe das florestas nórdicas povoadas de símbolos da Matéria de Bretanha — é essa paisagem rasa de prosaísmo desolador, feita de necessidades básicas, miséria e cinismo, que costumamos
identificar à realidade dura e crua. Se a narrativa naturalista do século
XIX celebrou essa percepção como o começo de uma noção científica do
ser humano, as “novelas picarescas” do XVII espanhol, conquanto artificiosas e sem álibis científicos, já tinham pintado essa mesma paisagem
de marginais, fracassados e cínicos, bem no século em que é cunhada a
noção moderna de natureza. A obra de Cervantes não é melhor que elas
só porque sabe retratar a natureza humana com mais fidelidade que outros, senão também porque não se deixou fascinar por ela.
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
Os críticos literários — seguindo a pauta de Ortega y Gasset (1914), que
toma de Nietzsche o conceito —, têm chamado “perspectivismo” a esse
modo de relação com a realidade que descobrimos em Dom Quixote. O
mérito que coloca a obra de Cervantes no nascedouro do romance moderno está aí resumido: a trama do relato não é mais responsabilidade de
algum destinador (Deus, a Fatalidade, a Natureza), mas do encontro de
uma multidão de sujeitos, cada um com sua intenção e com sua verdade.
A intriga do livro é mínima, e a rigor dissolve-se em um desfile de episódios quase independentes: o que movimenta a obra é a flutuação dos pontos de vista. É por adotar um certo olhar sobre as ações, mais do que pelas ações como tais, ou pelos seus atributos natos, que os personagens,
inumeráveis, ganham sua individualidade6.
Mas o perspectivismo tem outras versões. Toda a descrição anterior
das visões quixotescas não deixará de evocar aos familiarizados com a literatura etnológica o conceito de perspectivismo ameríndio que Viveiros
de Castro (1996) tem definido como o corolário etnoepistemológico de
uma cosmologia animista cujo tecido se encontra nos mitos e cujo formulador por excelência é o xamã. O xamã (tantas vezes descrito como um
louco pelos seus comentadores) é capaz também de ver sujeitos onde os
outros homens só costumam ver objetos, em particular, ele sabe ver os
animais como pessoas. Porém, à diferença do que em princípio acontece
com Dom Quixote, essa sua visão é entendida por seus concidadãos como uma visão privilegiada, gnoseologicamente superior à dos profanos.
Dom Quixote — será necessário descartar uma simplificação tão extravagante? — não é um xamã. E não só porque os seus contemporâneos
lhe neguem a primazia na interpretação da realidade — como vimos, ele
consegue reverter isso até certo ponto. O perspectivismo dos xamãs ameríndios, sempre segundo a exposição de Viveiros de Castro, situa a especificidade dos seres no corpo; o corpo é ativo, é a sede viva dos afetos.
Não é o caso de Dom Quixote: a sua aventura situa-se dentro de um paradigma que estabelece a pesada fisicidade do corpo, e em que o ponto
de vista é função de uma alma incorpórea. O corpo de Dom Quixote é um
corpo com necessidades, que precisa se alimentar e descansar, que fica
doente, vomita ou tropeça; de outro lado, é um corpo indiferente, que não
intervém nos amores de Dom Quixote, tristemente ascéticos, e que atravessa sem fraturas nem danos maiores uma série terrível de espancamentos, apedrejamentos, feridas, quedas. O corpo de Dom Quixote — bom
cristão, afinal — é uma carga que não mostra nem demonstra nada. Levado às suas últimas conseqüências, Dom Quixote transforma-se no Cavaleiro Inexistente de Ítalo Calvino, uma armadura vazia mas animada
231
232
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
pela vontade. A única exceção encontra-se nos capítulos XXV-XXVI da
primeira parte, quando Dom Quixote, seguindo o roteiro de uma de suas
aventuras favoritas, decide imitar a loucura de Orlando: essa ocasião em
que o cavaleiro se esfalfa dando cambalhotas e exibindo suas partes íntimas é uma nova inversão do seu modelo, é a obra de um louco fazendose de louco, e só aí o corpo se torna significativo. O perspectivismo de
Dom Quixote é uma antítese do incipiente naturalismo do seu século, embora isso não o identifique necessariamente com outras antíteses; como
perspectivismo, porém, coincide em alguns aspectos essenciais com o
perspectivismo ameríndio.
O fim da epopéia e o declínio da magia
Outra das linhas clássicas de interpretação do Quixote é a que identifica
nele um testemunho do final da epopéia (Alonso 1970), ou do declínio do
“pensamento mágico” (Caro Baroja 1990:186-196), ou, em termos mais
gerais, do divórcio entre as palavras e as coisas (Foucault 1966). Claude
Lévi-Strauss7 dedicou, na sua extensa obra sobre os mitos ameríndios,
um interessante capítulo à morte dos mitos e à sua transformação em romance. O Quixote está, de fato, repleto dessas toxinas que mataram os
mitos: o apagamento das grandes oposições (o protagonista e seus oponentes têm dimensões muito modestas), a serialidade dos episódios, a
predominância dos matizes sobre os grandes caracteres etc. Se essa morte do mito está exemplarmente figurada nas novelas do ciclo arturiano, o
Quixote a recapitula e a amplifica; ainda mais, a encena e a tematiza; é
uma morte consciente. Mas prossigamos: o fim dos heróis é contemporâneo do fim dos mágicos. Julio Caro Baroja identifica no relato de Cervantes a falência do “pensamento mágico”; uma falência, é verdade, que
merece algumas restrições, seja pelo periódico retorno dos magos, seja
pelo novo “ciclo bretão” que inunda hoje mesmo a indústria cinematográfica. Sem esperar por isso, o próprio Cervantes, aponta Caro Baroja,
mostra uma espécie de recuo arcaizante em sua última obra, Persiles e
Sigismunda, uma novela bizantina na qual abunda o recurso à magia e à
licantropia, inspirada na literatura clássica ou nos relatos fabulosos sobre
as regiões setentrionais. Tudo isso pode querer dizer que o livro protomoderno de Cervantes indica não a morte natural do pensamento mágico,
do mito e da épica, mas uma morte orquestrada, e que ele se interessa
menos por essa morte que pelas formas em que mito e magia são capazes ainda de viver8.
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
Dois episódios famosos do Quixote lembrarão sem dúvida, aos especialistas em sociedades exóticas, feições típicas das viagens do xamã. Um
deles é o da Caverna de Montesinos, onde Dom Quixote se interna, pendurado em uma corda, para ser içado, sumido em profundo sono, horas
mais tarde. Ao despertar, assegura ter ficado três dias na caverna, e relata os episódios que pôde contemplar, protagonizados por heróis da antiga épica — mas também, em uma curiosa inversão, episódios grotescos
encenados pelos sujeitos da sua própria fantasia, especialmente por Dulcineia. O episódio da caverna é rodeado de toda uma cortina de ceticismo pelo autor do livro (que adverte que se trata provavelmente de uma
aventura “apócrifa”) e pelos personagens, especialmente por Sancho,
que embora já habituado a levar a sério os devaneios do seu mestre, dessa vez não tem pejo em duvidar deles. O outro episódio é o de Clavileño,
o cavalo voador. Dom Quixote e Sancho, vítimas de mais uma burla dos
seus anfitriões, os Duques, são empurrados a partir em uma viagem estelar sobre um cavalo mágico. Ambos têm os olhos vendados e montam um
cavalo de madeira. Os comparsas dos duques criam a ilusão da viagem
agitando a engenhoca, mimando com foles e tochas o vento das alturas e
o calor das estrelas. Acabada a burla, Sancho declara para diversão de
todos que ao longo da viagem, por uma fresta que lhe deixava aberta a
venda dos olhos, tinha podido ver a terra desde as alturas, e alguma constelação encarnada na sua forma simbólica, e mantém sua história apesar
das argüições da duquesa e do próprio Dom Quixote, muito cético: “ou
Sancho mente, ou Sancho sonha”. No final do capítulo, Dom Quixote chama à parte a Sancho e lhe diz: “Sancho, pues vos quereis que se os crea
lo que hábeis visto en el cielo, yo quiero que vos me creais a mi lo que vi
en la cueva de Montesinos. Y no os digo más”.
Em uma obra repleta de referências às artes mágicas, essa exortação
enigmática é uma chave. O perspectivismo quixotesco não é o resultado
de uma visão diferente: isto é, os olhos do louco, como os do xamã, não
estão feitos de uma outra matéria. A compreensão de Dom Quixote por
Cervantes corre de algum modo em paralelo à compreensão do pensamento primitivo ao longo da história da antropologia: depois da explosão
da loucura nos primeiros capítulos, o autor descobre que ela não segrega
o cavaleiro da racionalidade; ele permanece um “louco entreverado” em
que os disparates se articulam com o bom senso. Mais tarde, descobre
que, apesar de tudo, a percepção desse louco entreverado não carece necessariamente de eficácia, porque permite afinal entender o mundo, e
mesmo destacar aspectos deste ocultos ao olhar comum; finalmente, nas
furtivas palavras dirigidas a Sancho que acabamos de citar, sugere que
233
234
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
essa percepção não depende de comprovações ou refutações da empiria,
mas de um acordo intersubjetivo sobre o que seja a realidade. Por caminhos muito diferentes, Dom Quixote encontra a mesma combinação de
ceticismo e exercício mágico do xamã Quesalid, cuja história foi relatada
por Boas e comentada em um célebre artigo por Lévi-Strauss (1985).
Mas se o Quixote incorpora uma reflexão implícita sobre a magia,
ou sobre o seu declínio, o faz de um modo curiosamente indireto. O livro
elude, como já dissemos, qualquer alusão de relevo à religião, e isso em
uma sociedade obsessivamente religiosa; mas, do mesmo modo, se mantém afastado da feitiçaria contemporânea. A magia que aparece no Quixote é uma magia livresca, tomada de livros de aventuras arcaizantes, e
não a magia que de fato praticavam na época inumeráveis saludadores
ou feiticeiras, tantas vezes chamados a prestar contas ante os tribunais
da Inquisição, e que aparece muito mais reconhecível em outros clássicos
da literatura espanhola, como a Celestina. De fato essa magia não servia
aos propósitos de Dom Quixote: ela não era (não era mais?) uma visão alternativa do mundo.
A magia contemporânea de Dom Quixote existe em uma sociedade
que tem estabelecida uma divisão entre feitiçaria e religião, cujo critério
definidor é fundamentalmente moral. Essa dicotomia é, em última instância — apesar do persistente bias maniqueísta —, uma relação hierárquica, em que a feitiçaria é subalterna: não possui um conjunto completo
de códigos, mas recorre à cosmologia, ao panteão e em parte ao ritual da
religião dominante, distinguindo-se dela fundamentalmente pelos seus
agentes, pela maior parte de suas práticas e pela marginalidade moral de
uns e outras9. Essa hierarquia, aliás, se estabelece sobre um gradiente,
sem marcos bem definidos. Entre o terreno altamente especializado da
ortodoxia teológica e os baixos fundos estigmatizados e criminalizados
da feitiçaria estende-se uma série infinita de religiosidades ortodoxas porém imperfeitas, e de “erros populares” que contam (sempre que não se
articulem em torno de uma heterodoxia) com uma ampla margem de tolerância. Enfim, toda essa configuração é resultado de uma operação, já
milenar naquela época, de transferência de poder em direção a um centro ocupado pela Igreja.
Os primórdios dessa operação são bem conhecidos, registrados como
estão em uma série de obras de evangelizadores da Antiguidade tardia ou
da primeira Idade Média às quais os folcloristas europeus têm recorrido
sempre para localizar as raízes pagãs da religião popular. Na península
ibérica temos, por exemplo, o De correctione rusticorum, de Martinho de
Braga, que no século VI traça um verdadeiro programa de expropriação
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
simbólica do que viemos depois a chamar natureza: os “rústicos” do título,
embora superficialmente evangelizados, continuam dando culto a árvores,
animais, fontes, pedras, aos quais atribuem personalidade, vida e um poder que, para que a cristianização seja efetiva, deve ser inteiramente transferido para as figuras do panteão cristão10. O texto de Martinho, como outros equivalentes contemporâneos, poderia sem muito esforço ser adaptado para o uso desses evangelizadores que ainda hoje tentam erradicar erros animistas das populações indígenas deste ou daquele continente11.
Os resultados desse programa pouco mais de um milênio mais tarde
— na época em que Dom Quixote inicia suas atividades — são muito mais
difíceis de resumir. Primeiro, porque são indizivelmente ambíguos, e também porque os pesquisadores, na sua maior parte, têm se interessado por
eles com o olhar dirigido às origens. Farei aqui referência às minhas próprias investigações sobre uma região setentrional da Espanha, em boa
parte apoiadas em documentos dos séculos XVI e XVII que descrevem
fenômenos cuja longue durée pode validar estas observações séculos antes ou depois (Calavia Sáez 1991; 1997; 2002).
Apesar de Martinho de Braga e seus sucessores, a religião “popular” continua infestada de árvores, santos, ursos, serpentes, cervos e fontes. Uma rápida revisão permite constatar uma tensão entre a tendência
clerical de fazer deles uma decoração natural atrás das figuras do panteão cristão e as versões mais “populares” ou “arcaicas”, ou simplesmente menos clericais, que outorgam a todos eles um protagonismo em continuidade com o que lhes atribuem os contos folclóricos. Um bom exemplo pode ser o da relação entre as imagens de Nossa Senhora e as árvores. Embora tenham acabado como simples pedestais sobre os quais a
Virgem aparece (é o caso da azinheira de Fátima, já no século XX), as árvores têm nas versões mais “arcaicas” um papel muito mais ativo, como
uma espécie de ventre gerador da imagem, ou como vagas metonímias
de espíritos florestais; ou se vêem inscritas em uma mitologia implícita
do mel e das abelhas não tão distante da que se pode encontrar entre os
ameríndios (Lévi-Strauss 1982 [1966]); a ursa que resgata a Santa Coloma dos seus torturadores é uma ursa, sem que ninguém lembre de fazer
dela um anjo do céu; e não haveria como fazer anjos do céu dessas leoas
e tigresas que assistem às pregações de São Formério no deserto e depois o alimentam com seu leite.
Além dessa parcela do antigo sistema simbólico precariamente incorporada ao domínio da religião oficial, estendem-se os domínios do diabo, para onde fora remanejada, como sabemos, a parte menos assimilável do universo pagão. Mas o mundo dos demônios não é uma área de
235
236
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
preservação de velhos deuses; muito pelo contrário, enquanto na área
dos santos mantém-se pacificamente boa parte dos velhos atributos, o
mundo dos demônios é submetido a uma maior intervenção por parte da
Igreja, e se vê sujeito a radicais transformações em poucos séculos; em
certo sentido, o inferno é a mais cristã das regiões do cosmos católico.
Restringindo-nos a essa parte maldita (Calavia Sáez 1991), podemos
perceber que durante longo tempo (entre a época tardo-romana e a alta
Idade Média) o diabo se manifesta como uma alteração corporal do possesso, preso a uma espécie de antidisciplina feita de maus gestos, gritos,
espasmos e sujidade. É o seu ingresso no corpo humano que dá realidade ao diabo, muito antes que se comece a lhe atribuir uma forma corporal específica — feita da acumulação de extremidades animais sobre um
tronco humano — e antes que o mundo diabólico comece a constituir-se
como esse universo autônomo, com suas leis, suas hierarquias etc. que já
encontramos na literatura do século XIII. Transplantado assim para uma
dimensão sobrenatural, o diabo deve redefinir suas relações com o natural, e aqui, nas narrações que já no século XVII se dedicam à possessão
diabólica, se observa uma curiosa mutação: o espalhafato e a violência
dos antigos possessos continuam, mas agora são classificados como melancolia, entenda-se, como o efeito anímico de um desequilíbrio dos humores corporais. A possessão diabólica, por sua parte, não está ausente,
mas seus resultados são agora diametralmente diferentes: ela produz perturbações interiores, delírios, tristezas, aflições da alma, em soma. No panorama das aflições contemporâneas do Quixote encontramos vários elementos novos: a aparição de um domínio interior, o da alma, e o definitivo espólio da atividade de um invólucro, o corpo, cujas manifestações a
partir daí decorrerão de condições puramente físicas. O triângulo ortodoxo de natureza, sobrenatureza e humanidade está bem traçado, embora
apareça borrado nas precárias versões “populares”.
Essa dicotomia entre natural e sobrenatural (com o humano servindo de fronteira ou dobradiça) já está estabelecida bem antes de a “física”
ser capaz de dar conta suficientemente dos fenômenos físicos. A categoria de “milagre” é, por isso, vital para selar as frestas que se abrem entre
uma ordem simbólica apenas recalcada, em que todos os seres gozam em
princípio de subjetividade, e uma nova ordem divina, cuja ação se mostra no funcionamento regular de uma natureza privada de autonomia.
Essa nova ordem é a que começa a se formular nas doutrinas de Santo
Agostinho12 ou de Gregório o Grande: o milagre faz parte da ordem da
natureza, só a nossa ignorância o afasta dela. O milagre é, no limite, um
signo, um artifício pedagógico de uma divindade cuja ação é com fre-
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
qüência ininteligível. A partir daí inicia-se o monopólio do poder por um
único sujeito divino: a potência dos santos ou mesmo de Nossa Senhora,
limite do monoteísmo prévio à Reforma, se verá reduzida a conseqüência
do único poder real, o divino, do qual todos eles são, no máximo, mediadores. O destino do Diabo é mais delicado, mas, em último termo, não diferente: ele agirá sob sua própria responsabilidade mas com a “permissão” de Deus, e o mal deverá ser entendido como negatividade, não como uma realidade consistente. As obras diabólicas devem ser por isso ilusórias, erros de percepção sem substância13. Por volta do século X, essa
doutrina já estava bem definida no célebre Canon Episcopi, que, em síntese, descarta como heréticas as doutrinas que outorgam realidade às metamorfoses e outras obras diabólicas, levando muito perto da sua conclusão a oposição entre natura non naturata naturans (ou seja, Deus) e a natura naturata (naturans ou non naturans; ou seja, as criaturas vivas ou
não) de que falava Escoto Erígena; o passo seguinte será essa natureza
determinante mas inerte da visão positivista em sentido lato. Como bem
mostrou Keith Thomas (1991), a religião tomou a si o trabalho de erradicar o pensamento mágico — um trunfo que depois a Ilustração usurpou
—, deixando como herança a dicotomia entre humanidade e natureza e
convertendo a sobrenatureza em um resíduo.
Na época de Dom Quixote, quando a Contra-Reforma começa a divulgar por todos os meios essa dicotomia erudita entre populações deficientemente catequizadas, a magia popular a tem assimilado já em boa
medida, enquanto a magia culta se aproxima no possível dos recursos da
ciência (Caro Baroja 1990). A rigor, a magia não declina: transforma-se em
magia “naturalista”. Corpo e alma são entidades bem separadas, e toda
uma mitologia tecida nas relações entre humanos e os seres de aí em diante “naturais” deve ser relegada ao âmbito do absurdo, da crendice e do erro popular (ou do milagre acontecido lá e quando Deus teve por bem permitir tais coisas). Trunfo da Razão avant la page, essa reorganização do
mundo simbólico tem o inconveniente de uma radical concentração do poder simbólico e cognitivo em poucas mãos, preferencialmente clericais;
uma concentração pouco alvissareira para os gostos nômades do cavaleiro.
Às voltas com o recalcado
Mas esse processo não foi uniforme nem linear. Há, por exemplo, uma
certa reversão nesse momento da Idade Média em que, como indica Le
Goff (1985), se produz um florescimento do imaginário que levará, entre
outras coisas, à literatura arturiana. A cultura simbólica dos laicos, que
237
238
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
nunca se conformou totalmente com o monopólio clerical, pode ser rastreada, por exemplo, nas mitologias das casas nobiliárias, que exibem
muito à vontade sua vinculação com seres prévios à consagração das dicotomias, do tipo das sereias, que desde a literatura e a arte disputarão o
lugar com a cosmovisão teológica (Le Goff 1977; Prieto Lasa 1994). Essas
aparições de Melusinas ou Andramaris (seres mistos de humano e animal, ou vegetal, ou mineral) preludiam, de resto, o uso que dois séculos
mais tarde se dará às figuras da mitologia clássica.
Há um outro episódio, tristemente espetacular e surpreendente, que
desenvolverá essa mesma operação em um âmbito muito mais extenso:
trata-se das famosas epidemias de bruxaria, ou de caça às bruxas, que
têm lugar principalmente entre os séculos XVI e XVII. Conquanto uma
vastíssima bibliografia já tenha se dedicado ao caso (Caro Baroja 1973;
Cohn 1980; Trevor-Roper 1985; Mandrou 1968, entre centenas), tem aspectos que ainda vale a pena resumir e examinar à luz do presente argumento. Notemos que, se todo esse processo de desencantamento do mundo se leva a termo no essencial durante a Idade Média, é precisamente
no início da Idade Moderna que, por um tempo, se abole aquela relação
hierárquica entre a religião e a magia e se restabelece até certo ponto a
dicotomia entre Deus e Diabo, restringindo em certa medida o monopólio do primeiro. A operação pode ser entendida nas páginas do famoso e
nefasto Malleus Maleficarum, escrito pelos inquisidores Sprenger e Kraemer como um manual completo de perseguição às bruxas. O Malleus
apresenta-se, desde as suas primeiras páginas, como uma refutação do
Cânon Episcopi e de toda a tradição que desembocava neste. Com todos
os circunlóquios necessários ao caso (era preciso desenvolver o argumento sem cair em doutrinas perigosas, como o maniqueísmo, o que aconteceria caso se concedesse ao Diabo um poder substantivo), o que Sprenger e Kraemer fazem é reivindicar a realidade da feitiçaria – ou, o que é
mais, iniciar a sua restauração entanto que religião perversa mas completa, com sua doutrina, sua moral, seus rituais, seu sacerdócio (todos
eles desenhados como uma inversão dos legítimos). O Malleus, com numerosas edições e epígonos não menos numerosos, funcionou de fato como uma obra aberta, que foi sendo completada durante mais de um século por inquisidores de todas as nações européias e de todas as acepções do cristianismo. Os inquisidores chegam a este resultado mediante
uma bricolagem de citações de Pais da Igreja, autores clássicos, e notícias esparsas tomadas do que poderíamos chamar o folclore contemporâneo14. No seu auge, o modesto universo das bruxas rurais é elevado à categoria de seita diabólica, cujas instituições e rituais são réplica invertida
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
dos da Igreja Católica. Durante um tempo, os caçadores de bruxas conseguem impor uma interpretação durante séculos banida da ortodoxia,
atribuindo realidade à capacidade de transformação, às viagens noturnas
e às ações mágicas, elementos que alguma vez, provavelmente, fizeram
parte do universo simbólico pré-cristão, e que tinham sido abolidos no
processo antes descrito.
Como sabemos, há quem tenha achado que todo esse universo não
estaria abolido ou alterado e sim, simplesmente, oculto, e que os inquisidores não fizeram senão trazê-lo à luz de volta. Foi o caso de Margaret
Murray, cuja teoria, passado seu tempo de auge, caiu em descrédito, vítima de interpretações construtivistas, e que muito depois foi objeto de
uma reivindicação, parcial e matizada, da parte de Carlo Ginzburg (1988).
Mas parece claro que deveríamos entender a “seita das bruxas” como uma construção dos inquisidores que, paradoxalmente, lhe teriam dado uma vida virtual por meio de suas prédicas. O caso que deu origem a
essa teoria construtivista é contemporâneo da publicação do Quixote, e
de fato acontece no intervalo entre a publicação de sua primeira (1605) e
segunda parte (1616). Como resultado das perseguições de Pierre de Lancre no Pais Basco francês, a partir de 1609, surgem rumores e acusações
de bruxaria no lado espanhol da fronteira pirenaica, igualmente na região basca. A Inquisição põe-se à obra e descobre o que queria descobrir: que a seita dos bruxos está se estendendo nas montanhas bascas,
que nelas celebra seus sabbaths (ou akelarres, para usar a expressão local), que neles praticam todo tipo de crime e ritual nefando etc. etc. Os
inquisidores, seguindo o protocolo habitual, dão ampla publicidade aos
crimes que estão perseguindo, e chamam à delação, garantindo clemência a quem confesse e revele os seus cúmplices. As acusações não se fazem esperar, e numerosos “bruxos” e “bruxas” são presos. O processo,
celebrado em Logroño, acaba com a condenação à morte de sete réus,
queimados depois do Auto-de Fé de 1614. O veredicto foi dado com o voto contra de um dos membros do tribunal, o inquisidor Alonso de Salazar
y Frias, que pela rotação de cargos estava encarregado da continuação
das pesquisas no ano seguinte, e que sustentava uma tendência “conservadora” fiel às posições do Canon Episcopi. No ano seguinte, Salazar y
Frias levou a termo a sua investigação, elaborando um relatório que desautorizava as acusações, cancelava os processos, enfim, formulava em
termos definitivos o que séculos depois seria a teoria construtivista (a
mesma que aparece nas páginas da maior parte dos autores citados). A
seita dos bruxos, segundo o cético inquisidor, não passava de uma sobreinterpretação, a partir de dados viciados — acusações interessadas,
239
240
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
testemunhas frágeis ou desqualificadas, intimidações etc. — que tinham
como fonte de inspiração a própria propaganda inquisitorial. A epidemia
das bruxas era difundida pelos mesmos pregadores que tentavam erradicá-la, e o seu remédio estava simplesmente na neutralização dessas fontes de informação. O ponto de vista de Salazar impôs-se como doutrina
oficial e, de fato, o processo de Logroño foi o ponto final da perseguição
às bruxas na península. À inquisição espanhola — rigorosamente centralizada, à diferença de outras inquisições européias — atribuiu-se jurisdição exclusiva sobre assuntos de bruxaria. Na prática, isso significou que
as bruxas, subtraídas à justiça civil (onde seu delito era motivo de pena
capital), escapavam com penas leves de penitência ou desterro; um mérito que não se pode negar a um tribunal que, de resto, continuou sua perseguição implacável a heréticos (bem poucos já, naquele momento) e judaizantes (cada vez menos)15. Talvez se possa extrair desse contraste entre o apetite diferenciado dos inquisidores de uns e outros países uma
conclusão que paira entre Douglas e Foucault: em qualquer caso, havia a
necessidade de magnificar um inimigo que, se na Espanha já estava claramente dado pelas suas minorias étnico-religiosas (cada vez mais imaginárias), na Europa — um tanto mais tolerante com as diferenças de
consciência — devia se manifestar também em uma absoluta enteléquia.
Por assim dizer, o velho xamanismo foi ressuscitado em todo o seu vigor
na Europa para justificar uma perseguição cruel dos seus mirrados herdeiros e a glorificação inglória dos nascentes aparatos de poder.
Voltemos agora ao ponto de que há muito partimos, isto é, o gênero de
magia que se insere na trama profunda do Quixote. Nessa aproximação
entre duas alucinações de conseqüências tão diferentes, pode se observar que o processo que leva à loucura dos inquisidores e das suas vítimas
corre em paralelo ao que leva à loucura de Dom Quixote: uns e outros
são, por assim dizer, vítimas de leituras descontroladas; uns e outros articulam, a partir de elementos pinçados na literatura, uma epistemologia
que os autoriza a ver um mundo que não existe e a crer-se quem não são
(cavaleiros andantes, bruxas, debeladores do diabo). O remédio proposto
é equivalente em ambos os casos: queimar a biblioteca de Dom Quixote,
cancelar as prédicas que multiplicam as bruxas. Em ambos os casos, encontramos modos de articular dados culturais (velhas crenças, velhos mitos) que lhes dão um significado e um alcance diferentes: a saber, um
perspectivismo que — filosofia, etnoepistemologia? — repovoa de sujeitos um mundo que vários séculos de trabalho simbólico iam já transfomando em natureza inerte. Em ambos os casos, também, vemos que essa
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
releitura perspectivista não se produz em qualquer terra incógnita, senão, por assim dizer, nas vizinhanças da razão: o cavaleiro louco é também um homem sensato; os inquisidores e caçadores de bruxas são também agentes da expansão do poder do Estado, e elaboram seus delírios
seguindo os métodos escolásticos. As semelhanças param por aí: o Quixote acaba sendo uma demonstração da conversibilidade das visões de
mundo, enquanto a nefasta epopéia da caça às bruxas, realizada em pleno alvorecer da Era da Razão, acaba sendo fantasiada de paradigma da
irracionalidade, e atribuída pelos racionalistas, anacronicamente, à Idade
Média. Mas as idades nunca estiveram tão separadas quanto o grande
relato moderno pretende.
O fio condutor que justifica este repasse de temas de sobra conhecidos é a aproximação entre o perspectivismo do Quixote e o perspectivismo ameríndio. Vemos que, em última análise, o clássico da literatura pode remeter a questões não tão diferentes das que surgem do estudo dos
mitos de tradição oral das terras baixas sul-americanas, a saber, a subjetividade como instância difundida na “natureza” e como foco de um modo de conhecimento. Comparações desse tipo podem ter algo desse atrativo estético que resulta de uma justaposição imprevisível de elementos
muito distantes; mas seus resultados intelectuais costumam ser exíguos.
Não servem para demonstrar algo que já está demonstrado: a universalidade do pensamento humano. Também pouco podem dizer, porque as
transições são quase infinitas, sobre as relações concretas entre universos simbólicos distantes como o ameríndio e o europeu, o dos caçadores
e o dos Estados mercantilistas. O resultado pode ser mais interessante,
porém, se observarmos que o comparado aqui não foi uma diversidade
de Estados, de relatos ou de conjuntos simbólicos, senão uma série de
transições, a saber: a que se dá nas culturas ameríndias entre o olhar do
xamã e o olhar digamos “profano”; a que se dá entre a visão proposta pelo louco Dom Quixote e a visão “realista” dos sãos que o rodeiam; a que
se dá entre a natureza animista do paganismo e a natureza dependente
de um ser supremo que o cristianismo impõe; a que se dá entre a crença
no poder das bruxas e a negação deste poder. Em todos os casos, encontramos duas alternativas em jogo: ora o mundo se entende como um vasto conjunto de sujeitos capazes de uma agência e uma visão específica,
ora estes sujeitos são reduzidos a objetos mais ou menos inertes, dependentes de um sujeito superior concentrado no exterior deles — a razão
humana, Deus etc. Uma e outra alternativa estão ligadas, aliás, a diferentes ritmos: à instabilidade no primeiro caso; à fixação das formas e dos
atributos no segundo.
241
242
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
É este um modo, como tantos, de sintetizar, neste caso em torno do
par sujeito-objeto, o contraste entre dois tipos de pensamento, chamados,
respectivamente, de “mágico” (ou “primitivo”, ou “pré-lógico”, ou um
longo etc.) e “racional” (ou “positivo”, ou “científico” etc.). A mudança
do primeiro para o segundo objeto de narrações bem conhecidas, em que
os casos que nos ocuparam aqui costumam ser citados em destaque: o
declínio da magia, o desencantamento do mundo, o advento das luzes
etc. Todos esses grandes relatos costumam coincidir no sentido da narração, que sempre começa na magia e acaba nas luzes; coincidem também
na fundamental irreversibilidade do processo (cujas reviravoltas não passam de episódios anômalos). Outro traço comum é a longue durée atribuída ao processo, adequada a uma transformação cujos passos concretos não estão claros (há exceções, como a do estudo já citado de Keith
Thomas) e que, portanto, resulta mais verossímil quando apresentada como uma lenta expansão capilar, como uma maturação constituída de ínfimas mudanças. Como chegar do pensamento pré-lógico ao racional? Ambos estão distantes, a viagem deve ter sido longa. Os casos que temos
examinado aqui nos indicam, porém, que os supostos pontos de partida e
de chegada convivem na sincronia (algo que tem sido mostrado à exaustão na literatura antropológica); mostram igualmente (em termos hipotéticos no caso do Quixote, históricos no da caça às bruxas) que o caminho
pode ser revertido, o que também não é a rigor uma novidade. Mas mostram, sobretudo, a economia de meios com que, no caso, um universo
perspectivista pode ser feliz ou infelizmente reerguido a partir de um universo já consistentemente organizado em torno da dicotomia natural/sobrenatural. Se o perspectivismo pode ser (parafraseando livremente Viveiros de Castro 1996) entendido como uma epistemologia, e não necessariamente como uma epistéme, ou como uma visão de mundo, é porque
sugere algo muito mais autônomo e portátil, porém socialmente mais denso (uma epistemologia precisa de agentes e de legitimação) que uma alternativa cognitiva (Sperber 1982).
O perspectivismo não é um atributo inseparável de um universo simbólico, por exemplo, animista; ele pode, como alternativa pragmática ou
epistemológica, alicerçar um uso e uma compreensão diferente dos mitos, ou se desvencilhar deles aplicando-se a outro gênero de relatos. Um
dos atrativos do Quixote é, precisamente, que ele mostra, quase sem querer, o fácil entrelaçamento de duas acepções aparentemente distantes
desse mesmo conceito: o perspectivismo na narrativa e na transformação
dos seres.
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
Coda ameríndia
Voltando o olhar para o mundo ameríndio, que até agora só foi citado como um pano de fundo imperceptível, essa autonomia de que acabamos
de falar nos anima a examinar as múltiplas variantes em que esse perspectivismo se manifesta, e também as suas transformações quando confrontado a processos de cristianização ou de folclorização dos universos
simbólicos indígenas. Não poderei aqui senão retomar exemplos que já
tratei em outros escritos: sem sair de um campo cultural e lingüisticamente muito homogêneo, e povoado por uma mesma mitologia, será possível
encontrar contrastes epistêmicos muito consideráveis. Duas mitologias
tão próximas como a dos Kaxinawá de começos de século (Abreu 1941) e
a dos Yaminawa dos finais desse mesmo século (Calavia Sáez 2001;
2002a; 2002b; 2004) podem, sendo as duas perfeitamente “perspectivistas”, dar versões diversas dessa mesma teoria.
No caso kaxinawá, as relações entre os diversos domínios (humanos
e não humanos) aparecem de fato como metamorfoses: os humanos que,
por um motivo ou outro, decidem virar animais, conseguem-no se transformando fisicamente, adotando posturas e hábitos alimentares animais,
ou fabricando para si membros animais — caudas, focinhos, cascos de
quelônio —, a partir de galhos, argila ou tintas. O motivo da transformação é, em todos os casos, um certo hiato corporal que já existe entre o
protagonista e o seu grupo, entendendo aqui a corporalidade em um sentido ampliado para incluir as trocas de substância. Assim, um aleijado
que não consegue deslocar-se senão rastejando se transforma em jaboti,
depois de pintar nas costas o padrão do casco do animal; ou uma viúva
com filhos, e sem homem que possa lhe prover alimentos, se transforma
em tamanduá com os seus rebentos, inserindo no ânus um galho de palmeira que imita a cauda do animal, habituando-se à sua dieta sóbria; ou
todo um grupo frustrado pela atitude de um dos seus membros (uma jovem que se nega a casar) se transforma em vara de queixadas, comendo
um cozido de paxiubinha e construindo com a ajuda de barro e pedaços
de panela corpos e cabeças de porco selvagem. Em qualquer caso, tratase de corpos que, por meio de processos descritos com um certo detalhe,
adquirem novas formas e novas capacidades, ou, mais exatamente, que
elaboram positivamente uma diferença física que já marcava negativamente sua situação anterior. Os artifícios aplicados no corpo constroem a
partir de uma prévia diversidade de naturezas.
No caso yaminawa, as narrações prendem-se a essa multiplicidade
prévia, e a transformação do corpo é residual: o que os mitos narram são
243
244
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
essencialmente transladações da visão, obtidas mediante o uso de uma
espécie de colírio mágico e a imersão em um domínio alheio — via de regra, o fundo das águas, mas também eventualmente o interior da floresta, ou o cume das árvores —, ou em um caso mediante o uso da ayahuasca16. O protagonista, com a ajuda do remédio pingado nos olhos, percebe
as cobras, as queixadas ou os macacos como humanos, percebe os poções do rio ou os barreiros como aldeias humanas, sem que a rigor nada
aconteça com os corpos ou os lugares em questão... Poderíamos até dizer
que essa diferença evocaria a diferença cristã entre transformações reais
e ilusórias, não fosse por esse “resíduo” corporal que de todo modo persiste nos relatos: o colírio muda o modo de ver, mas também permite ao
protagonista respirar sob as águas. O protagonista de um dos mitos mais
populares “vira queixada” só porque o colírio lhe deixa ver as queixadas
como pessoas; mas depois da longa convivência que lhe é assim permitida, suas costas começam a ficar peludas e a sua postura curvada. O ponto de vista liga-se ao corpo, embora desse modo tênue, com a mesma fidelidade que, em outro sentido, faz com que nos contos fantásticos europeus uma princesa ou um empregado de comércio transformados em asno ou barata conservem, mal que pese a sua nova forma física, suas maneiras ou seus afetos de princesa ou de empregado, mantendo estável a
relação entre o sujeito e o que dentro dessa tradição constitui sua subjetividade. Embora situadas inequivocamente no registro da percepção —
e não no da metamorfose —, as narrativas yaminawa são por isso uma
versão “óptica” do perspectivismo à ameríndia, e não uma versão amazônica do idealismo. A diferença entre as transformações kaxinawá e as
transladações yaminawa é consistente com um outro contraste entre ambos os povos, bem conhecido pelos especialistas em etnologia pano ou
pelos indigenistas do Acre: os Kaxinawá entregam-se a um cultivo social
do corpo por meio de pinturas e rituais que falta entre aos Yaminawa17.
Essa diferença não pode ser facilmente reduzida a uma opção de preservação ou perda de acervo cultural; de fato, os Yaminawa têm um tipo de
pintura corporal — chamada precisamente de yaminawa këne pelos vizinhos Kaxinawá — reduzida a pequenos grafismos sobre o rosto, cuja relação com as pinturas kaxinawá, que tendem a cobrir o corpo com a sua
malha, é a mesma que os resíduos de corporalidade dos mitos yaminawa
têm com a construção de corpos transformados na mitologia kaxi. A ênfase na ação sobre o corpo é a mesma na mitologia e na atividade ritual.
A mitologia dos Yaminawa caracteriza-se também por postular uma
comunicação entre os domínios que não se restringe a determinados seres exemplares: em lugar de se articular em torno de algumas figuras ar-
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
quetípicas (a onça, a sucuri, a queixada), ou definir “donos” dos animais
que representem a subjetividade de seres menos significativos, põe em
jogo diretamente uma série virtualmente infinita de seres (das sucuris às
árvores, das cerâmicas aos barrancos do rio, do excremento aos cachorros, todos eles dotados de subjetividade). As narrações de transformação
são, a rigor, um gênero ou uma fórmula padronizada a partir da qual é
possível gerar, dedicar a qualquer ser um desses relatos. Poderíamos dizer que, em lugar de manter-se à sombra de determinadas transformações ou transladações paradigmáticas, o perspectivismo yaminawa impõe-se como uma chave narrativa e interpretativa de alcance virtualmente universal. Pode-se supor que essa peculiaridade seja congruente com
a do modelo xamânico yaminawa. Entre os Kaxinawá, a atividade xamânica é a rigor iniciada pelos espíritos, cuja ação (habitualmente, na forma
de uma doença) leva à prática, em grau mais ou menos especializado, um
elevado número de sujeitos. Já o xamã yaminawa empreende sua carreira de modo voluntário, e a culmina só depois de um processo de aprendizado duro e longo, que impõe uma rígida restrição ao número de xamãs.
Aparentemente, essa raridade, essa segregação e, definitivamente, essa
“esoterização” dos xamãs yaminawa (Pérez Gil 2004) é um fenômeno recente, pois há referências a iniciações coletivas no passado, ou pelo menos a uma distribuição muito mais ampla dos saberes xamânicos. A comparação entre a atividade xamânica atual e as narrações sobre o xamanismo do passado sugere também que, com o desaparecimento de boa
parte das velhas práticas bélicas, que implicavam de um modo mais amplo o corpo do agente e uma gama maior de fármacos18, o mundo do xamã yaminawa tem cada vez mais como eixo a experiência visionária fornecida pela ayahuasca19, e que esta mesma experiência, antes muito mais
comum (em “bebedeiras” das quais participavam grupos inteiros, com as
suas mulheres), vai se limitando a grupos cada vez menores de praticantes. A generalização desse “perspectivismo óptico” vai assim de encontro (se não é sua conseqüência) à ascensão de um xamanismo visionário
e restrito, e fracamente vinculado a tarefas mais cotidianas de produção
do corpo; a capacidade de generalizar uma teoria beneficia-se da sua
concentração em poucas mãos. Não haveria razões para dizer que essa
concepção visionária do mundo se deva a uma aproximação a noções universalistas mais ou menos ocidentais, e menos ainda a algum tipo de sincretismo — a mitologia yaminawa permanece definitivamente exótica —,
mas é verdade que ela, chegando mais perto dessa ecumene visionária
da Alta Amazônia, em que convivem xamanismos indígenas e mestiços e
religiões próximas ao espiritismo, o catolicismo popular ou o kitsch neo-
245
246
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
platônico, oferece algumas pontes a cosmologias mais próximas à nossa.
Em um ponto muito distante desse continuum, e para citar um caso
já tratado por mim (Calavia Sáez 2001; 2002), vale a pena reparar na
constituição por parte dos Yawanawá de um universo simbólico que, reciclando e enriquecendo os velhos temas, muda radicalmente sua economia. Neste caso, a elaboração tem a ver, sim, com uma experiência de
cristianização, mesmo que o seja em termos de reação a ela: os Yawanawá foram durante um longo período alvo de uma missão fundamentalista
— a Missão Novas Tribos do Brasil —, mas empreenderam nos últimos
dez anos um processo de “recuperação” da cultura tradicional, centrado
emblematicamente na revalorização do Saiti (um festival de danças-cantos-jogos, designado também com o termo “Mariri”, um genérico acreano para os rituais indígenas) e das atividades xamânicas. De párias em
uma sociedade cristianizada, os xamãs têm sido promovidos a “conselheiros” ou “assessores” do chefe, que, dando ao xamanismo um valor
público decerto pouco tradicional, se esforça às vezes em levar suas atividades para uma casa ritual coletiva no centro da aldeia. Se pouco posso dizer aqui sobre o que aconteceu com as tradições locais durante o período missionário, é fácil ver que a sua recuperação está ligada a transformações dignas de nota. De um lado, assiste-se a uma decidida adoção
das queixadas como metáfora da sociedade, que exalta sua unidade, sua
energia gregária; o próprio etnônimo (em tempo, yawanawá vem a significar “gente-queixada”) tem plenamente reconhecida sua carga semântica — o que raramente acontece com outros etnônimos pano. O mito que
narra a transformação de homens em queixadas, muito semelhante ao
narrado pelos Yaminawa ou pelos Kaxinawá, adquire no caso dos Yawanawa caráter de mito de origem do grupo. Enfim, os membros do grupo,
ou pelo menos aqueles considerados como Yawanawa “legítimos”, extraem de toda essa identificação um tabu alimentar referente à carne dos
seus epônimos. Nesse sentido, a re-paganização do grupo apresenta-se
como algo muito parecido à transformação do mito: os Yawanawa tornaram-se queixadas, ou pelo menos se tornaram mais queixadas que nunca. De outro lado, a recuperação dos velhos festivais, e sua consagração
como marca de uma indianidade estabelecida, se faz à custa da exclusão
de um dos seus episódios mais lembrados, precisamente aquele que encenava a transformação dos homens em queixadas (Carid Naveira 1999).
A “brincadeira de queixadas” era, até poucos anos atrás, um jogo no qual
os homens, lambuzados de barro e batendo coquinhos para imitar o som
característico das mandíbulas dos animais, perseguiam as mulheres até
isolar alguma delas. Ato seguido, a mulher capturada era levada para o
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
mato, malgrado a resistência de suas companheiras. Os atos de licença
sexual que aparentemente se seguiam, interpretados na lembrança como
ocasião para os desejos excedentes de homens ou mulheres, mas que
eventualmente podiam também dar lugar a matrimônios, implicavam que
a brincadeira só pudesse ser realizada com propriedade entre grupos diferentes, isentos de vínculos de consangüinidade. Adverso ao gosto dos
velhos missionários e dos novos aliados no mundo das ONGs e do ecobussiness, e também, talvez, alheio à noção de uma etnia discreta que a
própria metáfora da vara de queixadas servia para ilustrar, o animado jogo ficou fora da cultura indígena recuperada20. Com sua intrincada produção de equações e vínculos simbólicos (homens e mulheres como representantes de espécies diferentes; afins em posição relativa de caça e
caçador; as queixadas, carne de caça em sentido alimentar, tornadas caçadoras em sentido sexual; a transformação ritual duplicando e invertendo a transformação narrada nos mitos etc. etc.), a “brincadeira de queixada” era um bom exemplo do alto rendimento de uma cosmologia perspectiva que tinha nos corpos seu principal campo de operação. Alterações muito econômicas, no entanto, conseguiram fazer dessa cosmologia
algo assim como um totemismo no sentido clássico lévi-straussiano: mais
um recurso classificatório que um discurso sobre a conexão entre os seres. Parafraseando o que diz Foucault no final do item dedicado ao Quixote em As palavras e as coisas, a questão não será mais a dessas conexões (Foucault diz “similitudes”), mas a das identidades e das diferenças. A partir daí, os mesmos símbolos passam a ser lidos de modo bem
outro: os moinhos serão gigantes porque, como supunha Unamuno, representam a força hercúlea da modernidade; e as queixadas serão seres
humanos porque representam a unidade tradicional de um povo indígena.
Recebido em 15 de dezembro de 2003
Aprovado em 15 de fevereiro de 2004
Oscar Calavia Sáez é professor de antropologia do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSC. E-mail: <[email protected]>
247
248
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
Notas
* No que se refere à sua “coda ameríndia” este texto está baseado essencialmente nas minhas pesquisas de campo entre os Yaminawa em 1993, auspiciadas
pela Fapesp, e entre os Yawanawa em 1998, dentro do projeto TSEMIM financiado pela União Européia. A Miguel Carid e Laura Pérez, alunos do PPGAS-UFSC,
devo valiosas informações complementarias em ambos casos. Agradeço também a
MCN sua leitura, seus comentários e correções à primeira parte do artigo.
1 A leitura do Quixote que apresento aqui deve muito a uma dessas guias, a
de Martín de Riquer (1970) que, apesar de ser enfática nessa interpretação do
Quixote como sátira que estou a rejeitar, oferece um útil roteiro de leitura, oferecendo a profanos em filologia (como o autor destas páginas) informações sobre o
contexto, sobre as sutilezas do texto, etc. Evitarei citar a cada momento, no meu
resumo do Quixote, essa fonte, que de outro lado, devido à fidelidade ao texto
que se supõe própria da profissão, evita no geral exegeses mirabolantes. Não é
esse o caso de Américo Castro (2002) filólogo também, mas filólogo talvez por falta de uma antropologia espanhola condizente com a sua imaginação. Dele está tirada a ênfase na subjetividade como clave do Quixote, e sua interpretação se estende também sobre questões que apenas serão sugeridas aqui, como a inserção
dessa literatura e dessa subjetividade no universo dos outcast conversos espanhóis. De resto, e abundando na interpretação satírica do romance, que como dissemos não é inferida, mas tomada literalmente deste, deveríamos lembrar que ela
não parece ser incompatível com o aberto elogio (cf. capítulo VI) de algumas das
obras mais características do gênero de cavalaria, incluído o seu paradigma, o
Amadis de Gaula, que deveria ser o objeto por excelência do ataque.
2 O êxito editorial do primeiro Quixote suscitou a aparição de uma continuação, cujo autor (sobre o qual tem se tecido hipóteses infindáveis) assinava com o
pseudônimo de Alonso de Avellaneda. O episódio foi importante, sobretudo porque empurrou Cervantes a escrever a segunda parte do livro, muito mais complexa e enriquecida, num traço “vanguardista”, com os comentários do personagem
à sua falsa biografia.
3 É interessante lembrar que a avaliação satírica foi também feita de um outro ponto de vista, eventualmente romântico, como no caso de Lord Byron: a irrisão cervantina seria responsável precisamente da decadência do heroísmo espanhol... A minha rápida avaliação não faz, nem aspira a fazer, justiça ao rico e complexo mundo da interpretação romântica do Quixote. Os interessados nesse assunto podem recorrer a Close 1978, Bertrand 1914 e 1953.
4 Isso faz a enorme diferença entre o Quixote de Cervantes e alguns predecessores (como o personagem do “Entremés de los Romances”, que se identifica
vertiginosamente com uma série infindável de heróis, ou o Quixote “apócrifo” de
Avellaneda, reduzido a um desastrado guignol de disparates e pancadarias). Depois dos primeiros capítulos, em que a identidade do cavaleiro se mostra instável,
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
Dom Quixote age com um certo sistema. Sobre os antecedentes da paródia cervantina cf. Mancing 1975.
5 O pendant ortodoxo de Dom Quixote é Ignácio de Loiola, que decide ser
santo lendo vidas de santos: o paralelo não passou desapercebido aos comentaristas, especialmente o basco e católico Unamuno. As vidas de santos –uma literatura, aliás, não menos descabida que a que secou o cérebro do cavaleiro–, são o antídoto que alguns personagens do livro recomendam para a intoxicação literária
de Dom Quixote. Sobre Loyola e a épica cf. Garcia Mateo 1991.
6 As excelências renovadoras do Quixote, aqui resumidas, seguindo a Ortega e Castro, ao seu “perspectivismo” tem sido desdobradas pela maior parte dos
críticos –nem sempre seduzidos por essa démarche “filosófica”- em uma pluralidade de achados sobre o estatuto da ficção na obra, sobre o uso da língua e da
psicologia, etc. O Quixote aqui apresentado é um Quixote obviamente reduzido
para o uso comparativo que seguirá.
Diga-se de passagem, um estímulo inicial deste artigo foi uma longa entrevista oferecida por esse autor (Eribon 1989), onde Lévi-Strauss especula sobre a
possibilidade de escrever um livro inspirando-se no Quixote. Infelizmente, essa
reflexão não viu por enquanto a luz, e, embora distante das linhas gerais que Lévi-Strauss sugere a seguir, está em alguma medida inspirada por elas.
7
As páginas que Foucault dedica ao Quixote –capítulo III, item I-, destinamse a ilustrar a transição entre duas epistemes, e para isso utiliza uma versão simplificada do personagem, sempre empenhado em desvendar, na realidade opaca,
os signos da épica moribunda, embora também, na segunda parte do livro, encarne o poder sobre essa realidade dos signos, agora em forma de literatura. O propósito deste artigo é em substância o oposto, isto é, mostrar alternativas que perpassam as grandes periodizações, e para esse fim é valioso observar, como já fizemos, que Dom Quixote pode se mostrar também capaz de interrogar os signos a
partir da experiência; ou que o desterro dos signos a um espaço virtual não os priva totalmente de eficiência.
8
9 Como Caro Baroja indica, a maior parte dessa magia está ligada à resolução de questões eróticas, ou de modestos casos de micro-política.
10 De fato, Martinho de Braga (Barlow 1950) afirma que foram os demônios
os que ocuparam a matéria desses entes naturais, induzindo os humanos a render-lhes culto.
No século XVI, o primeiro manual de extirpação de idolatrias, o de Andrés de Olmos, dedicado aos índios mexicanos, é uma adaptação direta do manual de Fray Martín de Castañega dedicado já à bruxaria setentrional espanhola.
11
12 As referências ao milagre se encontram sobretudo em dois textos, De Trinitate e De Genesi ad litteram.
249
250
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
Numa passagem muito conhecida de A Cidade de Deus (XVIII) Santo
Agostinho narra o caso de umas mulheres que, na Itália, eram capazes de transformar seus hóspedes em jumentos, sugerindo, porém, que essa transformação
não deveria ser física, mas uma ilusão criada pelo diabo.
13
14 Ginzburg (2001) realiza a melhor indagação sobre as numerosas fontes do
sabbath europeu, e o encontro ou conflito entre tradições populares e eruditas
que o sustenta.
O dia a dia do famoso tribunal, em um pais onde a sua ação havia chegado já a resultados contundentes, estava dedicado a assuntos mais prosaicos, como
a blasfêmia: não estando aliada à heresia ou à condição de converso, este delito
típico de cristãos velhos era tratado com muita leniência. Vários autores tem elaborado censos das vítimas da caça às bruxas. Por exemplo, Barstow (1995, apêndice B) para o período de 1500-1650, estima umas 50.000 execuções (entre 100.000
acusações) no Sacro Império Germânico, umas 5.000 (entre 10.000) na França,
2372 entre 5403 na Grã Bretanha (mais a Nova Inglaterra) etc. etc. No extremo
oposto, na Espanha aparecem aproximadamente 100 execuções para um total de
3687 processos; na Itália, apesar dos mais de dois milhares de acusações, aparentemente ninguém é executado por bruxaria, o que sugere que a proximidade do
papado levava aos poderes a um ponto de vista mais conservador nesta questão.
15
16 Prinz (2003), retomando observações de Karl von den Steinen, refere-se
também à “falta de detalhe” das metamorfoses xinguanas, que põem sempre em
jogo duas formas discretas, original e final, sem contemplar um continuum de
transformação.
17 Os rituais Kaxinawá são descritos, com ênfase especial na sua capacidade
construtiva, por Kensinger (1995), McCallum (2001) e Lagrou (1998)
18 O gesto agressivo do velho xamã, que muitas vezes vi ser imitado pelos
Yaminawa, consiste em recolher do corpo, e especialmente das axilas, humores
que, acumulados nas mãos, são então assoprados em direção ao inimigo. Segundo os Yawanawá, é a pimenta intensamente ingerida pelo xamã a substância base desses humores.
19 Patrick Deshayes (2003) descreve um continuum do uso da ayahuasca,
que vai desde a “purga” com efeitos sobre o corpo (relacionado ao predomínio de
um dos componentes da decocção, precisamente o cipó Banisteriopsis) e um outro
centrado na produção de imagens (e portanto do outro componente clássico, a
Psichotria); o paradoxo de que seja o cipó, e não a Psichotria produtora das visões, quem tenha dado nome à bebida, desaparece se consideramos que o papel
da visão se incrementa na medida em que nos afastamos do contexto original da
prática, e só assume um quase monopólio nas religiões “de branco” inspiradas no
xamanismo indígena. Em outra ordem de coisas, é bom notar que a mitologia Kaxinawa se confunde com a Yaminawa quando se trata da ayahuasca (como acontece em versões recentes de mitos; ver Lagrou 2000).
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
As sessões de sexo seqüencial que eventualmente decorriam da brincadeira não tinham o caráter explicitamente punitivo que assumem alhures, por
exemplo, quando associadas aos tabus sobre as flautas sagradas (Gregor e Tuzin
2001). Mesmo assim, podiam em alguns casos ser dirigidas a mulheres “orgulhosas”, e não é por acaso que em várias versões do mito de origem das queixadas a
transformação se produza precisamente como reação à atitude de uma jovem que
recusa o matrimônio. Em qualquer caso, parece ter sido decisiva, na abolição da
brincadeira, a oposição de mulheres ainda ligadas ao cristianismo dos missionários expulsos.
20
251
252
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
Referências bibliográficas
ABREU, João Capistrano de. 1941
[1914]. Rã-txa hu-ni-ku-i: grammatica, textos e vocabulário Caxinauás.
Rio de Janeiro: Sociedade Capistrano de Abreu.
ALONSO, Dámaso. 1970. “Prefacio”.
In: M. Riquer, Aproximación al
“Quijote”. Barcelona: Teide.
BARSTOW, Anne Llewellyn. 1995.
Witchcraze: a new history of the European witch hunts. São Francisco,
CA: Pandora.
BERTRAND, J.-J. A. 1914. Cervantes et
le romantisme allemand. Paris: Félix Alcan.
___ . 1953. “Génesis de la concepción
romántica de Don Quijote en Francia [Primera parte]”. Anales Cervantinos, 3:1-41.
CALAVIA SÁEZ, Oscar. 1991. “La invención del enemigo”. Revista de
Dialectología y Tradiciones Populares, XLVI:117-145.
___ . 1997. “Naturaleza, religión y cultura tradicional”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares,
LII:133-176.
___ . 2001. “El rastro de los pecaríes:
variaciones míticas, variaciones
cosmológicas e identidades étnicas
en la etnología Pano”. Journal de la
Societé des Américanistes, 87:161176.
___ . 2002. Las formas locales de la vida religiosa. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
___ . 2002a. “A variação mítica como
reflexão”. Revista de Antropologia,
45(1):7-36.
___ . 2002b. “Nawa, Inawa”. Ilha,
4(1):35-57, Florianópolis.
___ . 2004. “Extranjeros sin fronteras.
Alteridad, nombre e historia entre
los Yaminawa”. Indiana, 19-20:7388, Berlin.
CARID NAVEIRA, Miguel. 1999. Yawanawa: da guerra à festa. Dissertação de Mestrado, PPGAS-UFSC.
CARO BAROJA, Julio. 1973. Las brujas y su mundo. Madrid: Alianza
Editorial.
___ . 1990 [1967]. Vidas mágicas e inquisición. Barcelona: Círculo de
Lectores.
CASTAÑEGA, Martín de. 1946. Tratado de las supersticiones y hechicerias (1529) (editado por. A.G. de
Amezúa). Madrid: Sociedad de Bibliófilos Españoles.
CASTRO, Américo. 2002. Cervantes y
los casticismos españoles y otros estudíos cervantinos. Madrid: Trotta.
CLOSE, Anthony. 1978. The romantic
approach to “Don Quixote”. Cambridge: Cambridge University Press.
COHN, Norman. 1980. Los demonios
familiares de Europa. Madrid:
Alianza Editorial.
DESHAYES, Patrick. 2003. “L’Ayawaska n’est pas un hallucinogène”.
Psychotropes, 8(1).
FOUCAULT, Michel. 1966. Les mots et
les choses. Une archéologie des
sciences humaines. Paris: Gallimard.
GARCÍA MATEO, Rogelio, S. J. 1991.
“Ignacio de Loyola y el mundo caballeresco”. In: J. Caro Baroja e A.
Beristain (eds.), Ignacio de Loyola,
Magister Artium en París 15281535. Donostia-San Sebastián: Sociedad Gipuzkoana de Ediciones y
Publicaciones. pp. 293-302.
GINZBURG, Carlo. 1988 [1966]. Os andarilhos do bem. Feitiçarias e cultos
agrários nos séculos XVI e XVII.
São Paulo: Companhia das Letras.
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
___ . 2001. História noturna: decifrando o Sabá. São Paulo: Companhia
das Letras.
GREGOR, Thomas e TUZIN, Donald.
2001. “The anguish of gender:
men’s cults and moral contradiction
in Amazonia and Melanesia”. In: T.
A. Gregor e D. Tuzin (eds.), Gender
in Amazonia and Melanesia. An exploration of the comparative method. Berkeley: University of California Press. pp. 309-336.
HALKA, Chester S. 1981. “Don Quijote
in the light of huarte’s examen de
ingenios; a reexamination”. Anales
Cervantinos, 19:3-13.
HARNER, Michael. 1973. “The role of
hallucinogenic plants in European
witchcraft”. In: Hallucinogens and
shamanism. London: Oxford University Press.
HEIPLE, Daniel L. 1979. “Renaissance
medical psychology in Don Quijote”. Ideologies & Literature, 9:6572.
HENNINGSEN, Gustav. 1983. El abogado de las brujas. Brujería vasca e
inquisición. Madrid: Alianza Editorial.
KENSINGER, Kenneth. 1995. How real
people ought to live. The Cashinahua of Eastern Peru. Prospect
Heights: Waveland Press.
LAGROU, Eljse 1998. Caminhos, Duplos e Corpos. Tese de Doutorado
em Antropologia, DA/FFLCH/USP.
___ . 2000. “Two ayahuasca myths
from the Cashinahua of Northwestern Brazil”. In: L.E. Luna e S. F.
White (eds.), Ayahuasca reader.
Santa Fe: Synergetic Press. pp. 3135.
LE GOFF, Jacques. 1977. “Mélusine
maternelle et défricheuse”. In: Pour
un autre Moyen Age. Temps, travail
et culture en occident: 18 essais.
Paris: Gallimard. pp. 307-331.
___ . 1985. “El desierto y el bosque en
el occidente medieval”. In: Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente
medieval. Barcelona: Ed. Gedisa.
LÉVI-STRAUSS, Claude. 1968 [1964].
Mitológicas I. Lo crudo y lo cocido.
México: Fondo de Cultura Económica.
___ . 1982 [1966]. Mitológicas II. De la
miel a las cenizas. México: Fondo
de Cultura Económica.
___ . 1985. “O feiticeiro e sua magia”.
In: Antropologia Estrutural. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro. pp. 193213.
MANCING, Howard. 1975. “Cervantes
and the tradition of chivalric parody”. Forum for Modern Language Studies, 11:177-191.
MANDROU, Robert. 1968. Magistrats
et sorciers en France au XVII.e siècle. Paris: Plon.
MCCALLUM, Cecilia. 2001. Gender
and sociality in Amazonia. How
real people are made. Oxford: Berg.
ORTEGA Y GASSET, José. 1914. Meditaciones del Quijote. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes.
PÉREZ GIL, Laura. 2004. “Chamanismo y modernidad: fundamentos etnográficos de un proceso histórico”.
In: O. Calavia Sáez (ed.), Paraíso
abierto, jardines cerrados. Pueblos
indígenas y biodiversidad. Quito:
Abya-Yala.
PRIETO LASA, J. Ramón. 1994. Las leyendas de los señores de Vizcaya y
la tradición melusiniana. Madrid:
Fundación Menéndez Pidal.
PRINZ, Ulrike. 2003. “Transformation
und Metamorphose: Überlegungen
zum Thema der `Bekleidung´ im südamerikanischen Tiefland”. In: B.
Schmidt (org.), Festschrift für Mark
Münzel. Marburg: Curupira Verlag.
pp. 99-110.
253
254
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
RIQUER, Martín de. 1970. Aproximación al Quijote. Barcelona/Madrid:
Salvat/Alianza Editorial.
SPERBER, Dan. 1982. “Les croyances
apparemment irrationelles”. In: Le
savoir des anthropologues. Paris:
Hermann. pp. 49-85.
THOMAS, Keith. 1991. Religion and
the decline of magic. London: Penguin Books.
TREVOR-ROPER, Hugh. 1985. “La caza de brujas en Europa en los siglos
16 y 17”. In: Religión, reforma y
cambio social y otros ensayos. Barcelona: Argos. pp. 77-152.
UNAMUNO, Miguel. 1987. Vida de
Don Quijote y Sancho. Madrid:
Alianza Editorial
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo.
1996. “Os pronomes cosmológicos
e o perspectivismo ameríndio”. Mana, 2(2):115-144.
MOINHOS DE VENTO E VARAS DE QUEIXADAS
Resumo
Abstract
O artigo passa em revista uma série de
confrontos entre o que poderíamos
chamar de percepções “perspectivistas” e “naturalistas” do mundo: o processo de cristianização do ocidente
medieval, o declínio da magia européia, o apogeu e crise da caça às bruxas no início da Idade Moderna e o argumento de um clássico, o Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Trata-se,
em cada caso, de motivos característicos da grande narrativa do triunfo da
razão e do contraste entre o pensamento racional e seus contrários que,
examinados em detalhe, mostram porém a coexistência de pensamentos, o
caráter imediato e reversível de suas
transformações. A noção de perspectivismo permite assim agilizar a descrição histórica das reformas epistemológicas e dessubstancializar as noções
antropológicas de “racional” e “nãoracional”. No final do texto são sugeridas algumas vias de estudo sobre o encontro entre os xamanismos ameríndios (o universo do qual é tomada a noção de perspectivismo tal como aparece no artigo) e suas reelaborações recentes.
Palavras-chave Perspectivismo, Literatura, Cervantes, Cosmologia, Ocidente
The article reviews a series of confrontations between what we could dub
‘perspectivist’ and ‘naturalist’ perceptions of the world: the process of Christianization of the medieval west, the
decline of European sorcery, the apogee and crisis of witch-hunting at the
dawn of the Modern Age and the publication of Miguel de Cervantes’ Dom
Quixote. Each case deals with themes
characteristic of the grand narrative of
the triumph of reason and the contrast
between rational thinking and its opposites which, when examined in detail, actually reveal the co-existence of
modes of thinking, as well as the immediate and reversible character of
their transformations. The notion of
perspectivism thus enables a more
nuanced and versatile historical description of these epistemic reforms and
the de-substantialization of anthropological notions of the rational and the
irrational. The text concludes by suggesting some ways to study the encounter between Amerindian shamanisms (the universe from which the notion of perspectivism as it appears in
the article is taken) and their recent reelaborations.
Key words Perspectivism, Literature,
Cervantes, Western culture, Cosmology
255
Mana
Print ISSN 0104-9313
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
→
ARTIGOS
O oficial e o oficioso: objeto e regulação de conflitos
nas Antilhas Francesas (1848-1850)
Myriam Cottias
Myriam Cottias é pesquisadora do CNRS e professora do Centre de Recherches sur les
Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe, Université des Antilles et de la Guyane
RESUMO
A abolição da escravidão pela Governo Provisório da Segunda República francesa, em
abril de 1848, redefiniu o espaço público nas colônias pela instauração de uma
igualdade dos estatutos civil, político e "racial" entre os cidadãos da República. Este
artigo examina as implicações desta decisão no contexto das Antilhas Francesas, em
particular no que respeita à atribuição e registro de patrônimos pelos antigos escravos,
e nas imbricações entre as novas relações jurídicas de trabalho e as velhas relações de
dependência social. Discutem-se em seguida a formação e trajetória dos Júris
Cantonais, instituição criada para administrar o novo regime civil e trabalhista nas
colônias, bem como as ações civis e penais levadas a cabo pelos agentes neste novo
contexto jurídico, ações nas quais se manifestam as aspirações contraditórias dos
antigos escravos e de seus antigos senhores.
Palavras-chave: Colonialismo, Antilhas, República francesa, Relações de trabalho,
Dependência, Liberdades civis
ABSTRACT
The abolition of slavery by the Provisional Government of the Second French Republic
in April 1848 redefined public space in the colonies by establishing a statutory civil,
political and 'racial' equality among the citizens of the Republic. This article examines
the implications of this decision in the context of the French Antilles, particularly in
relation to the attribution and registration of property by past slaves and the interplay
between the new juridical relations of work and the old relations of social dependency.
The article goes on to discuss the formation and history of the Cantonal Juries, an
institution created to administrate the new civil and labour regime in the colonies, as
well as the civil and criminal legal actions taken by agents in this new juridical context
- actions in which the conflicting aspirations of the past slaves and their old masters
become clearly evident.
Key words: Colonialism, Antilles, French Republic, Work relations, Dependency, Civil
liberties
La mère: — J'avais rêvé d'un fils pour fermer les yeux de sa mère.
Le Rebelle: — J'ai choisi d'ouvrir sur un autre soleil les yeux de mon fils
(Aimé Césaire, Et les chiens se taisaient, 1956)*
A abolição da escravidão, decretada em 27 de abril de 1848 pelo Governo Provisório da
Segunda República1, remodelava o espaço público nas colônias francesas por meio da
instauração da igualdade entre os cidadãos, criando uma horizontalidade de estatutos
civis, políticos e "raciais" no cenário colonial2. Por meio da circular ministerial de 7 de
maio de 1848 (que regulamentava a execução do decreto de 27 de abril), o governo
atribuía, a todos os alforriados e a todos os que haviam nascido ou residiam nas
colônias há pelo menos seis anos3, a cidadania francesa: "a partir do dia da libertação
geral, os escravos se tornarão cidadãos franceses4, a fim de que nenhuma exceção ao
princípio de liberdade e de igualdade social possa subsistir"5.
As implicações da decisão política tomada pelo governo provisório eram imensas. Não
apenas ela estabelecia uma cidadania similar para atores que se haviam desde sempre
se enfrentado no plano civil, integrando-os à pátria mãe, mas parecia inverter as
relações de dominação em nome da "fusão social". Os horizontes sociais e mentais dos
antigos alforriados, bem como os dos antigos senhores, deviam se abrir uns aos
outros, pois, "para os membros de uma mesma nação, não existe senão um só direito,
o Direito comum — precisava o comissário geral, Perrinon**, em 5 de junho de 1848,
ao chegar à Martinica.
Poderiam esses novos predicados jurídicos, entretanto, submeter os laços sociais
fundados sobre a dependência entre "senhores" e "escravos", e as práticas oficiosas,
aquelas não apropriadas pelo direito? O julgamento pessoal tomava aqui o lugar do
jurídico; manobras subterrâneas contrapunham-se ao caráter público da lei; as
negociações e transações individuais substituíam a regra geral. Teria, assim, a vontade
legalista da República os meios para transformar as práticas sobre as quais se apoiava
o funcionamento complexo da sociedade colonial e as regras interindividuais de
dominação?
Em 1848, o Direito comum é introduzido como mecanismo de regulação de relações
sociais. Conseguiria entretanto a República transformar as formas de dominação?
Poder-se-ia acreditar que sim, considerando a elaboração de instâncias jurisdicionais
de mediação, como os júris cantonais e a vontade do governo de fazer com que
fossem reconhecidos como referência para regrar os conflitos sociais por todos os
atores envolvidos (Garcia Jr. 1989). É possível, por outro lado, duvidar disso, lendo
esse conflito como um entre outros articulados por toda a complexidade da
dependência: "Os negros perderam a cabeça!", escreveu em seu diário, em 30 de maio
de 1849, Pierre Dessalles, um plantador da Martinica:
Uns pretendem que Bissette [um político de cor] teria dito que os
proprietários não podiam mais expulsá-los de suas cabanas, que elas lhes
pertenceriam. Outros dizem ter Bissette declarado que deveriam ficar
com dois terços dos rendimentos. Alguns chegaram mesmo a afirmar que
tinham direito aos três terços! Nosso velho negro Césaire disse a Adrien
que tinha contas a acertar com ele, pois Bissette assegurara que
devíamos dar-lhe dois terços brutos de todo o açúcar. "Tudo bem",
respondeu Adrien, "no próximo sábado o júri cantonal vai resolver a
questão. Volte para o seu canto e para o trabalho, ou te expulso do
estabelecimento. Logo depois, outros três ou quatro vieram,
individualmente, com a mesma reivindicação. Meu filho os denunciou ao
juiz, que os convocou para o próximo sábado. Eles foram procurar
Bissette, e voltarão com certeza humilhados. (de Frémont e Elisabeth
1984:30/5/1848)
A resposta de Adrien situa a questão: ela assinala as tensões que envolviam a criação
de um espaço público, notadamente a fricção entre o Direito e sua prática. Ela
sublinha, igualmente, pelo emprego do termo nègres, que, um ano após a abolição da
escravidão, um proprietário parecia ainda ignorar a existência de uma preliminar ao
estabelecimento do Direito: o reconhecimento da individualidade das pessoas pela
atribuição de um antropônimo.
A partilha do nome: entre o oficial e o oficioso
Em todas as sociedades escravagistas, possuir um patrônimo era um apanágio da
existência civil e, portanto, da liberdade. Na França, malgrado a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, os debates de 1792 sobre as municipalidades e a
cidadania precisam que "os escravos não têm estado civil; apenas o homem livre têm
uma cidade, uma pátria; apenas ele nasce, vive e morre cidadão" (Gohier, Archives
Parlementaires, 19 de junho de 1792, apud Noriel 1993:5).
Ter um nome: uma aspiração dos alforriados pré-1848
Foi com a lei de 1831, que concedeu a gratuidade do registro da franquia que se
colocou o problema da atribuição de um patrônimo àqueles "livres de fato", os quais
apressaram-se a reivindicar que seu estatuto civil fosse reconhecido pela emissão de
uma certidão de individualidade. Entre 1831 e 1848, esses libertos informais
representam 59% do conjunto dos libertos registrados na Martinica, 41% em
Gualalupe e 36% na Guiana. Esses novos libertos constituem então a metade da
população "livre de cor " na Martinica6.Sob pressão desse novo dado social, que
deslocava as linhas divisórias, a administração estabeleceu regras que tinham por
objetivo sustentar em torno da classe dos "brancos" barreiras tão impermeáveis
quanto possível.
Essas regras retomam aquelas da ordem, datada de 24 de junho de 1773, que proibia
às "pessoas de cor" portar outros nomes além daqueles tirados ou do idioma africano
ou de sua ocupação. Em 1836, assim, aparece uma circular sobre a atribuição de
patronímicos que vai de encontro à lei de 24 de abril de 1833 (que garantia a
igualdade civil e política das "pessoas livres de cor" e dos "brancos"). Ao mesmo tempo
em que detalha os procedimentos para a declaração das alforrias, a circular afirma em
seu artigo quarto que a dita declaração "não poderá conter patronímicos conhecidos
por pertencer a famílias existentes, a não ser sob condição de consentimento expresso
e por escrito de todos os membros desta família"; mais adiante, determina que as
famílias podem reclamar os nomes adotados pelos alforriados. Estabelece igualmente o
campo de possibilidades para os prenomes, que devem ser extraídos do calendário
gregoriano ou história antiga. Os alforriados nascidos de relações extramaritais de
colonos com escravas não podiam reivindicar oficialmente sua história familiar, e
estavam autorizados a registrar unicamente a genealogia materna (a não ser que
fossem reconhecidos pelo pai).
A ordem de 1836 impunha também que fossem indicados "o sexo, os nomes usuais, a
casta, a idade e a profissão do escravo; os patronímicos e os prenomes que lhes
deveriam ser dados". Até então, com efeito, as indicações individuais que constavam
nas certidões de alforria dependiam das preocupações de exatidão dos
administradores. Algum tempo mais tarde, o patrônimo é indicado obrigatoriamente
entre parênteses: Michel (Aratus), Marie-Anne (Octavie), Anne (Dolabella), Etienne
(Andromède)...
De 1831 a 1847, "demandas de adição de nomes" foram formuladas por novos
alforriados, em número restrito, todavia, em razão do peso administrativo dos
procedimentos. Era necessário, com efeito, escrever numerosas cartas e reunir grande
quantidade de documentos: certidão de nascimento, atestado de pobreza (para
isenção dos encargos), explicação da origem do nome e, sendo este o de uma pessoa
viva, a certidão de nascimento e o consentimento desta última, bem como a adesão
dos filhos maiores de idade ao projeto. Os que superavam esses obstáculos eram
artesãos autônomos, costureiras e comerciantes — uma classe um pouco privilegiada
que, nos textos, insiste sobre a importância do nome. Em 7 de março de 1846, por
exemplo, o Sieur Gustave reivindica a adição de um nome e justifica da seguinte
maneira sua escolha. Ele fora escravo de um Sieur Lacour, da comuna do Saint-Esprit,
que o alforriara em 1833, e "é do nome de Lacour que deriva o de Lacoumé" (em
crioulo, "mestre Lacour"), que ele deseja adotar. Geralmente, o único desejo expresso
é o de "portar legalmente um nome mais ou menos similar ao que é habitualmente
dado" à pessoa. Em 31 de maio de 1844, Mademoiselle Léocadie indica que demanda o
nome de Forsans, mas precisa "pouco importa o nome que será concedido, Fordyer se
preferirem. O essencial é que ele lhe seja concedido legalmente".
O nome que marca o estatuto civil em uma sociedade ainda escravagista é importante.
Em dezembro de 1834, é assim inscrita, no registro das certidões de alforria da
comuna do Lamentin, uma demanda de retificação de nome. Os "nomes verdadeiros",
reclama-se, são Louis Iryer e não Louis Irger, Louis Silvère e não Louise Silvery, Louis
Grennade e não Louis Pennade. A identificação permitia esquecer a matrícula portada
sob a escravidão, permitia à pessoa emergir do nada (Zonabend 1980).
Ter um nome: o contrato social da emancipação
A individualidade por meio de aquisição de patronímicos é afirmada como base do novo
contrato social posto pela Segunda República7. Em uma sessão do mês de junho de
1848, "o comissário geral da República especifica que os nomes patronímicos dos
novos libertos figurem em seu título de liberdade, juntamente com o qual se lhes
entregará um exemplar do decreto de 27 de abril portando sobre a abolição da
escravidão". A premiliminar a todo estabelecimento do direito era, com efeito, a
possibilidade de identificar, reconhecer a cada um uma individualidade que lhe
permitisse, em troca, exercer o direito. Nessa relação de reciprocidade estabelecida,
pois, cada indivíduo era ao mesmo tempo sujeito do direito (enquanto receptor das
leis) e autor do direito (na medida em que podia acionar a justiça)8.
Desde a promulgação oficial da emancipação, quando da chegada do comissário geral
da República à Martinica, assim como à Guadalupe, vê-se posta a questão da
atribuição dos patrônimos. Com efeito, no funcionamento do estado de direito, ela
constitui um problema prático: de um lado, é necessário estabelecer a base de
cidadãos ativos, quer dizer, de homens, chamados a votar graças à instauração da
igualdade civil e política com a metrópole; de outro, esses últimos eram também
chamados a participar das novas instâncias de conciliação instauradas pela República
sob a forma dos júris cantonais.
A abolição da escravidão em 1848 acelerou, assim, de modo exponencial, o processo
de registro das identidades masculinas. Deveriam ser repertoriados 25.800 homens em
Guadalupe, 21.525 na Martinica e 4.902 na Guiana, por uma administração cujo
efetivo mantivera-se inalterado. Faltavam o tempo e as forças para uma boa aplicação
da lei, ao mesmo tempo em que a vontade de receber um patrônimo não era
compartilhada por toda a população, pouco habituada a buscar individualmente o
acesso às esferas de poder9. Se, aos olhos do comissário da República, a atribuição de
um nome deveria permitir o desaparecimento de "todo embaraçoso resquício de
escravidão", para o adido do prefeito de Saint-Pierre, Pory-Papy (um homem de cor),
era, por outro lado, crucial respeitar a vontade de ser ou não identificado. "Não
existem mais, na Martinica", diz ele, "senão cidadãos inteiramente admitidos em
benefício do Direito comum; ninguém tem o direito de vir distribuir-lhes nomes fora
das formas prescritas pela lei [...]. [É preciso] facilitar os procedimentos para aqueles
que julguem bom fazê-lo [...]. Todo outro meio de proceder seria extra-legal e é por
conseguinte uma forma de distinção que relembra o jugo da escravidão. Os novos
cidadãos usufruem como os antigos das vantagens da igualdade; não cabe pegá-los
[...] e distribuir-lhes nomes como se faria a um rebanho"10. O procedimento foi pois
lento, e, em 28 de maio de 1849, o magistrado enviado para inspecionar os júris
cantonais, que devia verificar as listas eleitorais, constata, ocasional ou
frequentemente segundo as comunas, a falta de nomes patronímicos. Paralelamente, a
apropriação do nome patronímico pelos "novos alforriados" é fraca: ele nota que quase
todos os lavradores ignoram-no, sendo necessário antes procurar identificá-los pela
idade, prenome e nome do estabelecimento onde trabalham. Segundo ele, a maior
parte dos novos alforriados ainda não responde se chamado pelo patrônimo, o qual,
com certeza, não tem utilidade nas relações cotidianas11.
Um nome sem significação?
Por outro lado, a ordem de 1836 é mantida e suas disposições reafirmadas na circular
ministerial de 29 de janeiro de 1858. Nesse quadro, a escolha do nome cabe ao
indíviduo ou ao funcionário da comuna. Relata Edmond du Hailly, em 1863:
A maior parte deles se dobra ao bom gosto dos funcionários da prefeitura.
Se acontece de tal funcionário ser versado em história romana, fará
reviver em seu registro a raça dos Brutus, Othon, Numa Pompilius. Por
vezes, suas preferências se traduzem por um grande nome dos tempos
modernos: se for um gourmet, criará um Vatel; dançarino, um Vestis.
Montaigne, Sully, Nelson e uma centena de outros adquirem assim uma
descendência negra. Alguns nomes brotam diretamente da fantasia
desses padrinhos oficiais: outros, como Tinom [em crioulo, petit homme],
por exemplo, são tomados do patoá crioulo e recordam seus estranhos
diminutivos. Alguns alforriados, enfim, se limitam a conservar os nomes
de suas mães, e se batizam bravamente Rosine ou Emilia. (du Hailly
1863:862).
O novo patrônimo era em seguida fixado em uma carteira, assinada pelo prefeito.
Será com o censo da população tributável em 1855 que a administração conseguirá
conferir nomes patronímicos à quase totalidade dos novos alforriados12, provocando
temores no seio dessa população, que via nisso o retorno da escravidão, pois, a cada
dia, o capataz registrava os escravos ausentes. Quatro anos mais tarde, em 1º de
janeiro de 1859, os registros de individualidade são definitivamente fechados, e foi
assim que uma parte da população, pequena segudo a estimativa da administração,
acabou sem obter patrônimo oficial (Bulletin Oficiel de la Martinique, 1858). O registro
de individualidades perdurou, entretanto, de maneira irregular, poucas pessoas
conseguindo acesso ao complicado procedimento junto ao Conselho de Estado para
obter uma adição de nome. Em 28 de agosto de 1848, na Guiana, a Demoiselle
Catherine, dita Laura, e o Sieur Charles-Etienne, seu irmão, foram autorizados a juntar
a seus prenomes o sobrenome Croizé; em 21 de março de 1850, o Sieur Marcele, na
Martinica, foi autorizado a portar o nome de Hurard. Eles foram os únicos.
As mulheres, como tampouco as crianças, não foram excluídas do processo de
individualidade pela resolução de 21 de outubro de 184813, mas a implantação das
novas instituições teve repercussões sexistas. A legislação sobre o organização do
sufrágio universal e a justiça dos conflitos trabalhistas era, com efeito, sexuada. E essa
imposição de uma forma institucional que excluía as mulheres as impelia a uma
marginalidade contrária às práticas locais e às condições históricas, nas quais os papéis
econômicos de homens e mulheres eram largamente intercambiáveis. Enquanto o
discurso universalista estabelecia uma igual liberdade para todos os membros da
sociedade, as mulheres não tinham, de fato, se beneficiado com o reconhecimento de
sua individualidade. Se, entre 1830 e 1846, 41% das mulheres a reivindicaram, em
comparação a 24% dos homens, a situação se inverte com a emancipação. Os efeitos
perversos da lei persistiram por muito tempo. Em 1852, as acusadas pelas desordens
de Sainte-Marie são designadas, à diferença dos homens, apenas por seus prenomes.
Há Celeste, lavradora, e Magdelonnette, lavradora — que protesta porque "diz-se que
as mulheres não podem votar e (que) todavia, as mulheres béqués ["brancas", da
classe dos colonos] vão ao presbitério votar"14. Em 1864, passados dezesseis anos do
Ato de Emancipação, de 44 certidões de individualidade registradas no Lamentin, 57%
concernem homens. Muitas das mulheres que não contraíam uniões legítimas, ou
daquelas que não eram legitimadas pelo casamento de seus pais, permaneceram sem
patrônimos e adicionaram novos prenomes aos antigos para conferir a si mesmas uma
identidade no momento da declaração de nascimento de seus filhos. Por exemplo:
Lorette Calixte, Adélaïde Antiphate ou, ainda, Cécile Germaine. O confronto com uma
lógica administrativa não pertinente em sua vida cotidiana as conduzia a "bricolar", no
sentido de Roger Bastide, uma identidade exigida pelas regras de registro da
população.
O direito à prova dos usos
Os modos de apropriação desse "direito comum", saído do Ato de Emancipação e da
elaboração de uma sociedade igualitária, foram múltiplos. Segundo os atores, certos
atos administrativos faziam sentido, na terminologia de Max Weber (1971[1956]:4),
outros não. Se os antigos senhores, como os antigos libertos de cor, alforriados antes
de 1848, circunscreviam parcialmente o termo em uma quadro legalista, mais ou
menos rígido, os "novos libertos" delineavam, por suas reivindicações, notadamente
nas situações de conflito, sua própria definição do direito. Nesse período de ajuste das
relações sociais, duas concepções se defrontavam. Elas retomavam, entretanto, as
antigas linhas de fratura civis pois os emissários da República encorajavam a
preeminência do direito positivo
Direito pelo trabalho e virtudes cidadãs
Preocupados com a estabilidade social e econômica, os comissários da República se
esforçaram, de fato, em informar à população recentemente alforriada de seus direitos
e deveres, em termos que tornassem essas duas noções equivalentes. Se eles
confirmavam que os lavradores se haviam tornado cidadãos franceses e, a esse título,
tinham todos os direitos de que gozam estes últimos, tais direitos não eram
especificados. Em troca, seus deveres — dos quais "o primeiro e o mais santo de todos
é o trabalho" — eram longamente comentados. A figura do "bom cidadão", esboçada
desde o início das campanhas abolicionistas (sobre este período, ver Debbasch 1977),
é então consolidada. Ela remete a três valores congruentes com o contexto de
moralização geral da sociedade francesa: a "Família" — patriarcal —, a "Propriedade"
e, sobretudo, o "Trabalho", cuja função curativa permitia à classe laboriosa merecer a
liberdade.
A correlação entre liberdade e trabalho é estabelecida firmemente desde a
promulgação do decreto de Emancipação nas Antilhas Francesas. Dos 14 decretos
publicados ao mesmo tempo que o da emancipação geral, cinco referiam-se ao
trabalho e à vadiagem. Os representantes do Estado nas colônias martelavam sem
descanso aos novos alforriados: "É preciso clamar: Viva a França! Viva o trabalho!",
exclama Perrinon — o que fazia com que os escravos comentassem: "ennique travail
quica soti dans bouche li"15. Em cada vila, eles passavam horas explicando a nova
legislação e as vantagens da profissão de lavrador, pois "a escravidão desonrou o
trabalho nas colônias" e "é preciso apagar por todos os meios possíveis o caráter
degradante com que a servidão marcou a agricultura, [e] as recompensas dadas aos
melhores trabalhadores se juntarão ainda à feliz influência da liberdade sobre os
costumes"16.
Desde julho de 1848, todavia, produz-se um deslizamento conceitual. A Emancipação
pela Segunda República franqueva o acesso ao direito comum que compreendia um
direito ao trabalho cuja concretização o Estado deveria assegurar, graças, por
exemplo, à criação das Oficinas Nacionais, instituídos na metrópole em nome da
fraternidade para solucionar o problema do desemprego dos trabalhadores, mas
imediatamente interpretadas nas Antilhas como uma nova medida de coerção.
Rapidamente, o direito ao trabalho vê-se substituído ao direito pelo trabalho (o
segundo termo dando acesso ao primeiro), que atinge em 1852 seu ponto de
estrangulamento com uma resolução do Diretor do Interior que promulga, nas
colônias, o decreto napoleônico sobre o regime das cadernetas e a vadiagem (Bulletin
Officiel de la Martinique, 9 de outubro de 1852)17.
O direito ao trabalho, dever do Estado diante do cidadão, rapidamente metamorfoseouse, para o cidadão colonial recentemente alforriado, em dever de trabalhar. Sob a
forma de "associações" que não eram fourierianas senão nominalmente (Jennings
2000)18, antigos senhores e antigos escravos se ligavam agora por contratos,
favoráveis aos primeiros. Embora desde o mês de junho de 1848, Perrinon tenha
redigido modelos de contrato de associações que se pretendiam eqüitativos19, esses
contratos foram repetidamente interpretados a favor dos proprietários, notadamente
nos casos de ausência não justificada do trabalhador. Se Perrinon previa que "cada
associado receberá uma parte proporcional ao número de dias de trabalho que terá
fornecido à sociedade", Pierre Dessalles, por sua vez, inscreveu em seu contrato de
associação que as faltas não consentidas deveriam ser pagas, em dinheiro, no dobro
do valor de uma jornada de trabalho. Além disso, as jornadas de trabalho são de nove
horas; nos sábados, domingos e dias festivos, não se trabalha. O proprietário deve
alocar uma roça e uma cabana a cada trabalhador (homem e mulher) que esteja
incluído no contrato da associação; o trabalhador tem direito a um terço do produto
bruto ou a metade do açucar, "entregue em espécie ao passo que é fabricado"20. O
proprietário, por sua vez, fornece as terras para a unidade produtiva, os edifícios para
o beneficiamento do açucar, as cabanas dos trabalhadores, os utensílios e
instrumentos agrícolas21. Sob sua responsabilidade estão os custos de assistência
médica e remédios, assim como aqueles devidos a ferimentos incorridos durante a
jornada de trabalho. Em 1848, cerca de 60% dos trabalhadores rurais da Martinica
encontravam-se sob este tipo de contrato22.
Direito de propriedade e interdependência social
Malgrado as críticas circunstanciais, os antigos senhores estavam de acordo com esta
política, que defendia sua propriedade segundo o direito positivo. Todavia, sua relação
com o direito continuava a ocultar laços de interdependência (Elias 1985; 1991)
fundados sobre modos de proximidade e familiaridade com seus "antigos
escravos"23.Se eles constatavam que "o proprietário não é mais senhor em sua própria
casa", é porque "os lavradores percorrem seu estabelecimento, atravessam suas
plantações, devastam suas canas, cantam, batem tambores, quando querem e o
quanto querem, sem preocupar-se com o repouso das pessoas; não se pede nenhuma
permissão" (Le Commercial, 1º de julho de 1848 — ênfases minhas). Os senhores
utilizaram-se do direito positivo para manter um quadro de dependência fundado sobre
relações personalizadas. Segundo sua avaliação de seu interesse — material ou afetivo
—, referiam-se à nova legislação ou optavam por um quadro mais tradicional. De um
lado, Pierre Dessalles relata que "um de seus antigos escravos veio pedir-lhe que
conseguisse um médico para sua esposa, e ele respondeu dizendo que não podia mais
comprometer qualquer valor, por menor que fosse, mas que — se os trabalhadores
atuais quisessem garantir o pagamento da visita do médico — ele mandaria chamá-lo",
concluindo, "eles querem conservar da escravidão o que lhes convém, e recusam todos
os encargos da liberdade" (de Frémont e Elisabeth 1984:14/6/1848). Quando dos
conflitos, assim, os proprietáriosa afirmavam que nada deviam aos antigos escravos,
"nem cabana nem terra, e que esses não tinham nada a fazer senão retirarem-se das
propriedades de seus antigos senhores" (de Frémont e Elisabeth 1984:5/6/1848)24. De
outro lado, anunciam, eventualmente, novas propostas. Dão "um boi e violões para
que [os trabalhadores] pareçam satisfeitos (de Frémont e Elisabeth 1984:14/6/1848).
Mudam de idéia diante do choro das mulheres25. Reconsideram sua decisão se os
trabalhadores vêm desculpar-se publicamente26.
Os laços de dependência manifestos nesses diferentes exemplos estavam articulados a
um antigo sistema de dons e contra-dons, material e simbólico. No Caribe das
plantations, os escravos e os trabalhadores habituaram-se a receber de seus senhores
cuidados e presentes. Para o Carnaval, "doei um carneiro e garrafas de vinho", diz
Pierre Dessalles; ou ainda, por ocasião do batismo do filho de um senhor, "os escravos
domésticos, a exemplos dos senhores, regozijaram-se, beberam, comeram e cantaram
até as três da madrugada" (de Frémont e Elisabeth 1984:5/7/1837). Reciprocamente,
os contra-dons simbólicos dos escravos e dos novos alforriados são a cada vez
anotados pelo senhor. Ao nascimento do filho deste, "os negros se apressam a
apresentar(-lhe) seus respeitos". Em 1849, na manhã de 1º de janeiro, o senhor fez
com que fossem tocados os violões e timbales, enquanto "seus antigos escravos
vinham um por um lhe desejar feliz ano novo". Ao longo de todo o período servil, a
deferência e submissão foram trocadas por "generosidades" e "gentilezas", segundo a
escolha de uns e outros.
Era também habitual solicitar aos senhores o serviços de arbitrar conflitos
interpessoais — como no caso de Nicaise, abandonado por Victorine, que foi por sua
vez punida, açoitada e repreendida pelo senhor. Dívidas financeiras conservavam-se
também ao longo do tempo, fundadas sobre uma dívida moral. Nicaise faz constar
assim em seu testamento que ele "doa e lega à Srta. Elmire Thomasine dois hectares
de terra, comprados do M. Dessalles, pai, e 432 francos, que me são devidos por seus
filhos. M. Dessalles terá o usufruto dessa terra e desta soma até que lhe apraza
remetê-los à mencionada Elmire Thomasine". Saturnin, filho ilegítimo presumido de
Pierre Dessalles, recebe como presente uma casa em Gros-Morne, comprada por seu
pai, que "se reserva o usufruto da mesma (pois) Saturnin e sua esposa lá
permanecerão com ele e ali estabelecerão um pequeno comércio" (de Frémont e
Elisabeth 1984: 27/12/1850).
Esses diferentes elementos organizados em sistema tornam inextrincáveis as relações
entre "senhores" e "escravos", ou entre "proprietários" e "novos alforriados", relações
incompreensíveis para um observador desprovido da memória da dependência, isto é,
das dívidas, dos dons e contradons, dos serviços prestados e dos "amores ilegítimos",
que existiam entre os membros das sociedades coloniais. A Emancipação modifica
pouca coisa nessas trocas.
Direito de uso e apropriação da liberdade
Esse espaço restrito das relações de dominação explica que os novos alforriados
oponham, ao direito objetivo descrito pelos comissários da República, um direito que
se apóia nos hábitos de vida e nos costumes instaurados durante o período da
escravidão27. Assim, se existe nos campos uma reivindicação essencial, esta é a do
propriedade das terras e cabanas alocadas aos escravos pelos senhores. Numerosos
rumores circulavam a esse respeito, formando para os novos alforriados, como
mostrou Arlette Farge (1988), um quadro de expressão do político. Essas requisições
— feitas de justiça e legitimidade, escutava-se nas plantações — consistiam nas
primeiras e mais imediatas demandas dos novos alforriados, sempre formulada em
nome de seu próprio passado no estabelecimento: este justificava, a seus olhos, seu
direito de propriedade sobre uma terra que, segundo Pory-Papy, tinham regado com
seu suor, ao mesmo tempo em que territorializava sua identidade28.
Quando da Emancipação, os novos alforriados refutaram firmemente o direito de
propriedade positivo29. Em 23 de junho de 1848, conta Dessalles, "a negra Suzon
declarou que incendiaria as cabanas se os negros não se entendessem comigo, pois as
cabanas não me pertenciam" (de Frémont e Elisabeth 1984). Segundo eles, a liberdade
permitia uma nova gestão do trabalho e novas relações com os proprietários, que
marcavam que os limites da autoridade tradicional haviam sido alcançados. Exprimiam
assim seu "senso de liberdade"30 na discussão dos contratos estabelecidos com o
proprietário: tornavam-se agentes verdadeiros de sua liberdade na negociação de
cláusulas que não aceitavam (Tomich 1995; ver Scott 1994 sobre a situação em
Cuba). Afirmavam-se como interlocutores em face do proprietário e adotavam formas
coletivas de expressão que eram percebidas como uma novidade. Se, durante todo o
período da escravidão, a divisão no seio do grupo de escravos é que era sublinhada,
após a Emancipação é a ação coletiva que passa a ser descrita, notadamente pelos
proprietários: o conjunto da oficina chega atrasado, o conjunto das mulheres se recusa
a trabalhar durante a noite nos períodos de roulaison (pico), o conjunto da oficina opõese à expedição dos açúcares de um estabelecimento, ou defende seu trabalho
impedindo a chegada de diaristas contratados pelo senhor para o corte da cana. Os
escravos se transformavam então, nas relações administrativas assim como nos textos
dos proprietários, em uma multidão inquieta e inquietante, refletindo os temores que
habitam todos os atores da cena colonial desde que seus quadros de referência foram
desarranjados: aos júris cantonais caberia definir novos quadros.
Os júris cantonais, ou a falência da igualdade
Com o objetivo de, com efeito, reabsorver essas tensões e chegar a um acordo mútuo
entre proprietários e trabalhadores, Victor Shoelcher, presidente da Comissão de
Abolição da Escravidão, preconizara a instituição de júris cantonais, que foi finalmente
decretada pelo governo provisório em 27 de abril de 1848. "Nas colônias onde a
escravidão é abolida pelo decreto deste dia, será estabelecida em cada jurisdição um
júri composto de seis membros, sediado, em audiência pública, na sede do cantão,
presidido pelo juiz de paz" (Artigo 1º). Com base no modelo dos prud'hommes***
instituídos em 28 de março de 1806, em Lyon, para resolver as pequenas diferenças
que apareciam cotidianamente na indústria da seda, os júris cantonais reuniam, em
bases paritárias31, "os cidadãos que possuem ou exercem uma indústria e os
trabalhadores industriais ou agrícolas". Eles eram designados por sorteio entre os
homens inscritos nas listas eleitorais que satisfizessem os critérios de idade,
nacionalidade e residência, e tinham a obrigação de reunir-se duas vezes por semana,
recebendo um honorário de 2 francos por cada dia de sessão.
Os júris cantonais possuíam uma dupla atribuição, já que tinham competência em
matéria civil sobre todas as contestações sobre a execução dos acordos (Artigo 5) e,
em matéria penal, sobre "todo fato que tenda a perturbar a ordem e o trabalho nos
ateliês, canteiros, ou lojas, todas as faltas graves dos proprietários ou chefes de
indústria e dos operários ou trabalhadores uns em relação aos outros" (Artigo 7)32.
Orgão de gestão de conflitos cotidianos, essa instituição tinha por objetivo resolver os
antagonismos pela conciliação, no seio de uma instância local, mais acessível a atores
sociais pouco habituados ao direito positivo e frequentemente incapazes de se exprimir
em francês. Acolhendo as queixas de uns e outros, os júris cantonais procediam de
uma justiça da oralidade33, cujos traços não foram conservados senão nos relatórios
administrativos e em menções pessoais de proprietários.
Era ainda necessário que, no plano jurídico, os trabalhadores fossem autorizados a
manifestar seu desacordo quando o artigo 1781 do Código Civil precisava ainda que
"as afirmações do senhor devem ser acreditadas sob palavra34. Em uma sociedade
marcada por relações de servidão, o termo de "senhor" tinha ressonâncias mais fortes
que na metrópole, e ficou claro para o governo, que exaltava a igualdade, a fusão e o
esquecimento do passado, que ele não podia ser conservado: em nome da escravidão,
ele é ab-rogado do Artigo 6 do decreto que instituía os júris cantonais — mas apenas
nas colônias, que passavam assim a constituir exceção no conjunto francês. Na
metrópole, com efeito, esse artigo se manteve, a despeito de repúdios como o do
jornal de Charles Fourier, L'Atelier. Organe spécial de la classe laborieuse. Enquanto o
legislador republicano, mais tarde imperial, esforçava-se para incluir os novos
alforriados no direito comum, trabalhadores e serviçais viam-se dele excluídos, e com
o apoio de certos deputados coloniais. Em 1850, Bissette da Martinica, antigo homem
de cor condenado ao ferrete e à deportação em 1823, e Henri Wallon, Secretário da
Comissão de Abolição da Escravidão35, recusam-se a votar por sua revogação.
Situados na linha dos juízes de paz — juízes conciliadores encarregados, desde o
século XVIII36, de encerrar, por meio da mediação, os litígios entre particulares — a
competência dos júris cantonais para determinar as sentenças era limitada: as
penalidades não podiam ultrapassar, nas ações civis, os 300F, e, nas ações penais, de
500 a 1000F, ou mesmo 3000F; para além desses valores, as instâncias superiores
eram chamadas a decidir.
Nos textos, a criação dessa instância estatal consagrava um lugar privilegiado de
expressão de tensões37, um espaço de "liberdade positiva" (Cottereau 1992:244). O
Estado organizava um quadro de confiança para sujeitos que eram assim solicitados a
regrar por meio dele seus conflitos cotidianos, sujeitos estes que estavam
acostumados à vontade do senhor e à sua exigência de obediência cega e passiva.
Para o Governo Provisório, as questões em jogo eram, com efeito, numerosas. De um
lado, tratava-se de controlar os sentimentos da população: de lutar contra a
desconfiança face à autoridade, de sufocar as paixões mútuas de proprietários e
trabalhadores, de "esvaziar o mais frequentemente irrupções de suscetibilidade e de
amor-próprio que podiam emergir à simples lembrança da qualidade de antigo mestre
ou escravo", de trasmutar a experiência social dessas populações instaurando um
"grande tribunal de família". De outro lado, era necessário manter, a qualquer preço, o
equilíbrio econômico, regulamentando o trabalho. Percorrendo, por vezes, mais de
16km a pé, os lavradores chamados a participar dos júris cumpriam sua função
gravemente, com uma assiduidade que devia calar todas as calúnias levantadas a seu
respeito — relatam os juízes de paz em 1848 (Gazette officielle de la Guadaloupe, 51 e
52, 15 e 20 de setembro de 1848). Quanto aos proprietários, as autoridades
municipais os designavam, o mais das vezes, dentre os mais influentes de sua classe,
falseando assim as regras de eqüidade.
As ações civis, ou as aspirações dos novos alforriados
Formalmente, a nova ordem igualitarista proporcionava aos indivíduos a possibilidade
de constituir seus interesses individuais e coletivos, e de fazer com que fossem
reconhecidos como tais (Garcia 1989:164), sobretudo em matéria civil. Tratando dos
litígios trabalhistas, esses casos exprimiam, em negativo, as recriminações dos
proprietários e as aspirações das populações recentemente alforriadas, as quais se
colocaram majoritariamente na posição de reclamante desde a instauração dos júris
cantonais. No curso do primeiro ano de existência civil, em Trinidad, eles apresentaram
queixa em 57% dos casos; depois, entre 1848 e 1850, em 60% dos casos registrados
em Trinidad, 70% em Fort-de-Saint-Pierre e 61,5% no Mouillage (Adélaïde-Merlande
1973:50). No total, em cinco dos oito cantões da Martinica, as demandas emanaram
principalmente dos trabalhadores38.
As demandas dos trabalhadores remetiam a sua experiência social do trabalho e às
modificações que esperavam39.Em Trinidad, 76% delas referem-se a demandas
salariais e, em outros cantões, ao usufruto da cabana e das roças que permitiria, a
seus olhos, romper a relação de subordinação ao antigo senhor. Nas audiências, eles
vêm portanto reivindicar, em geral em grupo, essa regulação das relações sociais
como um elemento essencial para seu estatuto de cidadãos livres40.
A noção de "confiança" e seu contrário, a "desconfiança", explicam, por si mesmas, a
maior parte dos casos julgados por iniciativa dos lavradores. O sistema de associação,
que tinha a preferência tanto do Governo Provisório como (após alguma hesitação) dos
proprietários, obrigava à manutenção de relações organizadas ao modo do tempo da
escravidão. Fora da eleição de um conselho de prud'hommes para servirem de
intermediários entre o proprietário e os trabalhadores e (eventualmente) a assinatura
conjunta de um contrato diante do tabelião, o processo de trabalho não só permanecia
o mesmo como, além disso, não garantia a propriedade da cabana e das roças
tradicionais. Ora, indagavam-se os trabalhadores diante dos tribunais, como acreditar
em uma partilha equitativa e garantida dos produtos em um terço ou um quarto,
quando a relação de troca parecia tão desigual, e quando a economia de subsistência
elaborada durante a escravidão via-se ameaçada pelo direito de propriedade dos
antigos senhores? As colheitas de mandioca ou de bananas, plantadas antes da
Abolição, ou antes da assinatura dos contratos de associação, eram reclamadas pelos
lavradores. Discussões derrisórias, mas simbolicamente significativas, eternizavam-se
para saber se os frutos pendentes nas árvores pertenciam aos senhores ou aos novos
alforriados41, enquanto outros tinham de decidir se um trabalhador casado podia
receber a esposa em sua cabana quando esta não participava do contrato de
associação feito com o senhor...
Diante das aspirações sociais dos novos alforriados, os proprietários, por sua vez,
vinham buscar a confirmação, em matéria civil, de seu direito de propriedade e de sua
posição de autoridade nesse novo quadro jurídico. Denunciando o abandono do
trabalho pelos trabalhadores (36% das queixas), ou a má execução dos contratos
(27%), eles demandavam sua expulsão em 50% das ações. Não parece que o tribunal
tenha exigido deles precisar as queixas trazidas sem a apresentação de provas — ao
contrário daquela levantada contra Bastienne, que é repreendido por "ter perdido 33
dias de trabalho de um total de 56"42. Na maioria das vezes, as queixas dos
proprietários resultavam de uma longa história em que os trabalhadores haviam
tentado se fazer ouvir. Em 5 de maio de 1849, La Disette e outros lavradores de Pierre
Dessalles são julgados por "abandono do trabalho", mas a descrição do conflito pelo
proprietário revela uma algo muito diferente. Havia semanas, os lavradores estavam
descontentes com o preço que lhes havia sido pago pelo açúcar, aspiravam a uma
partilha das terras (que deveria ser feita por intermédio de Bisette) e, enfim,
desejavam a confirmação da propriedade de suas cabanas. Frente a isso, o proprietário
se queixa continuamente da lentidão do trabalho, mas sublinha, no dia seguinte à
violenta altercação que provoca a intimação da oficina, que "os negros de
apresentaram ao trabalho"43: a acusação levantada junto ao júri cantonal era portanto
falsa. Resumir assim o conflito permitia, em troca, atingir dois objetivos: de um lado,
ser escutado pelos juízes de paz encarregados pelo governo de garantir a estabilidade
econômica; de outro, reestabelecer sua relação de autoridade, obrigando os novos
alforriados a aceitar as condições de vida e de trabalho.
As ações penais, ou a preservação da dependência
As ações penais ilustram ainda mais claramente essa utilização do direito. Elas reúnem
todos os conflitos que ameaçavam diretamente a relação de autoridade e podiam
engendrar o que era considerado como desorganização social. Definido pelo artigo 7 do
decreto, tratavam-se de disputas, de falta de respeito, de desobediência, de palavras
grosseiras, de injúrias verbais e outros fatos da mesma natureza44. Sob esta rubrica,
são julgados, na Martinica, 61 casos entre 1848 e 1850, todos sob demanda dos
proprietários representados pelo Ministério Público; um na Guiana; em Cayenne, nos
primeiros meses de 1848; e nenhum em Guadalupe.
Como em matéria civil, as queixas dos senhores repousavam sobre histórias longas
que, na maioria, eram resumidas diante do júri sob a forma da acusação de "faltas
graves" e "insultos". A banalidade dos fatos reprovados pode causar surpresa, uma vez
que a violência da servidão fora sempre acompanhada de expressões brutais de
desconsideração de todos os indivíduos (das quais apenas os termos mais aceitáveis
foram transcritos nos textos) que, segundo os relatórios administrativos, muito
marcaram a memória dos novos libertos: "Notei principalmente, entre os novos
alforriados, o esquecimento dos golpes e do rigor do regime que lhes era
precedentemente aplicado, mas a lembrança viva e completa das injúrias que
receberam e das injustiças de que foram vítima"45.
Se os escravos/novos alforriados eram tratados de "imbecis" ou "negros" (o que
equivalia a tratá-los de escravos), os senhores/proprietários, por sua vez, eram ditos
"ladrões" e "assassinos". A "insolência" denunciada pelo senhor durante a escravidão
continua a caracterizar a manifestação das idéias, opiniões, desejos, e mesmo de
oposição da parte dos lavradores, mas as modalidades de afirmação da hieraquia social
haviam mudado. Com a Emancipação, a palavra do alforriado era formalmente posta
em pé de igualdade com a do senhor. Enquanto que, durante a escravidão, o senhor
detinha os meios de soterrar qualquer contestação, por menor que fosse (pois "eu sou
o senhor", escreve Dessalles em 1º de janeiro de 1839), pelo chicote ou pela estaca46,
depois da Emancipação as desavenças deveriam ser mediadas pela lei.
A convocação perante o júri cantonal era pois consequência de um longo processo de
disputa que tinha as mesmas razões que os conflitos julgados em matéria civil:
propriedade das terras e cabanas, tamanho das roças, partilha do açúcar. Todavia, um
outro elemento misturava-se aqui: o da verbalização da contestação da autoridade. A
recusa de um tesoureiro que não conviesse a uma oficina, de práticas que evocavam a
escravidão47 ou de ordens judiciais consideradas excessivas, beirava a revolta aos
olhos dos proprietáros, e se exprimia em "gritos e afirmações injuriosas", em ameaças
"de puxar a faca", em cenas paroxísticas em que trabalhadores parodiavam os castigos
pela chibata... Era esse questionamento extremo de seu poder que os proprietários
levavam à arbitragem do júri. Os atores do conflito tinham também sua importância.
Duas categorias de trabalhadores se destacam. Elas reagrupavam aqueles que, tendo
já feito balançar as compartimentações sociais da dependência, logravam obter acesso
à palavra.
As mulheres foram chamadas a comparecer em número considerável. Constituindo
entre a metade e dois terços das oficinas, formaram 35% dos indivíduos citados por
proprietários com os quais mantinham relações particulares. No estabelecimento de
Pierre Dessalles, chamavam-se Man, Josephine ou Bastienne, e ocupavam uma posição
privilegiada nas relações de intermediação entre o grupo dos senhores/proprietários e
o dos trabalhadores. Joséphine era conhecida por suas repetidas insolências, ao ponto
de o senhor considerá-la louca, e Man participava das estratégias sexuais
desenvolvidas por certas mulheres para encontrar uma solução pessoal para os males
da escravidão (Cottias 2001). Durante algum tempo, ela viveu com o antigo tesoureiro
e tirava vantagens disso publicamente48: a dependência tinha uma dimensão sexual.
Em uma ordem colonial onde o estatuto civil e "racial" determinava os direitos e
deveres de cada um, a utilização da sexualidade dava às mulheres a possibilidade de
transgredir esta ordem, permitindo-lhes sobretudo exprimir-se com maior liberdade.
O acesso à palavra, aos insultos, às "faltas" e às ameaças era facilitado para uma
segunda categoria de trabalhadores: o dos operários especializados ou os
representantes dos prud'hommes do estabelecimento. A história de Césaire é, a esse
respeito, instrutiva. Nascido no estabelecimento, teve sempre a confiança do senhor
durante o período da escravidão, fosse no plano do trabalho, fosse como intermediário
entre os senhores e as mulheres escravas, e essa posição privilegiada o conduziu à
representante dos trabalhadores enquanto prud'homme do estabelecimento. Casou-se
em 11 de janeiro de 1840, com mulher de boa reputação. Desde a emancipação,
porém, viu-se a frente do movimento reivindicatório que o conduzirá ao júri cantonal
por duas vezes. Em 9 de outubro de 1848, em particular, é ele que, após ter discutido
o tamanho das roças, após ter se oposto a que as ausências dos trabalhadores fossem
registradas, e após pedir a saída do tesoureiro, incentiva os trabalhadores à
paralisação. É por isso condenado a uma multa de 40 francos.
Diante dos júris cantonais, pois, duas práticas e duas lógicas se defrontavam. Para os
trabalhadores, tratava-se de fazer ouvir suas aspirações e portanto de reclamar a
igualdade; já os senhores, dirigiam-se a essa instância para reestabelecer uma relação
de força favorável e, assim, manter a dependência dos novos alforriados.
"Os trabalhadores sempre estarão errados, os proprietários sempre certos": a
força do preconceito
Um ano após a criação dos júris cantonais, os relatórios dos magistrados encarregados
de sua inspeção, na Martinica49 (em 28 de maio de 1849) e na Guiana, insistem sobre
o mal funcionamento da instituição. Sublinham que as listas eleitorais são constituídas
sobre bases não rigorosas: são desatualizadas e frequentemente não trazem o
patrônimo dos novos alforriados, e nem mesmo são exatas quanto à profissão dos
cidadãos. Na maior parte dos burgos, não há pois senão uma única urna, reunindo as
duas categorias de cidadãos chamadas a participar, às vezes aberta aos quatro ventos
e suscitando fraudes. As notificações administrativas de convocação aos tribunais
tampouco chegam aos interessados e, além disso, "o tribunal é arbitrariamente
composto e não oferece nenhuma garantia de imparcialidade"50. Em Trinidad,
nenhuma sessão respeita as regras de paridade social, durante todo o período.
Geralmente, há mais proprietários que lavradores no júri, e, comparados aos
primeiros, estes últimos são mais tímidos ao tomar a palavra — em crioulo, que é
traduzido para o juiz de paz pelos proprietários ou artesãos. Não havia como esquecer
a desigualdade social.
As condenações marcavam, por sua vez, os limites da transformação do espaço social
e a conservação de um preconceito de ordem "racial". Aos senhores, estava associada
a "civilização"; aos escravos, o obscurantismo. Mesmo sendo esse atraso atribuído,
pelos abolicionistas, ao sistema da escravidão, não era menos verdade, segundo eles
próprios, ser necessário conter e controlar as pulsões das populações chamadas à
Liberdade. Não dizia Perrinon "que a autoridade deve lhes explicar a lei e fazer com
que a obedeçam, a fim de proteger a liberdade de todos; que, ao cabo de uma
transformação social tão profunda como esta, ela não poderia abandonar os
proprietários à sorte da ação civil que todo cidadão pode iniciar"51? A despeito do
igualitarismo republicano, o acesso deles ao direito devia ser controlado, e a
capacidade dos trabalhadores de apreciação de seu "legítimo direito" não lhes era
reconhecida pelos agentes do Estado.
Em nome da propriedade e do equilíbrio, os republicanos preservaram a hierarquia
social das colônias. Mais de um terço das demandas dos lavradores é rejeitado, o que
não ocorre com nenhuma das demandas dos proprietários. Em matéria civil, as
demandas salariais não são nunca atendidas, enquanto que, em matéria penal, todas
as demandas de despejo o são. Singularmente, a conciliação é obtida uma única vez.
29% dos proprietários são condenados a multas que vão de 95 centavos a 99F05; no
caso dos lavradores, elas vão de 8 francos (para uma só pessoa) a 13 mil francos
(para todo uma oficin a). Como a jornada de trabalho era estimada em 1 franco para
os adultos e 50 centavos para as crianças, essas penalizações eram inaplicáveis e
provocavam, segundo os relatórios, o desaparecimento dos condenados nos campos da
Martinica. É preciso entretanto notar que, uma vez confirmada sua posição de
autoridade pelos júris cantonais, as relações entre senhores e trabalhadores
continuava sob o modo anterior. Algum tempo após sua condenação, os trabalhadores
de Pierre Dessalles pedem para retornar à associação, o que ele sempre aceita. No
máximo, o senhor concedia-lhes um dia de descanso e esperava que os trabalhadores
se arrependessem. A vida normativa retomava seu passo.
Em tal situação, apenas o sentimento de injustiça — da impossibilidade em aceder aos
meios para fazer reconhecer suas expectativas — dominava, provocando acessos
impotentes de raiva, como o de um lavrador que, participando do júri de Fort-deFrance, exclama em plena sessão: "os trabalhadores estarão sempre errados, os
proprietários sempre certos!". Devido a essa desconfiança dos novos alforriados, que
foi se gestando pouco a pouco, a transformação do espaço social se fez acompanhar de
lutas sem ressonância nos júris cantonais. Entre o segundo semestre de 1848 e o
quarto semestre de 1850, 348 julgamentos são realizados na Martinica (para uma
população de 122 mil pessoas, das quais, em 1847, 60% eram escravos). Esse número
caiu até chegar a zero em 1850. 65,8% dos casos foram julgados no decorrer do
primeiro ano de regime civil (ver também Adélaïde-Merlande 1973). Os
administradores concluem disso que "as relações entre os proprietários dão ensejo
apenas a raras contestações. Essas, quando surgem, são o mais das vezes reguladas
pela intermediação oficiosa de influências salutares"52.
Os júris cantonais não lograram alterar senão furtiva e marginalmente a gramática da
dependência. Esta evoluiu, do ponto de vista econômico, devido aos "desvios" — para
retomar a noção de Edouard Glissant — utilizados pela população alforriada dos
campos. Sob pressão de constantes contestações, os proprietários, calculando na base
do mal menor, assinam contrados de meação com alguns de seus trabalhadores. Na
plantação de Pierre Dessalles, Césaire é o primeiro — juntamente com La Disette,
ambos comissários dos trabalhadores — a tornar-se meeiro. Por meio de um ato
assinado em cartório, Césaire passa a possuir 2 hectares, que trabalha com sua
esposa. Um ano depois, o número de meeiros decuplicou-se. Essa forma econômica,
por mais satisfatória que fosse quanto à posse da terra, mantinha contudo, sob o
ângulo inter-individual, a memória da dependência entre antigos senhores e escravos.
O espaço público era finalmente reduzido às antigas relações de sujeição. Entre 1848 e
1850, assiste-se, com efeito, ao fracasso da reconversão das relações de dominação
por meio do exercício da legalidade em uma instância de proximidade, gerando uma
desconfiança tenaz perante a Lei e uma incredulidade permanente frente ao Direito.
Com efeito, o distanciamento e mediação entre o estabelecimento e a esfera pública
por agentes neutros não foi realizável no seio dos júris cantonais: as reivindicações dos
novos alforriados não apenas eram rejeitadas, mas também tornadas ilegítimas pelos
representantes do Estado. Os "novos alforriados" eram devolvidos à condição de
"antigos escravos"53,e era contra esta vergonha que protestava a Rebelde de Aimé
Césaire.
Notas
1 Promulgada em 23 de maio para a Martinica, em 27 de maio para Guadalupe, e em
10 de agosto para a Guiana Francesa, após o levante nas oficinas de escravos
martinicanos.
2 O direito comum era aplicado ao conjunto das colônias francesas. Este artigo,
entretanto, aborda mais particularmente, na análise os modos de apropriação do
direito e as relações interindividuais complexas, o caso da Martinica, a propósito do
qual a documentação conservada nos Archives Nationales e os testemunhos publicados
são inegavelmente mais numerosos, e, na verdade, únicos, comparados aos das
demais colônias da região.
3 É interessante notar que "em 28 de março de 1848, o governo provisório da
República promulga um decreto autorizando temporariamente o ministro da Justiça a
conceder a naturalização a todos os estrangeiros que residem na França há pelo menos
cinco anos" (Weil 2002:44). Ver, igualmente, Ministère des Finances 1942.
4 A cidadania francesa compreendia, de um lado, a condição de nacionalidade, e, de
outro, o exercício dos direitos de cidadania dos indivíduos. Não há pois debate sobre a
nacionalidade dos antigos escravos (Girollet 2000).
5 Reciprocamente, a cidadania francesa é incompatível com a posse de escravos: "é
interdito a todo francês a posse, a compra ou a venda de escravos, bem como a
participação, seja direta, seja indireta, em qualquer atividade de tráfico ou exploração
desse gênero. Toda infração a essas disposições acarretará a perda da qualidade de
francês", precisa o decreto de abolição da escravidão. A equivalência entre liberdade,
de um lado, nacionalidade e cidadania, de outro, era pois tornada imediatamente
efetiva e executória (Artigo 8 do decreto relativo à abolição da escravidão e à
organização da liberdade, Bulletin Officiel de la Martinique, 1848).
6 Os dados para a Guiana e Guadalupe, que permitiriam estabelecer um resultado
comparável, parecem inexistir.
7 "De resto, seria indispensável fazer com que os funcionários do estado-civil
procedessem a um registro geral da população emancipada, tomando como ponto de
partida os registros-matrícula existentes, e conferindo nomes aos indivíduos e famílias
como se fez até hoje no sistema de alforria parcial, de acordo com uma ordem de 29
de abril de 1836" (Circular ministerial de 7 de maio de 1848).
8 A atribuição de um nome permitia também o acesso a um estado civil outrora
reservado apenas aos indivíduos livres. Se houve debates para saber se as certidões
de estado civil deveriam ser entregues individualmente ou por família, aceitou-se sem
maior discussão que essas certidões fossem pagas em benefício dos funcionários
municipais
9 O custo de 2F50, inicialmente previsto, foi anulado.
10 Sessão do Conselho Privado, 15 de junho de 1848.
11 Gérard Noiriel (1993:14) descreve o mesmo processo entre as classes populares na
Alsácia-Lorena e entre os judeus; ver também um belo texto de Priska Degras
(1995:75).
12 Despacho ministerial: "Aprovação do modo seguido na Martinica para concessão de
nomes patronímicos: instruções para a confecção desses documentos em tripla
expedição". Paris, 29 de maio de 1858.
13 "Artigo 1: Será emitida uma certidão especial para constatar, por meio da adição de
nomes patronímicos, a individualidade de cada novo cidadão, sem exceção de idade,
sexo ou parentesco. [...]. Artigo 2: [...] Ao mesmo tempo que os novos cidadãos
receberão os extratos a eles concernentes, ser-lhes-á concedido sem custos um
exemplar do decreto de 28 de abril de 1848, referente à abolição da escravidão".
14 Archives Nationales, Section d'Outre-Mer (ANSOM), Carton 165, Dossier 1518.
15 "Ele só fala de trabalho".
16 5º decreto acompanhando o decreto de Emancipação geral.
17 O texto é completado em 20 de maio de 1854 por uma resolução do Governador da
Martinica, o Conde de Gueydon.
18 Ver a discussão da concepção de associação por Louis Blanc em L'Atelier. Organe
Spécial de la Classe Laborieuse, outubro de 1847 e, sobretudo, o contrato de
associação operária publicado no mesmo volume, cujos termos afastam-se
grandemente do modelo proposto por Perrinon.
19 "Eu fui em geral compreendido, as convenções foram imediatamente feitas na base
de um modelo de contrato de associação que eu pudera estabelecer para disseminar
na colônia [...]. Até o presente, é a associação assim regulamentada que prevalesce
em todas as explorações açucareiras, e se prefere a partilha na base de um terço do
bruto sobre aquela na base da metade do líquido [...]. A associação tem todas as
minhas simpatias: é por esta via, fecunda em resultados generosos, que espero obter
o aperfeiçoamento dos trabalhos agrícolas, o incremento dos produtos, o
desenvolvimento das inteligências pela emulação. Regrada pelo modelo de contrato
que adotei, a associação atende convenientemente aos dois interesses implicados; ela
é em tudo preferível ao salário, cujo pagamento seria ademais impossível nas
presentes condições financeiras da colônia [...]" (Carta de Perrinon ao ministro da
Marinha e das Colônias, Macouba, 10 de Julho de 1848; ANSOM Carton 46, Dossier
464).
20 Artigo 14 do contrato da associação de Nouvelle Cité (de Frémont e Elisabeth,
1984:341).
21 Artigo 2 do contrato da associação de Nouvelle Cité (de Frémont e Elisabeth,
1984:340).
22 Balanço das viagens de Perrinon... (Tomich 1995).
23 Sobre essas questões, ver, entre outros, o importante trabalho de Sigaud (1996),
que mostra como as relações de interdependência conservaram-se nas configurações
do séc. XX.
24 Ou ainda: "todo lavrador que não tenha chegado a um acordo com o proprietário,
deve abandonar a propriedade quando lhe for assim indicado" (Le Commercial, 1º de
julho de 1848).
25 "Duas negras, às quais Louis Littée ordenara retirarem-se do estabelecimento,
vieram me procurar e choraram tanto que fiz a besteira de atendê-las" (de Frémont e
Elisabeth 1984:25/7/1848).
26 "Os oito trabalhadores que eu despejaria hoje vieram reconhecer seus erros e pedir
para fazer parte da Associação; eu perdoei tudo" (de Frémont e Elisabeth
1984:29/7/1848).
27 "O negro, habituado a dispor de sua cabana e sua roça, via estes quase como sua
propriedade. Graças a esses hábitos, as oficinas não debandavam, os negros
permaneciam em seus estabelecimentos" (L'Atelier, 313).
28 "Fiz uma observação essencial, a saber, a de que os novos cidadãos apegam-se
quase sempre ao lugar onde nasceram, e de que, por causa desse sentimento,
emigrações e mudanças de profissão são casos excepcionais. Existiam geralmente nos
trabalhadores pretensões muito fortes à posse das cabanas e das roças. Persuadidos
de seu direito de propriedade, recusavam-se a abandonar os lugares a que estavam
habituados, e acreditavam poder continuar usufruindo deles sem ser obrigados a
estabelecer um arranjo com o verdadeiro proprietário. Esses amores pela cabana e
pelo solo de costume cria aqui um contraste singular com o que ocorre nas colônias
inglesas, quando da emancipação. Ao contrário dos lavradores ingleses, os nossos não
estão nada dispostos a desertar do campo e afluir às cidades; em geral, resistem a
deixar o estabelecimento onde estavam precedentemente empregados" (Perrinon, 10
de julho de 1848, ANSOM, Carton 46, Dossier 464).
29 Curiosamente, a reflexão abolicionista tinha já deixado entrever possíveis correções
ao direito positivo, pela via da noção de "reparação" devida a título de retratação pela
escravidão, nas palavras de Arago. Em nome da humanidade e da moral, a
propriedade fora questionada, notadamente por Victor Schoelcher em 1834, Bissette
"pela reparação da violência física e moral que ele exercera contra ele"; não se tratava
mais de uma indenização "repartida igualmente entre colonos desapossados de seus
escravos e os próprios escravos", segundo a proposição de Victor Schoelcher
(subsecretário de Estado e presidente da Commission d'abolition de l'esclavage) em
1848 (ver Girollet 2000:270-271).
Sobre a lei de 1846: em 22 de agosto de 1846, o relator do projeto de decreto
concernente aos terrenos a serem concedidos aos escravos faz a leitura de seu
relatório:
Artigo 1º: A obrigação imposta aos senhores de colocar à disposição de seus escravos
terras apropriadas à lavoura entrará em vigor a partir da promulgação do presente
decreto, conforme às disposições seguintes.
Artigo 2: Estão excluídos do direito à distribuição de terras apenas os escravos que
constam nos censos como domésticos, empregados nas aldeias e burgos, ou alocados
à navegação ou atividades não-agrícolas.
Artigo 3: O terreno cujo usufruto será concedido ao escravo deverá ser apropriado
para a agricultura e possuir uma extensão de, no mínimo,
• nos estabelecimentos açucareiros, 6 ares
• nos estabelecimentos cafeicultoras e dedicadas à cultura de gêneros alimentícios, 4
ares
• nos estabelecimentos dedicados à produção de víveres, 3 ares
Todo escravo, maior de 14 anos, terá direito a esta extensão de terreno, sem que o
senhor possa deduzir dela o que terá dado a outros escravos que sejam parte da
mesma família; essa quantidade deve ser aumentada em um quinto para cada criança
com mais de quatro anos.
30 A expressão serviu de título a um livro sobre essas questões (McGlynn e Drescher
1992).
31 O que foi obtido na metrópole apenas em 1848 (Baffos 1908).
32 Em Guadalupe, o procurador-geral propõe, em 10 de agosto de 1848, "estender a
competência do júri cantonal em matéria penal, confiando-lhe, de um lado, a repressão
da vadiagem [...]; de outro, todas as contravenções possíveis, até as penalidades
máximas [...]. A outra modificação proposta pelo mesmo magistrado consistia em
substituir, como punição nos casos de condenação por vadiagem e perturbação da
ordem ou do trabalho, a multa pela condenação ao ateliê disciplinar" (Commission
coloniale, "Première note sur les jurys cantonaux", janeiro de 1849.
33 Os júris cantonais tratavam, com efeito, de acordos feitos oralmente assim como
daqueles estabelecidos por escrito. Para uma análise precisa dessa questão, ver os
trabalhos de Scott (1994) e, especialmente, Scott e Zeuske (2002).
34 "[...] quanto à quota dos penhores, quanto ao pagamento dos salários do ano
transcorrido, e quanto aos adiantamentos para o ano corrente". Este artigo foi
revogado na metrópole pela lei de 2 de agosto de 1868.
35 Na ilha da Reunião, não foram instituídos júris cantonais e, na sessão de 17 de
outubro de 1848, o procurador-geral exprime o lamento de que o artigo 1781 do
Código Civil tenha sido suprimido, pois "essa supressão pareceu-lhe injusta para os
colonos" (Commission Coloniale, "Deuxième note sur les jurys cantonaux", novembro
de 1849).
36 Ver a ordem de MM. Les général et intendant, sobre a resolução da assembléia
geral concernente ao estabelecimento das municipalidades, de 19 de dezembro de
1789; a carta de S.E. o Governador interino da Martinica, a um comissário civil de
paróquia sobre os assuntos religiosos, de 22 de agosto de 1811; e a lei sobre o regime
legislativo das colônias, de 24 de abril de 1833.
37 Sobre questões similares no contexto argentino, ver Fradkin 1999.
38 Em Saint-Esprit, no Marin e nas Anses d'Arlets, foram os proprietários os autores
das ações (Rapport du magistrat délégué à l'inspection des jurys cantonaux de la
Martinique, 28 de maio de 1849).
39 Um pequeno número de conflitos pessoais é, em Trinidad, levado a julgamento.
Eliza, lavradora em Saint-Marie, reclama a usurpação de sua cabana pelo Compadre
Taillis, também lavrador. Um grupo de lavradores se queixa de Placide, Laguerre e
outros por não cumprirem as cláusulas do contrato e os acionam por perdas e danos.
40 "Minha viagem do dia 18 forneceu-me a prova do prestígio de que goza o salário
aos olhos do trabalhador; com essa modalidade, nenhuma incerteza, nenhuma
discussão, nenhuma má-vontade; o objetivo é concreto, basta algumas horas para
alcançá-lo, a boa vontade de todos os dias é estimulada por esta potente isca. Uma
preferência extremamente marcada existe por esta modalidade em face da associação,
cujos resultados são mais distantes, menos determinados, menos concretos para a
imaginação e, ainda que mais vantajosos, suscitam menos confiança aos novos
alforriados" (Carta de Perrinon ao ministro da Marinha e das Colônias, Fort-de-France,
19 de agosto de 1848; ANSOM, Carton 46, Dossier 464).
41 "O direito de propriedade sobre os frutos e colheitas pendentes nos ramos e raízes
adquiridos dos alforriados em virtude do artigo 2º. ('os proprietários não poderão
privar os alforriados dos frutos e colheitas') do decreto de 27 de abril sobre a
repressão da vadiagem e da mendicância deve ser limitado aos frutos que tiverem
brotado antes do Ato de Emancipação, e não deve ser perpetuado e estendido às
novas plantações. As razões dessa decisão derivam do caráter puramente transitório
da disposição pré-citada, e das consequências funestas que acarretaria para a
agricultura e a livre disposição das terras, a permissão concedida aos trabalhadores de
retornar indefinidamente aos estabelecimentos que teriam deixado ou dos quais teriam
sido expelidos para colher ou cultivar os produtos de suas antigas roças" ("Première
note sur les jurys cantonaux", 31 de janeiro de 1849. Ver também Adélaïde-Merlande
1973).
42 Caso julgado em 19 de maio de 1849.
43 O ateliê não comparece ao trabalho apenas dois dias após o julgamento e, a
despeito disso, o proprietário lhes pagou "a jornada que lhes era devida"...
44 Rapport du magistrat délégué à l'inspection des jurys cantonaux de la Martinique,
28 de maio de 1849, p. 83.
45 Viagem do comissário às comunas do norte, 25 de julho de 1848.
46 Do diário de P. Dessalles (de Frémont e Elisabeth 1984): "Avinet deu uma de
insolente e rebelde esta manhã; fiz com que lhe aplicassem a chibata" (29/11/1839);
"Josephine deu uma de insolente; queria deixar o trabalho mais cedo. Mandei prendêla nas três estacas" (15/03/1840). "Césaire foi insolente e entreteve más intenções,
mandei lhe darem alguns golpes de chibata (02/031841).
47 Em todos os estabelecimentos da Martinica, relata Perrinon, "pecava-se na
assiduidade ao trabalho. Os dias e horas combinados não eram integralmente
cumpridos pelos trabalhadores associados. A subordinação a um gerente os
incomodava, assim com a submissão às chamadas: viam, nessas formalidades,
reminiscências da escravidão" (Perrinon, 21 de outubro de 1848 [ANSOM, Carton 46,
Dossier 464]).
48 "Soube que M. de Gaalon andava atrás de uma jovem negra chamada Jeannine: ele
quebrou assim sua promessa, pois, ao chegar à minha casa, declarou que buscava
suas amantes fora do estabelecimento" (de Frémont e Elisabeth 1984:20/4/1844).
49 Nenhum arquivo similar parece ter sido conservado nem em Guadalupe nem na
Guiana.
50 Rapport du magistrat délégué à l'inspection des jurys cantonaux de la Martinique,
28 de maio de 1849, p. 52.
51 Carta de Perrinon ao ministro da Marinha e das Colônias, Fort-de-France, 19 de
agosto de 1848 (ANSOM, Carton 46, Dossier 464).
52 Carta do Governador-Geral ao Ministro da Marinha e das Colônias, Fort-de-France,
23 de outubro de 1850.
53 Para uma discussão desses termos, ver Meillassoux 1986.
Referências bibliográficas
ADÉLAÏDE-MERLANDE, Jacques. 1973. "Les jurys cantonaux de Saint-Pierre, 18481851". Actes du colloque de Saint-Pierre.
BAFFOS, Robert. 1908. La prud'homie. Son évolution. Paris: Arthur Rousseau Éditeur.
COTTEREAU, Alain. 1992. "'Esprit public' et capacité de juger. La stabilisation d'un
espace public en France aux lendemains de la Révolution". Raisons Pratiques, 3:23973.
COTTIAS, Myriam. 2001. "La séduction coloniale. Damnation et stratégies. Les Antilles,
XVIIe-XIXe siècle". In: C. Dauphin e A. Farge (eds.). Séduction et sociétés. Approches
historiques. Paris: Seuil. pp. 125-40.
DE FRÉMONT, Henri, ELISABETH, Léo (eds.). 1984. La vie d'un colon à la Martinique au
XIXe siècle. Journal de Pierre Dessalles. 1785-1856. Fort-de-France: Désormeaux.
DEBBASCH, Yvan. 1977. "Le rapport au travail dans les projets d'affranchissement:
l'exemple français (XVIII-XIXe)". Acte du XLIIe Congrès International des
Américanistes, Vol. I. pp. 203-22.
DEGRAS, Priska. 1995. "Noms des pères, histoire du nom : Odono pour mémoire",
Etudes créoles, XVIII(2).
MINISTÈRE DES FINANCES, Service national des statistiques, Direction de la statistique
générale, Études Démographiques. Les naturalisations en France (1870-1940). Paris:
Imprimerie nationale.
Du HAILLY (ed.). 1863. "Les Antilles françaises en 1863. Souvenirs et tableaux". Revue
des Deux Mondes, 48: 855-80.
ELIAS, Norbert. 1985. Société de cour. Paris: Flammarion.
ELIAS, Norbert. 1991. La société des individus. Paris: Fayard.
FARGE, Arlette e REVEL, Jacques. 1988. Logiques de la foule. L'affaire des enlèvements
d'enfants à Paris en 1750. Paris: Hachette.
FRADKIN, Raoul. 1999. "Représentations de la justice dans la campagne de Buenos
Aires (1800-1830)". Etudes Rurales, 149-150: 125-46.
GARCIA Jr, Afrânio. 1989. Libres et assujettis. Marché du travail et modes de
domination au Nordeste. Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme.
GIROLLET, Anne. 2000. Victor Schoelcher, abolitionniste et républicain. Approche
juridique et politique d'un fondateur de la République. Paris: Karthala.
JENNINGS, Lawrence C. 2000. French anti-slavery. the movement for the abolition of
slavery in France, 1802-1848. Cambridge: Cambridge University Press.
MC GLYNN, Franck e DRESCHER, Seymour (eds.). 1992. The meaning of freedom:
economics, politics and culture after slavery. Pittsburg: University of Pittsburgh Press.
MEILLASSOUX, Claude. 1986. Anthropologie de l'esclavage. Le ventre de fer et
d'argent. Paris: PUF.
NOIRIEL, Gérard. 1993. "L'identification des citoyens. Naissance de l'Etat Civil
républicain". Genèses, 13.
SCOTT, Rebecca. 1994. "Defining the boundaries of Freedom in the World of Cane
Cuba, Brazil and Louisiana after Emancipation". The American Historical Review,
99(1):81-89.
SCOTT, Rebecca e ZEUSKE, Michael. 2002. "Property inwriting, property on the
ground: pigs, horses and citizenship in the aftermath of slavery, Cuba, 1880-1909".
Comparative Studies in Society and History, 44:669-699.
SIGAUD, Lygia. 1996. "Le courage, la peur et la honte. Morale et économie dans les
plantations sucrières du Nordeste brésilien". Genèses, 25: 72-90.
TOMICH, Dale. 1995. "Contested Terrains. Houses, Provisions Grounds and the
Reconstruction of Labour in Post-Emancipation Martinique". In: M. Turner (ed.), From
Chattel Slaves to Wage Slaves. Kingston/Bloomington: Ian Randle Publishers/Indiana
University Press.
WEBER, Max. 1971 [1956]. Economie et société. Paris: Plon. Vol. I.
WEIL, Patrick. 2002. Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française
depuis la Révolution. Paris: Grasset.
ZONABEND, Françoise. 1980. "Le nom de personne". L'Homme, XX(4):7-23.
* A mãe: — Eu sonhara com um filho para fechar os olhos da mãe. /A rebelde: — Eu
escolhi abrir sob um outro sol os olhos de meu filho. [N.T.]
** François-Auguste Perrinon (1812-1861), nasceu em Saint-Pierre da Martinica, em
uma família mulata, e partiu jovem para a França onde fez seus estudos na Escola
Politécnica. Militar e favorável ao abolicionismo, retorna à Martinica em 1837 e 1842;
em 1848, faz parte da "Commission Schoelcher" (encarregada de elaborar modalidades
de abolição da escravidão). Torna-se Comissário Geral da Martinica (de julho a
novembro de 1848), e depois deputado de Guadalupe na Assembléia Legislativa (1849
e 1850). Com a mudança de regime, retira-se para St. Martin, onde se dedica à
exploração de suas salinas, ali falecendo em 1861 [N.T].
*** Magistrado eleito para um tribunal especializado, dito Conseil de Prud'hommes,
para decidir sobre litígios derivados do contrato de trabalho [N.T.]
Recebido em 5 de agosto de 2003
Aceito em 26 de junho de 2004
Tradução: Marcela Coelho de Souza
MANA 10(2):257-286, 2004
O OFICIAL E O OFICIOSO:
OBJETO E REGULAÇÃO DE
CONFLITOS NAS ANTILHAS
FRANCESAS (1848-1850)
Myriam Cottias
La mère: — J’avais rêvé d’un fils pour fermer les yeux de sa mère.
Le Rebelle: — J’ai choisi d’ouvrir sur un autre soleil les yeux de mon fils
(Aimé Césaire, Et les chiens se taisaient, 1956)*
A abolição da escravidão, decretada em 27 de abril de 1848 pelo Governo Provisório da Segunda República1, remodelava o espaço público nas
colônias francesas por meio da instauração da igualdade entre os cidadãos, criando uma horizontalidade de estatutos civis, políticos e “raciais”
no cenário colonial2. Por meio da circular ministerial de 7 de maio de 1848
(que regulamentava a execução do decreto de 27 de abril), o governo
atribuía, a todos os alforriados e a todos os que haviam nascido ou residiam nas colônias há pelo menos seis anos3, a cidadania francesa: “a partir do dia da libertação geral, os escravos se tornarão cidadãos franceses4,
a fim de que nenhuma exceção ao princípio de liberdade e de igualdade
social possa subsistir”5.
As implicações da decisão política tomada pelo governo provisório
eram imensas. Não apenas ela estabelecia uma cidadania similar para
atores que se haviam desde sempre se enfrentado no plano civil, integrando-os à pátria mãe, mas parecia inverter as relações de dominação
em nome da “fusão social”. Os horizontes sociais e mentais dos antigos
alforriados, bem como os dos antigos senhores, deviam se abrir uns aos
outros, pois, “para os membros de uma mesma nação, não existe senão
* A mãe: — Eu sonhara com um filho para fechar os olhos da mãe. /A rebelde: — Eu escolhi abrir
sob um outro sol os olhos de meu filho. [N.T.]
258
O OFICIAL E O OFICIOSO
um só direito, o Direito comum — precisava o comissário geral, Perrinon*,
em 5 de junho de 1848, ao chegar à Martinica.
Poderiam esses novos predicados jurídicos, entretanto, submeter os
laços sociais fundados sobre a dependência entre “senhores” e “escravos”, e as práticas oficiosas, aquelas não apropriadas pelo direito? O julgamento pessoal tomava aqui o lugar do jurídico; manobras subterrâneas
contrapunham-se ao caráter público da lei; as negociações e transações
individuais substituíam a regra geral. Teria, assim, a vontade legalista da
República os meios para transformar as práticas sobre as quais se apoiava o funcionamento complexo da sociedade colonial e as regras interindividuais de dominação?
Em 1848, o Direito comum é introduzido como mecanismo de regulação de relações sociais. Conseguiria entretanto a República transformar as formas de dominação? Poder-se-ia acreditar que sim, considerando a elaboração de instâncias jurisdicionais de mediação, como os júris
cantonais e a vontade do governo de fazer com que fossem reconhecidos
como referência para regrar os conflitos sociais por todos os atores envolvidos (Garcia Jr. 1989). É possível, por outro lado, duvidar disso, lendo
esse conflito como um entre outros articulados por toda a complexidade
da dependência: “Os negros perderam a cabeça!”, escreveu em seu diário, em 30 de maio de 1849, Pierre Dessalles, um plantador da Martinica:
Uns pretendem que Bissette [um político de cor] teria dito que os proprietários não podiam mais expulsá-los de suas cabanas, que elas lhes pertenceriam. Outros dizem ter Bissette declarado que deveriam ficar com dois terços dos rendimentos. Alguns chegaram mesmo a afirmar que tinham direito
aos três terços! Nosso velho negro Césaire disse a Adrien que tinha contas a
acertar com ele, pois Bissette assegurara que devíamos dar-lhe dois terços
brutos de todo o açúcar. “Tudo bem”, respondeu Adrien, “no próximo sábado o júri cantonal vai resolver a questão. Volte para o seu canto e para o trabalho, ou te expulso do estabelecimento. Logo depois, outros três ou quatro
vieram, individualmente, com a mesma reivindicação. Meu filho os denun-
* François-Auguste Perrinon (1812-1861), nasceu em Saint-Pierre da Martinica, em uma família
mulata, e partiu jovem para a França onde fez seus estudos na Escola Politécnica. Militar e favorável ao abolicionismo, retorna à Martinica em 1837 e 1842; em 1848, faz parte da “Commission
Schoelcher” (encarregada de elaborar modalidades de abolição da escravidão). Torna-se Comissário Geral da Martinica (de julho a novembro de 1848), e depois deputado de Guadalupe na Assembléia Legislativa (1849 e 1850). Com a mudança de regime, retira-se para St. Martin, onde se
dedica à exploração de suas salinas, ali falecendo em 1861 [N.T].
O OFICIAL E O OFICIOSO
ciou ao juiz, que os convocou para o próximo sábado. Eles foram procurar
Bissette, e voltarão com certeza humilhados. (de Frémont e Elisabeth
1984:30/5/1848)
A resposta de Adrien situa a questão: ela assinala as tensões que envolviam a criação de um espaço público, notadamente a fricção entre o
Direito e sua prática. Ela sublinha, igualmente, pelo emprego do termo
nègres, que, um ano após a abolição da escravidão, um proprietário parecia ainda ignorar a existência de uma preliminar ao estabelecimento
do Direito: o reconhecimento da individualidade das pessoas pela atribuição de um antropônimo.
A partilha do nome: entre o oficial e o oficioso
Em todas as sociedades escravagistas, possuir um patrônimo era um apanágio da existência civil e, portanto, da liberdade. Na França, malgrado
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os debates de 1792
sobre as municipalidades e a cidadania precisam que “os escravos não
têm estado civil; apenas o homem livre têm uma cidade, uma pátria; apenas ele nasce, vive e morre cidadão” (Gohier, Archives Parlementaires,
19 de junho de 1792, apud Noriel 1993:5).
Ter um nome: uma aspiração dos alforriados pré-1848
Foi com a lei de 1831, que concedeu a gratuidade do registro da franquia que se colocou o problema da atribuição de um patrônimo àqueles
“livres de fato”, os quais apressaram-se a reivindicar que seu estatuto civil fosse reconhecido pela emissão de uma certidão de individualidade.
Entre 1831 e 1848, esses libertos informais representam 59% do conjunto
dos libertos registrados na Martinica, 41% em Gualalupe e 36% na Guiana. Esses novos libertos constituem então a metade da população “livre
de cor “ na Martinica6. Sob pressão desse novo dado social, que deslocava as linhas divisórias, a administração estabeleceu regras que tinham
por objetivo sustentar em torno da classe dos “brancos” barreiras tão impermeáveis quanto possível.
Essas regras retomam aquelas da ordem, datada de 24 de junho de
1773, que proibia às “pessoas de cor” portar outros nomes além daqueles
tirados ou do idioma africano ou de sua ocupação. Em 1836, assim, apa-
259
260
O OFICIAL E O OFICIOSO
rece uma circular sobre a atribuição de patronímicos que vai de encontro
à lei de 24 de abril de 1833 (que garantia a igualdade civil e política das
“pessoas livres de cor” e dos “brancos”). Ao mesmo tempo em que detalha os procedimentos para a declaração das alforrias, a circular afirma
em seu artigo quarto que a dita declaração “não poderá conter patronímicos conhecidos por pertencer a famílias existentes, a não ser sob condição de consentimento expresso e por escrito de todos os membros desta família”; mais adiante, determina que as famílias podem reclamar os
nomes adotados pelos alforriados. Estabelece igualmente o campo de
possibilidades para os prenomes, que devem ser extraídos do calendário
gregoriano ou história antiga. Os alforriados nascidos de relações extramaritais de colonos com escravas não podiam reivindicar oficialmente
sua história familiar, e estavam autorizados a registrar unicamente a genealogia materna (a não ser que fossem reconhecidos pelo pai).
A ordem de 1836 impunha também que fossem indicados “o sexo,
os nomes usuais, a casta, a idade e a profissão do escravo; os patronímicos e os prenomes que lhes deveriam ser dados”. Até então, com efeito,
as indicações individuais que constavam nas certidões de alforria dependiam das preocupações de exatidão dos administradores. Algum tempo
mais tarde, o patrônimo é indicado obrigatoriamente entre parênteses:
Michel (Aratus), Marie-Anne (Octavie), Anne (Dolabella), Etienne (Andromède)…
De 1831 a 1847, “demandas de adição de nomes” foram formuladas
por novos alforriados, em número restrito, todavia, em razão do peso administrativo dos procedimentos. Era necessário, com efeito, escrever numerosas cartas e reunir grande quantidade de documentos: certidão de
nascimento, atestado de pobreza (para isenção dos encargos), explicação
da origem do nome e, sendo este o de uma pessoa viva, a certidão de nascimento e o consentimento desta última, bem como a adesão dos filhos
maiores de idade ao projeto. Os que superavam esses obstáculos eram
artesãos autônomos, costureiras e comerciantes — uma classe um pouco
privilegiada que, nos textos, insiste sobre a importância do nome. Em 7
de março de 1846, por exemplo, o Sieur Gustave reivindica a adição de
um nome e justifica da seguinte maneira sua escolha. Ele fora escravo de
um Sieur Lacour, da comuna do Saint-Esprit, que o alforriara em 1833, e
“é do nome de Lacour que deriva o de Lacoumé” (em crioulo, “mestre
Lacour”), que ele deseja adotar. Geralmente, o único desejo expresso é o
de “portar legalmente um nome mais ou menos similar ao que é habitualmente dado” à pessoa. Em 31 de maio de 1844, Mademoiselle Léocadie indica que demanda o nome de Forsans, mas precisa “pouco importa
O OFICIAL E O OFICIOSO
o nome que será concedido, Fordyer se preferirem. O essencial é que ele
lhe seja concedido legalmente”.
O nome que marca o estatuto civil em uma sociedade ainda escravagista é importante. Em dezembro de 1834, é assim inscrita, no registro
das certidões de alforria da comuna do Lamentin, uma demanda de retificação de nome. Os “nomes verdadeiros”, reclama-se, são Louis Iryer e
não Louis Irger, Louis Silvère e não Louise Silvery, Louis Grennade e não
Louis Pennade. A identificação permitia esquecer a matrícula portada
sob a escravidão, permitia à pessoa emergir do nada (Zonabend 1980).
Ter um nome: o contrato social da emancipação
A individualidade por meio de aquisição de patronímicos é afirmada
como base do novo contrato social posto pela Segunda República7. Em
uma sessão do mês de junho de 1848, “o comissário geral da República
especifica que os nomes patronímicos dos novos libertos figurem em seu
título de liberdade, juntamente com o qual se lhes entregará um exemplar do decreto de 27 de abril portando sobre a abolição da escravidão”.
A premiliminar a todo estabelecimento do direito era, com efeito, a possibilidade de identificar, reconhecer a cada um uma individualidade que
lhe permitisse, em troca, exercer o direito. Nessa relação de reciprocidade estabelecida, pois, cada indivíduo era ao mesmo tempo sujeito do direito (enquanto receptor das leis) e autor do direito (na medida em que
podia acionar a justiça)8.
Desde a promulgação oficial da emancipação, quando da chegada
do comissário geral da República à Martinica, assim como à Guadalupe,
vê-se posta a questão da atribuição dos patrônimos. Com efeito, no funcionamento do estado de direito, ela constitui um problema prático: de
um lado, é necessário estabelecer a base de cidadãos ativos, quer dizer,
de homens, chamados a votar graças à instauração da igualdade civil e
política com a metrópole; de outro, esses últimos eram também chamados a participar das novas instâncias de conciliação instauradas pela República sob a forma dos júris cantonais.
A abolição da escravidão em 1848 acelerou, assim, de modo exponencial, o processo de registro das identidades masculinas. Deveriam ser
repertoriados 25.800 homens em Guadalupe, 21.525 na Martinica e 4.902
na Guiana, por uma administração cujo efetivo mantivera-se inalterado.
Faltavam o tempo e as forças para uma boa aplicação da lei, ao mesmo
tempo em que a vontade de receber um patrônimo não era compartilha-
261
262
O OFICIAL E O OFICIOSO
da por toda a população, pouco habituada a buscar individualmente o
acesso às esferas de poder9. Se, aos olhos do comissário da República, a
atribuição de um nome deveria permitir o desaparecimento de “todo embaraçoso resquício de escravidão”, para o adido do prefeito de Saint-Pierre, Pory-Papy (um homem de cor), era, por outro lado, crucial respeitar a
vontade de ser ou não identificado. “Não existem mais, na Martinica”,
diz ele, “senão cidadãos inteiramente admitidos em benefício do Direito
comum; ninguém tem o direito de vir distribuir-lhes nomes fora das formas prescritas pela lei […]. [É preciso] facilitar os procedimentos para
aqueles que julguem bom fazê-lo […]. Todo outro meio de proceder seria
extra-legal e é por conseguinte uma forma de distinção que relembra o
jugo da escravidão. Os novos cidadãos usufruem como os antigos das
vantagens da igualdade; não cabe pegá-los […] e distribuir-lhes nomes
como se faria a um rebanho”10. O procedimento foi pois lento, e, em 28
de maio de 1849, o magistrado enviado para inspecionar os júris cantonais, que devia verificar as listas eleitorais, constata, ocasional ou frequentemente segundo as comunas, a falta de nomes patronímicos. Paralelamente, a apropriação do nome patronímico pelos “novos alforriados”
é fraca: ele nota que quase todos os lavradores ignoram-no, sendo necessário antes procurar identificá-los pela idade, prenome e nome do estabelecimento onde trabalham. Segundo ele, a maior parte dos novos alforriados ainda não responde se chamado pelo patrônimo, o qual, com
certeza, não tem utilidade nas relações cotidianas11.
Um nome sem significação?
Por outro lado, a ordem de 1836 é mantida e suas disposições reafirmadas na circular ministerial de 29 de janeiro de 1858. Nesse quadro, a
escolha do nome cabe ao indíviduo ou ao funcionário da comuna. Relata
Edmond du Hailly, em 1863:
A maior parte deles se dobra ao bom gosto dos funcionários da prefeitura.
Se acontece de tal funcionário ser versado em história romana, fará reviver
em seu registro a raça dos Brutus, Othon, Numa Pompilius. Por vezes, suas
preferências se traduzem por um grande nome dos tempos modernos: se for
um gourmet, criará um Vatel; dançarino, um Vestis. Montaigne, Sully, Nelson e uma centena de outros adquirem assim uma descendência negra. Alguns nomes brotam diretamente da fantasia desses padrinhos oficiais: outros, como Tinom [em crioulo, petit homme], por exemplo, são tomados do
O OFICIAL E O OFICIOSO
patoá crioulo e recordam seus estranhos diminutivos. Alguns alforriados, enfim, se limitam a conservar os nomes de suas mães, e se batizam bravamente Rosine ou Emilia. (du Hailly 1863:862).
O novo patrônimo era em seguida fixado em uma carteira, assinada
pelo prefeito.
Será com o censo da população tributável em 1855 que a administração conseguirá conferir nomes patronímicos à quase totalidade dos
novos alforriados12, provocando temores no seio dessa população, que
via nisso o retorno da escravidão, pois, a cada dia, o capataz registrava
os escravos ausentes. Quatro anos mais tarde, em 1o de janeiro de 1859,
os registros de individualidade são definitivamente fechados, e foi assim
que uma parte da população, pequena segudo a estimativa da administração, acabou sem obter patrônimo oficial (Bulletin Oficiel de la Martinique, 1858). O registro de individualidades perdurou, entretanto, de maneira irregular, poucas pessoas conseguindo acesso ao complicado procedimento junto ao Conselho de Estado para obter uma adição de nome.
Em 28 de agosto de 1848, na Guiana, a Demoiselle Catherine, dita Laura, e o Sieur Charles-Etienne, seu irmão, foram autorizados a juntar a
seus prenomes o sobrenome Croizé; em 21 de março de 1850, o Sieur
Marcele, na Martinica, foi autorizado a portar o nome de Hurard. Eles foram os únicos.
As mulheres, como tampouco as crianças, não foram excluídas do
processo de individualidade pela resolução de 21 de outubro de 184813,
mas a implantação das novas instituições teve repercussões sexistas. A
legislação sobre o organização do sufrágio universal e a justiça dos conflitos trabalhistas era, com efeito, sexuada. E essa imposição de uma forma institucional que excluía as mulheres as impelia a uma marginalidade contrária às práticas locais e às condições históricas, nas quais os papéis econômicos de homens e mulheres eram largamente intercambiáveis. Enquanto o discurso universalista estabelecia uma igual liberdade
para todos os membros da sociedade, as mulheres não tinham, de fato, se
beneficiado com o reconhecimento de sua individualidade. Se, entre 1830
e 1846, 41% das mulheres a reivindicaram, em comparação a 24% dos
homens, a situação se inverte com a emancipação. Os efeitos perversos
da lei persistiram por muito tempo. Em 1852, as acusadas pelas desordens de Sainte-Marie são designadas, à diferença dos homens, apenas
por seus prenomes. Há Celeste, lavradora, e Magdelonnette, lavradora
— que protesta porque “diz-se que as mulheres não podem votar e (que)
todavia, as mulheres béqués [“brancas”, da classe dos colonos] vão ao
263
264
O OFICIAL E O OFICIOSO
presbitério votar”14. Em 1864, passados dezesseis anos do Ato de Emancipação, de 44 certidões de individualidade registradas no Lamentin, 57%
concernem homens. Muitas das mulheres que não contraíam uniões legítimas, ou daquelas que não eram legitimadas pelo casamento de seus
pais, permaneceram sem patrônimos e adicionaram novos prenomes aos
antigos para conferir a si mesmas uma identidade no momento da declaração de nascimento de seus filhos. Por exemplo: Lorette Calixte, Adélaïde Antiphate ou, ainda, Cécile Germaine. O confronto com uma lógica
administrativa não pertinente em sua vida cotidiana as conduzia a “bricolar”, no sentido de Roger Bastide, uma identidade exigida pelas regras
de registro da população.
O direito à prova dos usos
Os modos de apropriação desse “direito comum”, saído do Ato de Emancipação e da elaboração de uma sociedade igualitária, foram múltiplos.
Segundo os atores, certos atos administrativos faziam sentido, na terminologia de Max Weber (1971[1956]:4), outros não. Se os antigos senhores, como os antigos libertos de cor, alforriados antes de 1848, circunscreviam parcialmente o termo em uma quadro legalista, mais ou menos rígido, os “novos libertos” delineavam, por suas reivindicações, notadamente nas situações de conflito, sua própria definição do direito. Nesse período de ajuste das relações sociais, duas concepções se defrontavam. Elas
retomavam, entretanto, as antigas linhas de fratura civis pois os emissários da República encorajavam a preeminência do direito positivo.
Direito pelo trabalho e virtudes cidadãs
Preocupados com a estabilidade social e econômica, os comissários
da República se esforçaram, de fato, em informar à população recentemente alforriada de seus direitos e deveres, em termos que tornassem essas duas noções equivalentes. Se eles confirmavam que os lavradores se
haviam tornado cidadãos franceses e, a esse título, tinham todos os direitos de que gozam estes últimos, tais direitos não eram especificados. Em
troca, seus deveres — dos quais “o primeiro e o mais santo de todos é o
trabalho” — eram longamente comentados. A figura do “bom cidadão”,
esboçada desde o início das campanhas abolicionistas (sobre este período, ver Debbasch 1977), é então consolidada. Ela remete a três valores
O OFICIAL E O OFICIOSO
congruentes com o contexto de moralização geral da sociedade francesa:
a “Família” — patriarcal —, a “Propriedade” e, sobretudo, o “Trabalho”,
cuja função curativa permitia à classe laboriosa merecer a liberdade.
A correlação entre liberdade e trabalho é estabelecida firmemente
desde a promulgação do decreto de Emancipação nas Antilhas Francesas. Dos 14 decretos publicados ao mesmo tempo que o da emancipação
geral, cinco referiam-se ao trabalho e à vadiagem. Os representantes do
Estado nas colônias martelavam sem descanso aos novos alforriados: “É
preciso clamar: Viva a França! Viva o trabalho!”, exclama Perrinon — o
que fazia com que os escravos comentassem: “ennique travail quica soti
dans bouche li”15. Em cada vila, eles passavam horas explicando a nova
legislação e as vantagens da profissão de lavrador, pois “a escravidão desonrou o trabalho nas colônias” e “é preciso apagar por todos os meios
possíveis o caráter degradante com que a servidão marcou a agricultura,
[e] as recompensas dadas aos melhores trabalhadores se juntarão ainda à
feliz influência da liberdade sobre os costumes”16.
Desde julho de 1848, todavia, produz-se um deslizamento conceitual.
A Emancipação pela Segunda República franqueva o acesso ao direito comum que compreendia um direito ao trabalho cuja concretização o Estado deveria assegurar, graças, por exemplo, à criação das Oficinas Nacionais, instituídos na metrópole em nome da fraternidade para solucionar o
problema do desemprego dos trabalhadores, mas imediatamente interpretadas nas Antilhas como uma nova medida de coerção. Rapidamente,
o direito ao trabalho vê-se substituído ao direito pelo trabalho (o segundo
termo dando acesso ao primeiro), que atinge em 1852 seu ponto de estrangulamento com uma resolução do Diretor do Interior que promulga,
nas colônias, o decreto napoleônico sobre o regime das cadernetas e a vadiagem (Bulletin Officiel de la Martinique, 9 de outubro de 1852)17.
O direito ao trabalho, dever do Estado diante do cidadão, rapidamente metamorfoseou-se, para o cidadão colonial recentemente alforriado, em dever de trabalhar. Sob a forma de “associações” que não eram
fourierianas senão nominalmente (Jennings 2000)18, antigos senhores e
antigos escravos se ligavam agora por contratos, favoráveis aos primeiros. Embora desde o mês de junho de 1848, Perrinon tenha redigido modelos de contrato de associações que se pretendiam eqüitativos19, esses
contratos foram repetidamente interpretados a favor dos proprietários,
notadamente nos casos de ausência não justificada do trabalhador. Se
Perrinon previa que “cada associado receberá uma parte proporcional ao
número de dias de trabalho que terá fornecido à sociedade”, Pierre Dessalles, por sua vez, inscreveu em seu contrato de associação que as faltas
265
266
O OFICIAL E O OFICIOSO
não consentidas deveriam ser pagas, em dinheiro, no dobro do valor de
uma jornada de trabalho. Além disso, as jornadas de trabalho são de nove horas; nos sábados, domingos e dias festivos, não se trabalha. O proprietário deve alocar uma roça e uma cabana a cada trabalhador (homem
e mulher) que esteja incluído no contrato da associação; o trabalhador
tem direito a um terço do produto bruto ou a metade do açucar, “entregue em espécie ao passo que é fabricado”20. O proprietário, por sua vez,
fornece as terras para a unidade produtiva, os edifícios para o beneficiamento do açucar, as cabanas dos trabalhadores, os utensílios e instrumentos agrícolas21. Sob sua responsabilidade estão os custos de assistência médica e remédios, assim como aqueles devidos a ferimentos incorridos durante a jornada de trabalho. Em 1848, cerca de 60% dos trabalhadores rurais da Martinica encontravam-se sob este tipo de contrato22.
Direito de propriedade e interdependência social
Malgrado as críticas circunstanciais, os antigos senhores estavam de
acordo com esta política, que defendia sua propriedade segundo o direito positivo. Todavia, sua relação com o direito continuava a ocultar laços
de interdependência (Elias 1985; 1991) fundados sobre modos de proximidade e familiaridade com seus “antigos escravos”23. Se eles constatavam que “o proprietário não é mais senhor em sua própria casa”, é porque “os lavradores percorrem seu estabelecimento, atravessam suas plantações, devastam suas canas, cantam, batem tambores, quando querem e
o quanto querem, sem preocupar-se com o repouso das pessoas; não se
pede nenhuma permissão” (Le Commercial, 1o de julho de 1848 — ênfases minhas). Os senhores utilizaram-se do direito positivo para manter
um quadro de dependência fundado sobre relações personalizadas. Segundo sua avaliação de seu interesse — material ou afetivo —, referiamse à nova legislação ou optavam por um quadro mais tradicional. De um
lado, Pierre Dessalles relata que “um de seus antigos escravos veio pedir-lhe que conseguisse um médico para sua esposa, e ele respondeu dizendo que não podia mais comprometer qualquer valor, por menor que
fosse, mas que — se os trabalhadores atuais quisessem garantir o pagamento da visita do médico — ele mandaria chamá-lo”, concluindo, “eles
querem conservar da escravidão o que lhes convém, e recusam todos os
encargos da liberdade” (de Frémont e Elisabeth 1984:14/6/1848). Quando dos conflitos, assim, os proprietáriosa afirmavam que nada deviam aos
antigos escravos, “nem cabana nem terra, e que esses não tinham nada a
O OFICIAL E O OFICIOSO
fazer senão retirarem-se das propriedades de seus antigos senhores” (de
Frémont e Elisabeth 1984:5/6/1848)24. De outro lado, anunciam, eventualmente, novas propostas. Dão “um boi e violões para que [os trabalhadores] pareçam satisfeitos (de Frémont e Elisabeth 1984:14/6/1848).
Mudam de idéia diante do choro das mulheres25. Reconsideram sua decisão se os trabalhadores vêm desculpar-se publicamente26.
Os laços de dependência manifestos nesses diferentes exemplos estavam articulados a um antigo sistema de dons e contra-dons, material e
simbólico. No Caribe das plantations, os escravos e os trabalhadores habituaram-se a receber de seus senhores cuidados e presentes. Para o Carnaval, “doei um carneiro e garrafas de vinho”, diz Pierre Dessalles; ou
ainda, por ocasião do batismo do filho de um senhor, “os escravos domésticos, a exemplos dos senhores, regozijaram-se, beberam, comeram e cantaram até as três da madrugada” (de Frémont e Elisabeth 1984:5/7/1837).
Reciprocamente, os contra-dons simbólicos dos escravos e dos novos alforriados são a cada vez anotados pelo senhor. Ao nascimento do filho
deste, “os negros se apressam a apresentar(-lhe) seus respeitos”. Em
1849, na manhã de 1º de janeiro, o senhor fez com que fossem tocados os
violões e timbales, enquanto “seus antigos escravos vinham um por um
lhe desejar feliz ano novo”. Ao longo de todo o período servil, a deferência e submissão foram trocadas por “generosidades” e “gentilezas”, segundo a escolha de uns e outros.
Era também habitual solicitar aos senhores o serviços de arbitrar conflitos interpessoais — como no caso de Nicaise, abandonado por Victorine, que foi por sua vez punida, açoitada e repreendida pelo senhor. Dívidas financeiras conservavam-se também ao longo do tempo, fundadas sobre uma dívida moral. Nicaise faz constar assim em seu testamento que
ele “doa e lega à Srta. Elmire Thomasine dois hectares de terra, comprados do M. Dessalles, pai, e 432 francos, que me são devidos por seus filhos. M. Dessalles terá o usufruto dessa terra e desta soma até que lhe
apraza remetê-los à mencionada Elmire Thomasine”. Saturnin, filho ilegítimo presumido de Pierre Dessalles, recebe como presente uma casa em
Gros-Morne, comprada por seu pai, que “se reserva o usufruto da mesma
(pois) Saturnin e sua esposa lá permanecerão com ele e ali estabelecerão
um pequeno comércio” (de Frémont e Elisabeth 1984: 27/12/1850).
Esses diferentes elementos organizados em sistema tornam inextrincáveis as relações entre “senhores” e “escravos”, ou entre “proprietários” e “novos alforriados”, relações incompreensíveis para um observador desprovido da memória da dependência, isto é, das dívidas, dos dons
e contradons, dos serviços prestados e dos “amores ilegítimos”, que exis-
267
268
O OFICIAL E O OFICIOSO
tiam entre os membros das sociedades coloniais. A Emancipação modifica pouca coisa nessas trocas.
Direito de uso e apropriação da liberdade
Esse espaço restrito das relações de dominação explica que os novos
alforriados oponham, ao direito objetivo descrito pelos comissários da República, um direito que se apóia nos hábitos de vida e nos costumes instaurados durante o período da escravidão27. Assim, se existe nos campos
uma reivindicação essencial, esta é a do propriedade das terras e cabanas alocadas aos escravos pelos senhores. Numerosos rumores circulavam a esse respeito, formando para os novos alforriados, como mostrou
Arlette Farge (1988), um quadro de expressão do político. Essas requisições — feitas de justiça e legitimidade, escutava-se nas plantações —
consistiam nas primeiras e mais imediatas demandas dos novos alforriados, sempre formulada em nome de seu próprio passado no estabelecimento: este justificava, a seus olhos, seu direito de propriedade sobre
uma terra que, segundo Pory-Papy, tinham regado com seu suor, ao mesmo tempo em que territorializava sua identidade28.
Quando da Emancipação, os novos alforriados refutaram firmemente o direito de propriedade positivo29. Em 23 de junho de 1848, conta Dessalles, “a negra Suzon declarou que incendiaria as cabanas se os negros
não se entendessem comigo, pois as cabanas não me pertenciam” (de
Frémont e Elisabeth 1984). Segundo eles, a liberdade permitia uma nova
gestão do trabalho e novas relações com os proprietários, que marcavam
que os limites da autoridade tradicional haviam sido alcançados. Exprimiam assim seu “senso de liberdade”30 na discussão dos contratos estabelecidos com o proprietário: tornavam-se agentes verdadeiros de sua liberdade na negociação de cláusulas que não aceitavam (Tomich 1995;
ver Scott 1994 sobre a situação em Cuba). Afirmavam-se como interlocutores em face do proprietário e adotavam formas coletivas de expressão
que eram percebidas como uma novidade. Se, durante todo o período da
escravidão, a divisão no seio do grupo de escravos é que era sublinhada,
após a Emancipação é a ação coletiva que passa a ser descrita, notadamente pelos proprietários: o conjunto da oficina chega atrasado, o conjunto das mulheres se recusa a trabalhar durante a noite nos períodos de
roulaison (pico), o conjunto da oficina opõe-se à expedição dos açúcares
de um estabelecimento, ou defende seu trabalho impedindo a chegada
de diaristas contratados pelo senhor para o corte da cana. Os escravos se
O OFICIAL E O OFICIOSO
transformavam então, nas relações administrativas assim como nos textos dos proprietários, em uma multidão inquieta e inquietante, refletindo
os temores que habitam todos os atores da cena colonial desde que seus
quadros de referência foram desarranjados: aos júris cantonais caberia
definir novos quadros.
Os júris cantonais, ou a falência da igualdade
Com o objetivo de, com efeito, reabsorver essas tensões e chegar a um
acordo mútuo entre proprietários e trabalhadores, Victor Shoelcher, presidente da Comissão de Abolição da Escravidão, preconizara a instituição de júris cantonais, que foi finalmente decretada pelo governo provisório em 27 de abril de 1848. “Nas colônias onde a escravidão é abolida
pelo decreto deste dia, será estabelecida em cada jurisdição um júri composto de seis membros, sediado, em audiência pública, na sede do cantão, presidido pelo juiz de paz” (Artigo 1º). Com base no modelo dos
prud’hommes* instituídos em 28 de março de 1806, em Lyon, para resolver as pequenas diferenças que apareciam cotidianamente na indústria
da seda, os júris cantonais reuniam, em bases paritárias31, “os cidadãos
que possuem ou exercem uma indústria e os trabalhadores industriais ou
agrícolas”. Eles eram designados por sorteio entre os homens inscritos
nas listas eleitorais que satisfizessem os critérios de idade, nacionalidade
e residência, e tinham a obrigação de reunir-se duas vezes por semana,
recebendo um honorário de 2 francos por cada dia de sessão.
Os júris cantonais possuíam uma dupla atribuição, já que tinham
competência em matéria civil sobre todas as contestações sobre a execução dos acordos (Artigo 5) e, em matéria penal, sobre “todo fato que tenda a perturbar a ordem e o trabalho nos ateliês, canteiros, ou lojas, todas
as faltas graves dos proprietários ou chefes de indústria e dos operários
ou trabalhadores uns em relação aos outros” (Artigo 7)32. Orgão de gestão de conflitos cotidianos, essa instituição tinha por objetivo resolver os
antagonismos pela conciliação, no seio de uma instância local, mais acessível a atores sociais pouco habituados ao direito positivo e frequentemente incapazes de se exprimir em francês. Acolhendo as queixas de uns
e outros, os júris cantonais procediam de uma justiça da oralidade33, cu-
* Magistrado eleito para um tribunal especializado, dito Conseil de Prud’hommes, para decidir sobre litígios derivados do contrato de trabalho [N.T.]
269
270
O OFICIAL E O OFICIOSO
jos traços não foram conservados senão nos relatórios administrativos e
em menções pessoais de proprietários.
Era ainda necessário que, no plano jurídico, os trabalhadores fossem
autorizados a manifestar seu desacordo quando o artigo 1781 do Código
Civil precisava ainda que “as afirmações do senhor devem ser acreditadas sob palavra34. Em uma sociedade marcada por relações de servidão,
o termo de “senhor” tinha ressonâncias mais fortes que na metrópole, e
ficou claro para o governo, que exaltava a igualdade, a fusão e o esquecimento do passado, que ele não podia ser conservado: em nome da escravidão, ele é ab-rogado do Artigo 6 do decreto que instituía os júris
cantonais — mas apenas nas colônias, que passavam assim a constituir
exceção no conjunto francês. Na metrópole, com efeito, esse artigo se
manteve, a despeito de repúdios como o do jornal de Charles Fourier,
L’Atelier. Organe spécial de la classe laborieuse. Enquanto o legislador
republicano, mais tarde imperial, esforçava-se para incluir os novos alforriados no direito comum, trabalhadores e serviçais viam-se dele excluídos, e com o apoio de certos deputados coloniais. Em 1850, Bissette
da Martinica, antigo homem de cor condenado ao ferrete e à deportação
em 1823, e Henri Wallon, Secretário da Comissão de Abolição da Escravidão35, recusam-se a votar por sua revogação.
Situados na linha dos juízes de paz — juízes conciliadores encarregados, desde o século XVIII36, de encerrar, por meio da mediação, os litígios entre particulares — a competência dos júris cantonais para determinar as sentenças era limitada: as penalidades não podiam ultrapassar,
nas ações civis, os 300F, e, nas ações penais, de 500 a 1000F, ou mesmo
3000F; para além desses valores, as instâncias superiores eram chamadas
a decidir.
Nos textos, a criação dessa instância estatal consagrava um lugar
privilegiado de expressão de tensões37, um espaço de “liberdade positiva” (Cottereau 1992:244). O Estado organizava um quadro de confiança
para sujeitos que eram assim solicitados a regrar por meio dele seus conflitos cotidianos, sujeitos estes que estavam acostumados à vontade do
senhor e à sua exigência de obediência cega e passiva. Para o Governo
Provisório, as questões em jogo eram, com efeito, numerosas. De um lado, tratava-se de controlar os sentimentos da população: de lutar contra a
desconfiança face à autoridade, de sufocar as paixões mútuas de proprietários e trabalhadores, de “esvaziar o mais frequentemente irrupções de
suscetibilidade e de amor-próprio que podiam emergir à simples lembrança da qualidade de antigo mestre ou escravo”, de trasmutar a experiência social dessas populações instaurando um “grande tribunal de fa-
O OFICIAL E O OFICIOSO
mília”. De outro lado, era necessário manter, a qualquer preço, o equilíbrio econômico, regulamentando o trabalho. Percorrendo, por vezes, mais
de 16km a pé, os lavradores chamados a participar dos júris cumpriam
sua função gravemente, com uma assiduidade que devia calar todas as
calúnias levantadas a seu respeito — relatam os juízes de paz em 1848
(Gazette officielle de la Guadaloupe, 51 e 52, 15 e 20 de setembro de
1848). Quanto aos proprietários, as autoridades municipais os designavam, o mais das vezes, dentre os mais influentes de sua classe, falseando
assim as regras de eqüidade.
As ações civis, ou as aspirações dos novos alforriados
Formalmente, a nova ordem igualitarista proporcionava aos indivíduos a possibilidade de constituir seus interesses individuais e coletivos,
e de fazer com que fossem reconhecidos como tais (Garcia 1989:164), sobretudo em matéria civil. Tratando dos litígios trabalhistas, esses casos
exprimiam, em negativo, as recriminações dos proprietários e as aspirações das populações recentemente alforriadas, as quais se colocaram majoritariamente na posição de reclamante desde a instauração dos júris
cantonais. No curso do primeiro ano de existência civil, em Trinidad, eles
apresentaram queixa em 57% dos casos; depois, entre 1848 e 1850, em
60% dos casos registrados em Trinidad, 70% em Fort-de-Saint-Pierre e
61,5% no Mouillage (Adélaïde-Merlande 1973:50). No total, em cinco dos
oito cantões da Martinica, as demandas emanaram principalmente dos
trabalhadores38.
As demandas dos trabalhadores remetiam a sua experiência social
do trabalho e às modificações que esperavam39. Em Trinidad, 76% delas
referem-se a demandas salariais e, em outros cantões, ao usufruto da cabana e das roças que permitiria, a seus olhos, romper a relação de subordinação ao antigo senhor. Nas audiências, eles vêm portanto reivindicar,
em geral em grupo, essa regulação das relações sociais como um elemento essencial para seu estatuto de cidadãos livres40.
A noção de “confiança” e seu contrário, a “desconfiança”, explicam,
por si mesmas, a maior parte dos casos julgados por iniciativa dos lavradores. O sistema de associação, que tinha a preferência tanto do Governo Provisório como (após alguma hesitação) dos proprietários, obrigava à
manutenção de relações organizadas ao modo do tempo da escravidão.
Fora da eleição de um conselho de prud’hommes para servirem de intermediários entre o proprietário e os trabalhadores e (eventualmente) a as-
271
272
O OFICIAL E O OFICIOSO
sinatura conjunta de um contrato diante do tabelião, o processo de trabalho não só permanecia o mesmo como, além disso, não garantia a propriedade da cabana e das roças tradicionais. Ora, indagavam-se os trabalhadores diante dos tribunais, como acreditar em uma partilha equitativa e garantida dos produtos em um terço ou um quarto, quando a relação de troca parecia tão desigual, e quando a economia de subsistência
elaborada durante a escravidão via-se ameaçada pelo direito de propriedade dos antigos senhores? As colheitas de mandioca ou de bananas,
plantadas antes da Abolição, ou antes da assinatura dos contratos de associação, eram reclamadas pelos lavradores. Discussões derrisórias, mas
simbolicamente significativas, eternizavam-se para saber se os frutos
pendentes nas árvores pertenciam aos senhores ou aos novos alforriados41, enquanto outros tinham de decidir se um trabalhador casado podia
receber a esposa em sua cabana quando esta não participava do contrato
de associação feito com o senhor…
Diante das aspirações sociais dos novos alforriados, os proprietários,
por sua vez, vinham buscar a confirmação, em matéria civil, de seu direito de propriedade e de sua posição de autoridade nesse novo quadro jurídico. Denunciando o abandono do trabalho pelos trabalhadores (36%
das queixas), ou a má execução dos contratos (27%), eles demandavam
sua expulsão em 50% das ações. Não parece que o tribunal tenha exigido deles precisar as queixas trazidas sem a apresentação de provas — ao
contrário daquela levantada contra Bastienne, que é repreendido por “ter
perdido 33 dias de trabalho de um total de 56”42. Na maioria das vezes,
as queixas dos proprietários resultavam de uma longa história em que os
trabalhadores haviam tentado se fazer ouvir. Em 5 de maio de 1849, La
Disette e outros lavradores de Pierre Dessalles são julgados por “abandono do trabalho”, mas a descrição do conflito pelo proprietário revela uma
algo muito diferente. Havia semanas, os lavradores estavam descontentes com o preço que lhes havia sido pago pelo açúcar, aspiravam a uma
partilha das terras (que deveria ser feita por intermédio de Bisette) e, enfim, desejavam a confirmação da propriedade de suas cabanas. Frente a
isso, o proprietário se queixa continuamente da lentidão do trabalho, mas
sublinha, no dia seguinte à violenta altercação que provoca a intimação
da oficina, que “os negros de apresentaram ao trabalho”43: a acusação
levantada junto ao júri cantonal era portanto falsa. Resumir assim o conflito permitia, em troca, atingir dois objetivos: de um lado, ser escutado
pelos juízes de paz encarregados pelo governo de garantir a estabilidade
econômica; de outro, reestabelecer sua relação de autoridade, obrigando
os novos alforriados a aceitar as condições de vida e de trabalho.
O OFICIAL E O OFICIOSO
As ações penais, ou a preservação da dependência
As ações penais ilustram ainda mais claramente essa utilização do
direito. Elas reúnem todos os conflitos que ameaçavam diretamente a relação de autoridade e podiam engendrar o que era considerado como desorganização social. Definido pelo artigo 7 do decreto, tratavam-se de disputas, de falta de respeito, de desobediência, de palavras grosseiras, de
injúrias verbais e outros fatos da mesma natureza44. Sob esta rubrica, são
julgados, na Martinica, 61 casos entre 1848 e 1850, todos sob demanda
dos proprietários representados pelo Ministério Público; um na Guiana;
em Cayenne, nos primeiros meses de 1848; e nenhum em Guadalupe.
Como em matéria civil, as queixas dos senhores repousavam sobre
histórias longas que, na maioria, eram resumidas diante do júri sob a forma da acusação de “faltas graves” e “insultos”. A banalidade dos fatos
reprovados pode causar surpresa, uma vez que a violência da servidão
fora sempre acompanhada de expressões brutais de desconsideração de
todos os indivíduos (das quais apenas os termos mais aceitáveis foram
transcritos nos textos) que, segundo os relatórios administrativos, muito
marcaram a memória dos novos libertos: “Notei principalmente, entre os
novos alforriados, o esquecimento dos golpes e do rigor do regime que
lhes era precedentemente aplicado, mas a lembrança viva e completa
das injúrias que receberam e das injustiças de que foram vítima”45.
Se os escravos/novos alforriados eram tratados de “imbecis” ou “negros” (o que equivalia a tratá-los de escravos), os senhores/proprietários,
por sua vez, eram ditos “ladrões” e “assassinos”. A “insolência” denunciada pelo senhor durante a escravidão continua a caracterizar a manifestação das idéias, opiniões, desejos, e mesmo de oposição da parte dos
lavradores, mas as modalidades de afirmação da hieraquia social haviam
mudado. Com a Emancipação, a palavra do alforriado era formalmente
posta em pé de igualdade com a do senhor. Enquanto que, durante a escravidão, o senhor detinha os meios de soterrar qualquer contestação,
por menor que fosse (pois “eu sou o senhor”, escreve Dessalles em 1º de
janeiro de 1839), pelo chicote ou pela estaca46, depois da Emancipação
as desavenças deveriam ser mediadas pela lei.
A convocação perante o júri cantonal era pois consequência de um
longo processo de disputa que tinha as mesmas razões que os conflitos
julgados em matéria civil: propriedade das terras e cabanas, tamanho das
roças, partilha do açúcar. Todavia, um outro elemento misturava-se aqui:
o da verbalização da contestação da autoridade. A recusa de um tesoureiro que não conviesse a uma oficina, de práticas que evocavam a es-
273
274
O OFICIAL E O OFICIOSO
cravidão47 ou de ordens judiciais consideradas excessivas, beirava a revolta aos olhos dos proprietáros, e se exprimia em “gritos e afirmações
injuriosas”, em ameaças “de puxar a faca”, em cenas paroxísticas em que
trabalhadores parodiavam os castigos pela chibata… Era esse questionamento extremo de seu poder que os proprietários levavam à arbitragem
do júri. Os atores do conflito tinham também sua importância. Duas categorias de trabalhadores se destacam. Elas reagrupavam aqueles que, tendo já feito balançar as compartimentações sociais da dependência, logravam obter acesso à palavra.
As mulheres foram chamadas a comparecer em número considerável. Constituindo entre a metade e dois terços das oficinas, formaram 35%
dos indivíduos citados por proprietários com os quais mantinham relações particulares. No estabelecimento de Pierre Dessalles, chamavam-se
Man, Josephine ou Bastienne, e ocupavam uma posição privilegiada nas
relações de intermediação entre o grupo dos senhores/proprietários e o
dos trabalhadores. Joséphine era conhecida por suas repetidas insolências, ao ponto de o senhor considerá-la louca, e Man participava das estratégias sexuais desenvolvidas por certas mulheres para encontrar uma
solução pessoal para os males da escravidão (Cottias 2001). Durante algum tempo, ela viveu com o antigo tesoureiro e tirava vantagens disso
publicamente48: a dependência tinha uma dimensão sexual. Em uma ordem colonial onde o estatuto civil e “racial” determinava os direitos e deveres de cada um, a utilização da sexualidade dava às mulheres a possibilidade de transgredir esta ordem, permitindo-lhes sobretudo exprimirse com maior liberdade.
O acesso à palavra, aos insultos, às “faltas” e às ameaças era facilitado para uma segunda categoria de trabalhadores: o dos operários especializados ou os representantes dos prud’hommes do estabelecimento.
A história de Césaire é, a esse respeito, instrutiva. Nascido no estabelecimento, teve sempre a confiança do senhor durante o período da escravidão, fosse no plano do trabalho, fosse como intermediário entre os senhores e as mulheres escravas, e essa posição privilegiada o conduziu à representante dos trabalhadores enquanto prud’homme do estabelecimento. Casou-se em 11 de janeiro de 1840, com mulher de boa reputação.
Desde a emancipação, porém, viu-se a frente do movimento reivindicatório que o conduzirá ao júri cantonal por duas vezes. Em 9 de outubro de
1848, em particular, é ele que, após ter discutido o tamanho das roças,
após ter se oposto a que as ausências dos trabalhadores fossem registradas, e após pedir a saída do tesoureiro, incentiva os trabalhadores à paralisação. É por isso condenado a uma multa de 40 francos.
O OFICIAL E O OFICIOSO
Diante dos júris cantonais, pois, duas práticas e duas lógicas se defrontavam. Para os trabalhadores, tratava-se de fazer ouvir suas aspirações e portanto de reclamar a igualdade; já os senhores, dirigiam-se a essa instância para reestabelecer uma relação de força favorável e, assim,
manter a dependência dos novos alforriados.
“Os trabalhadores sempre estarão errados, os proprietários sempre
certos”: a força do preconceito
Um ano após a criação dos júris cantonais, os relatórios dos magistrados encarregados de sua inspeção, na Martinica49 (em 28 de maio de
1849) e na Guiana, insistem sobre o mal funcionamento da instituição.
Sublinham que as listas eleitorais são constituídas sobre bases não rigorosas: são desatualizadas e frequentemente não trazem o patrônimo dos
novos alforriados, e nem mesmo são exatas quanto à profissão dos cidadãos. Na maior parte dos burgos, não há pois senão uma única urna, reunindo as duas categorias de cidadãos chamadas a participar, às vezes
aberta aos quatro ventos e suscitando fraudes. As notificações administrativas de convocação aos tribunais tampouco chegam aos interessados
e, além disso, “o tribunal é arbitrariamente composto e não oferece nenhuma garantia de imparcialidade”50. Em Trinidad, nenhuma sessão respeita as regras de paridade social, durante todo o período. Geralmente,
há mais proprietários que lavradores no júri, e, comparados aos primeiros, estes últimos são mais tímidos ao tomar a palavra — em crioulo, que
é traduzido para o juiz de paz pelos proprietários ou artesãos. Não havia
como esquecer a desigualdade social.
As condenações marcavam, por sua vez, os limites da transformação
do espaço social e a conservação de um preconceito de ordem “racial”.
Aos senhores, estava associada a “civilização”; aos escravos, o obscurantismo. Mesmo sendo esse atraso atribuído, pelos abolicionistas, ao sistema
da escravidão, não era menos verdade, segundo eles próprios, ser necessário conter e controlar as pulsões das populações chamadas à Liberdade.
Não dizia Perrinon “que a autoridade deve lhes explicar a lei e fazer com
que a obedeçam, a fim de proteger a liberdade de todos; que, ao cabo de
uma transformação social tão profunda como esta, ela não poderia abandonar os proprietários à sorte da ação civil que todo cidadão pode iniciar”51? A despeito do igualitarismo republicano, o acesso deles ao direito
devia ser controlado, e a capacidade dos trabalhadores de apreciação de
seu “legítimo direito” não lhes era reconhecida pelos agentes do Estado.
275
276
O OFICIAL E O OFICIOSO
Em nome da propriedade e do equilíbrio, os republicanos preservaram a hierarquia social das colônias. Mais de um terço das demandas dos
lavradores é rejeitado, o que não ocorre com nenhuma das demandas dos
proprietários. Em matéria civil, as demandas salariais não são nunca atendidas, enquanto que, em matéria penal, todas as demandas de despejo o
são. Singularmente, a conciliação é obtida uma única vez. 29% dos proprietários são condenados a multas que vão de 95 centavos a 99F05; no
caso dos lavradores, elas vão de 8 francos (para uma só pessoa) a 13 mil
francos (para todo uma oficin a). Como a jornada de trabalho era estimada em 1 franco para os adultos e 50 centavos para as crianças, essas penalizações eram inaplicáveis e provocavam, segundo os relatórios, o desaparecimento dos condenados nos campos da Martinica. É preciso entretanto notar que, uma vez confirmada sua posição de autoridade pelos
júris cantonais, as relações entre senhores e trabalhadores continuava
sob o modo anterior. Algum tempo após sua condenação, os trabalhadores de Pierre Dessalles pedem para retornar à associação, o que ele sempre aceita. No máximo, o senhor concedia-lhes um dia de descanso e esperava que os trabalhadores se arrependessem. A vida normativa retomava seu passo.
Em tal situação, apenas o sentimento de injustiça — da impossibilidade em aceder aos meios para fazer reconhecer suas expectativas — dominava, provocando acessos impotentes de raiva, como o de um lavrador
que, participando do júri de Fort-de-France, exclama em plena sessão:
“os trabalhadores estarão sempre errados, os proprietários sempre certos!”. Devido a essa desconfiança dos novos alforriados, que foi se gestando pouco a pouco, a transformação do espaço social se fez acompanhar de lutas sem ressonância nos júris cantonais. Entre o segundo semestre de 1848 e o quarto semestre de 1850, 348 julgamentos são realizados na Martinica (para uma população de 122 mil pessoas, das quais,
em 1847, 60% eram escravos). Esse número caiu até chegar a zero em
1850. 65,8% dos casos foram julgados no decorrer do primeiro ano de regime civil (ver também Adélaïde-Merlande 1973). Os administradores
concluem disso que “as relações entre os proprietários dão ensejo apenas a raras contestações. Essas, quando surgem, são o mais das vezes reguladas pela intermediação oficiosa de influências salutares”52.
Os júris cantonais não lograram alterar senão furtiva e marginalmente a gramática da dependência. Esta evoluiu, do ponto de vista econômico, devido aos “desvios” — para retomar a noção de Edouard Glissant —
utilizados pela população alforriada dos campos. Sob pressão de constantes contestações, os proprietários, calculando na base do mal menor,
O OFICIAL E O OFICIOSO
assinam contrados de meação com alguns de seus trabalhadores. Na
plantação de Pierre Dessalles, Césaire é o primeiro — juntamente com
La Disette, ambos comissários dos trabalhadores — a tornar-se meeiro.
Por meio de um ato assinado em cartório, Césaire passa a possuir 2 hectares, que trabalha com sua esposa. Um ano depois, o número de meeiros decuplicou-se. Essa forma econômica, por mais satisfatória que fosse
quanto à posse da terra, mantinha contudo, sob o ângulo inter-individual,
a memória da dependência entre antigos senhores e escravos. O espaço
público era finalmente reduzido às antigas relações de sujeição. Entre
1848 e 1850, assiste-se, com efeito, ao fracasso da reconversão das relações de dominação por meio do exercício da legalidade em uma instância de proximidade, gerando uma desconfiança tenaz perante a Lei e uma
incredulidade permanente frente ao Direito. Com efeito, o distanciamento e mediação entre o estabelecimento e a esfera pública por agentes neutros não foi realizável no seio dos júris cantonais: as reivindicações dos
novos alforriados não apenas eram rejeitadas, mas também tornadas ilegítimas pelos representantes do Estado. Os “novos alforriados” eram devolvidos à condição de “antigos escravos”53, e era contra esta vergonha
que protestava a Rebelde de Aimé Césaire.
Recebido em 5 de agosto de 2003
Aceito em 26 de junho de 2004
Tradução: Marcela Coelho de Souza
Myriam Cottias é pesquisadora do CNRS e professora do Centre de Recherches sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe, Université des Antilles et de
la Guyane.
277
278
O OFICIAL E O OFICIOSO
Notas
Promulgada em 23 de maio para a Martinica, em 27 de maio para Guadalupe, e em 10 de agosto para a Guiana Francesa, após o levante nas oficinas de
escravos martinicanos.
1
2 O direito comum era aplicado ao conjunto das colônias francesas. Este artigo, entretanto, aborda mais particularmente, na análise os modos de apropriação
do direito e as relações interindividuais complexas, o caso da Martinica, a propósito do qual a documentação conservada nos Archives Nationales e os testemunhos publicados são inegavelmente mais numerosos, e, na verdade, únicos, comparados aos das demais colônias da região.
3 É interessante notar que “em 28 de março de 1848, o governo provisório da
República promulga um decreto autorizando temporariamente o ministro da Justiça a conceder a naturalização a todos os estrangeiros que residem na França há pelo menos cinco anos” (Weil 2002:44). Ver, igualmente, Ministère des Finances 1942.
A cidadania francesa compreendia, de um lado, a condição de nacionalidade, e, de outro, o exercício dos direitos de cidadania dos indivíduos. Não há pois
debate sobre a nacionalidade dos antigos escravos (Girollet 2000).
4
5 Reciprocamente, a cidadania francesa é incompatível com a posse de escravos: “é interdito a todo francês a posse, a compra ou a venda de escravos, bem como a participação, seja direta, seja indireta, em qualquer atividade de tráfico ou
exploração desse gênero. Toda infração a essas disposições acarretará a perda da
qualidade de francês”, precisa o decreto de abolição da escravidão. A equivalência
entre liberdade, de um lado, nacionalidade e cidadania, de outro, era pois tornada
imediatamente efetiva e executória (Artigo 8 do decreto relativo à abolição da escravidão e à organização da liberdade, Bulletin Officiel de la Martinique, 1848).
6 Os dados para a Guiana e Guadalupe, que permitiriam estabelecer um resultado comparável, parecem inexistir.
“De resto, seria indispensável fazer com que os funcionários do estado-civil procedessem a um registro geral da população emancipada, tomando como
ponto de partida os registros-matrícula existentes, e conferindo nomes aos indivíduos e famílias como se fez até hoje no sistema de alforria parcial, de acordo com
uma ordem de 29 de abril de 1836” (Circular ministerial de 7 de maio de 1848).
7
8 A atribuição de um nome permitia também o acesso a um estado civil outrora reservado apenas aos indivíduos livres. Se houve debates para saber se as
certidões de estado civil deveriam ser entregues individualmente ou por família,
aceitou-se sem maior discussão que essas certidões fossem pagas em benefício
dos funcionários municipais
O OFICIAL E O OFICIOSO
9
O custo de 2F50, inicialmente previsto, foi anulado.
10
Sessão do Conselho Privado, 15 de junho de 1848.
11 Gérard Noiriel (1993:14) descreve o mesmo processo entre as classes populares na Alsácia-Lorena e entre os judeus; ver também um belo texto de Priska
Degras (1995:75).
Despacho ministerial: “Aprovação do modo seguido na Martinica para
concessão de nomes patronímicos: instruções para a confecção desses documentos em tripla expedição”. Paris, 29 de maio de 1858.
12
13 “Artigo 1: Será emitida uma certidão especial para constatar, por meio da
adição de nomes patronímicos, a individualidade de cada novo cidadão, sem exceção de idade, sexo ou parentesco. […]. Artigo 2: […] Ao mesmo tempo que os
novos cidadãos receberão os extratos a eles concernentes, ser-lhes-á concedido
sem custos um exemplar do decreto de 28 de abril de 1848, referente à abolição
da escravidão”.
14
Archives Nationales, Section d’Outre-Mer (ANSOM), Carton 165, Dossier
1518.
15
“Ele só fala de trabalho”.
16
5o decreto acompanhando o decreto de Emancipação geral.
17 O texto é completado em 20 de maio de 1854 por uma resolução do Governador da Martinica, o Conde de Gueydon.
18 Ver a discussão da concepção de associação por Louis Blanc em L’Atelier.
Organe Spécial de la Classe Laborieuse, outubro de 1847 e, sobretudo, o contrato
de associação operária publicado no mesmo volume, cujos termos afastam-se
grandemente do modelo proposto por Perrinon.
19 “Eu fui em geral compreendido, as convenções foram imediatamente feitas na base de um modelo de contrato de associação que eu pudera estabelecer
para disseminar na colônia […]. Até o presente, é a associação assim regulamentada que prevalesce em todas as explorações açucareiras, e se prefere a partilha
na base de um terço do bruto sobre aquela na base da metade do líquido […]. A
associação tem todas as minhas simpatias: é por esta via, fecunda em resultados
generosos, que espero obter o aperfeiçoamento dos trabalhos agrícolas, o incremento dos produtos, o desenvolvimento das inteligências pela emulação. Regrada
pelo modelo de contrato que adotei, a associação atende convenientemente aos
dois interesses implicados; ela é em tudo preferível ao salário, cujo pagamento
seria ademais impossível nas presentes condições financeiras da colônia […]”
(Carta de Perrinon ao ministro da Marinha e das Colônias, Macouba, 10 de Julho
de 1848; ANSOM Carton 46, Dossier 464).
279
280
O OFICIAL E O OFICIOSO
Artigo 14 do contrato da associação de Nouvelle Cité (de Frémont e Elisabeth, 1984:341).
20
21 Artigo 2 do contrato da associação de Nouvelle Cité (de Frémont e Elisabeth, 1984:340).
22
Balanço das viagens de Perrinon… (Tomich 1995).
Sobre essas questões, ver, entre outros, o importante trabalho de Sigaud
(1996), que mostra como as relações de interdependência conservaram-se nas
configurações do séc. XX.
23
24 Ou ainda: “todo lavrador que não tenha chegado a um acordo com o proprietário, deve abandonar a propriedade quando lhe for assim indicado” (Le Commercial, 1o de julho de 1848).
“Duas negras, às quais Louis Littée ordenara retirarem-se do estabelecimento, vieram me procurar e choraram tanto que fiz a besteira de atendê-las” (de
Frémont e Elisabeth 1984:25/7/1848).
25
26 “Os oito trabalhadores que eu despejaria hoje vieram reconhecer seus erros e pedir para fazer parte da Associação; eu perdoei tudo” (de Frémont e Elisabeth 1984:29/7/1848).
“O negro, habituado a dispor de sua cabana e sua roça, via estes quase
como sua propriedade. Graças a esses hábitos, as oficinas não debandavam, os
negros permaneciam em seus estabelecimentos” (L’Atelier, 313).
27
28 “Fiz uma observação essencial, a saber, a de que os novos cidadãos apegam-se quase sempre ao lugar onde nasceram, e de que, por causa desse sentimento, emigrações e mudanças de profissão são casos excepcionais. Existiam geralmente nos trabalhadores pretensões muito fortes à posse das cabanas e das roças. Persuadidos de seu direito de propriedade, recusavam-se a abandonar os lugares a que estavam habituados, e acreditavam poder continuar usufruindo deles
sem ser obrigados a estabelecer um arranjo com o verdadeiro proprietário. Esses
amores pela cabana e pelo solo de costume cria aqui um contraste singular com o
que ocorre nas colônias inglesas, quando da emancipação. Ao contrário dos lavradores ingleses, os nossos não estão nada dispostos a desertar do campo e afluir
às cidades; em geral, resistem a deixar o estabelecimento onde estavam precedentemente empregados” (Perrinon, 10 de julho de 1848, ANSOM, Carton 46,
Dossier 464).
29 Curiosamente, a reflexão abolicionista tinha já deixado entrever possíveis
correções ao direito positivo, pela via da noção de “reparação” devida a título de
retratação pela escravidão, nas palavras de Arago. Em nome da humanidade e da
moral, a propriedade fora questionada, notadamente por Victor Schoelcher em
1834, Bissette “pela reparação da violência física e moral que ele exercera contra
O OFICIAL E O OFICIOSO
ele”; não se tratava mais de uma indenização “repartida igualmente entre colonos desapossados de seus escravos e os próprios escravos”, segundo a proposição
de Victor Schoelcher (subsecretário de Estado e presidente da Commission
d’abolition de l’esclavage) em 1848 (ver Girollet 2000:270-271).
Sobre a lei de 1846: em 22 de agosto de 1846, o relator do projeto de decreto
concernente aos terrenos a serem concedidos aos escravos faz a leitura de seu relatório:
Artigo 1º: A obrigação imposta aos senhores de colocar à disposição de seus
escravos terras apropriadas à lavoura entrará em vigor a partir da promulgação
do presente decreto, conforme às disposições seguintes.
Artigo 2: Estão excluídos do direito à distribuição de terras apenas os escravos que constam nos censos como domésticos, empregados nas aldeias e burgos,
ou alocados à navegação ou atividades não-agrícolas.
Artigo 3: O terreno cujo usufruto será concedido ao escravo deverá ser apropriado para a agricultura e possuir uma extensão de, no mínimo,
• nos estabelecimentos açucareiros, 6 ares
• nos estabelecimentos cafeicultoras e dedicadas à cultura de gêneros alimentícios, 4 ares
• nos estabelecimentos dedicados à produção de víveres, 3 ares
Todo escravo, maior de 14 anos, terá direito a esta extensão de terreno, sem
que o senhor possa deduzir dela o que terá dado a outros escravos que sejam parte da mesma família; essa quantidade deve ser aumentada em um quinto para cada criança com mais de quatro anos.
A expressão serviu de título a um livro sobre essas questões (McGlynn e
Drescher 1992).
30
31
O que foi obtido na metrópole apenas em 1848 (Baffos 1908).
32 Em Guadalupe, o procurador-geral propõe, em 10 de agosto de 1848, “estender a competência do júri cantonal em matéria penal, confiando-lhe, de um lado, a repressão da vadiagem […]; de outro, todas as contravenções possíveis, até as
penalidades máximas […]. A outra modificação proposta pelo mesmo magistrado
consistia em substituir, como punição nos casos de condenação por vadiagem e perturbação da ordem ou do trabalho, a multa pela condenação ao ateliê disciplinar”
(Commission coloniale, “Première note sur les jurys cantonaux”, janeiro de 1849.
33 Os júris cantonais tratavam, com efeito, de acordos feitos oralmente assim
como daqueles estabelecidos por escrito. Para uma análise precisa dessa questão,
ver os trabalhos de Scott (1994) e, especialmente, Scott e Zeuske (2002).
“[…] quanto à quota dos penhores, quanto ao pagamento dos salários do
ano transcorrido, e quanto aos adiantamentos para o ano corrente”. Este artigo foi
revogado na metrópole pela lei de 2 de agosto de 1868.
34
35 Na ilha da Reunião, não foram instituídos júris cantonais e, na sessão de
17 de outubro de 1848, o procurador-geral exprime o lamento de que o artigo 1781
281
282
O OFICIAL E O OFICIOSO
do Código Civil tenha sido suprimido, pois “essa supressão pareceu-lhe injusta
para os colonos” (Commission Coloniale, “Deuxième note sur les jurys cantonaux”, novembro de 1849).
36 Ver a ordem de MM. Les général et intendant, sobre a resolução da assembléia geral concernente ao estabelecimento das municipalidades, de 19 de
dezembro de 1789; a carta de S.E. o Governador interino da Martinica, a um comissário civil de paróquia sobre os assuntos religiosos, de 22 de agosto de 1811; e
a lei sobre o regime legislativo das colônias, de 24 de abril de 1833.
37
Sobre questões similares no contexto argentino, ver Fradkin 1999.
38 Em Saint-Esprit, no Marin e nas Anses d’Arlets, foram os proprietários os
autores das ações (Rapport du magistrat délégué à l’inspection des jurys cantonaux de la Martinique, 28 de maio de 1849).
Um pequeno número de conflitos pessoais é, em Trinidad, levado a julgamento. Eliza, lavradora em Saint-Marie, reclama a usurpação de sua cabana pelo
Compadre Taillis, também lavrador. Um grupo de lavradores se queixa de Placide, Laguerre e outros por não cumprirem as cláusulas do contrato e os acionam
por perdas e danos.
39
40 “Minha viagem do dia 18 forneceu-me a prova do prestígio de que goza o
salário aos olhos do trabalhador; com essa modalidade, nenhuma incerteza, nenhuma discussão, nenhuma má-vontade; o objetivo é concreto, basta algumas horas para alcançá-lo, a boa vontade de todos os dias é estimulada por esta potente
isca. Uma preferência extremamente marcada existe por esta modalidade em face da associação, cujos resultados são mais distantes, menos determinados, menos concretos para a imaginação e, ainda que mais vantajosos, suscitam menos
confiança aos novos alforriados” (Carta de Perrinon ao ministro da Marinha e das
Colônias, Fort-de-France, 19 de agosto de 1848; ANSOM, Carton 46, Dossier 464).
“O direito de propriedade sobre os frutos e colheitas pendentes nos ramos
e raízes adquiridos dos alforriados em virtude do artigo 2º. (‘os proprietários não
poderão privar os alforriados dos frutos e colheitas’) do decreto de 27 de abril sobre a repressão da vadiagem e da mendicância deve ser limitado aos frutos que
tiverem brotado antes do Ato de Emancipação, e não deve ser perpetuado e estendido às novas plantações. As razões dessa decisão derivam do caráter puramente transitório da disposição pré-citada, e das consequências funestas que acarretaria para a agricultura e a livre disposição das terras, a permissão concedida
aos trabalhadores de retornar indefinidamente aos estabelecimentos que teriam
deixado ou dos quais teriam sido expelidos para colher ou cultivar os produtos de
suas antigas roças” (“Première note sur les jurys cantonaux”, 31 de janeiro de
1849. Ver também Adélaïde-Merlande 1973).
41
42
Caso julgado em 19 de maio de 1849.
O OFICIAL E O OFICIOSO
O ateliê não comparece ao trabalho apenas dois dias após o julgamento e,
a despeito disso, o proprietário lhes pagou “a jornada que lhes era devida”…
43
44 Rapport du magistrat délégué à l’inspection des jurys cantonaux de la Martinique, 28 de maio de 1849, p. 83.
45
Viagem do comissário às comunas do norte, 25 de julho de 1848.
Do diário de P. Dessalles (de Frémont e Elisabeth 1984): “Avinet deu uma
de insolente e rebelde esta manhã; fiz com que lhe aplicassem a chibata”
(29/11/1839); “Josephine deu uma de insolente; queria deixar o trabalho mais cedo. Mandei prendê-la nas três estacas” (15/03/1840). “Césaire foi insolente e entreteve más intenções, mandei lhe darem alguns golpes de chibata (02/031841).
46
47 Em todos os estabelecimentos da Martinica, relata Perrinon, “pecava-se
na assiduidade ao trabalho. Os dias e horas combinados não eram integralmente
cumpridos pelos trabalhadores associados. A subordinação a um gerente os incomodava, assim com a submissão às chamadas: viam, nessas formalidades, reminiscências da escravidão” (Perrinon, 21 de outubro de 1848 [ANSOM, Carton 46,
Dossier 464]).
48 “Soube que M. de Gaalon andava atrás de uma jovem negra chamada
Jeannine: ele quebrou assim sua promessa, pois, ao chegar à minha casa, declarou que buscava suas amantes fora do estabelecimento” (de Frémont e Elisabeth
1984:20/4/1844).
49 Nenhum arquivo similar parece ter sido conservado nem em Guadalupe
nem na Guiana.
50 Rapport du magistrat délégué à l’inspection des jurys cantonaux de la Martinique, 28 de maio de 1849, p. 52.
Carta de Perrinon ao ministro da Marinha e das Colônias, Fort-de-France,
19 de agosto de 1848 (ANSOM, Carton 46, Dossier 464).
51
52 Carta do Governador-Geral ao Ministro da Marinha e das Colônias, Fortde-France, 23 de outubro de 1850.
53
Para uma discussão desses termos, ver Meillassoux 1986.
283
284
O OFICIAL E O OFICIOSO
Referências bibliográficas
ADÉLAÏDE-MERLANDE,
Jacques.
1973. “Les jurys cantonaux de
Saint-Pierre, 1848-1851”. Actes du
colloque de Saint-Pierre.
BAFFOS, Robert. 1908. La prud’homie.
Son évolution. Paris: Arthur Rousseau Éditeur.
COTTEREAU, Alain. 1992. “‘Esprit public’ et capacité de juger. La stabilisation d’un espace public en France aux lendemains de la Révolution”. Raisons Pratiques, 3:239-73.
COTTIAS, Myriam. 2001. “La séduction coloniale. Damnation et stratégies. Les Antilles, XVIIe-XIXe siècle”. In: C. Dauphin e A. Farge
(eds.). Séduction et sociétés. Approches historiques. Paris: Seuil. pp.
125-40.
DE FRÉMONT, Henri, ELISABETH,
Léo (eds.). 1984. La vie d’un colon à
la Martinique au XIXe siècle. Journal de Pierre Dessalles. 1785-1856.
Fort-de-France: Désormeaux.
DEBBASCH, Yvan. 1977. “Le rapport
au travail dans les projets d’affranchissement: l’exemple français
(XVIII-XIXe)”. Acte du XLIIe Congrès International des Américanistes, Vol. I. pp. 203-22.
DEGRAS, Priska. 1995. “Noms des pères, histoire du nom : Odono pour
mémoire”, Etudes créoles, XVIII(2).
MINISTÈRE DES FINANCES, Service
national des statistiques, Direction
de la statistique générale, Études
Démographiques. Les naturalisations en France (1870-1940). Paris:
Imprimerie nationale.
Du HAILLY (ed.). 1863. “Les Antilles
françaises en 1863. Souvenirs et tableaux”. Revue des Deux Mondes,
48: 855-80.
ELIAS, Norbert. 1985. Société de cour.
Paris: Flammarion.
ELIAS, Norbert. 1991. La société des
individus. Paris: Fayard.
FARGE, Arlette e REVEL, Jacques.
1988. Logiques de la foule. L’affaire
des enlèvements d’enfants à Paris
en 1750. Paris: Hachette.
FRADKIN, Raoul. 1999. “Représentations de la justice dans la campagne de Buenos Aires (1800-1830)”.
Etudes Rurales, 149-150: 125-46.
GARCIA Jr, Afrânio. 1989. Libres et assujettis. Marché du travail et modes
de domination au Nordeste. Paris:
Editions de la Maison des Sciences
de l’Homme.
GIROLLET, Anne. 2000. Victor Schoelcher, abolitionniste et républicain.
Approche juridique et politique
d’un fondateur de la République.
Paris: Karthala.
JENNINGS, Lawrence C. 2000. French
anti-slavery. the movement for the
abolition of slavery in France, 18021848. Cambridge: Cambridge University Press.
MC GLYNN, Franck e DRESCHER,
Seymour (eds.). 1992. The meaning
of freedom: economics, politics and
culture after slavery. Pittsburg: University of Pittsburgh Press.
MEILLASSOUX, Claude. 1986. Anthropologie de l’esclavage. Le ventre
de fer et d’argent. Paris: PUF.
NOIRIEL, Gérard. 1993. “L’identification des citoyens. Naissance de
l’Etat Civil républicain”. Genèses,
13.
SCOTT, Rebecca. 1994. “Defining the
boundaries of Freedom in the
World of Cane Cuba, Brazil and
Louisiana after Emancipation”. The
O OFICIAL E O OFICIOSO
American
Historical
Review,
99(1):81-89.
SCOTT, Rebecca e ZEUSKE, Michael.
2002. “Property inwriting, property
on the ground: pigs, horses and citizenship in the aftermath of slavery,
Cuba, 1880-1909”. Comparative
Studies in Society and History,
44:669-699.
SIGAUD, Lygia. 1996. “Le courage, la
peur et la honte. Morale et économie dans les plantations sucrières
du Nordeste brésilien”. Genèses,
25: 72-90.
TOMICH, Dale. 1995. “Contested Terrains. Houses, Provisions Grounds
and the Reconstruction of Labour in
Post-Emancipation Martinique”. In:
M. Turner (ed.), From Chattel Slaves to Wage Slaves. Kingston/Bloomington: Ian Randle Publishers/Indiana University Press.
WEBER, Max. 1971 [1956]. Economie
et société. Paris: Plon. Vol. I.
WEIL, Patrick. 2002. Qu’est-ce qu’un
Français? Histoire de la nationalité
française depuis la Révolution. Paris: Grasset.
ZONABEND, Françoise. 1980. “Le nom
de personne”. L’Homme, XX(4):7-23.
285
286
O OFICIAL E O OFICIOSO
Resumo
Abstract
A abolição da escravidão pela Governo Provisório da Segunda República
francesa, em abril de 1848, redefiniu o
espaço público nas colônias pela instauração de uma igualdade dos estatutos civil, político e “racial” entre os cidadãos da República. Este artigo examina as implicações desta decisão no
contexto das Antilhas Francesas, em
particular no que respeita à atribuição
e registro de patrônimos pelos antigos
escravos, e nas imbricações entre as
novas relações jurídicas de trabalho e
as velhas relações de dependência social. Discutem-se em seguida a formação e trajetória dos Júris Cantonais,
instituição criada para administrar o
novo regime civil e trabalhista nas colônias, bem como as ações civis e penais levadas a cabo pelos agentes neste novo contexto jurídico, ações nas
quais se manifestam as aspirações contraditórias dos antigos escravos e de
seus antigos senhores.
Palavras-chave Colonialismo, Antilhas,
República francesa, Relações de trabalho, Dependência, Liberdades civis
The abolition of slavery by the Provisional Government of the Second
French Republic in April 1848 redefined public space in the colonies by establishing a statutory civil, political
and ‘racial’ equality among the citizens of the Republic. This article examines the implications of this decision
in the context of the French Antilles,
particularly in relation to the attribution and registration of property by
past slaves and the interplay between
the new juridical relations of work and
the old relations of social dependency.
The article goes on to discuss the formation and history of the Cantonal Juries, an institution created to administrate the new civil and labour regime
in the colonies, as well as the civil and
criminal legal actions taken by agents
in this new juridical context – actions
in which the conflicting aspirations of
the past slaves and their old masters
become clearly evident.
Key words
Colonialism, Antilles,
French Republic, Work relations, Dependency, Civil liberties
Mana
Print ISSN 0104-9313
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
→
ARTIGOS
Tempo imperfeito: uma etnografia do arquivo*
Olívia Maria Gomes da Cunha
Olívia Maria Gomes da Cunha é professora do Departamento de Antropologia Cultural
do IFCS/UFRJ
RESUMO
Nesse artigo, os arquivos etnográficos e seu duplo, os arquivos pessoais, são
concebidos como construções culturais cuja compreensão é fundamental para
entendermos como certas narrativas profissionais foram produzidas e como sua
invenção resulta de um intenso diálogo envolvendo imaginação e autoridade
intelectual. Tendo a coleção Ruth Landes Papers mantida pelo National Anthropological
Archives (Smithsonian Institutian) como objeto de análise, o texto propõe uma
reflexão acerca das lógicas que orientam a instituição dos limites temáticos dos
arquivos, seus critérios de legitimidade e inclusão, a transformação de instrumentos de
trabalho de seus titulares em "artefatos", "documentos" e "fontes"; suas concepções
de "valor documental", sua economia interna e seus usos na contínua (ainda que
diversa) reificação da autoridade de seus "titulares" como personagens de diferentes
histórias da antropologia.
Palavras-chave: Etnografia, História, Arquivos, Memória, Ruth Landes
ABSTRACT
In this article, ethnographic archives and their doubles, personal archives, are analyzed
as cultural constructions whose comprehension is essential to understanding the ways
in which professional narratives are produced and how their invention results from an
intense dialogue involving imagination and intellectual authority. Taking the Ruth
Landes Papers kept by the National Anthropological Archives (Smithsonian Institution)
as its object of analysis, the text examines the various logics informing the institution
of thematic limits to the archives, their criteria for legitimacy and inclusion, the
transformation of their author's work instruments into 'artefacts,' 'documents' and
'sources;' their conceptions of 'documentary value,' their internal economy and their
uses in the continual (if shifting) reification of the authority of their 'authors' as key
figures within anthropology's different histories.
Key-words: Ethnography, History, Archives, Memory, Ruth Landes
Às vezes me passa pela cabeça como seria bom ter uma 'secretária
particular' para classificar ou mesmo para me ajudar com a minha grande
quantidade de notas, papéis, livros (que escrevi), parafernália de escritos,
até me dar conta que dar ordens a um ser humano é pior que outras
obrigações. Como não vejo fim na minha pesquisa e escrita, sei que só
com a minha morte esses incômodos terão fim.
(Ruth Landes 1986 [1970])1
Uma carta de Peggy Golde enviada a Ruth Landes em 1967 sugere o início de um
cuidadoso ordenamento, revisão e releitura de determinados eventos que marcaram
uma trajetória profissional e pessoal2. Contudo, seria precipitado debitar
exclusivamente a esse evento as tentativas de Landes de revolver lembranças. Outros
acontecimentos coadjuvaram para que diferentes exercícios de memória fossem
iniciados. No ano anterior, Landes retornara ao Brasil, graças ao apoio da empresa
canadense Brazilian Traction, Light and Co. Ltda e da McMaster University, com um
projeto sobre desenvolvimento e urbanização. Como ela própria salientara em carta
aos financiadores, "na meia-idade, estou de volta rapidamente para ver o que
aconteceu em 27 anos"3. Landes reencontrara Édison Carneiro. Com ele perambulara
pelo centro de um Rio de Janeiro modernizado e compartilhara lembranças de Salvador
na década de 30. No ano seguinte, a edição brasileira de seu The city of women (1947)
veio a lume graças aos retoques e à revisão cuidadosa do amigo4. Mas Landes viu-se
às voltas com outras lembranças fustigadas bem antes do seu retorno ao Brasil e
detalhadas em diferentes versões de um manuscrito de um livro jamais concluído, que
chamou "autobiografia ligeiramente ficcional" — suas desventuras como professora na
Fisk University, um black college localizado em Nashville, Tennessee, no sul dos
Estados Unidos, no final dos anos 305.
Primeira filha de um casal de imigrantes judeus, Ruth Schlossberg Landes nasceu em
Nova Iorque em 8 de outubro de 1908. Sua mãe, Anna Grossman Schlossberg,
nascera na Ucrânia em 1881, mas fora educada pela tia materna em Berlim até 1900,
quando a família imigrou para os Estados Unidos. Foi em Nova Iorque que Anna
conheceu Joseph Schlossberg, pai de Ruth. Filho mais velho de uma numerosa família
da Bielo-Rússia, Joseph mudou-se para Nova Iorque em 1888, fugindo do avanço dos
pogroms e do anti-semitismo na Europa. Em sua adolescência, Joseph vinculou-se a
grupos sindicais de orientação socialista e escreveu em publicações sindicais editadas
em ídiche. Em 1914, passou a militar como tesoureiro da recém-criada Amalgamated
Clothing Workers of America (ACW), editando seu semanário — o Advance. Além do
sindicalismo socialista, Schlossberg participou em frentes e campanhas de
solidariedade a imigrantes judeus oriundos da Europa, bem como na expansão do
movimento sionista nos Estados Unidos e em campanhas de mobilização para a criação
do Estado de Israel.
A figura paterna, recorrentemente citada em vários escritos da autora, foi responsável
pelo ambiente familiar secular em que se deu a socialização de Ruth Landes, em uma
cidade em acelerado crescimento e palco de transformações culturais, étnicas e sociais
(Park e Park 1988; Cole 2003). A participação de mulheres de classe média e, em
particular, oriundas de famílias de imigrantes judeus, nas escolas, universidades,
círculos intelectuais e artísticos e no mercado de trabalho na Nova Iorque dos anos 20
é intensa. Ruth Landes integrou uma geração que desafiou os espaços limitados da
modernidade de uma sociedade capitalista em expansão, rompendo as barreiras da
proteção familiar, da tutela e da subordinação (Di Leonardo 1998).
Após concluir o bacharelado em sociologia na New York University, em 1928, e, um
ano depois, o mestrado na New York School of Social Work (Columbia University) com
uma dissertação sobre um grupo de dissidentes da UNIA (United Negro Improvement
Association) — liderada por Marcus Garvey —, popularmente conhecido como "judeus
negros", que se reuniam em uma sinagoga do Harlem (a Beth B'nai Abraham), Landes
aproximou-se, de forma definitiva, da mais importante geração de alunos e
professores de antropologia da Universidade de Columbia, sob a orientação e proteção
de Franz Boas. O interesse pelas transgressões étnico-religiosas e político-culturais
promovidas pelos seguidores do líder barbadiano Arnold J. Ford — em grande parte
imigrantes caribenhos das ilhas britânicas, que conectavam o judaísmo à luta antisegregação no país — instigou Landes a dar continuidade a seu treinamento
acadêmico. Foi um amigo pessoal de seu pai e aluno de Boas, Alexander Goldenweiser,
quem a levou à antropologia e à Columbia (Landes 1986 [1970]; Park e Park 1988;
Cole 2003).
Após um intenso trabalho de campo entre os Ojibwa do Canadá, realizado entre 1932 e
1934, sob a supervisão e cuidado pessoal de Ruth Benedict, Landes concluiu, em 1935,
seu doutorado em antropologia em Columbia (Landes 1969). A partir das experiências
de campo entre os Ojibwa — da coleta e produção de histórias de vida —, a autora
amplia seus estudos sobre grupos indígenas norte-americanos: os Sioux em
Minnesota, 1933, e os Prairie Potawatomi em Kansas, 1935 (Cole 1995a; 2002; 2003).
Em 1937, a convite de Robert E. Park, Landes rumou a Nashville, para assumir um
posto de instrutora na Fisk University. A iniciativa contou com o incentivo de Benedict
e Boas, que viam a experiência como um "laboratório" necessário para futuras
pesquisas no Brasil. Landes residiu em Nashville por aproximadamente sete meses,
dando aulas e revisando os manuscritos de seus livros. Foi nesse ambiente que
conheceu alguma literatura sobre o Brasil e teve contato com outros estudiosos da
sociedade brasileira: além de Park ? que passara pelo Rio de Janeiro e Salvador ao
final de uma viagem pela Índia, China e África do Sul ?, Donald Pierson e Rüdiger
Bilden. Landes chegou ao Brasil em janeiro de 1938, deixando o país em julho de
1939. Em um curto e tumultuado período de pesquisa de campo em alguns dos mais
importantes terreiros afro-baianos — além de passagens pelos terreiros de umbanda
cariocas —, Landes recolheu material para aquele que seria o seu estudo mais
emblemático, redigido quase dez anos depois de deixar o Brasil (Landes 1967 [1947]).
Embora as experiências vividas por Landes no Brasil tenham instigado diferentes
autores a produzir análises variadas sobre sexismo, disputas e autoridade intelectual,
Landes continuou a produzir e interessar-se por temas diversos que envolviam,
sobretudo, a imposição de fronteiras étnicas, culturais e lingüísticas a grupos
minoritários. Nos anos 40, ela pesquisou populações de origem latino-americana na
Califórnia e os acadianos na Luisiana; durante os anos 50, com uma bolsa da Fulbright
Comission, fez pesquisa entre imigrantes caribenhos em Londres. Nos anos 60,
conflitos étnicos e políticos em sociedades bilíngües levaram Landes ao País Basco, à
África do Sul, à Suíça e ao Canadá. Essas experiências em diferentes sociedades
resultaram em livros, em manuscritos inacabados e, ironicamente, em uma constante
instabilidade profissional. Landes atuou em instituições e universidades nos Estados
Unidos por períodos limitados, até que, em 1965, obteve o seu primeiro posto no
Departamento de Antropologia da McMaster University, em Hamilton, Ontário
(Canadá). Foi instalada naquele país que começou a burilar suas lembranças.
Ativar a memória por meio de lembranças registradas em papel não parece ter sido
tarefa fácil para Landes no seu quase exílio canadense. Entre 1967 e 1991, ano de sua
morte, esteve devotada ao exercício quase diário de recolher marcas, fragmentos e
sinais que atestassem seu pertencimento ao passado e seus vínculos e envolvimento
emocional com este. Pelo menos é o que sugerem os indícios de diferentes exercícios
de memória deixados nas cartas, cartões, bilhetes, anotações dispersas, fotos
amareladas, projetos inacabados, manuscritos reescritos, diários de campo,
documentos familiares e relatórios produzidos por ela ao longo de mais de 60 anos.
Um dos resultados desse atento cuidado de documentar o passado foi a organização de
seus papéis pessoais e profissionais para que fossem doados ao National
Anthropological Archives (NAA), órgão que integra a Smithsonian Institution, após a
sua morte. Essa não foi uma prática comum entre os antropólogos de sua geração,
cujos papéis pessoais e profissionais foram inadvertidamente deixados aos cuidados de
terceiros ou, nas palavras de Richard Price e Sally Price (2003:2), transformados por
esses em "relíquias". Em um outro extremo, também incomum, arderam no fogo de
um voluntário esquecimento. Essa foi a atitude que teria tomado E. E. Evans-Pritchard
ao saber do desejo de que seus documentos fossem preservados. Conta a história que
ele os teria colocado em um saco e queimado no jardim (Burton apud Grootaers
2001/2002).
Meu primeiro contato com a coleção de Landes, em 2000, colocou-me diante de
inúmeras questões. Os usos, histórias e relevância creditados a Landes — como
personagem — e ao seu livro emblemático apareciam então reconfigurados. O arquivo
oferecia uma perspectiva quase sedimentar para observarmos alguns investimentos
pessoais e institucionais em torno de sua trajetória profissional a partir de uma
perspectiva comparada. Meu contato com arquivos dessa natureza era parte de um
projeto que visava compreender a rede de diálogos intelectuais e políticos que
possibilitaram a criação de uma área de estudo distintamente concebida nos Estados
Unidos, em Cuba e no Brasil entre os anos 30 e 40: os 'estudos afro-americanos'. Ao
transpor fronteiras nacionais e refletir sobre as configurações institucionais que
permitiam que arquivos e coleções de expoentes dessa geração de antropólogos
fossem mantidos e tivessem visibilidade pública, percebi que havia bem mais do que
diários, cartas e manuscritos para serem lidos. Resolvi indagar de que forma — uma
vez em relevo seus usos e políticas institucionais de preservação — poderiam se
prestar a uma reflexão mais ampla sobre a natureza do trabalho etnográfico. Passei
então a observar os arquivos e as coleções que neles se abrigam como resultado de
procedimentos sucessivos de constituir e ordenar conhecimentos, realizados não só
pelas mãos dos arquivistas, mas por seus virtuais usuários. Esse questionamento me
permitiu investigar, por exemplo, como determinadas fontes — o que Michel-Rolph
Trouillot chama de instâncias de inclusão (1995:48) — são constituídas, sedimentadas
e utilizadas. A observação, descrição e interpretação dessas instâncias — vozes,
verdades, lógicas de classificação, usos, formas de veiculação de conteúdo e valor dos
artefatos que os arquivos e as coleções abrigam — puderam então ser concebidas
como uma etnografia: uma modalidade de investigação antropológica que toma
determinados conjuntos documentais, mais especificamente as coleções e os arquivos
pessoais cujos titulares foram ou são praticantes da disciplina, como campo de
interesse para uma compreensão crítica acerca das formas de produzir histórias da
disciplina.
Em vez de os arquivos serem concebidos como produto final de uma série de
intervenções de caráter técnico — atividades supostamente naturais de classificação,
ordenação e instituição de marcadores temáticos e cronológicos, por vezes
desempenhadas pelos arquivistas —, eles serão o objeto da reflexão que este texto
propõe. A observação do processo de colaboração da própria Landes na preparação de
seus papéis antes que dessem origem a uma coleção — a Ruth Landes Papers (RLP) —,
oferece-nos uma perspectiva de observação privilegiada de um processo singular de
constituição de um arquivo. Antes, é preciso focalizar, ainda que brevemente, a
relação entre etnografia e pesquisa em arquivo.
Etnografia e arquivo
A relação dos antropólogos com os arquivos é contemporânea aos vários processos de
institucionalização da disciplina: a produção de conhecimentos acerca de um tipo
singular de subjetividade, alteridade e diferença (Richards 1992; 1993). As
informações que os arquivos preservam mantêm afinidade com a produção de saberes
coloniais e com a prática de seus agentes diretos e indiretos. Além de fonte e emblema
de poder e conhecimento, os arquivos coloniais inventaram e aperfeiçoaram formas
específicas de produzi-los. Entre elas, deve-se ressaltar a criação de tecnologias
específicas, voltadas para a manutenção e ordenação de conjuntos documentais
diversos, particularmente notável na persistente atenção de seus especialistas em
tornar perene tudo aquilo que pudesse testemunhar e registrar o contato, as formas de
dominação, a violência e o poder da superioridade racial e cultural das metrópoles
sobre seus súditos coloniais. Além das técnicas de ordenamento e controle de tudo
aquilo que, de outra forma, estaria virtualmente sujeito ao desaparecimento e à
dispersão, artefatos orientados pela mesma lógica classificatória são criados:
inventários, catálogos, cronologias, classificadores e critérios de valor passam a
compor um rico universo de saberes, instrumentos e tecnologias arquivísticas. O
arquivo é a "instituição que canoniza, cristaliza e classifica o conhecimento de que o
Estado necessita, tornando-o acessível às gerações futuras sob a forma cultural de um
repositório do passado neutro" (Dirks 2001:107).
Nos últimos anos, além de historiadores e arquivistas, antropólogos têm se voltado
para os arquivos como objeto de interesse, vistos como produtores de conhecimentos.
Não preservam segredos, vestígios, eventos e passados, mas abrigam marcas e
inscrições a partir das quais devem ser eles próprios interpretados. Sinalizam,
portanto, temporalidades múltiplas inscritas em eventos e estruturas sociais
transformados em narrativas subsumidas à cronologia da história por meio de artifícios
classificatórios. Tais tentativas de inscrever evento e estrutura na topografia dos
arquivos implicam procedimentos constantes de transformação. Os arquivos tornaramse então territórios onde a história não é buscada, mas contestada, uma vez que
constituem loci nos quais outras historicidades são suprimidas (Comaroff e Comaroff
1992; Hamilton et alii 2002; Price 1983; Steedman 2002; Stoler 2002). Assim, o
caráter artificial, polifônico e contingente das informações contidas nos arquivos —
bem como as modalidades de uso e leituras que ensejam — têm sido repensados
(Davis 1987; Farge 1989; Ginzburg 1991). Diferentes análises e perspectivas em torno
do uso e natureza dos acervos arquivísticos convergem em uma mesma preocupação:
é preciso conceber os conhecimentos que compõem os arquivos como um sistema de
enunciados, verdades parciais, interpretações histórica e culturalmente constituídas —
sujeitas à leitura e novas interpretações (Foucault 1986:149).
Apesar da familiaridade da antropologia com os arquivos, a relação entre ambos
esteve sujeita a diferentes apropriações. A identificação da pesquisa em arquivos com
as práticas antropológicas, entre elas a pesquisa de campo e a produção de
etnografias, permanece sendo alvo de tensão. Tem sido associada à impossibilidade de
estar lá e a formas secundárias de contato entre observadores e 'nativos' mediadas por
camadas de interpretação intransponíveis e contaminadas. Descrever e interpretar a
partir de informações contidas em documentos caracterizaria uma atividade periférica,
complementar e distinta da pesquisa de campo e suas modalidades narrativas. Assim,
a presença do arquivo na prática antropológica ou está afastada temporalmente
daquilo que os antropólogos de fato fazem — caracterizando a prática dos chamados
antropólogos de gabinete — ou constitui marcadores fronteiriços da antropologia com
outras disciplinas — uma vez vinculados à prática dos historiadores, museólogos e
arquivistas (Clifford 1994; Stocking Jr. 1986)6.
Mary Des Chenes (1997) questionou a naturalização das fontes arquivísticas e o lugar
destinado às investigações em arquivos dentro da disciplina. Observou, por exemplo, a
legitimidade conferida aos textos etnográficos, por descreverem e documentarem
relações interpessoais supostamente diretas, e a pouca relevância dos documentos
oriundos dos arquivos, vistos como espécies de relatos frios, maculados por camadas
imprecisas de interpretação. A exclusão dos arquivos como um possível campo da
atividade etnográfica pressupõe a centralidade de modalidades específicas de pesquisa.
"Documentos encontrados 'no campo'", argumenta Des Chenes, "são tratados como
sendo algo de categoria distinta daqueles depositados em outros lugares" (1997:77). O
caráter aparentemente artificial e potencialmente destruidor das supostas vozes e
consciências nativas conferiria aos arquivos uma posição desprivilegiada entre os
lugares nos quais o conhecimento antropológico é possível.
Por esse viés, a pesquisa em arquivo aparece como antítese da pesquisa de campo, e
sua transformação em uma etnografia é vista com ceticismo. Essa posição se deve, em
parte, ao legado funcionalista que postulou a centralidade da primeira como locus da
prática antropológica. Mas não só. Afinal, documentos não falam e o diálogo com eles
— quando alvo de experimentação — implica técnicas não exatamente similares às
utilizadas no campo. No entanto, os antropólogos têm pretendido bem mais do que
ouvir e analisar as interpretações produzidas pelos sujeitos e grupos que estudam,
mas entender os contextos — social e simbólico — da sua produção. Aqui me parece
residir um ponto nevrálgico que possibilita tomarmos os arquivos como um campo
etnográfico. Se a possibilidade de as fontes "falarem" é apenas uma metáfora que
reforça a idéia de que os historiadores devem "ouvir" e, sobretudo, "dialogar" com os
documentos que utilizam em suas pesquisas, a interlocução é possível se as condições
de produção dessas 'vozes' forem tomadas como objeto de análise — isto é, o fato de
os arquivos terem sido constituídos, alimentados e mantidos por pessoas, grupos
sociais e instituições.
"Entre os lugares que os antropólogos têm ido quando vão para o campo, está o
arquivo". A provocação de Mary Des Chenes (1997:76) capta bem transformações que
vêm alterando a face da antropologia desde pelo menos os anos 80. A virada histórica
da disciplina nos Estados Unidos e a relativização da noção de campo possibilitaram
variadas experimentações metodológicas nos modos de se conceber e utilizar os
arquivos. O que dizer então quando os antropólogos se voltam aos arquivos como um
campo de onde pretendem observar e refletir acerca das práticas de seus pares e das
perspectivas que as informam (ou informavam)? Arquivos etnográficos,
tradicionalmente reconhecidos como repositórios de informações sobre os 'outros',
passam a ser reconhecidos como lugares onde o processo de construção de sua
objetivação pode ser compreendido.
A problematização a respeito da produção de histórias da disciplina e sua conexão com
discussões sobre o uso de arquivos pessoais ainda é bastante tímida. Tal fato se deve
em parte às vicissitudes da história da antropologia como uma área de interesse. Em
um dos textos no qual um programa em torno de um olhar retrospectivo é esboçado,
George W. Stocking Jr. (1983:3) observa que antes de se tornar uma área de
especialização, a história da disciplina limitava-se à atenção exclusiva de "antropólogos
idosos" e "historiadores errantes". Nos anos 80, uma série de injunções leva os
antropólogos a se debruçarem criticamente sobre os conhecimentos produzidos por
seus pares. Grande parte dos estudos desse período é realizada em um contexto
amplo de debates sobre uma sentida 'crise' da antropologia envolvendo questões
políticas e éticas relacionadas à pesquisa de campo. Um olhar retrospectivo da
disciplina esteve, deste modo, marcado por questionamentos políticos e debates éticos
do presente de seus produtores. O contexto de crítica interna resultou em um processo
de autofagia e "canibalização" (Handler 2000:4), no qual a história da disciplina passa
a ser um dos seus mais importantes objetos. Essa questão imprimiu um viés singular
aos projetos que visavam rastrear trajetórias profissionais, fluxos de idéias, políticas
de financiamento e histórias envolvendo a tensa relação entre a disciplina e a
constituição de saberes coloniais e imperiais (Stocking Jr. 1991; Thomas 1994). Ainda
assim, algumas questões restaram sem resposta: Qual é a origem dos dados,
informações e registros utilizados para produzir tais histórias? De que natureza são e
como foram utilizados? Se constituem unidades ou conjuntos documentais de caráter
autoral, como estão arranjados/organizados e a que instituições/pessoas pertencem?
Por fim, de quais lugares e a partir de que perspectivas tais histórias da disciplina têm
sido produzidas?
Mesmo as análises preocupadas em evidenciar os mecanismos que garantiram o
desenvolvimento de pesquisas, de relações interinstitucionais, de debates intelectuais,
de políticas de financiamento e, finalmente, das condições que permitiram a finalização
das etnografias, naturalizaram as fontes a partir das quais tais questões podem ser
evocadas. Verdades mais ou menos parciais foram encontradas no terreno acidentado
dos textos e muito pouco se intuiu acerca dos regimes de poder que as tornaram
relevantes como objeto de guarda e preservação em arquivos: perguntas tais como
quando e por meio de que operações tais marcas do passado deixaram de ser atos
pessoais e se tornaram fatos sociais (Comaroff e Comaroff 1992:34). Parcas alusões
por vezes aparecem em notas explicativas de livros e artigos publicados, juntamente
com dados e origem dos documentos citados. As fontes arquivísticas são concebidas
como construções prontas para serem utilizadas e interpretadas por leitores
especializados. Sua organização, diferenciação e hierarquia interna não são matéria de
observação. Quando muito, são descritas de modo a informar o leitor sobre sua
amplitude e, muito pouco, sobre sua natureza, usos e finalidades.
É interessante notar que, se parte substancial dos esforços em salvaguardar e proteger
os arquivos dos antropólogos, bem como a vasta produção bibliográfica sobre histórias
da disciplina, tiveram origem nos Estados Unidos7, são os antropólogos franceses —
por razões diversas, privados de tais políticas e incentivos — que têm promovido uma
intensa reflexão sobre o estatuto epistemológico de tais projetos históricos/biográficos
e as fontes que os tornam possíveis (Duby 1999; Jamin e Zonabend 2001/2002; Jolly
2001/2002; Mouton 2001/2002; Parezo e Silverman 1995). Essa perspectiva diversa
nos oferece um duplo olhar para os modos pelos quais a reflexão sobre o lugar das
histórias da disciplina e seus praticantes tem sido experimentada. Ao compreender
seus lugares estratégicos, suas relações de posição e hierarquia, bem como seus usos
em textos biográficos e autobiográficos, é possível conceber os arquivos como campo
da prática etnográfica (Cook e Schwartz 2002; Des Chenes 1997; Kaplan 2002; Stoler
2002). Transformam-se assim em lugares de observação privilegiada de como a
antropologia se transforma em linguagem e estilo de produção de determinadas
'histórias singulares'.
Etnográfico e pessoal
Mas afinal, quais são as fronteiras que delimitam e os critérios que definem o que
tenho chamado arquivos etnográficos? Assim como outros arquivos científicos, aqueles
que reúnem documentos escritos, visuais e iconográficos recolhidos, produzidos e/ou
colecionados por antropólogos durante a sua trajetória profissional e pessoal
caracterizam-se pela sua estrutura fragmentária, diversificada e, paradoxalmente,
extremamente subjetiva. Os arquivos etnográficos e seu duplo, os arquivos pessoais,
são construções culturais cuja compreensão é fundamental para entendermos como
certas narrativas profissionais foram produzidas e como sua invenção resulta de um
intenso diálogo envolvendo imaginação e autoridade intelectual.
Papéis transformados em documentos mantidos em arquivos institucionais revelavam
muito mais do que vicissitudes biográficas; revelavam vínculos profissionais,
intelectuais e relações de poder de natureza diversa. Para diferentes autores, sua
especificidade estaria justamente naquilo que torna a antropologia emblemática no seu
constante desejo de subjetivação: os arquivos etnográficos supostamente conservam
desejos, projetos por vezes malsucedidos, de identificar, classificar, descrever o
'outro'. Jean Jamin e Françoise Zonabend (2001/2002) referem-se a uma duplicidade
constitutiva que fornece singularidade aos documentos conservados/produzidos pelos
antropólogos. Os autores chamam atenção para o fato de que
[e]ntre as outras ciências humanas a antropologia está finalmente
autorizada a constituir sua própria "arquivística" ao colocar em cena e na
escritura a tensão epistemológica que existe entre os processos de
objetivação (monografias, artigos, tratados e manuais) e subjetivação
(diários de campo e pesquisa, memórias e autobiografias) notadamente
representados pelas coleções e obras tornadas emblemáticas, [que]
parecem adicionar à autoridade científica de um etnólogo a aura de um
escritor e que, bem entendido, colocam a questão de si e do outro, do
próximo e do distante, do íntimo e do público. (Jamin e Zonabend
2001/2002)
Tais esforços resultam em "arquivos de em face da presença do outro, como se a
etnografia devesse se desdobrar em uma legitimidade liberada restaurando de sua
imagem social ou mesmo de seu trabalho empírico uma autobiografia, ou mesmo uma
poética" (Jamin e Zonabend 2001/2002:61). O que os autores chamam de uma
'arquivística' própria da disciplina e de seus modos de consagrar — por meio do relevo
dado ao documento que legitima e permite que a autoridade do etnógrafo/pesquisador
seja projetada no futuro — nos conduz a um dos elementos mais salientados nas
tentativas de definir a singularidade dos arquivos etnográficos perante outros
conjuntos documentais. Não há uma clara distinção entre o que os arquivistas definem
como sendo 'pessoal' e 'profissional'. Domínios pessoais por vezes informam aqueles
tratados como profissionais e vice-versa. Ao mesmo tempo, tais domínios tratam de
relações sociais. Como argumenta Hilda Kuper, "'histórias pessoais' parecem ter um
apelo universal, mas os modos nos quais são expressas são culturalmente
circunscritos. Autobiografias, biografias, estudos de caso e histórias de vida são
essencialmente gêneros ou estilos ocidentais, e a complexa interação entre um
etnógrafo e um personagem (ou personagens) central é de relevância para todos
aqueles interessados nos métodos de pesquisa social" (1984:212).
Por vezes, a comunicação entre documentos que tratam da vida, trajetória e profissão
não resulta de uma prática mecânica realizada após a morte do/a titular, mas do seu
desejo, sentimento e memória (Artières 1998; Vianna et alii 1986). Utilizar a
expressão arquivo etnográfico para qualificar diferenciadamente coleções do gênero
implica ampliar nossa compreensão acerca da natureza dos documentos ali incluídos, a
maneira pela qual passaram a compor a coleção e os lugares onde foram produzidos. O
que são de fato materiais adjetivados como etnográficos? Os critérios utilizados nos
primórdios do processo de institucionalização da disciplina — quando os antropólogos
proviam museus, universidades e centros de pesquisas com fragmentos de culturas
distantes — parecem subsistir na premissa de que, entre seus papéis pessoais e
profissionais, preservam pedaços, fontes, informações e relíquias oriundas de 'outras'
sociedades. Ainda que esses fragmentos sejam produtos do olhar, da relação e do
encontro etnográficos, neles parece residir um valor singular. Diários e notas de
campo, em meio a outros materiais, ocupariam então uma posição de destaque.
Inferências sobre a natureza das relações entre pesquisador e pesquisados, bem como
o lugar de sua produção, presidiriam à lógica classificatória. Essa distinção é
problemática porque nem sempre diários e notas de campo são produzidos no campo,
assim como bilhetes, fotos, cartões, cartas e recortes de jornal por vezes são
provenientes da presença e interação entre observadores e observados (Clifford 1990;
Gupta e Ferguson 1997; Sanjek 1990a).
Curiosamente, tanto os fragmentos aparentemente secundários e de caráter pessoal
quanto diários e notas de campo foram produzidos para serem lidos por um único
leitor. São redigidos para serem objeto de releitura, reflexão e incitação à memória por
parte daquele/a que os produziu. Não são escritos para serem publicados ou exibidos.
Se há algo que caracterize notas de campo é a singularidade de sua apresentação e
estilo. Deste modo também podem ser consideradas documentos pessoais. Mas há
algo que resiste a tal apreensão. Uma vez que antropólogos em geral empregam uma
linguagem específica para falar sobre o "outro", notas e diários de campo — e, em
particular, aqueles emoldurados e protegidos pelas estruturas institucionais que
mantêm os arquivos e coleções pertencentes a antropólogos — são transformados por
usos eventuais, póstumos e inusitados. É quando objetos, documentos e retóricas
sobre o "outro" preservados em arquivos pertencentes aos etnógrafos passam a ser
objeto da construção de uma 'etno-história' construída por historiadores, antropólogos,
descendentes dos grupos/sujeitos pesquisados ou instituições/movimentos que os
'representam'. Diante dessas questões, parece-me difícil reforçar as fronteiras
instituídas a partir de marcadores aleatórios acerca do que define o caráter mais ou
menos pessoal — ou etnográfico — de parte relevante dos papéis que povoam coleções
cujos titulares são antropólogos.
A ordenação, seleção, identificação e classificação dos papéis de Ruth Landes
obedecem a uma lógica de tratamento semelhante àquela adotada na organização de
outros arquivos pertencentes a titulares transformados em personalidades públicas.
Em geral, o material que compõe seus acervos — documentos por eles produzidos e/ou
manuseados que estavam sob a sua guarda quando ocorreu o processo de doação — é
selecionado a partir da natureza do documento. Qual seja, são distinguidos caso
conformem correspondência (enviada e recebida), produção intelectual e manuscritos
(do titular ou de terceiro, manuscrita ou publicada), fotografias e uma miscelânea de
documentos que por vezes são incompletos, fragmentados ou não, identificados
(freqüentemente) como diversos. Respeitada a sua natureza, os documentos são
subdivididos e armazenados em caixas ou pastas que obedecem a uma segunda lógica
classificatória — são agrupados por ordem cronológica e/ou alfabética. A especialização
no tratamento de alguns acervos do gênero — como, em particular, aqueles
pertencentes aos antropólogos — tem permitido que documentos de uma mesma
natureza, como é o caso das cartas, sejam por vezes agrupados por lógicas
(cronológica ou alfabética) distintas. Isto é, o cotejamento, a pesquisa e a identificação
de autógrafos têm feito com que alguns missivistas sejam selecionados e
posteriormente identificados em um índex onomástico disponível em inventários,
enquanto outros são mantidos em um conjunto mais abrangente de pastas cuja
entrada é cronológica e/ou por ordem alfabética.
A RLP divide-se em cerca de 75 caixas subdivididas tematicamente. Em primeiro lugar
os "documentos" ou "materiais biográficos" englobam não só aqueles reunidos por
ocasião da pesquisa feita por George Park e Alice Park (1988) na preparação de um
verbete biográfico sobre Landes, mas também "recortes de jornais", "cartas" (enviadas
e recebidas), "escritos e aulas" (miscelânea de manuscritos não publicados, versões de
textos publicados) e "resenhas" (sobre textos/livros de Landes). Em segundo lugar, os
chamados "cadernos": material de campo — em grande parte diários — subdividido
por temas ou região geográfica. Os chamados "materiais didáticos" constituem textos e
programas de curso. Conjuntos menos especificamente intitulados "Projetos de
pesquisa", "Contratos, resenhas e anúncios de editoras", "Papéis financeiros" e
"Miscelânea" (conjunto de fragmentos e notas sobre assuntos variados). Finalmente, o
"Material fotográfico" (fotogramas, slides e negativos, e cartões postais).
Seria difícil considerarmos que, diante das fronteiras tênues que permeiam nossa
definição de campo, assim como o são aquelas que distinguem a natureza das
narrativas que dele se originam, todo e qualquer arquivo ou coleção cujo titular foi ou
é um antropólogo seja, por definição, etnográfico. Essa qualificação resulta de leituras
variadas. Em alguns casos são as instituições mantenedoras de tais arquivos que
produzem, internamente, ou seja, na atividade rotineira de seleção e indexação dos
documentos, e, externamente, nas políticas e retóricas de legitimação e divulgação de
tais acervos, tal distinção e qualificação. Em outros casos, tal distinção é produzida
pelos próprios antropólogos no processo de seleção, organização e doação de seus
papéis. A Coleção de Ruth Landes (RLP) não só reproduz a imbricação de domínios
profissionais e pessoais, como nos apresenta uma particular configuração do que Jamin
e Zonabend chamaram 'arquivística'. Landes selecionou e identificou seus escritos
pessoais e profissionais após ter decidido doá-los ao NAA8. Esse processo permitiu que
determinados documentos fossem objeto de um exercício contínuo de ressignificação,
o qual pretendo analisar a seguir.
Tempo de lembrar
O convite de Peggy Golde para que Landes escrevesse um texto memorialístico sobre
suas pesquisas de campo permitiu a ela rascunhar textos e revisitar temas, eventos e
caminhos de inúmeras versões de seus escritos em curso. Duas experiências que até
então eram citadas exclusivamente em cartas — sobretudo aquelas trocadas com Ruth
Benedict ainda na primeira metade dos anos 40 — foram objetos de atenção especial
no texto que Landes entregaria a Golde. Nas inúmeras notas, comentários e cartas que
produziu ou reescreveu durante os últimos trinta anos de sua vida, suas vivências em
Nashville (1937-1938) e no Brasil (1938-1939) receberam uma apaixonada atenção e
incitaram-na a um contínuo exercício mnemônico. Orientaram seu olhar e
compreensão sobre o passado que desejava lembrar e, de certa maneira, reencontrar.
Ao observarmos o processo de reorganização das marcas que tornam tais eventos
relevantes, podemos compreender como o tempo profissional e o tempo pessoal se
entrelaçam de forma a condicionar nossa leitura e apreensão de seu arquivo e
memória pessoal.
Em virtude de sua singular experiência na América do Sul e por indicação de Sol Tax e
Margaret Mead, Landes foi convidada a colaborar em um esforço de reflexão intelectual
marcado por um enfoque feminista — a coletânea Women in the field: anthropological
experiences, organizada por Peggy Golde (Golde 1986b [1970]; Landes 1986 [1970]).
A carta-convite parece indicar que um dos critérios principais de seleção foi a
pluralidade regional/geográfica e, em menor grau, a relevância das pesquisas e das
pesquisadoras envolvidas. Golde afirmava em seu parágrafo inicial que "será a
experiência de retratar a experiência de trabalho de campo do ponto de vista das
mulheres que o realizaram em diferentes regiões do mundo"9. Curiosamente, nos
objetivos do projeto descritos no anexo que acompanha a carta de Golde, tal critério
aparece em um segundo plano. Importava-lhe reunir relatos de experiências de campo
vividas por antropólogas e suas implicações no desenvolvimento de suas carreiras
profissionais narrados na primeira pessoa.
[...] o ideal é que cada narrativa oscile entre diferentes níveis,
misturando três tipos de materiais e pontos de referência separados, mas
relacionados: 1) pessoal e subjetivo; 2) etnográfico e; 3) teórico e
metodológico.
Antes de tudo, o relato deve ser pessoal, traçando a história íntima da experiência de
campo, talvez iniciando com as expectativas, apreensões, esperanças e ambições
prévias. Poderia abranger os acontecimentos fortuitos, as frustrações e recompensas,
os momentos de revelação inesperados e incompreensões jamais resolvidas — tudo
que caracterizasse a seqüência de intercâmbios pessoais envolvendo você como
alguém de fora e aqueles com os quais você conviveu. O relato poderia incluir as
respostas às questões que mais interessaram seus amigos e conhecidos quando do seu
retorno: "Como foi? Foi difícil fazer amizade? Você ficou sozinha? Em algum momento
teve medo? O que fazia para se divertir? Como conseguiu lugar para morar?"10.
As linhas que orientam a produção de relatos memorialistas na coletânea deveriam
tornar salientes os aspectos que supostamente distinguiriam a prática da pesquisa de
campo entre as mulheres. Subjetividade e intimidade não só marcariam contatos
interpessoais mas confeririam um estilo singular ao texto etnográfico (Golde 1986b
[1970]). Tais ingredientes não figurariam como um estilo pessoal, mas como marcador
que deveria sinalizar o gênero na atividade etnográfica. Assim, não só as relações
estabelecidas no campo quanto a própria construção da memória deveriam sublinhar
projetos, sentimentos e angústias narrados e rememorados a partir de uma visão
subjetiva, imprimindo contornos de uma "escrita sobre si" (Foucault 1992; Derrida
2001). A proposta de Golde certamente impingiu ao relato de Landes um delicado viés.
Todavia seria precipitado imaginar que o encontro entre o desejo de lembrar e a
possibilidade de ser lembrada pudesse ser transformado em um relato emoldurado por
uma única abordagem feminista. Seguindo os passos de Margaret Mead, outras
antropólogas de sua geração investiram em textos ficcionais e relatos autobiográficos
no mesmo período (Mead 1972; Powdermaker 1966). Mesmo na coletânea, Landes não
foi a única a reinterpretar a proposta de Golde. No seu exercício reflexivo, Margaret
Mead revolveu cartas enviadas e recebidas enquanto esteve na Nova Guiné: cartas
comentadas, rearranjadas e interpretadas a partir das questões formuladas por Golde
(Mead 1986 [1970]). Antropologia e autobiografia já haviam reafirmado suas
afinidades de gênero e estilo literário nos cenários intelectual e popular norteamericano. Portanto, é preciso entender o contexto de debates e questões que
informam uma expressão pública da antropologia nos anos 70 e, dentro dele, o lugar
reservado ao gênero nos escritos autobiográficos que tratam da experiência das
mulheres como fieldworkers (Di Leonardo 2000; Handler 1990).
É provável que Ruth Landes tenha enviado sua contribuição à coletânea de Golde em
um curto espaço de tempo. Cerca de três meses após o convite, Golde responde à
Landes com agradecimentos, elogios e sugestões de alterações na primeira versão de
A woman anthropologist in Brazil (Landes 1986 [1970]:119). Golde faz intervenções
diretas em trechos da versão original, na qual localiza passagens imprecisas e
obscuras. As lembranças de Landes deveriam fazer sentido para outros leitores
possivelmente interessados em aferir os desafios impostos às mulheres em um
universo profissional marcadamente masculino. Mas também deveriam fornecer uma
compreensão mais clara de como e em que condições o ensino da antropologia
oferecia obstáculos à prática da pesquisa de campo quando realizada por mulheres.
Fiz uma série de correções porque você pareceu contradizer-se, primeiro
dizendo que as técnicas de pesquisa de campo não podem ser ensinadas
e, depois, que seus colegas de Columbia foram ensinados por Kroeber
etc. Caso isso esteja muito confuso, deixe-me escrever para você como a
passagem com as emendas sugeridas ficaria: "O trabalho de campo
funciona como um conhecimento idiossincrático que nos permite
diferenciar tanto as impressões sensíveis da vida quanto as suas
abstrações na personalidade do pesquisador. A cultura que o etnógrafo
descreve é a da própria experiência filtrada por seu olhar. Conhecidos
escritores disseram que seu ofício não pode ser ensinado mas
aperfeiçoado. Os fundadores da do campo da antropologia disciplina não
aprenderam técnicas específicas. Nem mesmo nosso grupo de estudantes
de Columbia, que estudou teoria + material de campo com Kroeber,
Boas, Klineberg, Mead e Benedict. Ao contrário, fomos encorajados
treinados para interpretar, experimentar, usar todas as os recursos
ferramentas à nossa disposição e nos arriscar".11
Para além de inúmeras sugestões e recomendações para que Landes fosse mais
explícita na alusão a eventos, personagens ou mesmo comentários a estes, Golde
mostra-se preocupada com o formato e o estilo do texto. Fica claro que mesmo diante
da relativa liberdade das autoras, o trabalho da memória deveria ser redirecionado e
adequado à proposta da coletânea. Temas delicados para um público de 'jovens
leitores' são evitados. Ao comentar um determinado parágrafo, Golde adverte para os
excessos: "este parágrafo está muito bom. Contudo, tiraria a frase sobre morte,
porque já a mencionou e você vai falar disso novamente [...] e para um grupo de
jovens leitores isso pode ser um pouco demais"12.
Pelos comentários é possível inferir que já na primeira versão Landes concentrou suas
reflexões sobre os problemas enfrentados durante suas pesquisas de campo no Brasil,
particularmente sobre um imbroglio envolvendo dois personagens a partir de então
assíduos em textos sobre Landes — Melville Herskovits e Arthur Ramos. Landes teria
tido seu futuro profissional comprometido — sua participação no projeto liderado pela
Carnegie Corporation e capitaneado por Gunnar Myrdal nos anos 30 — por causa de
comentários desabonadores de caráter pessoal e profissional feitos por ambos (Landes
1986 [1970]). Além de comentários pessoais de cunho moral — que incluíam
referências indiretas ao romance que teve com Édison Carneiro durante o período em
que fez pesquisas na Bahia e no Rio de Janeiro —, as interpretações sobre
"matriarcado" e "homossexualidade" nos cultos afro-baianos contidas no relatório
preparado para a Carnegie Corporation, na visão de ambos, eram inapropriadas, o que
descredenciava sua pesquisa e sua seriedade profissional. Como Ramos e Herskovits
atuaram como consultores da Carnegie, a colaboração de Landes ao relatório Myrdal
foi desautorizada e dispensada (Landes 1986 [1970]; Cole 2003). Golde percebe a
centralidade desse caso na primeira versão e propõe: "se você relatasse algumas
coisas que Ramos disse, então poderia ir direto para a última frase da página. Você
tenta o leitor mas não dá a informação que ele precisa para entender o que aconteceu,
e todo esse episódio é tão crucial, e ao mesmo tempo terrivelmente fascinante, que eu
acho que você deve dedicar-lhe tempo, deixando-o claro"13.
Como o manuscrito desse texto não se encontra entre os papéis de Landes, é
impossível dimensionar a extensão das alusões ao caso na primeira versão. Ainda
assim, é notável como se torna epicentro do relato de Landes, ganhando uma
dimensão pública diretamente vinculada à sua trajetória profissional. Após a publicação
de A woman anthropologist in Brazil (Landes 1986 [1970]) e Uma falseta de Arthur
Ramos, de Édison Carneiro (1964), no qual este critica as reações de Arthur Ramos ao
manuscrito Carnegie, parcialmente reproduzidas em A aculturação negra no Brasil
(Ramos 1942), o livro A cidade das mulheres conteria um texto subliminar ? Landes na
condição de vítima em um ambiente intelectual sexista e competitivo. Esse caso ainda
seria referido em outros textos sobre Landes, ou comentado como exemplo da
explosiva combinação de sexo, erotismo e poder intelectual na experiência etnográfica
(Park e Park 1988; Newton 1993; Healey 1996; 2000; Corrêa 2000; 2003; Cole 1994;
1995a). Cerca de dezesseis anos depois, seria recontado de forma a subsumir tanto a
obra quanto a vida profissional de Landes em um verbete sobre ela publicado em um
dicionário biográfico (Park e Park 1988). Ainda que demonstrando preocupação quanto
a possíveis implicações legais na sua publicação, Landes auxilia os autores, provendoos com informações adicionais:
Imagino que você tenha que advertir os editores [...] Peggy Golde ligou
há alguns dias atrás para dizer que a editora da Universidade da
Califórnia está reeditando Women in the Field em brochura. Assim, aquela
triste história brasileira vai [...] Vou ficar feliz em ter Herskovits
registrado. Foi M. Mead quem quis que Golde conseguisse a história. Com
o mais profundo reconhecimento, prendendo a respiração.14
As cartas entre Golde e Landes permitem-nos inferir acerca dos caminhos de
interpretação ao longo dos quais passado e experiência profissional/pessoal deveriam
ser rememorados. Landes dera a primeira palavra sobre os temas que tornariam sua
biografia relevante, tornando-se leitora e intérprete de seus escritos transformados em
documentos. O próprio diálogo travado com Golde seria cuidadosamente rememorado,
tornando-se objeto de uma releitura feita pela própria Landes cerca de vinte anos após
o convite de 1967. É provável que Landes tenha produzido comentários semelhantes
em suas cartas até poucos anos antes do seu falecimento, quando as escrevia com
uma caligrafia de difícil compreensão. Pela recorrência dos temas e personagens que
foram objeto de tais comentários, é possível que estes tenham sido produzidos durante
o processo de preparação de seus documentos para o NAA, justamente no período em
que Landes mergulhara em uma viagem sem volta ao seu próprio passado.
No anexo contendo a proposta da coletânea, Landes fez inúmeras anotações nas quais
registra observações aos comentários de Golde e sua reação a eles. Sublinha palavras,
acrescenta interjeições e interrogações, insere pequenos balões nos quais sobrepõe
textos que funcionam como uma segunda legenda à sua voz e à da missivista. Na
referência feita por Golde à pesquisa de campo como uma atividade solitária, Landes
comenta: "a solidão abateu todos os pesquisadores em campo". Diante da alternativa
oposta — a possibilidade de ter sido fonte de algum prazer e divertimento — de
maneira lacônica Landes responde "nenhum"15. Outros indícios me fazem sugerir que
Landes produziu tais legendas como se fosse uma leitora de seus próprios papéis em
um momento bem posterior ao da produção do documento. O manuscrito de Women in
the field — possivelmente em sua versão final — foi enviado a Édison Carneiro em
1968. Na última carta do antropólogo existente na RLP, Édison não só comenta como
aprova o texto cheio de alusões à sua relação com Landes e com Arthur Ramos: "Acheio bom, sobretudo quanto às reações de adaptação, em que, parece, você deveria ter
insistido mais. Talvez pela intimidade recente com os seus trabalhos, porém, achei que
você se repetira um pouco. O trabalho, contudo, é válido e define bem a situação da
mulher que vem, pela primeira vez, para o que um dos nossos escritores chamou de
"esta bosta (shit) mental sul-americana"16. No alto da carta, Landes comentou:
"Édison morreu [em] 1969 de enfarte — inconsciente [por] duas semanas (?—
informação de Anita Neuman). Aos 60 anos"17. Landes confundiu-se quanto ao ano e à
causa da morte de Édison que ela mesma informara a George Park e Alice Park em
agosto de 1985. Édison Carneiro morreu em 1972 de derrame cerebral18.
Essa releitura de seus próprios escritos como se fossem legendas de imagens,
documentos ou provas materiais que expunham relações intelectuais e envolvimentos
com colegas e informantes, por vezes, deixou de ser 'tradução' (de sentimentos,
ironias e sutilezas subliminarmente aludidas nas cartas), transformando-se em
'narração'. Em uma carta enviada a um antropólogo brasileiro na qual Landes
respondia a indagações sobre informantes e personagens importantes de A cidade das
mulheres, ela acrescentaria informações como a data em que a carta foi escrita e o
assunto: "R[uth] L[andes] escreveu em 3 de julho de 1988 perguntando sobre o
menino de Martiniano e Menininha"19. Indícios como esses não compõem
necessariamente um estilo idiossincrático de organizar papéis pessoais. Anotações
semelhantes, mas nada comparáveis em termos de recorrência, foram encontradas em
outras coleções. O que chama a atenção nessa preocupação em traduzir e produzir
uma narrativa paralela, adicional a futuras leituras de seus papéis, é o fato de
concentrar-se sobre temas e assuntos específicos.
Em busca do tempo perdido
Para quem Ruth Landes escreveu notas e comentários sobrepostos aos seus antigos
escritos? Parece-me clara sua preocupação em selecionar certos detalhes, personagens
e eventos — e os documentos que os atestavam — capazes de direcionar possíveis
leituras de sua própria biografia. Em uma carta enviada em 1941 na qual fazia alusões
ao seu relacionamento com um professor de física durante o período em que deu aulas
na Fisk University entre 1937 e 1938 — o que na época fora alvo de maledicências
entre alguns professores da faculdade e, posteriormente, objeto de atenção nos textos
autobiográficos de Landes —, aparece uma série de observações e sugestões que
expressam uma preocupação deliberada em selecionar o conteúdo e os materiais que
lhe pareciam mais interessantes/oportunos de serem mantidos no arquivo. "Rasguei
todas as cartas que se seguiram a esta, como fiz com todas aquelas outras no Brasil",
afirma. "Por quê? Porque achava que não havia lugar para elas. Eram entediantes,
apaixonadas e cheias de promessas de futuro, cheias de detalhes [...]"20. O
detalhamento dos comentários post-facto que emolduram cartas e pedaços de papel
por meio de uma caligrafia cada vez mais vacilante sinaliza o caráter seletivo da
atividade a que Landes devotou seus últimos anos de vida. É impossível precisar
quando Landes produziu esses comentários. Todavia, ao cruzarmos referências
existentes em cartas enviadas a alguns missivistas e recebidas destes, é possível
inferir que, por causa do controle e visão de conjunto que o próprio autor dos
comentários parecia ter da própria coleção, tratou-se de uma intervenção tardia. Os
comentários careciam de um olhar prospectivo do tipo de relação estabelecida entre os
missivistas e os eventos sobre os quais tais cartas tratavam. O diálogo mantido com
Édison Carneiro entre 1939 e 1968 consiste em um exemplo interessante para
entendermos as vicissitudes e o processo de produção de um metatexto que orienta o
percurso pelo arquivo e a produção de futuras biografias.
Seletividade e relevância guiaram o desejo de documentar uma relação
exaustivamente referida em textos autobiográficos. Vistas do arquivo de Landes, as
cartas enviadas por Carneiro apenas sugerem um diálogo. Landes não conservou cópia
de nenhuma de suas cartas. Esse fato, em princípio, é condizente com o que ocorre
com sua correspondência mais antiga. Prática comum entre outros intelectuais de sua
geração que tiveram vínculo institucional estável era a conservação das cópias e/ou
rascunhos de cartas em pastas e arquivos profissionais. A coleção de "cartas enviadas"
na RLP é insignificante se confrontada com as cartas recebidas ao longo de mais de
sessenta anos de vida profissional. Landes não guardou todas as cartas que enviou e
recebeu, nem anteviu a possibilidade de perpetuar-se em um arquivo mantido por
respeitada instituição de seu país, até que o convite do NAA fosse formalizado21. As
cartas de Carneiro, contudo, parecem ter sido previamente mantidas em um lugar
distinto da RLP.
Apesar da ausência de cartas de Landes para Carneiro na RLP, referências tais como os
pedidos de livros e indicações bibliográficas, as notícias sobre amigos, desafetos e
informantes deixados no Brasil e as saudades sugerem um diálogo intenso entre Ruth
e Édison em 1939 e 1940. Sim, parte da correspondência é fortemente pessoal e
amorosa, mas não exclusivamente. As cartas de Édison documentam, apesar do
silêncio produzido pela ausência de cartas de Landes, as condições e o contexto
etnográfico nos quais ambos estiveram imersos. Não se distinguem, em estilo nem em
natureza, de outras notas escritas durante o trabalho de campo mas com elas se
confundem. São papéis que documentam e legitimam a experiência etnográfica e, ao
mesmo tempo, as ambigüidades da relação mantida ao longo da pesquisa de campo.
Embora Landes não tenha feito nenhuma restrição ao seu acesso e uso, penso que o
mais interessante na sua leitura é acompanhar os retoques produzidos sobre o Édison
— personagem de A cidade das mulheres e de A woman anthropologist in Brazil — e o
metadiálogo travado com tais documentos produzido pelos comentários posteriores.
Os primeiros comentários de Landes surgem no que parece ter sido o primeiro contato
com o antropólogo depois que ela deixou o país em 1939: uma carta de Carneiro
enviada em 8 de junho daquele ano. Trata-se de uma referência que aparece em
outros documentos — as dificuldades de Landes com o português. Carneiro trata
diretamente do assunto: "recebi sua carta de Port of Spain. Querida, você tem que
aprender português novamente [...] comigo, é claro. De qualquer jeito. Gosto do
trabalho que você teve em me escrever em português, principalmente pela falta de
acentos em sua máquina de escrever". Em outras cartas, Édison também reconheceria
suas dificuldades com o inglês22. Landes parecia consciente das limitações que a
inabilidade com a língua lhe trazia. Seus comentários lacônicos, nesse caso, têm um
efeito demonstrativo. No alto da carta, simplesmente anotou à mão e a lápis: "meu
terrível português"23. O sentido dessa simples anotação se esvai caso não seja
comparado a comentários subseqüentes, presentes em algumas cartas e em seus
textos autobiográficos, sobre a sua dificuldade com o português. Em setembro do
mesmo ano, Édison faria recomendações acerca dos resultados das pesquisas de
Landes na Bahia: "tenha cuidado ao escrever o livro. Como cientista você é honesta,
mas como literata ... D. Heloísa lembra que, pretendendo voltar ao Brasil, você não
deve dizer coisas desagradáveis. Por exemplo, que você encontrou cobras e onças nas
ruas do Rio de Janeiro [...]". Landes respondeu a um futuro leitor dessa carta e trecho:
"ele adorou meu livro"24.
Referências pessoais e mesmo a relação que manteve com Carneiro — citada em parte
relevante das cartas entre 1939 e 1940 — não são comentadas por Landes. O mesmo
ocorre com os comentários que Carneiro fez a intelectuais e personagens conhecidos
por ambos. Seu estilo de comentários sugere um desejo de auxiliar futuras leituras,
prover os documentos de uma espécie de tradução: esclarecimentos adicionais sobre
questões e personagens que futuros pesquisadores de seu arquivo poderiam
desconhecer. Talvez por imaginar que certas histórias estivessem mutiladas por causa
de lacuna de fontes, ou mesmo que faltasse ao futuro leitor/usuário de seus papéis
indicações que lhe permitissem investigar outras possibilidades de compreensão de sua
trajetória profissional e biografia.
As informações contidas em documentos produzidos pela antropóloga ou em diálogos
com outros autores e personagens tiveram outras finalidades. Landes consultara seus
próprios papéis durante a produção de várias versões de um texto autobiográfico
possivelmente iniciado no mesmo período em que colaborou com Women in the field.
Temos, portanto, modalidades paralelas de intervenção no que então se constituiria a
forma definitiva de sua coleção. A seguir, duas outras expressões dessa intensa
relação entre a atividade da memória voltada para a confecção de escritos de caráter
autobiográfico e a produção de um arquivo pessoal serão exploradas. Em primeiro
lugar, as práticas de ordenação e composição de documentos, incluindo a busca por
determinadas evidências que tornariam o arquivo completo. Em segundo, o
cotejamento, o controle e a hierarquização de eventos e histórias visando uma futura
biografia produzida a partir do seu próprio arquivo.
Meu tempo é ontem
As mulheres não podem ser o único foco de minhas memórias sobre Fisk.
Minha versão original escrita há 20 anos ou mais concentra-se num
departamento masculino — ali não havia nenhuma mulher.25
Parte dos percursos memorialistas de Landes pode ser reconstituída se seguirmos
retrospectivamente as últimas cartas deixadas em seu acervo até cerca de um ano
antes de seu falecimento. A partir delas e de informações disponíveis no inventário
produzido pelo próprio NAA, pode-se perceber que sua "infinidade de papéis e
'objetos'" foi preparada para ser doada à Smithsonian. Nesse período Landes também
auxiliou George Park e Alice Park (convidados por Landes para atuarem como seus
literary executors), na confecção de um verbete biográfico (1988)26.Para produzir seu
texto, George Park contou com a ajuda de Landes, elucidando partes desconhecidas ou
confusas de sua própria biografia. A pequena correspondência entre eles contém
algumas informações que nos ajudam a entender de que forma relações entre
biografia/autobiografia e o arquivo foram construídas.
Como mencionei, há claras indicações de que no final dos anos 60, antes do convite
feito por Peggy Golde, Landes começara a redigir uma autobiografia: fragmentos e
versões aos quais se referia como "Fisk memoir". As marcas desse processo são
inúmeras, embora seja impossível determinar a ordem e seqüência das diversas
versões encontradas. Com títulos diferentes — "A Chronicle of bloods", "Battle grounds
of Tennessee", "Color cancer", "Black Athena", "An american education on southern
ground" - esses textos são habitados por personagens que algumas vezes foram
renomeados. Certas cenas e situações, exauridas nas repetidas revisões,
transbordaram os limites do texto ficcional invadindo cartas, biografias e artigos
posteriores. Já nos últimos anos de sua vida, Landes justificava a solicitação de ajuda
para datilografar aquela que seria a versão final em um texto sem data e inacabado:
Visualmente incapacitada para escrever e datilografar, declarada
"legalmente cega" [...], peço auxílio para transcrever o manuscrito no
qual venho trabalhando há alguns anos [...] tendo feito várias versões,
todas necessitando de elaboração e revisão, sei que a mais recente
versão que planejo será extensa, incluindo as notas e a bibliografia; o que
pode resultar em muitas centenas de páginas digitadas.
Minha narrativa mostrará (das páginas do meu diário) personalidades
amplamente reconhecidas por suas realizações [...]. Como fiz pesquisa
entre os negros no Brasil (1938-1939) e na Grã-Bretanha (1950-1951), e
trabalhei no President's Committee on Fair Employment Practice [Comitê
Presidencial para a Eqüidade no Emprego] (1941-45), essas experiências
também entrarão em perspectiva. Meus resultados aparecem nos meus
artigos, em um livro sobre o Brasil e, em parte, em um outro livro, um
relatório que eu preparei para a Carnegie Corporation, na cidade de Nova
Iorque, produzido por Gunar Myrdal, American Dilema.
Foi o prof. Park, como eu, um norte-americano branco do norte, quem
persuadiu seu protegido C. S. Johnson e o Rosenwald Fund [Fundo
Rosenwald] (de Chicago) a me aceitarem por um breve período em Fisk
por dois motivos: para que eu visse a real segregação de cor, justamente
depois que a Corte do Estado do Tennesse proibiu o ensino da teoria
evolucionista de Darwin [...] e para que eu, uma forasteira de nível
superior que jamais havia estado no Sul, experimentasse as interações
com os Negros (termo utilizado). O livro que escrevo atualmente é uma
dívida que tenho para com aquele intelectual cinqüenta anos mais velho
do que eu, que formou uma geração de intelectuais negros e nunca se
limitou a restrições convencionais de "raça e gênero".27
Foi por intermédio de uma narrativa autobiográfica com pinceladas de ficção que
Landes procurou focalizar temas delicados como o das relações inter-raciais e
sexualidade em um campus ocupado majoritariamente por mulheres. Particularmente,
a diferença entre a quantidade de alunos e alunas em Fisk foi objeto de várias cartas a
outros intelectuais que estudaram na instituição ou escreveram sobre ela. Esse é o
caso de seu amigo e companheiro do período em que viveu em Nashville, Eli S. Mark
— professor de psicologia e assistente de Charles Spurgeon Johnson — e dos
historiadores John Franklin Hope Jr., Joe Richardson e David Southern. Com cada um
deles, Landes trocou cartas nas quais se perguntava sobre os motivos dessa
disparidade e, ao mesmo tempo, compartilhava revelações pessoais. A leitura destas
cartas põe em evidência uma obstinada busca por compreender sua passagem por
Fisk. Personagens e uma constante reinterpretação sobre o passado são transformados
em um 'estilo de memória' singular (Boon 1986:240). Por que sua passagem por Fisk
tinha provocado tanto ressentimento em meio a um corpo docente mobilizado em
torno de políticas e pesquisas que visavam a superação do Jim Crow (as políticas
segregacionistas adotadas por vários estados sulinos nos anos que se seguiram à
emancipação)? Por que as jovens negras eram enviadas aos colleges com maior
freqüência do que os rapazes? Por que comentários acerca de uniões e relações
sexuais inter-raciais eram tabu dentro e fora do campus? Landes travestiria indagações
semelhantes em um projeto investigativo, produzindo uma singular sinergia entre a
sua experiência e o que supunha marcar a condição de jovens alunas negras de Fisk.
Uma questão recorrente, presente em textos autobiográficos e nas cartas, era
entender por que sua presença no campus fora alvo de tanto desconforto e embaraço.
Em uma cópia da segunda carta enviada a Joe Richardson, Landes explica as razões
que a levaram a investir no seu relato autobiográfico:
Há muito venho reunindo notas sobre as minhas experiências de 1938 e
1939; há vinte anos atrás as escrevi de forma ligeiramente ficcional (para
proteger o anonimato) e mostrei a um editor que me incentivou a seguir
em frente. Naquela época a justificativa era, como continuaria sendo, que
o "entorno" (uma expressão estranha e cautelosa que CSJ [Charles
Spurgeon Johnson] usa no seu Negro College Graduate) não sabe como o
negro pensa — vivemos em mundos isolados. O estilo romanceado nos dá
aquela liberdade e ainda é o "comportamento" — e não os conceitos — o
que me interessa explorar. (Como em todos os meus livros e textos.)
Entretanto, no final de 1965, mudei para McMaster e me desviei por
outros caminhos, muito distintos. Retomei a reflexão sobre o "meu" Fisk
há menos de um ano atrás. Todas as pessoas que conhecia lá e aquelas
associadas àquele contexto estão mortas [...] [D]este modo não preciso
mais de um disfarce literário, ainda que, de qualquer forma, tenha que
encontrar um sinônimo para "eu", uma vez que não tenho em mente uma
autobiografia [...] [P]ara ganhar perspectiva, há meses venho
mergulhando em uma rica literatura ? em história, economia, ciências
sociais e romances, especialmente aqueles escritos por e sobre mulheres
do Sul. O arguto sentido que as mulheres sulinas têm das semelhanças
entre as escravas e as proprietárias de escravos. Os intensos sentimentos
abolicionistas no Sul! Seus efeitos são extraordinariamente focalizados no
diário de Mary Chesnut sobre a Guerra Civil e em Patriot Gore, de
Edmond Wilson. Quero assinalar as continuidades entre 1860 e 1937 de
FDR.28
Com Richardson, Landes trocou impressões pessoais e informações sobre a história da
instituição e o perfil socioeconômico de seus alunos e professores. Ele havia publicado
dois livros sobre educação universitária e segregação no pós-Guerra Civil (1980;
1986). Tais cartas são ricas em informações sobre a generalizada evitação por parte
dos dirigentes de Fisk em estimular encontros inter-raciais no campus e arredores. A
tentativa de manterem a universidade e seus alunos protegidos da ação de grupos
extremistas e, paralelamente, de protegerem-se de ataques e acusações às "mulheres
de cor" são as explicações mais freqüentes. Mas Landes rejeita as explicações quanto à
pretendida especificidade de tal comportamento, que lhe parecem semelhantes às
idéias que circulavam nos ambientes freqüentados pela elite branca de Nashville. O
que não parecia claro nas explicações fornecidas por Landes nessas cartas eram as
relações entre a sua visão subjetiva e a experiência como mulher, northerner, branca e
judia e a visão das jovens alunas negras em Fisk dos anos 30. Nem sempre suas
interpretações para a predominância de mulheres eram compartilhadas. Hope Jr., que
se graduou em Fisk nos anos 30, acreditava que as famílias enviavam suas filhas à
universidade para protegê-las das cozinhas e da prostituição. Baseada em dados
estatísticos e textos ficcionais, Landes deparava-se com outras indicações: solidão e
isolamento daquelas que buscavam encontrar homens negros com níveis educacionais
compatíveis29.Em uma das versões do "Manuscrito Fisk", a combinação de informações
oriundas de suas leituras sobre o Sul e o diálogo travado nas cartas são subsumidos
em uma narrativa autocentrada.
Durante meus primeiros dias no campus percebi o número maior de
mulheres entre os estudantes. Nos anos seguintes as estatísticas sobre
Fisk mostraram que, anualmente, havia três vezes mais garotas do que
homens. Mesmo diante das altas mensalidades e do Black Belt figurar
entre as regiões economicamente mais pobres do país. A Universidade de
Atlanta, também privada, e com mensalidades,, tinha um quadro
semelhante embora menos acentuado. O mesmo ocorria em Howard, que
era pública e dependia de subvenção do governo.
Por anos pensei na disparidade numérica em termos de gênero e nunca
encontrei resposta satisfatória. A namorada de Eli [S. Marks] debitava à
vizinha e preponderantemente masculina Meharry Medical School a
existência de um possível mercado matrimonial. (Estudo comparando os
ganhos dos casais negros demonstrou que as mulheres com nível superior
se casavam sem expectativas de receberem o apoio material dos maridos
para suprirem as despesas da casa e das crianças. O criticado estudo de
E. Franklin Frazier sobre as "novas" elites de cor descreveu o domínio das
esposas independente dos salários e qualificação profissional dos maridos,
incluindo o trabalho não qualificado.) Um historiador negro sugeriu que
algumas mães (ao que tudo indica, chefes de família) incentivavam suas
filhas a seguirem carreiras do magistério para protegê-las dos homens
brancos, uma tradição comparável à das famílias católicas ao enviarem os
rapazes para serem educados pelos padres".30
Se por um lado Landes parece ter sido uma das primeiras usuárias de suas cartas e
papéis, por outro a utilização desses documentos forneceu aos seus escritos
autobiográficos — em particular o seu "Fisk Manuscript" — um estilo narrativo que lhe
garantiria credibilidade, ao menos aos olhos de possíveis editores. Principalmente em
meados dos anos 80, as versões iniciais desses textos são retrabalhadas a partir do
uso sistemático de dados censitários, educacionais, memórias de sulistas feministas,
estudos sobre os períodos do pós-Guerra-Civil, do pós-emancipação e de segregação,
bem como seus impactos nos anos 50 com a deflagração do movimento pelos direitos
civis. Landes iniciaria então uma releitura de seus escritos na qual as jovens
estudantes dos campi universitários negros ganhavam proeminência. Essa
transformação, embora possa ter sido ocasionada pela contínua recusa dos editores
em publicar as versões mais fortemente centradas em sua própria experiência,
redireciona suas preocupações e angústias para um outro terreno. Landes tinha
consciência de que mais do que suas experiências, eram o ambiente e o cotidiano do
Jim Crow que faziam do seu texto uma narrativa atraente. Landes chama a atenção
para a riqueza histórica dos fatos e cenários nos quais viveu e dos quais foi
testemunha, mas conhece as limitações de um tratamento personalizado.
Sendo eu uma personagem branca vinda do norte (então com 27 anos
mas já tendo tido alguns envolvimentos com negros nesse curioso campo
de concentração americano), a história é contada de um ponto de vista
externo. A classe média negra (socioeconomicamente e culturalmente,
em termos educacionais e de renda, "classe alta") é muito discreta sobre
si mesma [...] e me arriscar me aproximando da imprensa negra da
universidade e da revista Ebony estava fora de questão.31
Em virtude da profusão de versões — não datadas, extremamente semelhantes e
paginadas de forma não-linear por meio de códigos alfanuméricos e que por vezes se
repetem — é impossível rastrear de forma clara a seqüência de textos autobiográficos
preservados sob a rubrica "Manuscrito Fisk". Não sabemos mesmo se a ordenação e
nomeação foram adotadas seguindo instruções da autora. Nessas caixas estão textos
contendo inúmeras correções à caneta e a lápis e excertos da mesma natureza.
Contudo, sua manutenção no arquivo nos oferece elementos importantes para a nossa
compreensão sobre temas, inflexões e índices que tornam a pesquisa com os papéis de
Ruth Landes mediada pelo seu desejo de perpetuar-se.
De volta ao futuro
Encontrei essas notas porque estou colocando em ordem papéis
relacionados à minha vida profissional para a Smithsonian Institution
(estou descobrindo textos fascinantes de décadas passadas que não tive
tempo de concluir).32
Landes assinou o termo de cessão de seus papéis para o NAA em novembro de 1984.
Seguindo as instruções da própria instituição, tratou de revisar seu testamento no
sentido de incluir informações explícitas sobre a doação, direitos de propriedade,
publicação e uso de seus papéis. Em carta aos seus advogados, reproduz trechos das
ponderações legais e acrescenta um curto resumo de seus livros, textos manuscritos e
artigos. Havia escrito diferentes livros sobre os Ojibwa e Potawatomi — dos quais os
cadernos de campo teriam sido, de forma não autorizada, entregues pela Universidade
de Colúmbia ao NAA. Como não detinha os direitos de reprodução de seus primeiros
escritos, preocupava-se com as informações contidas nos seus diários. Depois de
tentar, sem sucesso, sensibilizar o arquivista da Universidade de Colúmbia, Landes
dirige-se ao diretor do Departamento de Antropologia:
Esta carta se refere ao tratamento que o Departamento deu aos meus
primeiros escritos. O Conselho Geral da Smithsonian me escreveu em 20
de novembro do ano passado informando que diversos materiais de
campo de minha autoria "foram transferidos pela Universidade de
Colúmbia para os seus arquivos" há alguns anos atrás. Como nunca fui
notificada nem fiquei ciente de qualquer acordo relacionado a isso, para
mim isto foi um mistério. Pedi ao meu advogado de Nova Iorque para
entrar em contato com a Smithsonian e soube, por meio do dr. James
Glenn do National Anthropological Archives, que meu material estava em
um pacote de papéis [...] eu preciso saber o que de meu foi transferido
sem minha autorização [...] mesmo que estivesse morta durante o
período da "transferência", não haveria algum tipo de restrição legal para
isso? [...] estou reunindo um grande volume de material sobre minha
carreira para transferir para a Smithsonian como uma "doação sem
restrições" ressão deles) [...]. (exp33
Em maio de 1985, Landes encontrava-se em pleno processo de preparação de seus
papéis. Aflita, recorreu a velhos amigos, arquivistas, curadores e responsáveis jurídicos
de acervos pessoais e institucionais em busca de fragmentos materiais de sua própria
história profissional. Particularmente os funcionários responsáveis por coleções
pertencentes a instituições nas quais trabalhou e estudou foram inquiridos sobre a
localização de seus papéis e o direito de usá-los e guardá-los em seu próprio arquivo.
Como observa James A. Boon (1986), há uma íntima relação entre o trabalho de
campo e a atividade da memória e não é por acaso que as tentativas de Landes de
descrever, aludir, rememorar sua experiência de campo estão marcadas pela recriação
de personagens e interlocutores. Em carta a Leo Waisberg, explicava por que resolvera
trazer alguns personagens de volta do passado. Maggie Wilson, informante
fundamental no seu trabalho de campo entre os Ojibwa entre 1932 e 1936, é incluída
no repertório de personagens caros às cenas que necessita recompor e rememorar.
"Nesta pesada atmosfera de lembranças [...] eu agora incluo a pobre Maggie
Wilson"34.
A preocupação com o que estaria irremediavelmente perdido com sua morte parecia
instigá-la a expressar claramente seus sentimentos com relação às notas e diários de
campo. Como chamou a atenção Jean E. Jackson, essa preocupação e sentimento de
perda eminente de algo que ocupa posição central entre os objetos que se deseja
preservar foi comum entre os antropólogos por ela entrevistados (1990:10). O destino
dos papéis que já estavam sob a posse de Landes e daqueles que ansiava recuperar já
havia sido definido. Landes tinha consciência do seu valor e investiu diretamente,
contando com auxílio jurídico, em algumas tentativas de reavê-los.
Meu advogado de Nova Iorque conversou com o arquivista para saber a
natureza dos meus papéis, mas não recebemos qualquer resposta [...]
sou da era de Boas, Benedict, Klinenberg etc. e minhas primeiras
pesquisas de campo foram entre os índios de Ottawa [...] passei alguns
meses procurando meus primeiros cadernos de campo e não os encontrei
(são valiosos para esta área de estudo).35
O mesmo ocorreu com o texto que teria sido objeto do imbroglio ocorrido no Brasil — o
The ethos of the negro in the New World: a research memorandum36. Em maio de
1988, Landes escreve pela primeira vez ao presidente da Carnegie Corporation pedindo
seu relatório de volta. Em novembro de 1990, ela ainda insistia junto à curadora do
Schomburg Center for Black Culture — instituição responsável pelo acervo da Carnegie
— para que lhe devolvessem aquele que talvez considerasse o mais importante dos
fragmentos do seu passado37. Cerca de três meses depois de tentar sem sucesso ser
repatriada, Ruth Landes falece na condição de estrangeira em uma sociedade que
resistia em entender, a sociedade canadense. Na seção dedicada aos obituários, o New
York Times registra o acontecimento. As primeiras linhas do pequeno texto biográfico
ressaltam justamente o que tornou Landes sujeita a releituras e apropriações na cena
intelectual norte-americana a partir dos anos 70: "Dra. Landes, uma antropóloga que
recebeu críticas aos seus estudos sobre os negros brasileiros, índios do norte de
Dakota e hispano-americanos do sudoeste americano, morreu em 11 de fevereiro em
sua casa em Hamilton, Ontario. Ela tinha 82 anos".38
Como podemos ler o arquivo de Ruth Landes e refletir sobre os regimes de verdade
que o orientam? O que sua organização — cronologia e indexação — nos informa sobre
algumas narrativas biográficas? Ainda que nem todos os escritos sobre Landes tenham
sido produzidos a partir de seu arquivo, parte deles parece sobremaneira atrelada ao
que chamei de marcas e pistas sinalizadas nos papéis que compõem a RLP (Landes
1986 [1970]; Cole 1994; 1995a; 2003; Healey 1995; 2000). Penso que a configuração
e disposição particular de seus escritos profissionais e pessoais nos oferecem inúmeras
oportunidades de refletir acerca do uso dos arquivos e, em particular, quando seu
objetivo é produzir histórias intelectuais e da disciplina. Neste artigo, ao privilegiar
parte da correspondência tardia de Landes e sua intervenção em documentos
autobiográficos e cartas, pretendi analisar um singular processo de produção de
ordenamento e sentido da vida profissional da antropóloga ? como outras,
entrecortada de injunções pessoais. Estou certa de que ela é sempre eventual e
vulnerável aos usos que nós, usuários de arquivos, fazemos de tais documentos.
Portanto, sua interpretação é sempre contingente. Mesmo sob a intervenção posterior
dos arquivistas da NAA, interessou-me observar a RLP decompondo o que Zonabend e
Jamim chamaram de "arquivística", a seleção e o relevo dado a eventos, personagens
e documentos, produzida por Landes. Interessou-me observar como restaram como
uma espécie de camada — um conjunto diferenciado de intervenções produzidas ao
longo de um tempo imperfeito, destinado à lembrança, ao reencontro com o passado
em um acerto de contas impossível — sobre a qual outras certamente se impuseram. É
preciso não esquecer que as cartas colocam em relevo uma dimensão mais espontânea
— ainda que por vezes contraditória —, mas talvez mais profunda, do pensamento
(Handler 1983:215). Por isso mesmo é possível que nos ofereçam uma compreensão
privilegiada dos limites da escrita da história e de histórias da experiência etnográfica,
sobretudo aquelas com pretensões biográficas.
Notas
* Este texto é uma versão modificada de capítulo de um livro em preparação sobre
arquivos etnográficos. Agradeço a Celso Castro, Richard Price e aos pareceristas
anônimos da Mana pela leitura e comentários generosos, a John Homiak pelo estímulo
e suporte em diferentes etapas da pesquisa e aos arquivistas do National
Anthropological Archives (Smithsonian Institution) pelas excepcionais condições de
trabalho durante as primaveras de 2000 e 2003. A pesquisa teve o apoio da Harvard
University (DRCLAS), do CNPq e da John Simon Guggenheim Memorial Foundation.
RL/Eli S. Marks, 8/11/86. Ruth Landes Papers, National Anthropological
Archives/Smithsonian Institution, Box 3 (a seguir identificado apenas pelas iniciais
RLP/NAA). Todas as traduções são de minha responsabilidade. Agradeço a Brodwyn
Fischer pela revisão técnica.
2 Ruth Schlossberg Landes (1908-1991) obteve seu doutorado pela Columbia
University com um estudo sobre os Ojibwa (1935). Em 1937-1938, lecionou na Fisk
University e no ano seguinte realizou pesquisas no Brasil. Entre 1941 e 1949, ocupou
diversos cargos em instituições nos Estados Unidos e, em 1951, com bolsa da Fulbright
Comission, efetuou pesquisa sobre imigrantes caribenhos em Londres. A partir dos
anos 60, realizou viagens de pesquisa sobre bilingüismo e biculturalismo no País
Basco, na África do Sul, na Suíça e no Canadá. Entre 1965 e 1991, foi professora do
Departamento de Antropologia da McMaster University (Canadá).
3 RL/E.C. Fox, 28/1/66 e 9/2/66. RLP/NAA, Box 3.
4 A cidade das mulheres (1967), reeditado em 2002 pela editora da UFRJ.
5 Uma versão incompleta foi submetida à St. Martin's Press em 1965. RL/J. Bach,
12/5/85. RLP/NAA.
6 Vale notar o relevo dado a questões como subjetividade e posicionamento em
estudos produzidos por arquivistas (Kaplan 2002; Cook e Schwartz 1999).
7 Ver Guide to Preserving Anthropological Records (http//www.si.edu/naa).
8 Parte dos documentos pessoais de Landes foi doada por seus familiares ao Research
Institute for the Study of Man (RISM) depois de sua morte (Cole 2003).
9 Embora Golde tenha publicado trechos da carta, essas citações são oriundas do
manuscrito existente na RLP.
10 P. Golde, 8/8/67. RLP/NAA, Box 3.
11 Palavras em itálico e riscado reproduzem a intervenção de Landes na carta de P.
Golde, 6/11/67. RLP/NAA, Box 3.
12 Idem.
13 Idem.
14 RL/George Park, 31/8/85. RLP/NAA, Box 3. Ênfase no original.
15 Idem, p.2.
16 E. Carneiro, 28/1/68. RLP/NAA, Box 4.
17 Idem.
18 RL/G. Park, 31/8/85. RLP/NAA, Box 3.
19 RL/J. Braga, 10/12/86. RLP/NAA, Box 3.
20 RL/E. S. Ilmes, 10/10/1941, RLP/NAA, Box 5.
21 Algumas dessas cartas foram mantidas entre a correspondência de Edison Carneiro
doada pela família para o Museu do Folclore Édison Carneiro no Rio de Janeiro.
Infelizmente não há espaço para comentá-las neste artigo.
22 Por exemplo "você mesma reconhecerá que meu inglês está melhorando de carta
para carta". E. Carneiro, 14/7/39. RLP/NAA, Box 4. Uma parte das cartas enviadas por
E. C. nesse período estão em inglês. Algumas notas e observações estão escritas em
português.
23 E. Carneiro, 23/6/39. RLP/NAA, Box 4.
24 E. Carneiro, 18/9/39. RLP/NAA, Box 4.
25 RL/J. F. Hope Jr., 20/9/87. RLP/NAA, Box 3.
26 RL/George Park, 31/8/85. RLP/NAA, Box 3.
27 RL, sem data ou título. RLP/NAA, Box 3.
28 N.T. [FDR] Franklin Delano Roosevelt. RL/J. Richardson, 23/6/86. RLP/NAA, Box 4.
29 RL/J. Richardson, 23/6/86. RLP/NAA, Box 4.
30 "Fisk Manuscript", Chapter 2, p.54-55. RLP/NAA, Box 15.
31 RL/J. Bach, op. cit.
32 RL/J. Bach, 12/5/85. RLP/NAA, Box 3.
33 RL/A. Alland, 3/5/85. RLP/NAA, Box 3.
34 RL/L. Weinsberg, 15/4/1985, p.1. RLP/NAA/SI, Box 3 (ver Cole 1995a).
35 RL/H. Strong, 16/4/1985. RLP/NAA, Box 3.
36 Texto não publicado, que compõe o acervo da Carnegie Corporation, mantido pelo
Schomburg Center for Black Culture, New York Public Library.
37 O manuscrito intitulava-se "The ethos of the negro in the New World". RL/D.
Hamburg, 16/5/1988. RLP/Box 3; RL/D. Lachatañeré, 7/1990. RLP/NAA/SI, Box 3.
38 "Ruth Landes is dead: anthropologist was 82". The New York Times, 24/2/1991,
seção 1, parte 1, coluna 4, p.38.
Referências bibliográficas
ARTIÈRES, Philippe. 1998. "Arquivar a própria vida". Estudos Históricos, 21:9-34.
BOON, James. 1986. "Between-the-wars Bali: rereading the relics". In: G. Stocking Jr.
(ed.), Malinowski, Rivers, Benedict and others: essays on culture and personality.
Madison: The University of Wisconsin Press. pp. 218-247.
CARNEIRO, Edison. 1964. "Uma falseta de Artur Ramos". In: E. Carneiro (ed.), Ladinos
e criolos: estudos sobre o negro no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. pp.
223-227.
CLIFFORD, James. 1990. "Notes on Field(notes)". In: R. Sanjek (org.), Fieldnotes: the
making of anthropology. Ithaca: Cornell University Press. pp. 47-70.
COLE, Sally. 1994. "Ruth Landes in Brazil: writing, race, and gender in 1930s American
Anthropology". In: R. Landes (ed.), The city of women. Albuquerque: University of New
Mexico Press. pp. vii-xxxiv.
___ . 1995a. "Women's stories and Boasian texts: the Ojibwa ethnography of Ruth
Landes and Maggie Wilson." Anthropologica, 37(1): 3-25.
___ . 1995b. "Ruth Landes and the early ethnography of race and gender". In: R.
Behar e D. Gordon (eds.), Women writing culture. Berkeley: University of California
Press. pp. 166-185.
___ . 2002. "Mrs. Landes meet Mrs. Benedict": culture pattern and individual agency".
American Anthropologist, 104(2): 533-543.
___ . 2003. Ruth Landes: a life in anthropology. Lincoln: University of Nebraska Press.
COMAROFF, John e COMAROFF, Jean. 1992. Ethnography and historical imagination.
Oxford: Westview Press.
COOK, Terry e SCHWARTZ, Joan. 2002. "Archives, records, and power: from
(postmodern) theory to (archival) performance". Archival Science: International
Journal on Recorded Information, 3:171-185.
CORREA, Mariza. 2000. "O mistério dos orixás e das bonecas: raça e gênero na
antropologia brasileira". Etnográfica, 2:233-265.
___ . 2003. Antropólogas e antropologias. Belo Horizonte: Editora da UFMG.
DAVIS, Natalie Zemon. 1987. Fiction in the archives. Stanford: Stanford University
Press.
DERRIDA, Jacques. 2001. Mal de arquivo: uma impressão freudiana. Rio de Janeiro:
Relume Dumará.
DES CHENES, Mary. 1997. "Locating the past". In: A. Gupta e J. Ferguson (ed.),
Anthropological locations: boundaries and grouns of a field science. Berkeley:
University of California Press. pp. 66-85.
DI LEONARDO, Micaela. 2000. Exotics at home: anthropologist, others, american
modernity. Chicago: The University of Chicago Press.
DIRKS, Nicholas. 2001. "The imperial archive: colonial knowledge and colonial rules".
In: Nicholas Dirks (org.), Castes of mind: colonialism and the making of modern India.
Princeton: Princeton University Press. pp. 107-124.
DUBY, Catherine. 1999. "Archives ethnographiques". Gradhiva. Revue d'Histoire et
d'Archives de l'Anthropologie, 25:112-114.
FARGE, Arlette. 1989. Le gôut de l'archives. Paris: Éditions du Seuil.
FOUCAULT, Michel. 1986. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: ForenseUniversitária.
___ . 1992. "A escrita de si". In: M. Foucault (ed.), O que é um autor? Lisboa: Vega.
pp. 129-160.
GINZBURG, Carlo. 1991. "Sinais, raízes de um paradigma indiciário". In: C. Ginzburg
(ed.), Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das
Letras. pp.143-80.
GOLDE, Peggy. 1986a [1970]."Introduction". In: Women in the field: anthropological
experiences. Berkeley: University of California Press. pp. 1-15.
___ . (org.). 1986b [1970]. Women in the field: anthropological experiences. Berkeley:
University of California Press.
GROOTAERS, Jan-Lodewijk. 2001/ 2002. "De l' exploitation des archives de terrain ?
une textualisation en chaîne". Gradhiva. Revue d'Histoire et d'Archives de
l'Anthropologie, 30-31:73-80.
GUPTA, Akhil e FERGUSON, James. 1997. "Discipline and practice: "the field" as site,
method, and location in anthropology". In: Akhil Gupta e James Ferguson (orgs.),
Anthropological locations: boundaries and grouns of a field science. Berkeley:
University of California Press. pp. 1-46.
HAMILTON, Carolyn et alii (ed.). 2002. Refiguring the archive. Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers.
HANDLER, Richard. 1983. "The dainty and the hungry man: literature and
anthropology in the work of Edward Sapir". In: G. Stocking Jr (org.), Observers
observed: essays on ethnographic fieldwork. Madison: The University of Wisconsin
Press. pp. 208-231.
___ . 1990. "Ruth Benedict and the modernist sensibility". In: M. Manganaro (org.),
Modernist anthropology. Princeton: Princeton University Press. pp. 163-180.
___ . 2000. "Boundaries and Transitions". In: Richard Handler (org.), Excluded
ancestors, inventible traditions: essays toward a more inclusive history of
anthropology. Medison: University of Wisconsin Press. pp. 3-9.
HEALEY, Mark Alan. 1996. "Os desencontros da tradição em A Cidade das Mulheres:
raça e gênero na etnografia de Ruth Landes". Cadernos Pagu, 6-7:153-200.
___ . 2000. "The sweet matriarchy of Bahia: Ruth Landes' ethnography". Disposition,
50:87-116.
JACKSON, J. E. 1990. "'I'am a fieldnote': fieldnotes as a symbol of professional
identity". In R. Sanjek (org.), Fieldnotes: the makings of anthropology. Ithaca: Cornell
University Press. pp. 3-33.
JAMIN, Jean e ZONABEND, Françoise. 2001/2002. "Archivari". Gradhiva. Revue
d'Histoire et d'Archives de l'Anthropologie, 30-31:57-65.
JOLLY, Éric. 2001/2002. "Du fichier ethnographique au fichier informatique? le fonds
marcel Griaule: le classement des notes de terrain". Gradhiva. Revue d'Histoire et
d'Archives de l'Anthropologie, 30-31: 81-103.
KAPLAN, Elisabeth. 2002. "'Many paths to partial truths': archives, anthropology, and
the power of representation". Archival Science: International Journal on Recorded
Information, 3:209-220.
KUPER, Hilda. 1984. "Function, history, biography: reflections on fifty years in the
British anthropological tradition". In: G. Stocking Jr. (org.), Functionalism historicized:
essays on British social anthropology. Madison: The University of Wisconsin Press. pp.
192-213.
LANDES, Ruth. 1967 [1947]. The City of Women. New York: MacMillan Press.
___ . 1986 [1970]. "A Woman anthropologist in Brazil". In: P. Golde (ed.), Women in
the field: anthropological experiences. Berkeley: University of California Press. pp. 119139.
MEAD, Margaret. 1986 [1970]. "Fieldwork in the Pacific South". In: P. Golde (ed.),
Women in the field: anthropological experiences. Berkeley: University of California
Press. pp. 213-239.
___ . 1972. Blackberry winter: my early years. New York: Kodansha International.
MOUTON, Marie-Dominique. 2001/ 2002. "Archiver la mémoire des ethnologues".
Gradhiva. Revue d'Histoire et d'Archives de l'Anthropologie, 30-31:67-72.
NEWTON, Esther. 1993. "My best informant's dress: the erotic equation in fieldwork".
Cultural Anthropology, 1:3-23.
PAREZO, Nancy e SILVERMAN, S. 1995. Preserving anthropological record. New York:
Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research.
PARK, A. e PARK, G. 1988. "Ruth Schlossberg Landes". In: U. Gacs (ed.), Women
anthropologists: a biographical dictionary. New York: Greenwood Press. pp. 208-213.
POWDERMAKER, Hortence. 1966. Strange and friend: the way of an anthropologist.
New York: W.W. Norton & Co.
PRICE, Richard. 1983. First time: the historical vision of an Afro-American people.
Baltimore and London: John Hopkins University Press.
PRICE, Richard e PRICE, Sally. 2003. The roots of roots or, how afro-american
anthropology got its start. Chicago: Prickly Paradigm Press.
RAMOS, A. 1942. A aculturação negra no Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional.
RICHARDS, Thomas J. 1992. "Archive and Utopia". Representations, 61: 104-135.
___ . 1993.The imperial archive: knowledge and the fantasy of empire. London: Verso.
RICHARDSON, Joe M. 1980. A history of Fisk University, 1865-1946. Alabama:
University of Alabama Press.
___ . 1986. Christian reconstruction: the american missionary association and
southern blacks, 1861-1890. University of Georgia Press.
SANJEK, Roger. 1990a. Fieldnotes: the makings of anthropology. Ithaca: Cornell
University Press.
STEEDMAN, Carolyn. 2002. Dust: the archive and cultural history. New Brunswick:
Rutgers University Press.
STOCKING JR., George W. 1983. "History of anthropology: whence/whither". In: G. W.
Stocking Jr. (ed.), Observers observed: essays on ethnographic fieldwork. Madison:
The University of Wisconsin Press. pp. 3-12.
___ . 1986. "Essays on culture and personality". In: G. W. Stocking Jr. (ed.),
Malinowski, Rivers, Benedict and Others. Essays on culture and personality. Madison:
The University of Wisconsin Press. pp. 3-12.
STOLER, Ann Laura. 2002. "Colonial archives and the arts of governance". Archival
Science: International Journal on Recorded Information, 2:87-109.
TROUILLOT, Michel-Rolph. 1995. Silencing the past. Boston: Beacon Press.
VIANNA, Aurélio et alii. 1986. "A vontade de guardar: lógica da acumulação em
arquivos privados". Arquivo e Administração, 2:62-76.
Recebido em 10 de dezembro de 2003
Aprovado em 15 de setembro de 2004
MANA 10(2):287-322, 2004
TEMPO IMPERFEITO:
UMA ETNOGRAFIA
DO ARQUIVO*
Olívia Maria Gomes da Cunha
Às vezes me passa pela cabeça como seria bom ter uma ‘secretária particular’
para classificar ou mesmo para me ajudar com a minha grande quantidade
de notas, papéis, livros (que escrevi), parafernália de escritos, até me dar
conta que dar ordens a um ser humano é pior que outras obrigações. Como
não vejo fim na minha pesquisa e escrita, sei que só com a minha morte esses incômodos terão fim.
(Ruth Landes 1986 [1970])1
Uma carta de Peggy Golde enviada a Ruth Landes em 1967 sugere o início de um cuidadoso ordenamento, revisão e releitura de determinados
eventos que marcaram uma trajetória profissional e pessoal2. Contudo,
seria precipitado debitar exclusivamente a esse evento as tentativas de
Landes de revolver lembranças. Outros acontecimentos coadjuvaram para que diferentes exercícios de memória fossem iniciados. No ano anterior, Landes retornara ao Brasil, graças ao apoio da empresa canadense
Brazilian Traction, Light and Co. Ltda e da McMaster University, com um
projeto sobre desenvolvimento e urbanização. Como ela própria salientara em carta aos financiadores, “na meia-idade, estou de volta rapidamente para ver o que aconteceu em 27 anos”3. Landes reencontrara Édison
Carneiro. Com ele perambulara pelo centro de um Rio de Janeiro modernizado e compartilhara lembranças de Salvador na década de 30. No ano
seguinte, a edição brasileira de seu The city of women (1947) veio a lume
graças aos retoques e à revisão cuidadosa do amigo4. Mas Landes viu-se
às voltas com outras lembranças fustigadas bem antes do seu retorno ao
Brasil e detalhadas em diferentes versões de um manuscrito de um livro
jamais concluído, que chamou “autobiografia ligeiramente ficcional” —
suas desventuras como professora na Fisk University, um black college
288
TEMPO IMPERFEITO
localizado em Nashville, Tennessee, no sul dos Estados Unidos, no final
dos anos 305.
Primeira filha de um casal de imigrantes judeus, Ruth Schlossberg
Landes nasceu em Nova Iorque em 8 de outubro de 1908. Sua mãe, Anna Grossman Schlossberg, nascera na Ucrânia em 1881, mas fora educada pela tia materna em Berlim até 1900, quando a família imigrou para
os Estados Unidos. Foi em Nova Iorque que Anna conheceu Joseph
Schlossberg, pai de Ruth. Filho mais velho de uma numerosa família da
Bielo-Rússia, Joseph mudou-se para Nova Iorque em 1888, fugindo do
avanço dos pogroms e do anti-semitismo na Europa. Em sua adolescência, Joseph vinculou-se a grupos sindicais de orientação socialista e escreveu em publicações sindicais editadas em ídiche. Em 1914, passou a
militar como tesoureiro da recém-criada Amalgamated Clothing Workers
of America (ACW), editando seu semanário — o Advance. Além do sindicalismo socialista, Schlossberg participou em frentes e campanhas de
solidariedade a imigrantes judeus oriundos da Europa, bem como na expansão do movimento sionista nos Estados Unidos e em campanhas de
mobilização para a criação do Estado de Israel.
A figura paterna, recorrentemente citada em vários escritos da autora, foi responsável pelo ambiente familiar secular em que se deu a socialização de Ruth Landes, em uma cidade em acelerado crescimento e palco de transformações culturais, étnicas e sociais (Park e Park 1988; Cole
2003). A participação de mulheres de classe média e, em particular, oriundas de famílias de imigrantes judeus, nas escolas, universidades, círculos
intelectuais e artísticos e no mercado de trabalho na Nova Iorque dos
anos 20 é intensa. Ruth Landes integrou uma geração que desafiou os espaços limitados da modernidade de uma sociedade capitalista em expansão, rompendo as barreiras da proteção familiar, da tutela e da subordinação (Di Leonardo 1998).
Após concluir o bacharelado em sociologia na New York University,
em 1928, e, um ano depois, o mestrado na New York School of Social
Work (Columbia University) com uma dissertação sobre um grupo de dissidentes da UNIA (United Negro Improvement Association) — liderada
por Marcus Garvey —, popularmente conhecido como “judeus negros”,
que se reuniam em uma sinagoga do Harlem (a Beth B’nai Abraham),
Landes aproximou-se, de forma definitiva, da mais importante geração
de alunos e professores de antropologia da Universidade de Columbia,
sob a orientação e proteção de Franz Boas. O interesse pelas transgressões étnico-religiosas e político-culturais promovidas pelos seguidores do
líder barbadiano Arnold J. Ford — em grande parte imigrantes caribe-
TEMPO IMPERFEITO
nhos das ilhas britânicas, que conectavam o judaísmo à luta anti-segregação no país — instigou Landes a dar continuidade a seu treinamento
acadêmico. Foi um amigo pessoal de seu pai e aluno de Boas, Alexander
Goldenweiser, quem a levou à antropologia e à Columbia (Landes 1986
[1970]; Park e Park 1988; Cole 2003).
Após um intenso trabalho de campo entre os Ojibwa do Canadá, realizado entre 1932 e 1934, sob a supervisão e cuidado pessoal de Ruth Benedict, Landes concluiu, em 1935, seu doutorado em antropologia em Columbia (Landes 1969). A partir das experiências de campo entre os Ojibwa — da coleta e produção de histórias de vida —, a autora amplia seus
estudos sobre grupos indígenas norte-americanos: os Sioux em Minnesota, 1933, e os Prairie Potawatomi em Kansas, 1935 (Cole 1995a; 2002;
2003). Em 1937, a convite de Robert E. Park, Landes rumou a Nashville,
para assumir um posto de instrutora na Fisk University. A iniciativa contou com o incentivo de Benedict e Boas, que viam a experiência como um
“laboratório” necessário para futuras pesquisas no Brasil. Landes residiu
em Nashville por aproximadamente sete meses, dando aulas e revisando
os manuscritos de seus livros. Foi nesse ambiente que conheceu alguma
literatura sobre o Brasil e teve contato com outros estudiosos da sociedade brasileira: além de Park ? que passara pelo Rio de Janeiro e Salvador
ao final de uma viagem pela Índia, China e África do Sul ?, Donald Pierson e Rüdiger Bilden. Landes chegou ao Brasil em janeiro de 1938, deixando o país em julho de 1939. Em um curto e tumultuado período de pesquisa de campo em alguns dos mais importantes terreiros afro-baianos —
além de passagens pelos terreiros de umbanda cariocas —, Landes recolheu material para aquele que seria o seu estudo mais emblemático, redigido quase dez anos depois de deixar o Brasil (Landes 1967 [1947]).
Embora as experiências vividas por Landes no Brasil tenham instigado diferentes autores a produzir análises variadas sobre sexismo, disputas e autoridade intelectual, Landes continuou a produzir e interessarse por temas diversos que envolviam, sobretudo, a imposição de fronteiras étnicas, culturais e lingüísticas a grupos minoritários. Nos anos 40,
ela pesquisou populações de origem latino-americana na Califórnia e os
acadianos na Luisiana; durante os anos 50, com uma bolsa da Fulbright
Comission, fez pesquisa entre imigrantes caribenhos em Londres. Nos
anos 60, conflitos étnicos e políticos em sociedades bilíngües levaram
Landes ao País Basco, à África do Sul, à Suíça e ao Canadá. Essas experiências em diferentes sociedades resultaram em livros, em manuscritos
inacabados e, ironicamente, em uma constante instabilidade profissional.
Landes atuou em instituições e universidades nos Estados Unidos por pe-
289
290
TEMPO IMPERFEITO
ríodos limitados, até que, em 1965, obteve o seu primeiro posto no Departamento de Antropologia da McMaster University, em Hamilton, Ontário (Canadá). Foi instalada naquele país que começou a burilar suas
lembranças.
Ativar a memória por meio de lembranças registradas em papel não
parece ter sido tarefa fácil para Landes no seu quase exílio canadense.
Entre 1967 e 1991, ano de sua morte, esteve devotada ao exercício quase
diário de recolher marcas, fragmentos e sinais que atestassem seu pertencimento ao passado e seus vínculos e envolvimento emocional com
este. Pelo menos é o que sugerem os indícios de diferentes exercícios de
memória deixados nas cartas, cartões, bilhetes, anotações dispersas, fotos amareladas, projetos inacabados, manuscritos reescritos, diários de
campo, documentos familiares e relatórios produzidos por ela ao longo
de mais de 60 anos. Um dos resultados desse atento cuidado de documentar o passado foi a organização de seus papéis pessoais e profissionais para que fossem doados ao National Anthropological Archives
(NAA), órgão que integra a Smithsonian Institution, após a sua morte.
Essa não foi uma prática comum entre os antropólogos de sua geração,
cujos papéis pessoais e profissionais foram inadvertidamente deixados
aos cuidados de terceiros ou, nas palavras de Richard Price e Sally Price
(2003:2), transformados por esses em “relíquias”. Em um outro extremo,
também incomum, arderam no fogo de um voluntário esquecimento. Essa foi a atitude que teria tomado E. E. Evans-Pritchard ao saber do desejo de que seus documentos fossem preservados. Conta a história que ele
os teria colocado em um saco e queimado no jardim (Burton apud Grootaers 2001/2002).
Meu primeiro contato com a coleção de Landes, em 2000, colocoume diante de inúmeras questões. Os usos, histórias e relevância creditados a Landes — como personagem — e ao seu livro emblemático apareciam então reconfigurados. O arquivo oferecia uma perspectiva quase sedimentar para observarmos alguns investimentos pessoais e institucionais
em torno de sua trajetória profissional a partir de uma perspectiva comparada. Meu contato com arquivos dessa natureza era parte de um projeto
que visava compreender a rede de diálogos intelectuais e políticos que
possibilitaram a criação de uma área de estudo distintamente concebida
nos Estados Unidos, em Cuba e no Brasil entre os anos 30 e 40: os ‘estudos afro-americanos’. Ao transpor fronteiras nacionais e refletir sobre as
configurações institucionais que permitiam que arquivos e coleções de expoentes dessa geração de antropólogos fossem mantidos e tivessem visibilidade pública, percebi que havia bem mais do que diários, cartas e ma-
TEMPO IMPERFEITO
nuscritos para serem lidos. Resolvi indagar de que forma — uma vez em
relevo seus usos e políticas institucionais de preservação — poderiam se
prestar a uma reflexão mais ampla sobre a natureza do trabalho etnográfico. Passei então a observar os arquivos e as coleções que neles se abrigam
como resultado de procedimentos sucessivos de constituir e ordenar conhecimentos, realizados não só pelas mãos dos arquivistas, mas por seus
virtuais usuários. Esse questionamento me permitiu investigar, por exemplo, como determinadas fontes — o que Michel-Rolph Trouillot chama de
instâncias de inclusão (1995:48) — são constituídas, sedimentadas e utilizadas. A observação, descrição e interpretação dessas instâncias — vozes,
verdades, lógicas de classificação, usos, formas de veiculação de conteúdo
e valor dos artefatos que os arquivos e as coleções abrigam — puderam
então ser concebidas como uma etnografia: uma modalidade de investigação antropológica que toma determinados conjuntos documentais, mais
especificamente as coleções e os arquivos pessoais cujos titulares foram ou
são praticantes da disciplina, como campo de interesse para uma compreensão crítica acerca das formas de produzir histórias da disciplina.
Em vez de os arquivos serem concebidos como produto final de uma
série de intervenções de caráter técnico — atividades supostamente naturais de classificação, ordenação e instituição de marcadores temáticos
e cronológicos, por vezes desempenhadas pelos arquivistas —, eles serão
o objeto da reflexão que este texto propõe. A observação do processo de
colaboração da própria Landes na preparação de seus papéis antes que
dessem origem a uma coleção — a Ruth Landes Papers (RLP) —, oferecenos uma perspectiva de observação privilegiada de um processo singular
de constituição de um arquivo. Antes, é preciso focalizar, ainda que brevemente, a relação entre etnografia e pesquisa em arquivo.
Etnografia e arquivo
A relação dos antropólogos com os arquivos é contemporânea aos vários
processos de institucionalização da disciplina: a produção de conhecimentos acerca de um tipo singular de subjetividade, alteridade e diferença (Richards 1992; 1993). As informações que os arquivos preservam
mantêm afinidade com a produção de saberes coloniais e com a prática
de seus agentes diretos e indiretos. Além de fonte e emblema de poder e
conhecimento, os arquivos coloniais inventaram e aperfeiçoaram formas
específicas de produzi-los. Entre elas, deve-se ressaltar a criação de tecnologias específicas, voltadas para a manutenção e ordenação de con-
291
292
TEMPO IMPERFEITO
juntos documentais diversos, particularmente notável na persistente atenção de seus especialistas em tornar perene tudo aquilo que pudesse testemunhar e registrar o contato, as formas de dominação, a violência e o
poder da superioridade racial e cultural das metrópoles sobre seus súditos coloniais. Além das técnicas de ordenamento e controle de tudo aquilo que, de outra forma, estaria virtualmente sujeito ao desaparecimento e
à dispersão, artefatos orientados pela mesma lógica classificatória são
criados: inventários, catálogos, cronologias, classificadores e critérios de
valor passam a compor um rico universo de saberes, instrumentos e tecnologias arquivísticas. O arquivo é a “instituição que canoniza, cristaliza
e classifica o conhecimento de que o Estado necessita, tornando-o acessível às gerações futuras sob a forma cultural de um repositório do passado
neutro” (Dirks 2001:107).
Nos últimos anos, além de historiadores e arquivistas, antropólogos
têm se voltado para os arquivos como objeto de interesse, vistos como
produtores de conhecimentos. Não preservam segredos, vestígios, eventos e passados, mas abrigam marcas e inscrições a partir das quais devem ser eles próprios interpretados. Sinalizam, portanto, temporalidades
múltiplas inscritas em eventos e estruturas sociais transformados em narrativas subsumidas à cronologia da história por meio de artifícios classificatórios. Tais tentativas de inscrever evento e estrutura na topografia dos
arquivos implicam procedimentos constantes de transformação. Os arquivos tornaram-se então territórios onde a história não é buscada, mas
contestada, uma vez que constituem loci nos quais outras historicidades
são suprimidas (Comaroff e Comaroff 1992; Hamilton et alii 2002; Price
1983; Steedman 2002; Stoler 2002). Assim, o caráter artificial, polifônico
e contingente das informações contidas nos arquivos — bem como as modalidades de uso e leituras que ensejam — têm sido repensados (Davis
1987; Farge 1989; Ginzburg 1991). Diferentes análises e perspectivas em
torno do uso e natureza dos acervos arquivísticos convergem em uma
mesma preocupação: é preciso conceber os conhecimentos que compõem
os arquivos como um sistema de enunciados, verdades parciais, interpretações histórica e culturalmente constituídas — sujeitas à leitura e novas
interpretações (Foucault 1986:149).
Apesar da familiaridade da antropologia com os arquivos, a relação
entre ambos esteve sujeita a diferentes apropriações. A identificação da
pesquisa em arquivos com as práticas antropológicas, entre elas a pesquisa de campo e a produção de etnografias, permanece sendo alvo de
tensão. Tem sido associada à impossibilidade de estar lá e a formas secundárias de contato entre observadores e ‘nativos’ mediadas por cama-
TEMPO IMPERFEITO
das de interpretação intransponíveis e contaminadas. Descrever e interpretar a partir de informações contidas em documentos caracterizaria
uma atividade periférica, complementar e distinta da pesquisa de campo
e suas modalidades narrativas. Assim, a presença do arquivo na prática
antropológica ou está afastada temporalmente daquilo que os antropólogos de fato fazem — caracterizando a prática dos chamados antropólogos
de gabinete — ou constitui marcadores fronteiriços da antropologia com
outras disciplinas — uma vez vinculados à prática dos historiadores, museólogos e arquivistas (Clifford 1994; Stocking Jr. 1986)6.
Mary Des Chenes (1997) questionou a naturalização das fontes arquivísticas e o lugar destinado às investigações em arquivos dentro da
disciplina. Observou, por exemplo, a legitimidade conferida aos textos
etnográficos, por descreverem e documentarem relações interpessoais
supostamente diretas, e a pouca relevância dos documentos oriundos dos
arquivos, vistos como espécies de relatos frios, maculados por camadas
imprecisas de interpretação. A exclusão dos arquivos como um possível
campo da atividade etnográfica pressupõe a centralidade de modalidades específicas de pesquisa. “Documentos encontrados ‘no campo’”, argumenta Des Chenes, “são tratados como sendo algo de categoria distinta daqueles depositados em outros lugares” (1997:77). O caráter aparentemente artificial e potencialmente destruidor das supostas vozes e consciências nativas conferiria aos arquivos uma posição desprivilegiada entre os lugares nos quais o conhecimento antropológico é possível.
Por esse viés, a pesquisa em arquivo aparece como antítese da pesquisa de campo, e sua transformação em uma etnografia é vista com ceticismo. Essa posição se deve, em parte, ao legado funcionalista que postulou a centralidade da primeira como locus da prática antropológica.
Mas não só. Afinal, documentos não falam e o diálogo com eles — quando alvo de experimentação — implica técnicas não exatamente similares
às utilizadas no campo. No entanto, os antropólogos têm pretendido bem
mais do que ouvir e analisar as interpretações produzidas pelos sujeitos e
grupos que estudam, mas entender os contextos — social e simbólico —
da sua produção. Aqui me parece residir um ponto nevrálgico que possibilita tomarmos os arquivos como um campo etnográfico. Se a possibilidade de as fontes “falarem” é apenas uma metáfora que reforça a idéia
de que os historiadores devem “ouvir” e, sobretudo, “dialogar” com os
documentos que utilizam em suas pesquisas, a interlocução é possível se
as condições de produção dessas ‘vozes’ forem tomadas como objeto de
análise — isto é, o fato de os arquivos terem sido constituídos, alimentados e mantidos por pessoas, grupos sociais e instituições.
293
294
TEMPO IMPERFEITO
“Entre os lugares que os antropólogos têm ido quando vão para o
campo, está o arquivo”. A provocação de Mary Des Chenes (1997:76) capta bem transformações que vêm alterando a face da antropologia desde
pelo menos os anos 80. A virada histórica da disciplina nos Estados Unidos e a relativização da noção de campo possibilitaram variadas experimentações metodológicas nos modos de se conceber e utilizar os arquivos.
O que dizer então quando os antropólogos se voltam aos arquivos como
um campo de onde pretendem observar e refletir acerca das práticas de
seus pares e das perspectivas que as informam (ou informavam)? Arquivos etnográficos, tradicionalmente reconhecidos como repositórios de informações sobre os ‘outros’, passam a ser reconhecidos como lugares onde
o processo de construção de sua objetivação pode ser compreendido.
A problematização a respeito da produção de histórias da disciplina
e sua conexão com discussões sobre o uso de arquivos pessoais ainda é
bastante tímida. Tal fato se deve em parte às vicissitudes da história da
antropologia como uma área de interesse. Em um dos textos no qual um
programa em torno de um olhar retrospectivo é esboçado, George W.
Stocking Jr. (1983:3) observa que antes de se tornar uma área de especialização, a história da disciplina limitava-se à atenção exclusiva de “antropólogos idosos” e “historiadores errantes”. Nos anos 80, uma série de
injunções leva os antropólogos a se debruçarem criticamente sobre os
conhecimentos produzidos por seus pares. Grande parte dos estudos desse período é realizada em um contexto amplo de debates sobre uma sentida ‘crise’ da antropologia envolvendo questões políticas e éticas relacionadas à pesquisa de campo. Um olhar retrospectivo da disciplina esteve, deste modo, marcado por questionamentos políticos e debates éticos do presente de seus produtores. O contexto de crítica interna resultou em um processo de autofagia e “canibalização” (Handler 2000:4), no
qual a história da disciplina passa a ser um dos seus mais importantes
objetos. Essa questão imprimiu um viés singular aos projetos que visavam rastrear trajetórias profissionais, fluxos de idéias, políticas de financiamento e histórias envolvendo a tensa relação entre a disciplina e a
constituição de saberes coloniais e imperiais (Stocking Jr. 1991; Thomas
1994). Ainda assim, algumas questões restaram sem resposta: Qual é a
origem dos dados, informações e registros utilizados para produzir tais
histórias? De que natureza são e como foram utilizados? Se constituem
unidades ou conjuntos documentais de caráter autoral, como estão arranjados/organizados e a que instituições/pessoas pertencem? Por fim,
de quais lugares e a partir de que perspectivas tais histórias da disciplina têm sido produzidas?
TEMPO IMPERFEITO
Mesmo as análises preocupadas em evidenciar os mecanismos que
garantiram o desenvolvimento de pesquisas, de relações interinstitucionais, de debates intelectuais, de políticas de financiamento e, finalmente,
das condições que permitiram a finalização das etnografias, naturalizaram
as fontes a partir das quais tais questões podem ser evocadas. Verdades
mais ou menos parciais foram encontradas no terreno acidentado dos textos e muito pouco se intuiu acerca dos regimes de poder que as tornaram
relevantes como objeto de guarda e preservação em arquivos: perguntas
tais como quando e por meio de que operações tais marcas do passado deixaram de ser atos pessoais e se tornaram fatos sociais (Comaroff e Comaroff 1992:34). Parcas alusões por vezes aparecem em notas explicativas de
livros e artigos publicados, juntamente com dados e origem dos documentos citados. As fontes arquivísticas são concebidas como construções prontas para serem utilizadas e interpretadas por leitores especializados. Sua
organização, diferenciação e hierarquia interna não são matéria de observação. Quando muito, são descritas de modo a informar o leitor sobre sua
amplitude e, muito pouco, sobre sua natureza, usos e finalidades.
É interessante notar que, se parte substancial dos esforços em salvaguardar e proteger os arquivos dos antropólogos, bem como a vasta produção bibliográfica sobre histórias da disciplina, tiveram origem nos Estados Unidos7, são os antropólogos franceses — por razões diversas, privados de tais políticas e incentivos — que têm promovido uma intensa
reflexão sobre o estatuto epistemológico de tais projetos históricos/biográficos e as fontes que os tornam possíveis (Duby 1999; Jamin e Zonabend 2001/2002; Jolly 2001/2002; Mouton 2001/2002; Parezo e Silverman
1995). Essa perspectiva diversa nos oferece um duplo olhar para os modos pelos quais a reflexão sobre o lugar das histórias da disciplina e seus
praticantes tem sido experimentada. Ao compreender seus lugares estratégicos, suas relações de posição e hierarquia, bem como seus usos em
textos biográficos e autobiográficos, é possível conceber os arquivos como campo da prática etnográfica (Cook e Schwartz 2002; Des Chenes
1997; Kaplan 2002; Stoler 2002). Transformam-se assim em lugares de
observação privilegiada de como a antropologia se transforma em linguagem e estilo de produção de determinadas ‘histórias singulares’.
Etnográfico e pessoal
Mas afinal, quais são as fronteiras que delimitam e os critérios que definem o que tenho chamado arquivos etnográficos? Assim como outros ar-
295
296
TEMPO IMPERFEITO
quivos científicos, aqueles que reúnem documentos escritos, visuais e
iconográficos recolhidos, produzidos e/ou colecionados por antropólogos
durante a sua trajetória profissional e pessoal caracterizam-se pela sua
estrutura fragmentária, diversificada e, paradoxalmente, extremamente
subjetiva. Os arquivos etnográficos e seu duplo, os arquivos pessoais, são
construções culturais cuja compreensão é fundamental para entendermos como certas narrativas profissionais foram produzidas e como sua
invenção resulta de um intenso diálogo envolvendo imaginação e autoridade intelectual.
Papéis transformados em documentos mantidos em arquivos institucionais revelavam muito mais do que vicissitudes biográficas; revelavam
vínculos profissionais, intelectuais e relações de poder de natureza diversa. Para diferentes autores, sua especificidade estaria justamente naquilo que torna a antropologia emblemática no seu constante desejo de subjetivação: os arquivos etnográficos supostamente conservam desejos,
projetos por vezes malsucedidos, de identificar, classificar, descrever o
‘outro’. Jean Jamin e Françoise Zonabend (2001/2002) referem-se a uma
duplicidade constitutiva que fornece singularidade aos documentos conservados/produzidos pelos antropólogos. Os autores chamam atenção para o fato de que
[e]ntre as outras ciências humanas a antropologia está finalmente autorizada a constituir sua própria “arquivística” ao colocar em cena e na escritura a
tensão epistemológica que existe entre os processos de objetivação (monografias, artigos, tratados e manuais) e subjetivação (diários de campo e pesquisa, memórias e autobiografias) notadamente representados pelas coleções e obras tornadas emblemáticas, [que] parecem adicionar à autoridade
científica de um etnólogo a aura de um escritor e que, bem entendido, colocam a questão de si e do outro, do próximo e do distante, do íntimo e do público. (Jamin e Zonabend 2001/2002)
Tais esforços resultam em “arquivos de em face da presença do outro, como se a etnografia devesse se desdobrar em uma legitimidade liberada restaurando de sua imagem social ou mesmo de seu trabalho empírico uma autobiografia, ou mesmo uma poética” (Jamin e Zonabend
2001/2002:61). O que os autores chamam de uma ‘arquivística’ própria
da disciplina e de seus modos de consagrar — por meio do relevo dado
ao documento que legitima e permite que a autoridade do etnógrafo/pesquisador seja projetada no futuro — nos conduz a um dos elementos mais
salientados nas tentativas de definir a singularidade dos arquivos etno-
TEMPO IMPERFEITO
gráficos perante outros conjuntos documentais. Não há uma clara distinção entre o que os arquivistas definem como sendo ‘pessoal’ e ‘profissional’. Domínios pessoais por vezes informam aqueles tratados como
profissionais e vice-versa. Ao mesmo tempo, tais domínios tratam de relações sociais. Como argumenta Hilda Kuper, “‘histórias pessoais’ parecem ter um apelo universal, mas os modos nos quais são expressas são
culturalmente circunscritos. Autobiografias, biografias, estudos de caso e
histórias de vida são essencialmente gêneros ou estilos ocidentais, e a
complexa interação entre um etnógrafo e um personagem (ou personagens) central é de relevância para todos aqueles interessados nos métodos de pesquisa social” (1984:212).
Por vezes, a comunicação entre documentos que tratam da vida, trajetória e profissão não resulta de uma prática mecânica realizada após a
morte do/a titular, mas do seu desejo, sentimento e memória (Artières
1998; Vianna et alii 1986). Utilizar a expressão arquivo etnográfico para
qualificar diferenciadamente coleções do gênero implica ampliar nossa
compreensão acerca da natureza dos documentos ali incluídos, a maneira pela qual passaram a compor a coleção e os lugares onde foram produzidos. O que são de fato materiais adjetivados como etnográficos? Os
critérios utilizados nos primórdios do processo de institucionalização da
disciplina — quando os antropólogos proviam museus, universidades e
centros de pesquisas com fragmentos de culturas distantes — parecem
subsistir na premissa de que, entre seus papéis pessoais e profissionais,
preservam pedaços, fontes, informações e relíquias oriundas de ‘outras’
sociedades. Ainda que esses fragmentos sejam produtos do olhar, da relação e do encontro etnográficos, neles parece residir um valor singular.
Diários e notas de campo, em meio a outros materiais, ocupariam então
uma posição de destaque. Inferências sobre a natureza das relações entre pesquisador e pesquisados, bem como o lugar de sua produção, presidiriam à lógica classificatória. Essa distinção é problemática porque nem
sempre diários e notas de campo são produzidos no campo, assim como
bilhetes, fotos, cartões, cartas e recortes de jornal por vezes são provenientes da presença e interação entre observadores e observados (Clifford 1990; Gupta e Ferguson 1997; Sanjek 1990a).
Curiosamente, tanto os fragmentos aparentemente secundários e de
caráter pessoal quanto diários e notas de campo foram produzidos para
serem lidos por um único leitor. São redigidos para serem objeto de releitura, reflexão e incitação à memória por parte daquele/a que os produziu. Não são escritos para serem publicados ou exibidos. Se há algo que
caracterize notas de campo é a singularidade de sua apresentação e esti-
297
298
TEMPO IMPERFEITO
lo. Deste modo também podem ser consideradas documentos pessoais.
Mas há algo que resiste a tal apreensão. Uma vez que antropólogos em
geral empregam uma linguagem específica para falar sobre o “outro”,
notas e diários de campo — e, em particular, aqueles emoldurados e protegidos pelas estruturas institucionais que mantêm os arquivos e coleções pertencentes a antropólogos — são transformados por usos eventuais, póstumos e inusitados. É quando objetos, documentos e retóricas
sobre o “outro” preservados em arquivos pertencentes aos etnógrafos
passam a ser objeto da construção de uma ‘etno-história’ construída por
historiadores, antropólogos, descendentes dos grupos/sujeitos pesquisados ou instituições/movimentos que os ‘representam’. Diante dessas
questões, parece-me difícil reforçar as fronteiras instituídas a partir de
marcadores aleatórios acerca do que define o caráter mais ou menos pessoal — ou etnográfico — de parte relevante dos papéis que povoam coleções cujos titulares são antropólogos.
A ordenação, seleção, identificação e classificação dos papéis de
Ruth Landes obedecem a uma lógica de tratamento semelhante àquela
adotada na organização de outros arquivos pertencentes a titulares transformados em personalidades públicas. Em geral, o material que compõe
seus acervos — documentos por eles produzidos e/ou manuseados que
estavam sob a sua guarda quando ocorreu o processo de doação — é selecionado a partir da natureza do documento. Qual seja, são distinguidos
caso conformem correspondência (enviada e recebida), produção intelectual e manuscritos (do titular ou de terceiro, manuscrita ou publicada),
fotografias e uma miscelânea de documentos que por vezes são incompletos, fragmentados ou não, identificados (freqüentemente) como diversos. Respeitada a sua natureza, os documentos são subdivididos e armazenados em caixas ou pastas que obedecem a uma segunda lógica classificatória — são agrupados por ordem cronológica e/ou alfabética. A especialização no tratamento de alguns acervos do gênero — como, em particular, aqueles pertencentes aos antropólogos — tem permitido que documentos de uma mesma natureza, como é o caso das cartas, sejam por
vezes agrupados por lógicas (cronológica ou alfabética) distintas. Isto é, o
cotejamento, a pesquisa e a identificação de autógrafos têm feito com
que alguns missivistas sejam selecionados e posteriormente identificados
em um índex onomástico disponível em inventários, enquanto outros são
mantidos em um conjunto mais abrangente de pastas cuja entrada é cronológica e/ou por ordem alfabética.
A RLP divide-se em cerca de 75 caixas subdivididas tematicamente.
Em primeiro lugar os “documentos” ou “materiais biográficos” englo-
TEMPO IMPERFEITO
bam não só aqueles reunidos por ocasião da pesquisa feita por George
Park e Alice Park (1988) na preparação de um verbete biográfico sobre
Landes, mas também “recortes de jornais”, “cartas” (enviadas e recebidas), “escritos e aulas” (miscelânea de manuscritos não publicados, versões de textos publicados) e “resenhas” (sobre textos/livros de Landes).
Em segundo lugar, os chamados “cadernos”: material de campo — em
grande parte diários — subdividido por temas ou região geográfica. Os
chamados “materiais didáticos” constituem textos e programas de curso.
Conjuntos menos especificamente intitulados “Projetos de pesquisa”,
“Contratos, resenhas e anúncios de editoras”, “Papéis financeiros” e
“Miscelânea” (conjunto de fragmentos e notas sobre assuntos variados).
Finalmente, o “Material fotográfico” (fotogramas, slides e negativos, e
cartões postais).
Seria difícil considerarmos que, diante das fronteiras tênues que permeiam nossa definição de campo, assim como o são aquelas que distinguem a natureza das narrativas que dele se originam, todo e qualquer
arquivo ou coleção cujo titular foi ou é um antropólogo seja, por definição, etnográfico. Essa qualificação resulta de leituras variadas. Em alguns casos são as instituições mantenedoras de tais arquivos que produzem, internamente, ou seja, na atividade rotineira de seleção e indexação dos documentos, e, externamente, nas políticas e retóricas de legitimação e divulgação de tais acervos, tal distinção e qualificação. Em outros casos, tal distinção é produzida pelos próprios antropólogos no processo de seleção, organização e doação de seus papéis. A Coleção de
Ruth Landes (RLP) não só reproduz a imbricação de domínios profissionais e pessoais, como nos apresenta uma particular configuração do que
Jamin e Zonabend chamaram ‘arquivística’. Landes selecionou e identificou seus escritos pessoais e profissionais após ter decidido doá-los ao
NAA8. Esse processo permitiu que determinados documentos fossem objeto de um exercício contínuo de ressignificação, o qual pretendo analisar a seguir.
Tempo de lembrar
O convite de Peggy Golde para que Landes escrevesse um texto memorialístico sobre suas pesquisas de campo permitiu a ela rascunhar textos
e revisitar temas, eventos e caminhos de inúmeras versões de seus escritos em curso. Duas experiências que até então eram citadas exclusivamente em cartas — sobretudo aquelas trocadas com Ruth Benedict ainda
299
300
TEMPO IMPERFEITO
na primeira metade dos anos 40 — foram objetos de atenção especial no
texto que Landes entregaria a Golde. Nas inúmeras notas, comentários e
cartas que produziu ou reescreveu durante os últimos trinta anos de sua
vida, suas vivências em Nashville (1937-1938) e no Brasil (1938-1939) receberam uma apaixonada atenção e incitaram-na a um contínuo exercício mnemônico. Orientaram seu olhar e compreensão sobre o passado
que desejava lembrar e, de certa maneira, reencontrar. Ao observarmos
o processo de reorganização das marcas que tornam tais eventos relevantes, podemos compreender como o tempo profissional e o tempo pessoal se entrelaçam de forma a condicionar nossa leitura e apreensão de
seu arquivo e memória pessoal.
Em virtude de sua singular experiência na América do Sul e por indicação de Sol Tax e Margaret Mead, Landes foi convidada a colaborar
em um esforço de reflexão intelectual marcado por um enfoque feminista
— a coletânea Women in the field: anthropological experiences, organizada por Peggy Golde (Golde 1986b [1970]; Landes 1986 [1970]). A carta-convite parece indicar que um dos critérios principais de seleção foi a
pluralidade regional/geográfica e, em menor grau, a relevância das pesquisas e das pesquisadoras envolvidas. Golde afirmava em seu parágrafo
inicial que “será a experiência de retratar a experiência de trabalho de
campo do ponto de vista das mulheres que o realizaram em diferentes
regiões do mundo”9. Curiosamente, nos objetivos do projeto descritos no
anexo que acompanha a carta de Golde, tal critério aparece em um segundo plano. Importava-lhe reunir relatos de experiências de campo vividas por antropólogas e suas implicações no desenvolvimento de suas
carreiras profissionais narrados na primeira pessoa.
[…] o ideal é que cada narrativa oscile entre diferentes níveis, misturando
três tipos de materiais e pontos de referência separados, mas relacionados:
1) pessoal e subjetivo; 2) etnográfico e; 3) teórico e metodológico.
Antes de tudo, o relato deve ser pessoal, traçando a história íntima
da experiência de campo, talvez iniciando com as expectativas, apreensões, esperanças e ambições prévias. Poderia abranger os acontecimentos fortuitos, as frustrações e recompensas, os momentos de revelação
inesperados e incompreensões jamais resolvidas — tudo que caracterizasse a seqüência de intercâmbios pessoais envolvendo você como alguém de fora e aqueles com os quais você conviveu. O relato poderia incluir as respostas às questões que mais interessaram seus amigos e conhecidos quando do seu retorno: “Como foi? Foi difícil fazer amizade?
TEMPO IMPERFEITO
Você ficou sozinha? Em algum momento teve medo? O que fazia para se
divertir? Como conseguiu lugar para morar?”10.
As linhas que orientam a produção de relatos memorialistas na coletânea deveriam tornar salientes os aspectos que supostamente distinguiriam a prática da pesquisa de campo entre as mulheres. Subjetividade e
intimidade não só marcariam contatos interpessoais mas confeririam um
estilo singular ao texto etnográfico (Golde 1986b [1970]). Tais ingredientes não figurariam como um estilo pessoal, mas como marcador que deveria sinalizar o gênero na atividade etnográfica. Assim, não só as relações estabelecidas no campo quanto a própria construção da memória
deveriam sublinhar projetos, sentimentos e angústias narrados e rememorados a partir de uma visão subjetiva, imprimindo contornos de uma
“escrita sobre si” (Foucault 1992; Derrida 2001). A proposta de Golde certamente impingiu ao relato de Landes um delicado viés. Todavia seria
precipitado imaginar que o encontro entre o desejo de lembrar e a possibilidade de ser lembrada pudesse ser transformado em um relato emoldurado por uma única abordagem feminista. Seguindo os passos de Margaret Mead, outras antropólogas de sua geração investiram em textos ficcionais e relatos autobiográficos no mesmo período (Mead 1972; Powdermaker 1966). Mesmo na coletânea, Landes não foi a única a reinterpretar
a proposta de Golde. No seu exercício reflexivo, Margaret Mead revolveu cartas enviadas e recebidas enquanto esteve na Nova Guiné: cartas
comentadas, rearranjadas e interpretadas a partir das questões formuladas por Golde (Mead 1986 [1970]). Antropologia e autobiografia já haviam reafirmado suas afinidades de gênero e estilo literário nos cenários
intelectual e popular norte-americano. Portanto, é preciso entender o contexto de debates e questões que informam uma expressão pública da antropologia nos anos 70 e, dentro dele, o lugar reservado ao gênero nos
escritos autobiográficos que tratam da experiência das mulheres como
fieldworkers (Di Leonardo 2000; Handler 1990).
É provável que Ruth Landes tenha enviado sua contribuição à coletânea de Golde em um curto espaço de tempo. Cerca de três meses após
o convite, Golde responde à Landes com agradecimentos, elogios e sugestões de alterações na primeira versão de A woman anthropologist in
Brazil (Landes 1986 [1970]:119). Golde faz intervenções diretas em trechos da versão original, na qual localiza passagens imprecisas e obscuras. As lembranças de Landes deveriam fazer sentido para outros leitores
possivelmente interessados em aferir os desafios impostos às mulheres
em um universo profissional marcadamente masculino. Mas também deveriam fornecer uma compreensão mais clara de como e em que condi-
301
302
TEMPO IMPERFEITO
ções o ensino da antropologia oferecia obstáculos à prática da pesquisa
de campo quando realizada por mulheres.
Fiz uma série de correções porque você pareceu contradizer-se, primeiro dizendo que as técnicas de pesquisa de campo não podem ser ensinadas e,
depois, que seus colegas de Columbia foram ensinados por Kroeber etc. Caso isso esteja muito confuso, deixe-me escrever para você como a passagem
com as emendas sugeridas ficaria: “O trabalho de campo funciona como um
conhecimento idiossincrático que nos permite diferenciar tanto as impressões sensíveis da vida quanto as suas abstrações na personalidade do pesquisador. A cultura que o etnógrafo descreve é a da própria experiência filtrada por seu olhar. Conhecidos escritores disseram que seu ofício não pode
ser ensinado mas aperfeiçoado. Os fundadores da do campo da antropologia
disciplina não aprenderam técnicas específicas. Nem mesmo nosso grupo de
estudantes de Columbia, que estudou teoria + material de campo com Kroeber, Boas, Klineberg, Mead e Benedict. Ao contrário, fomos encorajados treinados para interpretar, experimentar, usar todas as os recursos ferramentas
à nossa disposição e nos arriscar”.11
Para além de inúmeras sugestões e recomendações para que Landes fosse mais explícita na alusão a eventos, personagens ou mesmo comentários a estes, Golde mostra-se preocupada com o formato e o estilo
do texto. Fica claro que mesmo diante da relativa liberdade das autoras,
o trabalho da memória deveria ser redirecionado e adequado à proposta
da coletânea. Temas delicados para um público de ‘jovens leitores’ são
evitados. Ao comentar um determinado parágrafo, Golde adverte para os
excessos: “este parágrafo está muito bom. Contudo, tiraria a frase sobre
morte, porque já a mencionou e você vai falar disso novamente […] e para um grupo de jovens leitores isso pode ser um pouco demais”12.
Pelos comentários é possível inferir que já na primeira versão Landes concentrou suas reflexões sobre os problemas enfrentados durante
suas pesquisas de campo no Brasil, particularmente sobre um imbroglio
envolvendo dois personagens a partir de então assíduos em textos sobre
Landes — Melville Herskovits e Arthur Ramos. Landes teria tido seu futuro profissional comprometido — sua participação no projeto liderado
pela Carnegie Corporation e capitaneado por Gunnar Myrdal nos anos
30 — por causa de comentários desabonadores de caráter pessoal e profissional feitos por ambos (Landes 1986 [1970]). Além de comentários pessoais de cunho moral — que incluíam referências indiretas ao romance
que teve com Édison Carneiro durante o período em que fez pesquisas
TEMPO IMPERFEITO
na Bahia e no Rio de Janeiro —, as interpretações sobre “matriarcado” e
“homossexualidade” nos cultos afro-baianos contidas no relatório preparado para a Carnegie Corporation, na visão de ambos, eram inapropriadas, o que descredenciava sua pesquisa e sua seriedade profissional. Como Ramos e Herskovits atuaram como consultores da Carnegie, a colaboração de Landes ao relatório Myrdal foi desautorizada e dispensada
(Landes 1986 [1970]; Cole 2003). Golde percebe a centralidade desse caso na primeira versão e propõe: “se você relatasse algumas coisas que
Ramos disse, então poderia ir direto para a última frase da página. Você
tenta o leitor mas não dá a informação que ele precisa para entender o
que aconteceu, e todo esse episódio é tão crucial, e ao mesmo tempo terrivelmente fascinante, que eu acho que você deve dedicar-lhe tempo,
deixando-o claro”13.
Como o manuscrito desse texto não se encontra entre os papéis de
Landes, é impossível dimensionar a extensão das alusões ao caso na primeira versão. Ainda assim, é notável como se torna epicentro do relato
de Landes, ganhando uma dimensão pública diretamente vinculada à
sua trajetória profissional. Após a publicação de A woman anthropologist
in Brazil (Landes 1986 [1970]) e Uma falseta de Arthur Ramos, de Édison
Carneiro (1964), no qual este critica as reações de Arthur Ramos ao manuscrito Carnegie, parcialmente reproduzidas em A aculturação negra
no Brasil (Ramos 1942), o livro A cidade das mulheres conteria um texto
subliminar ? Landes na condição de vítima em um ambiente intelectual
sexista e competitivo. Esse caso ainda seria referido em outros textos sobre Landes, ou comentado como exemplo da explosiva combinação de
sexo, erotismo e poder intelectual na experiência etnográfica (Park e Park
1988; Newton 1993; Healey 1996; 2000; Corrêa 2000; 2003; Cole 1994;
1995a). Cerca de dezesseis anos depois, seria recontado de forma a subsumir tanto a obra quanto a vida profissional de Landes em um verbete
sobre ela publicado em um dicionário biográfico (Park e Park 1988). Ainda que demonstrando preocupação quanto a possíveis implicações legais
na sua publicação, Landes auxilia os autores, provendo-os com informações adicionais:
Imagino que você tenha que advertir os editores […] Peggy Golde ligou há
alguns dias atrás para dizer que a editora da Universidade da Califórnia está reeditando Women in the Field em brochura. Assim, aquela triste história
brasileira vai […] Vou ficar feliz em ter Herskovits registrado. Foi M. Mead
quem quis que Golde conseguisse a história. Com o mais profundo reconhecimento, prendendo a respiração.14
303
304
TEMPO IMPERFEITO
As cartas entre Golde e Landes permitem-nos inferir acerca dos caminhos de interpretação ao longo dos quais passado e experiência profissional/pessoal deveriam ser rememorados. Landes dera a primeira palavra
sobre os temas que tornariam sua biografia relevante, tornando-se leitora
e intérprete de seus escritos transformados em documentos. O próprio diálogo travado com Golde seria cuidadosamente rememorado, tornando-se
objeto de uma releitura feita pela própria Landes cerca de vinte anos após
o convite de 1967. É provável que Landes tenha produzido comentários
semelhantes em suas cartas até poucos anos antes do seu falecimento,
quando as escrevia com uma caligrafia de difícil compreensão. Pela recorrência dos temas e personagens que foram objeto de tais comentários, é
possível que estes tenham sido produzidos durante o processo de preparação de seus documentos para o NAA, justamente no período em que Landes mergulhara em uma viagem sem volta ao seu próprio passado.
No anexo contendo a proposta da coletânea, Landes fez inúmeras
anotações nas quais registra observações aos comentários de Golde e sua
reação a eles. Sublinha palavras, acrescenta interjeições e interrogações,
insere pequenos balões nos quais sobrepõe textos que funcionam como
uma segunda legenda à sua voz e à da missivista. Na referência feita por
Golde à pesquisa de campo como uma atividade solitária, Landes comenta: “a solidão abateu todos os pesquisadores em campo”. Diante da alternativa oposta — a possibilidade de ter sido fonte de algum prazer e divertimento — de maneira lacônica Landes responde “nenhum”15. Outros
indícios me fazem sugerir que Landes produziu tais legendas como se
fosse uma leitora de seus próprios papéis em um momento bem posterior
ao da produção do documento. O manuscrito de Women in the field —
possivelmente em sua versão final — foi enviado a Édison Carneiro em
1968. Na última carta do antropólogo existente na RLP, Édison não só comenta como aprova o texto cheio de alusões à sua relação com Landes e
com Arthur Ramos: “Achei-o bom, sobretudo quanto às reações de adaptação, em que, parece, você deveria ter insistido mais. Talvez pela intimidade recente com os seus trabalhos, porém, achei que você se repetira
um pouco. O trabalho, contudo, é válido e define bem a situação da mulher que vem, pela primeira vez, para o que um dos nossos escritores chamou de “esta bosta (shit) mental sul-americana”16. No alto da carta, Landes comentou: “Édison morreu [em] 1969 de enfarte — inconsciente [por]
duas semanas (?— informação de Anita Neuman). Aos 60 anos”17. Landes confundiu-se quanto ao ano e à causa da morte de Édison que ela
mesma informara a George Park e Alice Park em agosto de 1985. Édison
Carneiro morreu em 1972 de derrame cerebral18.
TEMPO IMPERFEITO
Essa releitura de seus próprios escritos como se fossem legendas de
imagens, documentos ou provas materiais que expunham relações intelectuais e envolvimentos com colegas e informantes, por vezes, deixou
de ser ‘tradução’ (de sentimentos, ironias e sutilezas subliminarmente
aludidas nas cartas), transformando-se em ‘narração’. Em uma carta enviada a um antropólogo brasileiro na qual Landes respondia a indagações sobre informantes e personagens importantes de A cidade das mulheres, ela acrescentaria informações como a data em que a carta foi escrita e o assunto: “R[uth] L[andes] escreveu em 3 de julho de 1988 perguntando sobre o menino de Martiniano e Menininha”19. Indícios como
esses não compõem necessariamente um estilo idiossincrático de organizar papéis pessoais. Anotações semelhantes, mas nada comparáveis em
termos de recorrência, foram encontradas em outras coleções. O que chama a atenção nessa preocupação em traduzir e produzir uma narrativa
paralela, adicional a futuras leituras de seus papéis, é o fato de concentrar-se sobre temas e assuntos específicos.
Em busca do tempo perdido
Para quem Ruth Landes escreveu notas e comentários sobrepostos aos
seus antigos escritos? Parece-me clara sua preocupação em selecionar
certos detalhes, personagens e eventos — e os documentos que os atestavam — capazes de direcionar possíveis leituras de sua própria biografia. Em uma carta enviada em 1941 na qual fazia alusões ao seu relacionamento com um professor de física durante o período em que deu aulas
na Fisk University entre 1937 e 1938 — o que na época fora alvo de maledicências entre alguns professores da faculdade e, posteriormente, objeto de atenção nos textos autobiográficos de Landes —, aparece uma série de observações e sugestões que expressam uma preocupação deliberada em selecionar o conteúdo e os materiais que lhe pareciam mais interessantes/oportunos de serem mantidos no arquivo. “Rasguei todas as
cartas que se seguiram a esta, como fiz com todas aquelas outras no Brasil”, afirma. “Por quê? Porque achava que não havia lugar para elas. Eram
entediantes, apaixonadas e cheias de promessas de futuro, cheias de detalhes […]”20. O detalhamento dos comentários post-facto que emolduram cartas e pedaços de papel por meio de uma caligrafia cada vez mais
vacilante sinaliza o caráter seletivo da atividade a que Landes devotou
seus últimos anos de vida. É impossível precisar quando Landes produziu esses comentários. Todavia, ao cruzarmos referências existentes em
305
306
TEMPO IMPERFEITO
cartas enviadas a alguns missivistas e recebidas destes, é possível inferir
que, por causa do controle e visão de conjunto que o próprio autor dos
comentários parecia ter da própria coleção, tratou-se de uma intervenção
tardia. Os comentários careciam de um olhar prospectivo do tipo de relação estabelecida entre os missivistas e os eventos sobre os quais tais cartas tratavam. O diálogo mantido com Édison Carneiro entre 1939 e 1968
consiste em um exemplo interessante para entendermos as vicissitudes e
o processo de produção de um metatexto que orienta o percurso pelo arquivo e a produção de futuras biografias.
Seletividade e relevância guiaram o desejo de documentar uma relação exaustivamente referida em textos autobiográficos. Vistas do arquivo
de Landes, as cartas enviadas por Carneiro apenas sugerem um diálogo.
Landes não conservou cópia de nenhuma de suas cartas. Esse fato, em
princípio, é condizente com o que ocorre com sua correspondência mais
antiga. Prática comum entre outros intelectuais de sua geração que tiveram vínculo institucional estável era a conservação das cópias e/ou rascunhos de cartas em pastas e arquivos profissionais. A coleção de “cartas enviadas” na RLP é insignificante se confrontada com as cartas recebidas ao
longo de mais de sessenta anos de vida profissional. Landes não guardou
todas as cartas que enviou e recebeu, nem anteviu a possibilidade de perpetuar-se em um arquivo mantido por respeitada instituição de seu país,
até que o convite do NAA fosse formalizado21. As cartas de Carneiro, contudo, parecem ter sido previamente mantidas em um lugar distinto da RLP.
Apesar da ausência de cartas de Landes para Carneiro na RLP, referências tais como os pedidos de livros e indicações bibliográficas, as notícias sobre amigos, desafetos e informantes deixados no Brasil e as saudades sugerem um diálogo intenso entre Ruth e Édison em 1939 e 1940.
Sim, parte da correspondência é fortemente pessoal e amorosa, mas não
exclusivamente. As cartas de Édison documentam, apesar do silêncio produzido pela ausência de cartas de Landes, as condições e o contexto etnográfico nos quais ambos estiveram imersos. Não se distinguem, em estilo nem em natureza, de outras notas escritas durante o trabalho de campo mas com elas se confundem. São papéis que documentam e legitimam
a experiência etnográfica e, ao mesmo tempo, as ambigüidades da relação mantida ao longo da pesquisa de campo. Embora Landes não tenha
feito nenhuma restrição ao seu acesso e uso, penso que o mais interessante na sua leitura é acompanhar os retoques produzidos sobre o Édison
— personagem de A cidade das mulheres e de A woman anthropologist
in Brazil — e o metadiálogo travado com tais documentos produzido pelos comentários posteriores.
TEMPO IMPERFEITO
Os primeiros comentários de Landes surgem no que parece ter sido
o primeiro contato com o antropólogo depois que ela deixou o país em
1939: uma carta de Carneiro enviada em 8 de junho daquele ano. Tratase de uma referência que aparece em outros documentos — as dificuldades de Landes com o português. Carneiro trata diretamente do assunto:
“recebi sua carta de Port of Spain. Querida, você tem que aprender português novamente […] comigo, é claro. De qualquer jeito. Gosto do trabalho que você teve em me escrever em português, principalmente pela
falta de acentos em sua máquina de escrever”. Em outras cartas, Édison
também reconheceria suas dificuldades com o inglês22. Landes parecia
consciente das limitações que a inabilidade com a língua lhe trazia. Seus
comentários lacônicos, nesse caso, têm um efeito demonstrativo. No alto
da carta, simplesmente anotou à mão e a lápis: “meu terrível português”23. O sentido dessa simples anotação se esvai caso não seja comparado a comentários subseqüentes, presentes em algumas cartas e em seus
textos autobiográficos, sobre a sua dificuldade com o português. Em setembro do mesmo ano, Édison faria recomendações acerca dos resultados das pesquisas de Landes na Bahia: “tenha cuidado ao escrever o livro. Como cientista você é honesta, mas como literata … D. Heloísa lembra que, pretendendo voltar ao Brasil, você não deve dizer coisas desagradáveis. Por exemplo, que você encontrou cobras e onças nas ruas do
Rio de Janeiro […]”. Landes respondeu a um futuro leitor dessa carta e
trecho: “ele adorou meu livro”24.
Referências pessoais e mesmo a relação que manteve com Carneiro —
citada em parte relevante das cartas entre 1939 e 1940 — não são comentadas por Landes. O mesmo ocorre com os comentários que Carneiro fez a
intelectuais e personagens conhecidos por ambos. Seu estilo de comentários sugere um desejo de auxiliar futuras leituras, prover os documentos de
uma espécie de tradução: esclarecimentos adicionais sobre questões e personagens que futuros pesquisadores de seu arquivo poderiam desconhecer. Talvez por imaginar que certas histórias estivessem mutiladas por causa de lacuna de fontes, ou mesmo que faltasse ao futuro leitor/usuário de
seus papéis indicações que lhe permitissem investigar outras possibilidades de compreensão de sua trajetória profissional e biografia.
As informações contidas em documentos produzidos pela antropóloga ou em diálogos com outros autores e personagens tiveram outras finalidades. Landes consultara seus próprios papéis durante a produção de
várias versões de um texto autobiográfico possivelmente iniciado no mesmo período em que colaborou com Women in the field. Temos, portanto,
modalidades paralelas de intervenção no que então se constituiria a for-
307
308
TEMPO IMPERFEITO
ma definitiva de sua coleção. A seguir, duas outras expressões dessa intensa relação entre a atividade da memória voltada para a confecção de
escritos de caráter autobiográfico e a produção de um arquivo pessoal
serão exploradas. Em primeiro lugar, as práticas de ordenação e composição de documentos, incluindo a busca por determinadas evidências que
tornariam o arquivo completo. Em segundo, o cotejamento, o controle e a
hierarquização de eventos e histórias visando uma futura biografia produzida a partir do seu próprio arquivo.
Meu tempo é ontem
As mulheres não podem ser o único foco de minhas memórias sobre Fisk.
Minha versão original escrita há 20 anos ou mais concentra-se num departamento masculino — ali não havia nenhuma mulher.25
Parte dos percursos memorialistas de Landes pode ser reconstituída
se seguirmos retrospectivamente as últimas cartas deixadas em seu acervo até cerca de um ano antes de seu falecimento. A partir delas e de informações disponíveis no inventário produzido pelo próprio NAA, podese perceber que sua “infinidade de papéis e ‘objetos’” foi preparada para ser doada à Smithsonian. Nesse período Landes também auxiliou
George Park e Alice Park (convidados por Landes para atuarem como
seus literary executors), na confecção de um verbete biográfico (1988)26.
Para produzir seu texto, George Park contou com a ajuda de Landes, elucidando partes desconhecidas ou confusas de sua própria biografia. A
pequena correspondência entre eles contém algumas informações que
nos ajudam a entender de que forma relações entre biografia/autobiografia e o arquivo foram construídas.
Como mencionei, há claras indicações de que no final dos anos 60,
antes do convite feito por Peggy Golde, Landes começara a redigir uma
autobiografia: fragmentos e versões aos quais se referia como “Fisk memoir”. As marcas desse processo são inúmeras, embora seja impossível
determinar a ordem e seqüência das diversas versões encontradas. Com
títulos diferentes — “A Chronicle of bloods”, “Battle grounds of Tennessee”, “Color cancer”, “Black Athena”, “An american education on southern ground” – esses textos são habitados por personagens que algumas
vezes foram renomeados. Certas cenas e situações, exauridas nas repetidas revisões, transbordaram os limites do texto ficcional invadindo cartas, biografias e artigos posteriores. Já nos últimos anos de sua vida, Lan-
TEMPO IMPERFEITO
des justificava a solicitação de ajuda para datilografar aquela que seria a
versão final em um texto sem data e inacabado:
Visualmente incapacitada para escrever e datilografar, declarada “legalmente cega” […], peço auxílio para transcrever o manuscrito no qual venho
trabalhando há alguns anos […] tendo feito várias versões, todas necessitando de elaboração e revisão, sei que a mais recente versão que planejo será
extensa, incluindo as notas e a bibliografia; o que pode resultar em muitas
centenas de páginas digitadas.
Minha narrativa mostrará (das páginas do meu diário) personalidades amplamente reconhecidas por suas realizações […]. Como fiz pesquisa entre os
negros no Brasil (1938-1939) e na Grã-Bretanha (1950-1951), e trabalhei no
President’s Committee on Fair Employment Practice [Comitê Presidencial
para a Eqüidade no Emprego] (1941-45), essas experiências também entrarão em perspectiva. Meus resultados aparecem nos meus artigos, em um livro sobre o Brasil e, em parte, em um outro livro, um relatório que eu preparei para a Carnegie Corporation, na cidade de Nova Iorque, produzido por
Gunar Myrdal, American Dilema.
Foi o prof. Park, como eu, um norte-americano branco do norte, quem persuadiu seu protegido C. S. Johnson e o Rosenwald Fund [Fundo Rosenwald]
(de Chicago) a me aceitarem por um breve período em Fisk por dois motivos:
para que eu visse a real segregação de cor, justamente depois que a Corte do
Estado do Tennesse proibiu o ensino da teoria evolucionista de Darwin […] e
para que eu, uma forasteira de nível superior que jamais havia estado no Sul,
experimentasse as interações com os Negros (termo utilizado). O livro que
escrevo atualmente é uma dívida que tenho para com aquele intelectual cinqüenta anos mais velho do que eu, que formou uma geração de intelectuais
negros e nunca se limitou a restrições convencionais de “raça e gênero”.27
Foi por intermédio de uma narrativa autobiográfica com pinceladas
de ficção que Landes procurou focalizar temas delicados como o das relações inter-raciais e sexualidade em um campus ocupado majoritariamente
por mulheres. Particularmente, a diferença entre a quantidade de alunos e
alunas em Fisk foi objeto de várias cartas a outros intelectuais que estudaram na instituição ou escreveram sobre ela. Esse é o caso de seu amigo e
companheiro do período em que viveu em Nashville, Eli S. Mark — professor de psicologia e assistente de Charles Spurgeon Johnson — e dos historiadores John Franklin Hope Jr., Joe Richardson e David Southern. Com
cada um deles, Landes trocou cartas nas quais se perguntava sobre os motivos dessa disparidade e, ao mesmo tempo, compartilhava revelações pes-
309
310
TEMPO IMPERFEITO
soais. A leitura destas cartas põe em evidência uma obstinada busca por
compreender sua passagem por Fisk. Personagens e uma constante reinterpretação sobre o passado são transformados em um ‘estilo de memória’
singular (Boon 1986:240). Por que sua passagem por Fisk tinha provocado
tanto ressentimento em meio a um corpo docente mobilizado em torno de
políticas e pesquisas que visavam a superação do Jim Crow (as políticas
segregacionistas adotadas por vários estados sulinos nos anos que se seguiram à emancipação)? Por que as jovens negras eram enviadas aos colleges com maior freqüência do que os rapazes? Por que comentários acerca de uniões e relações sexuais inter-raciais eram tabu dentro e fora do
campus? Landes travestiria indagações semelhantes em um projeto investigativo, produzindo uma singular sinergia entre a sua experiência e o que
supunha marcar a condição de jovens alunas negras de Fisk. Uma questão
recorrente, presente em textos autobiográficos e nas cartas, era entender
por que sua presença no campus fora alvo de tanto desconforto e embaraço. Em uma cópia da segunda carta enviada a Joe Richardson, Landes explica as razões que a levaram a investir no seu relato autobiográfico:
Há muito venho reunindo notas sobre as minhas experiências de 1938 e 1939;
há vinte anos atrás as escrevi de forma ligeiramente ficcional (para proteger
o anonimato) e mostrei a um editor que me incentivou a seguir em frente.
Naquela época a justificativa era, como continuaria sendo, que o “entorno”
(uma expressão estranha e cautelosa que CSJ [Charles Spurgeon Johnson]
usa no seu Negro College Graduate) não sabe como o negro pensa — vivemos em mundos isolados. O estilo romanceado nos dá aquela liberdade e ainda é o “comportamento” — e não os conceitos — o que me interessa explorar. (Como em todos os meus livros e textos.) Entretanto, no final de 1965,
mudei para McMaster e me desviei por outros caminhos, muito distintos. Retomei a reflexão sobre o “meu” Fisk há menos de um ano atrás. Todas as pessoas que conhecia lá e aquelas associadas àquele contexto estão mortas […]
[D]este modo não preciso mais de um disfarce literário, ainda que, de qualquer forma, tenha que encontrar um sinônimo para “eu”, uma vez que não
tenho em mente uma autobiografia […] [P]ara ganhar perspectiva, há meses
venho mergulhando em uma rica literatura ? em história, economia, ciências
sociais e romances, especialmente aqueles escritos por e sobre mulheres do
Sul. O arguto sentido que as mulheres sulinas têm das semelhanças entre as
escravas e as proprietárias de escravos. Os intensos sentimentos abolicionistas no Sul! Seus efeitos são extraordinariamente focalizados no diário de Mary
Chesnut sobre a Guerra Civil e em Patriot Gore, de Edmond Wilson. Quero
assinalar as continuidades entre 1860 e 1937 de FDR.28
TEMPO IMPERFEITO
Com Richardson, Landes trocou impressões pessoais e informações
sobre a história da instituição e o perfil socioeconômico de seus alunos e
professores. Ele havia publicado dois livros sobre educação universitária
e segregação no pós-Guerra Civil (1980; 1986). Tais cartas são ricas em
informações sobre a generalizada evitação por parte dos dirigentes de
Fisk em estimular encontros inter-raciais no campus e arredores. A tentativa de manterem a universidade e seus alunos protegidos da ação de
grupos extremistas e, paralelamente, de protegerem-se de ataques e acusações às “mulheres de cor” são as explicações mais freqüentes. Mas
Landes rejeita as explicações quanto à pretendida especificidade de tal
comportamento, que lhe parecem semelhantes às idéias que circulavam
nos ambientes freqüentados pela elite branca de Nashville. O que não
parecia claro nas explicações fornecidas por Landes nessas cartas eram
as relações entre a sua visão subjetiva e a experiência como mulher, northerner, branca e judia e a visão das jovens alunas negras em Fisk dos
anos 30. Nem sempre suas interpretações para a predominância de mulheres eram compartilhadas. Hope Jr., que se graduou em Fisk nos anos
30, acreditava que as famílias enviavam suas filhas à universidade para
protegê-las das cozinhas e da prostituição. Baseada em dados estatísticos
e textos ficcionais, Landes deparava-se com outras indicações: solidão e
isolamento daquelas que buscavam encontrar homens negros com níveis
educacionais compatíveis29. Em uma das versões do “Manuscrito Fisk”, a
combinação de informações oriundas de suas leituras sobre o Sul e o diálogo travado nas cartas são subsumidos em uma narrativa autocentrada.
Durante meus primeiros dias no campus percebi o número maior de mulheres entre os estudantes. Nos anos seguintes as estatísticas sobre Fisk mostraram que, anualmente, havia três vezes mais garotas do que homens. Mesmo diante das altas mensalidades e do Black Belt figurar entre as regiões
economicamente mais pobres do país. A Universidade de Atlanta, também
privada, e com mensalidades,, tinha um quadro semelhante embora menos
acentuado. O mesmo ocorria em Howard, que era pública e dependia de
subvenção do governo.
Por anos pensei na disparidade numérica em termos de gênero e nunca encontrei resposta satisfatória. A namorada de Eli [S. Marks] debitava à vizinha e preponderantemente masculina Meharry Medical School a existência
de um possível mercado matrimonial. (Estudo comparando os ganhos dos
casais negros demonstrou que as mulheres com nível superior se casavam
sem expectativas de receberem o apoio material dos maridos para suprirem
as despesas da casa e das crianças. O criticado estudo de E. Franklin Frazier
311
312
TEMPO IMPERFEITO
sobre as “novas” elites de cor descreveu o domínio das esposas independente dos salários e qualificação profissional dos maridos, incluindo o trabalho não qualificado.) Um historiador negro sugeriu que algumas mães (ao
que tudo indica, chefes de família) incentivavam suas filhas a seguirem carreiras do magistério para protegê-las dos homens brancos, uma tradição
comparável à das famílias católicas ao enviarem os rapazes para serem educados pelos padres”.30
Se por um lado Landes parece ter sido uma das primeiras usuárias de
suas cartas e papéis, por outro a utilização desses documentos forneceu
aos seus escritos autobiográficos — em particular o seu “Fisk Manuscript”
— um estilo narrativo que lhe garantiria credibilidade, ao menos aos olhos
de possíveis editores. Principalmente em meados dos anos 80, as versões
iniciais desses textos são retrabalhadas a partir do uso sistemático de dados censitários, educacionais, memórias de sulistas feministas, estudos sobre os períodos do pós-Guerra-Civil, do pós-emancipação e de segregação, bem como seus impactos nos anos 50 com a deflagração do movimento pelos direitos civis. Landes iniciaria então uma releitura de seus escritos
na qual as jovens estudantes dos campi universitários negros ganhavam
proeminência. Essa transformação, embora possa ter sido ocasionada pela
contínua recusa dos editores em publicar as versões mais fortemente centradas em sua própria experiência, redireciona suas preocupações e angústias para um outro terreno. Landes tinha consciência de que mais do
que suas experiências, eram o ambiente e o cotidiano do Jim Crow que faziam do seu texto uma narrativa atraente. Landes chama a atenção para a
riqueza histórica dos fatos e cenários nos quais viveu e dos quais foi testemunha, mas conhece as limitações de um tratamento personalizado.
Sendo eu uma personagem branca vinda do norte (então com 27 anos mas
já tendo tido alguns envolvimentos com negros nesse curioso campo de concentração americano), a história é contada de um ponto de vista externo. A
classe média negra (socioeconomicamente e culturalmente, em termos educacionais e de renda, “classe alta”) é muito discreta sobre si mesma […] e
me arriscar me aproximando da imprensa negra da universidade e da revista Ebony estava fora de questão.31
Em virtude da profusão de versões — não datadas, extremamente semelhantes e paginadas de forma não-linear por meio de códigos alfanuméricos e que por vezes se repetem — é impossível rastrear de forma clara a
seqüência de textos autobiográficos preservados sob a rubrica “Manuscrito
TEMPO IMPERFEITO
Fisk”. Não sabemos mesmo se a ordenação e nomeação foram adotadas
seguindo instruções da autora. Nessas caixas estão textos contendo inúmeras correções à caneta e a lápis e excertos da mesma natureza. Contudo,
sua manutenção no arquivo nos oferece elementos importantes para a nossa compreensão sobre temas, inflexões e índices que tornam a pesquisa
com os papéis de Ruth Landes mediada pelo seu desejo de perpetuar-se.
De volta ao futuro
Encontrei essas notas porque estou colocando em ordem papéis relacionados
à minha vida profissional para a Smithsonian Institution (estou descobrindo
textos fascinantes de décadas passadas que não tive tempo de concluir).32
Landes assinou o termo de cessão de seus papéis para o NAA em
novembro de 1984. Seguindo as instruções da própria instituição, tratou
de revisar seu testamento no sentido de incluir informações explícitas sobre a doação, direitos de propriedade, publicação e uso de seus papéis.
Em carta aos seus advogados, reproduz trechos das ponderações legais e
acrescenta um curto resumo de seus livros, textos manuscritos e artigos.
Havia escrito diferentes livros sobre os Ojibwa e Potawatomi — dos quais
os cadernos de campo teriam sido, de forma não autorizada, entregues
pela Universidade de Colúmbia ao NAA. Como não detinha os direitos
de reprodução de seus primeiros escritos, preocupava-se com as informações contidas nos seus diários. Depois de tentar, sem sucesso, sensibilizar
o arquivista da Universidade de Colúmbia, Landes dirige-se ao diretor
do Departamento de Antropologia:
Esta carta se refere ao tratamento que o Departamento deu aos meus primeiros escritos. O Conselho Geral da Smithsonian me escreveu em 20 de
novembro do ano passado informando que diversos materiais de campo de
minha autoria “foram transferidos pela Universidade de Colúmbia para os
seus arquivos” há alguns anos atrás. Como nunca fui notificada nem fiquei
ciente de qualquer acordo relacionado a isso, para mim isto foi um mistério.
Pedi ao meu advogado de Nova Iorque para entrar em contato com a Smithsonian e soube, por meio do dr. James Glenn do National Anthropological
Archives, que meu material estava em um pacote de papéis […] eu preciso
saber o que de meu foi transferido sem minha autorização […] mesmo que
estivesse morta durante o período da “transferência”, não haveria algum tipo de restrição legal para isso? […] estou reunindo um grande volume de
313
314
TEMPO IMPERFEITO
material sobre minha carreira para transferir para a Smithsonian como uma
“doação sem restrições” (expressão deles) […].33
Em maio de 1985, Landes encontrava-se em pleno processo de preparação de seus papéis. Aflita, recorreu a velhos amigos, arquivistas, curadores e responsáveis jurídicos de acervos pessoais e institucionais em
busca de fragmentos materiais de sua própria história profissional. Particularmente os funcionários responsáveis por coleções pertencentes a instituições nas quais trabalhou e estudou foram inquiridos sobre a localização de seus papéis e o direito de usá-los e guardá-los em seu próprio arquivo. Como observa James A. Boon (1986), há uma íntima relação entre
o trabalho de campo e a atividade da memória e não é por acaso que as
tentativas de Landes de descrever, aludir, rememorar sua experiência de
campo estão marcadas pela recriação de personagens e interlocutores.
Em carta a Leo Waisberg, explicava por que resolvera trazer alguns personagens de volta do passado. Maggie Wilson, informante fundamental
no seu trabalho de campo entre os Ojibwa entre 1932 e 1936, é incluída
no repertório de personagens caros às cenas que necessita recompor e
rememorar. “Nesta pesada atmosfera de lembranças […] eu agora incluo
a pobre Maggie Wilson”34.
A preocupação com o que estaria irremediavelmente perdido com sua
morte parecia instigá-la a expressar claramente seus sentimentos com relação às notas e diários de campo. Como chamou a atenção Jean E. Jackson, essa preocupação e sentimento de perda eminente de algo que ocupa
posição central entre os objetos que se deseja preservar foi comum entre
os antropólogos por ela entrevistados (1990:10). O destino dos papéis que
já estavam sob a posse de Landes e daqueles que ansiava recuperar já havia sido definido. Landes tinha consciência do seu valor e investiu diretamente, contando com auxílio jurídico, em algumas tentativas de reavê-los.
Meu advogado de Nova Iorque conversou com o arquivista para saber a natureza dos meus papéis, mas não recebemos qualquer resposta […] sou da
era de Boas, Benedict, Klinenberg etc. e minhas primeiras pesquisas de campo foram entre os índios de Ottawa […] passei alguns meses procurando
meus primeiros cadernos de campo e não os encontrei (são valiosos para esta área de estudo).35
O mesmo ocorreu com o texto que teria sido objeto do imbroglio
ocorrido no Brasil — o The ethos of the negro in the New World: a research memorandum36. Em maio de 1988, Landes escreve pela primeira
TEMPO IMPERFEITO
vez ao presidente da Carnegie Corporation pedindo seu relatório de volta. Em novembro de 1990, ela ainda insistia junto à curadora do Schomburg Center for Black Culture — instituição responsável pelo acervo da
Carnegie — para que lhe devolvessem aquele que talvez considerasse o
mais importante dos fragmentos do seu passado37. Cerca de três meses
depois de tentar sem sucesso ser repatriada, Ruth Landes falece na condição de estrangeira em uma sociedade que resistia em entender, a sociedade canadense. Na seção dedicada aos obituários, o New York Times
registra o acontecimento. As primeiras linhas do pequeno texto biográfico ressaltam justamente o que tornou Landes sujeita a releituras e apropriações na cena intelectual norte-americana a partir dos anos 70: “Dra.
Landes, uma antropóloga que recebeu críticas aos seus estudos sobre os
negros brasileiros, índios do norte de Dakota e hispano-americanos do
sudoeste americano, morreu em 11 de fevereiro em sua casa em Hamilton, Ontario. Ela tinha 82 anos”.38
Como podemos ler o arquivo de Ruth Landes e refletir sobre os regimes
de verdade que o orientam? O que sua organização — cronologia e indexação — nos informa sobre algumas narrativas biográficas? Ainda que
nem todos os escritos sobre Landes tenham sido produzidos a partir de
seu arquivo, parte deles parece sobremaneira atrelada ao que chamei de
marcas e pistas sinalizadas nos papéis que compõem a RLP (Landes 1986
[1970]; Cole 1994; 1995a; 2003; Healey 1995; 2000). Penso que a configuração e disposição particular de seus escritos profissionais e pessoais nos
oferecem inúmeras oportunidades de refletir acerca do uso dos arquivos
e, em particular, quando seu objetivo é produzir histórias intelectuais e
da disciplina. Neste artigo, ao privilegiar parte da correspondência tardia
de Landes e sua intervenção em documentos autobiográficos e cartas,
pretendi analisar um singular processo de produção de ordenamento e
sentido da vida profissional da antropóloga ? como outras, entrecortada
de injunções pessoais. Estou certa de que ela é sempre eventual e vulnerável aos usos que nós, usuários de arquivos, fazemos de tais documentos. Portanto, sua interpretação é sempre contingente. Mesmo sob a intervenção posterior dos arquivistas da NAA, interessou-me observar a
RLP decompondo o que Zonabend e Jamim chamaram de “arquivística”,
a seleção e o relevo dado a eventos, personagens e documentos, produzida por Landes. Interessou-me observar como restaram como uma espécie
de camada — um conjunto diferenciado de intervenções produzidas ao
longo de um tempo imperfeito, destinado à lembrança, ao reencontro com
o passado em um acerto de contas impossível — sobre a qual outras cer-
315
316
TEMPO IMPERFEITO
tamente se impuseram. É preciso não esquecer que as cartas colocam em
relevo uma dimensão mais espontânea — ainda que por vezes contraditória —, mas talvez mais profunda, do pensamento (Handler 1983:215).
Por isso mesmo é possível que nos ofereçam uma compreensão privilegiada dos limites da escrita da história e de histórias da experiência etnográfica, sobretudo aquelas com pretensões biográficas.
Recebido em 10 de dezembro de 2003
Aprovado em 15 de setembro de 2004
Olívia Maria Gomes da Cunha é professora do Departamento de Antropologia Cultural do IFCS/UFRJ.
Notas
* Este texto é uma versão modificada de capítulo de um livro em preparação
sobre arquivos etnográficos. Agradeço a Celso Castro, Richard Price e aos pareceristas anônimos da Mana pela leitura e comentários generosos, a John Homiak
pelo estímulo e suporte em diferentes etapas da pesquisa e aos arquivistas do National Anthropological Archives (Smithsonian Institution) pelas excepcionais
condições de trabalho durante as primaveras de 2000 e 2003. A pesquisa teve o
apoio da Harvard University (DRCLAS), do CNPq e da John Simon Guggenheim
Memorial Foundation.
RL/Eli S. Marks, 8/11/86. Ruth Landes Papers, National Anthropological Archives/Smithsonian Institution, Box 3 (a seguir identificado apenas pelas iniciais
RLP/NAA). Todas as traduções são de minha responsabilidade. Agradeço a
Brodwyn Fischer pela revisão técnica.
2 Ruth Schlossberg Landes (1908-1991) obteve seu doutorado pela Columbia
University com um estudo sobre os Ojibwa (1935). Em 1937-1938, lecionou na Fisk
University e no ano seguinte realizou pesquisas no Brasil. Entre 1941 e 1949, ocupou diversos cargos em instituições nos Estados Unidos e, em 1951, com bolsa da
Fulbright Comission, efetuou pesquisa sobre imigrantes caribenhos em Londres. A
partir dos anos 60, realizou viagens de pesquisa sobre bilingüismo e biculturalis-
TEMPO IMPERFEITO
mo no País Basco, na África do Sul, na Suíça e no Canadá. Entre 1965 e 1991, foi
professora do Departamento de Antropologia da McMaster University (Canadá).
3 RL/E.C.
4
Fox, 28/1/66 e 9/2/66. RLP/NAA, Box 3.
A cidade das mulheres (1967), reeditado em 2002 pela editora da UFRJ.
Uma versão incompleta foi submetida à St. Martin’s Press em 1965. RL/J.
Bach, 12/5/85. RLP/NAA.
5
6 Vale notar o relevo dado a questões como subjetividade e posicionamento
em estudos produzidos por arquivistas (Kaplan 2002; Cook e Schwartz 1999).
7
Ver Guide to Preserving Anthropological Records (http//www.si.edu/naa).
Parte dos documentos pessoais de Landes foi doada por seus familiares ao
Research Institute for the Study of Man (RISM) depois de sua morte (Cole 2003).
8
9 Embora Golde tenha publicado trechos da carta, essas citações são oriundas do manuscrito existente na RLP.
10
P. Golde, 8/8/67. RLP/NAA, Box 3.
Palavras em itálico e riscado reproduzem a intervenção de Landes na carta de P. Golde, 6/11/67. RLP/NAA, Box 3.
11
12
Idem.
13
Idem.
14
RL/George Park, 31/8/85. RLP/NAA, Box 3. Ênfase no original.
15
Idem, p.2.
16
E. Carneiro, 28/1/68. RLP/NAA, Box 4.
17
Idem.
18
RL/G. Park, 31/8/85. RLP/NAA, Box 3.
19
RL/J. Braga, 10/12/86. RLP/NAA, Box 3.
20
RL/E. S. Ilmes, 10/10/1941, RLP/NAA, Box 5.
21 Algumas dessas cartas foram mantidas entre a correspondência de Edison
Carneiro doada pela família para o Museu do Folclore Édison Carneiro no Rio de
Janeiro. Infelizmente não há espaço para comentá-las neste artigo.
317
318
TEMPO IMPERFEITO
Por exemplo “você mesma reconhecerá que meu inglês está melhorando
de carta para carta”. E. Carneiro, 14/7/39. RLP/NAA, Box 4. Uma parte das cartas
enviadas por E. C. nesse período estão em inglês. Algumas notas e observações
estão escritas em português.
22
23
E. Carneiro, 23/6/39. RLP/NAA, Box 4.
24
E. Carneiro, 18/9/39. RLP/NAA, Box 4.
25
RL/J. F. Hope Jr., 20/9/87. RLP/NAA, Box 3.
26
RL/George Park, 31/8/85. RLP/NAA, Box 3.
27
RL, sem data ou título. RLP/NAA, Box 3.
N.T. [FDR] Franklin Delano Roosevelt. RL/J. Richardson, 23/6/86.
RLP/NAA, Box 4.
28
29
RL/J. Richardson, 23/6/86. RLP/NAA, Box 4.
30
“Fisk Manuscript”, Chapter 2, p.54-55. RLP/NAA, Box 15.
31
RL/J. Bach, op. cit.
32
RL/J. Bach, 12/5/85. RLP/NAA, Box 3.
33
RL/A. Alland, 3/5/85. RLP/NAA, Box 3.
34
RL/L. Weinsberg, 15/4/1985, p.1. RLP/NAA/SI, Box 3 (ver Cole 1995a).
35
RL/H. Strong, 16/4/1985. RLP/NAA, Box 3.
Texto não publicado, que compõe o acervo da Carnegie Corporation, mantido pelo Schomburg Center for Black Culture, New York Public Library.
36
37 O manuscrito intitulava-se “The ethos of the negro in the New World”.
RL/D. Hamburg, 16/5/1988. RLP/Box 3; RL/D. Lachatañeré, 7/1990. RLP/NAA/SI,
Box 3.
“Ruth Landes is dead: anthropologist was 82”. The New York Times,
24/2/1991, seção 1, parte 1, coluna 4, p.38.
38
TEMPO IMPERFEITO
Referências bibliográficas
ARTIÈRES, Philippe. 1998. “Arquivar a
própria vida”. Estudos Históricos,
21:9-34.
BOON, James. 1986. “Between-thewars Bali: rereading the relics”. In:
G. Stocking Jr. (ed.), Malinowski,
Rivers, Benedict and others: essays
on culture and personality. Madison: The University of Wisconsin
Press. pp. 218-247.
CARNEIRO, Edison. 1964. “Uma falseta
de Artur Ramos”. In: E. Carneiro
(ed.), Ladinos e criolos: estudos sobre o negro no Brasil. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira. pp. 223-227.
CLIFFORD, James. 1990. “Notes on
Field(notes)”. In: R. Sanjek (org.),
Fieldnotes: the making of anthropology. Ithaca: Cornell University
Press. pp. 47-70.
COLE, Sally. 1994. “Ruth Landes in
Brazil: writing, race, and gender in
1930s American Anthropology”. In:
R. Landes (ed.), The city of women.
Albuquerque: University of New
Mexico Press. pp. vii-xxxiv.
___ . 1995a. “Women’s stories and Boasian texts: the Ojibwa ethnography
of Ruth Landes and Maggie Wilson.” Anthropologica, 37(1): 3-25.
___ . 1995b. “Ruth Landes and the
early ethnography of race and gender”. In: R. Behar e D. Gordon
(eds.), Women writing culture. Berkeley: University of California
Press. pp. 166-185.
___ . 2002. “Mrs. Landes meet Mrs. Benedict”: culture pattern and individual agency”. American Anthropologist, 104(2): 533-543.
___ . 2003. Ruth Landes: a life in anthropology. Lincoln: University of Nebraska Press.
COMAROFF, John e COMAROFF, Jean.
1992. Ethnography and historical
imagination. Oxford: Westview Press.
COOK, Terry e SCHWARTZ, Joan.
2002. “Archives, records, and power: from (postmodern) theory to
(archival) performance”. Archival
Science: International Journal on
Recorded Information, 3:171-185.
CORREA, Mariza. 2000. “O mistério
dos orixás e das bonecas: raça e gênero na antropologia brasileira”.
Etnográfica, 2:233-265.
___ . 2003. Antropólogas e antropologias. Belo Horizonte: Editora da
UFMG.
DAVIS, Natalie Zemon. 1987. Fiction in
the archives. Stanford: Stanford
University Press.
DERRIDA, Jacques. 2001. Mal de arquivo: uma impressão freudiana.
Rio de Janeiro: Relume Dumará.
DES CHENES, Mary. 1997. “Locating
the past”. In: A. Gupta e J. Ferguson (ed.), Anthropological locations: boundaries and grouns of a
field science. Berkeley: University
of California Press. pp. 66-85.
DI LEONARDO, Micaela. 2000. Exotics
at home: anthropologist, others,
american modernity. Chicago: The
University of Chicago Press.
DIRKS, Nicholas. 2001. “The imperial
archive: colonial knowledge and
colonial rules”. In: Nicholas Dirks
(org.), Castes of mind: colonialism
and the making of modern India.
Princeton: Princeton University
Press. pp. 107-124.
DUBY, Catherine. 1999. “Archives ethnographiques”. Gradhiva. Revue
d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie, 25:112-114.
319
320
TEMPO IMPERFEITO
FARGE, Arlette. 1989. Le gôut de
l’archives. Paris: Éditions du Seuil.
FOUCAULT, Michel. 1986. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense-Universitária.
___ . 1992. “A escrita de si”. In: M.
Foucault (ed.), O que é um autor?
Lisboa: Vega. pp. 129-160.
GINZBURG, Carlo. 1991. “Sinais, raízes de um paradigma indiciário”.
In: C. Ginzburg (ed.), Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história.
São Paulo: Companhia das Letras.
pp.143-80.
GOLDE, Peggy. 1986a [1970].”Introduction”. In: Women in the field:
anthropological experiences. Berkeley: University of California
Press. pp. 1-15.
___ . (org.). 1986b [1970]. Women in
the field: anthropological experiences. Berkeley: University of California Press.
GROOTAERS, Jan-Lodewijk. 2001/
2002. “De l’ exploitation des archives de terrain ? une textualisation
en chaîne”. Gradhiva. Revue d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie, 30-31:73-80.
GUPTA, Akhil e FERGUSON, James.
1997. “Discipline and practice: “the
field” as site, method, and location in
anthropology”. In: Akhil Gupta e James Ferguson (orgs.), Anthropological locations: boundaries and grouns
of a field science. Berkeley: University of California Press. pp. 1-46.
HAMILTON, Carolyn et alii (ed.). 2002.
Refiguring the archive. Dordrecht:
Kluwer Academic Publishers.
HANDLER, Richard. 1983. “The dainty
and the hungry man: literature and
anthropology in the work of Edward
Sapir”. In: G. Stocking Jr (org.), Observers observed: essays on ethnographic fieldwork. Madison: The University of Wisconsin Press. pp. 208-231.
___ . 1990. “Ruth Benedict and the modernist sensibility”. In: M. Manganaro (org.), Modernist anthropology. Princeton: Princeton University Press. pp. 163-180.
___ . 2000. “Boundaries and Transitions”. In: Richard Handler (org.),
Excluded ancestors, inventible traditions: essays toward a more inclusive history of anthropology. Medison:
University of Wisconsin Press. pp. 3-9.
HEALEY, Mark Alan. 1996. “Os desencontros da tradição em A Cidade
das Mulheres: raça e gênero na etnografia de Ruth Landes”. Cadernos Pagu, 6-7:153-200.
___ . 2000. “The sweet matriarchy of
Bahia: Ruth Landes’ ethnography”.
Disposition, 50:87-116.
JACKSON, J. E. 1990. “‘I’am a fieldnote’: fieldnotes as a symbol of professional identity”. In R. Sanjek
(org.), Fieldnotes: the makings of
anthropology. Ithaca: Cornell University Press. pp. 3-33.
JAMIN, Jean e ZONABEND, Françoise. 2001/2002. “Archivari”. Gradhiva. Revue d’Histoire et d’Archives
de l’Anthropologie, 30-31:57-65.
JOLLY, Éric. 2001/2002. “Du fichier ethnographique au fichier informatique?
le fonds marcel Griaule: le classement des notes de terrain”. Gradhiva. Revue d’Histoire et d’Archives
de l’Anthropologie, 30-31: 81-103.
KAPLAN, Elisabeth. 2002. “`Many
paths to partial truths’: archives,
anthropology, and the power of representation”. Archival Science: International Journal on Recorded Information, 3:209-220.
KUPER, Hilda. 1984. “Function, history, biography: reflections on fifty
years in the British anthropological
tradition”. In: G. Stocking Jr. (org.),
Functionalism historicized: essays
on British social anthropology. Ma-
TEMPO IMPERFEITO
dison: The University of Wisconsin
Press. pp. 192-213.
LANDES, Ruth. 1967 [1947]. The City
of Women. New York: MacMillan
Press.
___ . 1986 [1970]. “A Woman anthropologist in Brazil”. In: P. Golde (ed.),
Women in the field: anthropological
experiences. Berkeley: University of
California Press. pp. 119-139.
MEAD, Margaret. 1986 [1970]. “Fieldwork in the Pacific South”. In: P.
Golde (ed.), Women in the field:
anthropological experiences. Berkeley: University of California
Press. pp. 213-239.
___ . 1972. Blackberry winter: my early
years. New York: Kodansha International.
MOUTON, Marie-Dominique. 2001/
2002. “Archiver la mémoire des
ethnologues”. Gradhiva. Revue
d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie, 30-31:67-72.
NEWTON, Esther. 1993. “My best
informant’s dress: the erotic equation in fieldwork”. Cultural Anthropology, 1:3-23.
PAREZO, Nancy e SILVERMAN, S.
1995. Preserving anthropological record. New York: Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research.
PARK, A. e PARK, G. 1988. “Ruth
Schlossberg Landes”. In: U. Gacs
(ed.), Women anthropologists: a
biographical dictionary. New York:
Greenwood Press. pp. 208-213.
POWDERMAKER, Hortence. 1966.
Strange and friend: the way of an
anthropologist. New York: W.W.
Norton & Co.
PRICE, Richard. 1983. First time: the
historical vision of an Afro-American people. Baltimore and London:
John Hopkins University Press.
PRICE, Richard e PRICE, Sally. 2003.
The roots of roots or, how afro-ame-
rican anthropology got its start.
Chicago: Prickly Paradigm Press.
RAMOS, A. 1942. A aculturação negra
no Brasil. São Paulo: Cia. Editora
Nacional.
RICHARDS, Thomas J. 1992. “Archive
and Utopia”. Representations, 61:
104-135.
___ . 1993.The imperial archive: knowledge and the fantasy of empire.
London: Verso.
RICHARDSON, Joe M. 1980. A history
of Fisk University, 1865-1946. Alabama: University of Alabama Press.
___ . 1986. Christian reconstruction:
the american missionary association and southern blacks, 18611890. University of Georgia Press.
SANJEK, Roger. 1990a. Fieldnotes: the
makings of anthropology. Ithaca:
Cornell University Press.
STEEDMAN, Carolyn. 2002. Dust: the
archive and cultural history. New
Brunswick: Rutgers University Press.
STOCKING JR., George W. 1983. “History of anthropology: whence/whither”. In: G. W. Stocking Jr. (ed.), Observers observed: essays on ethnographic fieldwork. Madison: The University of Wisconsin Press. pp. 3-12.
___ . 1986. “Essays on culture and personality”. In: G. W. Stocking Jr.
(ed.), Malinowski, Rivers, Benedict
and Others. Essays on culture and
personality. Madison: The University of Wisconsin Press. pp. 3-12.
STOLER, Ann Laura. 2002. “Colonial
archives and the arts of governance”. Archival Science: International
Journal on Recorded Information,
2:87-109.
TROUILLOT, Michel-Rolph. 1995. Silencing the past. Boston: Beacon Press.
VIANNA, Aurélio et alii. 1986. “A vontade de guardar: lógica da acumulação em arquivos privados”. Arquivo e Administração, 2:62-76.
321
322
TEMPO IMPERFEITO
Resumo
Abstract
Nesse artigo, os arquivos etnográficos e
seu duplo, os arquivos pessoais, são
concebidos como construções culturais
cuja compreensão é fundamental para
entendermos como certas narrativas
profissionais foram produzidas e como
sua invenção resulta de um intenso diálogo envolvendo imaginação e autoridade intelectual. Tendo a coleção Ruth
Landes Papers mantida pelo National
Anthropological Archives (Smithsonian
Institutian) como objeto de análise, o
texto propõe uma reflexão acerca das
lógicas que orientam a instituição dos
limites temáticos dos arquivos, seus
critérios de legitimidade e inclusão, a
transformação de instrumentos de trabalho de seus titulares em “artefatos”,
“documentos” e “fontes”; suas concepções de “valor documental”, sua
economia interna e seus usos na contínua (ainda que diversa) reificação da
autoridade de seus “titulares” como
personagens de diferentes histórias da
antropologia.
Palavras-chave Etnografia, História, Arquivos, Memória, Ruth Landes
In this article, ethnographic archives
and their doubles, personal archives,
are analyzed as cultural constructions
whose comprehension is essential to
understanding the ways in which professional narratives are produced and
how their invention results from an intense dialogue involving imagination
and intellectual authority. Taking the
Ruth Landes Papers kept by the National Anthropological Archives (Smithsonian Institution) as its object of
analysis, the text examines the various
logics informing the institution of thematic limits to the archives, their criteria for legitimacy and inclusion, the
transformation of their author’s work
instruments into ‘artefacts,’ ‘documents’
and ‘sources;’ their conceptions of ‘documentary value,’ their internal economy and their uses in the continual (if
shifting) reification of the authority of
their ‘authors’ as key figures within
anthropology’s different histories.
Key-words Ethnography, History, Archives, Memory, Ruth Landes
Mana
Print ISSN 0104-9313
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
→
ARTIGOS
Um olhar antropológico sobre a questão ambiental
Guillermo Foladori; Javier Taks
Javier Taks é professor do Departamento de Antropología Social y Cultural, Universidad
de la República, Uruguay; Guillermo Foladori é professor do Doctorado en Estudios del
Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México
RESUMO
A presente crise ecológica conduziu a uma revisão de paradigmas em antropologia, e
ao questionamento da contribuição da disciplina para a elaboração das políticas
ambientais e para a luta dos movimentos ambientalistas. Este artigo argumenta que a
antropologia é valiosa para aqueles que pretendem construir uma sociedade mais
sustentável. Primeiro, produzindo informação e conhecimento crítico acerca dos
significados das atitudes perante o meio natural de humanos modernos e
premodernos. Segundo, e mais importante, a antropologia poderia contribuir,
mediante pautas metodológicas, para o estudo das relações entre cultura e ambiente.
Por um lado, entendendo essas relações como resultado de processos contraditórios de
produção de sentido, enraizados na transformação e apropriação desigual da natureza,
e contra a visão consumista da cultura. Por outro lado, entendendo-se a cultura como
um processo histórico, a antropologia seria capaz de superar os erros derivados do
relativismo cultural radical, que até o presente tem limitado a participação da disciplina
na elaboração das políticas ambientais.
Palavras-chave: Antropologia ecológica, Relações cultura-natureza, Desenvolvimento
sustentável.
ABSTRACT
The current ecological crisis has led to a critical review of anthropology's mainstream
paradigms and to questions over its contribution to environmental policy-making and
the political aims of environmental movements. This article argues that anthropology is
valuable in two ways for those attempting to build a more sustainable society. Firstly,
it produces critical information and knowledge about the meanings of pre-modern and
modern human attitudes towards the natural environment. Secondly, and more
importantly, by providing methodological guidelines for studying relations between
culture and the environment, anthropology allows us to understand these relations as
the outcome of mutually contradictory processes of producing meaning - one rooted in
the unequal transformation and appropriation of nature, the other opposed to a
consumerist vision of culture. At the same time, by apprehending culture as a historical
process, anthropology is capable of overcoming the failures of radical cultural
relativism which have so far limited the discipline's participation in environmental
policy making.
Key words: Ecological anthropology, Culture-nature relations, Sustainable
development.
A relação entre sociedade e meio ambiente vem se afirmando como uma das principais
preocupações, tanto no campo das políticas públicas quanto no da produção de
conhecimento. A antropologia, tal como se expressa nas revistas especializadas e
também na constituição de grupos de pesquisa que pretendem influir diretamente
sobre as políticas e organizações da sociedade civil, não permaneceu alheia a esse
movimento (Little 1999). O que não é de surpreeender, já que, por seus antecedentes
empíricos e metodológicos, ela está entre as ciências sociais mais bem situadas para
entender a questão ambiental, abordando-a de um ponto de vista global e
interdisciplinar. A antropologia nasceu, afinal, perguntando-se sobre a transformação
antrópica que diferentes sociedades produziram em seu ambiente, sobre a
continuidade e diferença da espécie humana em relação aos demais seres vivos, e
sobre o lugar da consciência na evolução social. Além disso, o advento da disciplina no
contexto colonial, ligado às políticas de controle e mudança social (Leclerc 1973; Kuper
1973), fazem-na herdeira de uma vocação de "análise e intervenção" (Brosius 1999).
Este artigo destaca duas áreas em que a antropologia pode contribuir para a
compreensão da problemática ambiental e de suas políticas. A primeira é informativa,
e nela seu papel é desmistificar os preconceitos sobre a relação das sociedades com
seus ambientes naturais — preconceitos tais como os mitos da existência de um
vínculo harmonioso entre sociedade e natureza nos tempos pré-industriais, o da
tecnologia moderna como causa última da crise ecológica, ou o do papel sacrossanto
da ciência como guia em direção à sustentabilidade. A segunda área é metodológica, e
concerne à questão de como abordar os problemas ambientais de modo a caminhar
rumo a sociedades mais sustentáveis. Está claro que, em qualquer dos casos, os
méritos não são exclusivos da antropologia, e que esta procede em colaboração com
muitas outras disciplinas.
Contra o fundamentalismo: entre românticos ecológicos e
cornucopianos
O caráter complexo, global e interdisciplinar da problemática ambiental tem gerado
uma gama de posições que nem sempre correspondem às expectativas políticas. Há
grupos, tanto de esquerda quanto de direita, que tomam as sociedades simples como
ideal de equilíbrio ecológico; paralelamente, há grupos de direita e também de
esquerda que rechaçam as leis da ecologia como guia para o comportamento humano
(Foladori 2000). Várias aparentes incoerências entre posição política e proposta
ambiental devem-se à complexidade do tema, e não vão desaparecer. Outras derivam
de argumentos de forte conteúdo mítico e fundamentalista que refletem, em parte,
falta de informação sobre o assunto, e a antropologia tem um papel importante na
desmitificação de muitos desses argumentos. Utilizaremos as seguintes afirmações
como exemplo:
1) As sociedades primitivas estabeleciam uma relação harmônica com a natureza. É
freqüente encontrar afirmações como essa, seja em textos de divulgação, seja em
propostas políticas. A imagem de sociedades pré-industriais ou pré-capitalistas vivendo
em harmonia com a natureza tem o apelo de, presumidamente, oferecer exemplos
reais de convivência equilibrada com esta. Trata-se, todavia, de uma afirmação
duvidosa, não apenas por sua generalidade, ao considerar como iguais todas as
sociedades pré-industriais, como também por seu romantismo, que sugere possuírem
as ditas sociedades um grau de consciência e atividade planificadas difícil de imaginar
mesmo no caso de grupos pequenos.
Reconhece-se, hoje, que as populações que, há cerca de 12 mil anos, cruzaram a
"ponte" de Beringia do nordeste asiático para o Alasca, participaram na extinção de
mamutes, mastodontes e outros grandes mamíferos, à medida que avançavam rumo
ao sul do continente. A conhecida tese de Martin (1984), sobre o papel dos caçadores
paleolíticos na extinção de animais em continentes de colonização tardia, forneceu uma
prova dos efeitos diretos e indiretos que sociedades com tecnologias "simples" são
capazes de provocar a longo prazo sobre o meio ambiente — ainda que outras
variáveis, como mudanças climáticas, possam também intervir (Haynes 2002).
A responsabilidade de caçadores e coletores na extinção da megafauna nos continentes
de colonização tardia se repete no caso das grandes aves, nas ilhas (Steadman e
Martin 2003; Anderson 2002; Leacky e Lewin 1998). A fragmentação do habitat,
resultante da derrubada das matas, a caça indiscriminada e a introdução de espécies
predadoras exóticas são causas que não diferem, qualitativamente, daquelas que,
hoje, são identificadas como responsáveis pela extinção de espécies. Leacky e Lewin
concluem:
Não são necessárias máquinas de desmatamento maciço para provocar
grandes danos ambientais. As sociedades com tecnologia primitiva
estabeleceram, no passado recente, uma marca insuperada nesse
sentido, já que desencadearam o que, nas palavras de Storrs Olson,
consistiu em "umas das mais rápidas e graves catástrofes biológicas da
história da Terra" (Leacky e Lewin 1998:192).
A destruição da megafauna é apenas a manifestação mais visível das transformações
que, desde os hominídeos que antecederam o Homo sapiens, vêm sendo impostas aos
ecossistemas.
Também em um nível orgânico "menor" registraram-se conseqüências significativas.
Em suas atividades de coleta e de caça, os hominídeos adquiriram parasitas próprios
aos primatas e outros microrganismos, que transformaram os ecossistemas. A
domesticação de plantas e animais, há aproximadamente 10 mil anos, implicou
alterações radicais, com o sedentarismo, novas dietas, concentrações populacionais e
de lixo, de animais domésticos e de plantas, que afetaram radicalmente a coevolução
dos microrganismos. É possível que muitas infecções contemporâneas (tuberculose,
antraz, brucelose etc.) tenham sua origem na domesticação de animais, no contato
direto com eles e no consumo de produtos deles derivados, como leite, peles e couros
(Barret et alii 1998). As epidemias de varíola entre os anos 251 e 266 d.C., a peste
bubônica nos séculos XIII e XIV, e as catástrofes provocadas pelas epidemias na
América espanhola do século XVI são exemplos eloqüentes de uma relação pouco
harmônica com a natureza externa e interna ao ser humano, ainda que estes
resultados tenham sido indiretos e não intencionais. Inhorn (1990) revisa a literatura
da antropologia médica dedicada às doenças infecciosas, revelando suas contribuições
e ressaltando exemplos de comportamentos que favorecem ou limitam as epidemias e
destacando o papel das doenças no processo de seleção natural.
Na discussão sobre as atitudes e relações das sociedades não-ocidentais com o meio
ambiente, a antropologia tem se detido no estudo das transformações materiais e se
ocupado da análise da concepção que os povos fazem da natureza exterior1. Nesse
processo, foi necessário questionar a própria teoria da relação entre sociedade e
natureza. Abandonando-se o ponto de vista etnocêntrico, que considerava a natureza
como a ordem objetiva — a ser descrita segundo as ciências naturais, e à qual cada
povo atribuía significados culturais diversos segundo um modelo mental intra- ou
supraorgânico —, passou-se a uma atitude, no mínimo, cuidadosa no tratamento do
dualismo natureza/cultura, de origem cartesiana (Ellen 1996), tendo-se chegado até
mesmo a visar sua total dissolução (Ingold 2000a). O foco da atenção está centrado na
análise das inter-relações e mediações entre sociopráticas materiais e construção
ideológica. Embora as conclusões sejam ainda provisórias, há consenso de que as
ideologias organicistas, próprias dos grupos caçadores-coletores, não têm
necessariamente como correlatos formas que permitam a reprodução a longo prazo de
processos biofísicos (Escobar 1999; Headland 1997). E, como assinala Milton (1996),
há sociedades não-industriais, estudadas por antropólogos, como os Nayaka da Índia,
que não reconhecem a responsabilidade humana na proteção do ambiente, pois isso os
obrigaria a rever a idéias de que é a natureza quem cuida deles.
Em todo caso, se alguma conclusão geral pode ser tirada, é a de que a natureza não
pode ser considerada como algo externo, a que a sociedade humana se adapta, mas
sim em um entorno de coevolução, no qual cada atividade humana implica a
emergência de dinâmicas próprias e independentes na natureza externa, ao mesmo
tempo que, em um efeito-bumerangue, produz impactos na natureza social e na
biologia das populações humanas. No interior desse complexo de forças, não é possível
esperar que as atividades das sociedades não-industriais sejam "adaptativas" (no
sentido de tender ao equilíbrio), enquanto que a sociedade industrial moderna seria
"não-adaptativa".
A revitalização contemporânea do mito da "sabedoria ambiental primitiva" tem várias
explicações (Milton 1996; 1997). Primeiro, uma falsa identificação entre as práticas
econômicas e rituais de grupos detentores de tecnologias de baixo impacto ambiental,
de um lado, e as técnicas aparentemente similares descritas pelos modernos teóricos
da agroecologia, de outro. Isto constitui uma bandeira política de grande apelo em
sociedades com uma população rural significativa, tendendo a justificar as modernas
propostas conservacionistas ou ecologistas de gestão ambiental, que incorporam
populações nativas. De fato, toda sociedade possui determinados conhecimentos e
práticas que conduzem à reprodução da natureza externa, ou ao cuidado com ela, sem
por isso excluir outros que acarretam efeitos depredatórios ou degradantes sobre os
ecossistemas. Segundo, a crítica ao industrialismo como causa última da crise
ambiental tem necessidade da alternativa que as "sociedades primitivas"
aparentemente oferecem: satisfação de necessidades básicas acoplada a sistemas
tecnológicos elementares e ao uso de fontes energéticas renováveis. Terceiro, os
próprios "nativos" têm visto, na divulgação de sua imagem como "protetores da terra",
uma ferramenta política e econômica para obter o apoio e financiamento de grupos
ambientalistas de pressão em nível internacional, contra a marginalização e opressão
por parte dos governos e burocracias nacionais.
Conhecer a realidade contraditória dos supostos "guardiães" da natureza (povos
"primitivos") causa confusão a muitos grupos ambientalistas bem intencionados, ou os
leva à recusa irrefletida das evidências. Todavia, há que enfatizar a ambigüidade da
prática social humana, como sublinha Ellen para o caso dos Sioux: "a espiritualidade
ambiental dos Sioux anda de mãos dadas com uma dieta vorazmente carnívora, da
mesma maneira que o vegetarianismo hindu é encontrado em uma sociedade de
extrema pobreza e desequilíbrio ambiental" (Ellen 1986:10). E conclui: "nenhuma
cultura humana detém o monopólio da sabedoria ambiental, e [...] parece improvável
que possamos um dia escapar de alguns dos mais profundos dilemas da vida social
humana (Ellen 1986:10).
Criticar o pensamento ambiental romântico não significa ser indiferente às práticas
tradicionais que, freqüentemente, são consideradas ineficientes pela ciência
hegemônica. Um exemplo eloqüente é o reconhecimento de que a propriedade coletiva
dos recursos naturais não conduz necessariamente, ao contrário do que sugere a
hipótese de Hardin (1989) sobre a "tragédia dos espaços coletivos", a uma atitude
negligente ou depredatória sobre o meio ambiente. Segundo Hardin, os espaços
coletivos são depredados porque, não sendo propriedade privada, não são do interesse
de ninguém. A conseqüência implícita é que o problema é solucionado estendendo-se
às áreas comuns os direitos de propriedade privada. A confusão conceitual provém da
visão ideológica de Hardin, para quem o sistema capitalista é o único existente, e o
único possível. No interior de um regime de propriedade privada, os espaços públicos,
comuns ou coletivos tendem a ser utilizados para fins privados, já que tal é a lógica
das relações de produção dominantes. Mas, quando estamos diante de recursos
apropriados de forma coletiva, que não se regem totalmente por relações de
propriedade privada, ou estão menos integrados ao mercado, os recursos coletivos não
necessariamente se degradam, como demonstram muitos estudos recentes (Ostrom
1990; Berkes e Folke 1998; Orlove 2002). Este é outro exemplo da falsidade da
contradição entre sociedade capitalista e não-capitalista. Para Hardin e outros, existem
apenas dois pólos, o capitalismo e o resto. Mas essa dicotomia não se sustenta.
Existem múltiplas formas pré- ou não-capitalistas de organização social, que
estabelecem regulações diferentes e contraditórias com a natureza externa (Glacken
1996; Ellen 1999; Foladori 2001).
Alguns informes das Nações Unidas reconhecem, hoje, que sociedades agrícolas menos
incorporadas ao mercado exibem maior equilíbrio ambiental, e que sua integração ao
mercado seria causa de um incremento da degradação do ambiente (Ambler 1999).
Segundo Ingerson (1994, 1997), até mesmo os estudantes de antropologia se
surpreendem ao reconhecer o caráter contraditório das sociedades menos complexas
em suas relações com o meio ambiente. Por um lado, aqueles que tinham no "mito do
bom selvagem" uma ferramenta de esperança frente à degradação ecológica
contemporânea sentem-se frustrados. Por outro lado, aqueles que supunham que a
degradação ambiental era uma prerrogativa da sociedade industrial ou capitalista
vêem-se sem alternativa, já que essa degradação se afiguraria como um
comportamento cultural universal. Ingerson conclui que o maior desafio para a
antropologia ecológica de corte histórico e comparativo é ensinar que "[...] uma
relação benigna de longo prazo entre os seres humanos e a natureza [...] pode ser
algo sem precedentes sem que, por isso, seja necessariamente impossível" (Ingerson
1997:616).
A desmistificação da "sabedoria ecológica primitiva" não exclui que a antropologia
social tenha gerado contribuições sobre "o alcance e status dos conhecimentos e
técnicas tradicionais de gestão de recursos" (Descola e Pálsson 1996:12), resgatando
assim o conhecimento prático dos diversos povos e a necessidade de participação das
populações locais na produção de uma nova síntese, lado a lado com a ciência gerada
nos laboratórios e centros de investigação (Richards 1985; Toledo 1992). Esta
articulação de saberes não deve ser entendida em termos de anexação de uma ciência
nativa para complementar a ciência ocidental, mas como estabelecimento de um
ecletismo inovador (Ellen e Harris 2000).
A antropologia, de certa maneira, pretende oferecer um olhar sobre a relação
sociedade-natureza, que não caia nem no romantismo ambientalista daqueles que
vêem, em algumas sociedades pré-capitalistas, um modelo de sustentabilidade
ambiental (e às vezes social), nem na apologia modernista do capitalismo, baseada na
aplicação da ciência e da tecnologia hegemônicas.
2) A crise ambiental é um resultado do grau de desenvolvimento técnico. Alguns
movimentos ambientalistas contemporâneos e muitos autores ecodesenvolvimentistas
centram sua crítica da crise ambiental no desenvolvimento tecnológico e industrial2.
Partem do suposto, muitas vezes não explicitado, de uma evolução autônoma da
técnica e da tecnologia, uma evolução linear desde instrumentos simples até máquinas
complexas, paralela à alienação dos homens com respeito aos instrumentos de
trabalho e ao meio ambiente — o que Pfaffenberger chama a "visão padrão da
tecnologia" (1992).
Diante da idéia da crescente alienação da humanidade com relação aos instrumentos
que cria, a antropologia contemporânea questiona a suposta autonomia da tecnologia
frente às relações sociais de produção, às decisões políticas e ao papel do
conhecimento. Os estudos mais recentes demonstram o intrincado vínculo entre
relações de produção e desenvolvimento da técnica e da tecnologia de qualquer época
(Guyer 1988; Pfaffenberger 1988, 1992; Hornborg 1992). Guyer, por exemplo,
escreve: "Tecnologias são necessariamente sociais e políticas na medida em que
implicam [...] formas de organização e dominação [...] e são necessariamente
imbuídas de significados culturais por meio de associações simbólicas" (Guyer
1988:254). Neste sentido, relativiza-se a grande divisão entre as sociedades prémodernas e as industrializadas.
Embora ninguém seja tolo para negar as significativas conseqüências do
advento das máquinas, os sistemas sociotécnicos pré-industriais eram
eles mesmos complexos e implicavam dominação e exploração
econômicas [...]. Um sistema sociotécnico pré-industrial unifica recursos
materiais, rituais e sociais em uma estratégia de conjunto para a
reprodução social. No curso da participação em um tal sistema, muitos
indivíduos, senão a maioria, vêem-se desempenhando papéis
dependentes e sendo explorados. A reificação não é de modo algum
restrita à tecnologia industrial (Pfaffenberger 1992:509).
A fonte da alienação não estaria na técnica, mas nas relações sociais de produção
(MacKenzie 1984). Tanto no caso industrial como no pré-industrial, a avaliação dos
impactos da mudança tecnológica exige um estudo do contexto, no qual as pessoas
sejam distinguidas na qualidade de produtores ou de usuários, mais do que vistas
exclusivamente como vítimas consumistas da tecnologia transferida.
Ingold (1986), referindo-se às sociedades de caçadores e coletores, mostra de que
maneira a forma de apropriação do espaço como natureza externa à sociedade
condiciona a forma de distribuição da produção. Em muitas dessas sociedades, os
indivíduos não detêm mais do que a custódia de uma posse coletiva. Essa relação de
apropriação coletiva do espaço pelos caçadores e coletores contrasta claramente com a
propriedade privada da sociedade capitalista. Suponhamos, em um exemplo hipotético,
a caça de um animal por parte de um indivíduo pertencente a uma sociedade de
caçadores e coletores. Uma vez capturada, com técnicas de arco e flecha, a presa deve
ser distribuída entre os membros do bando. A repartição do animal não será,
possivelmente, arbitrária, mas deve obedecer a determinadas pautas culturais, como o
assinalam as mais diversas etnografias. Agora, imaginemos a caça do mesmo animal,
realizada por um excêntrico rentista, que vive de aplicações na bolsa de Londres, mas
que, em seus momentos de ócio, tem como hobby a caça, em sua propriedade, com
arco e flecha semelhantes ao do caçador anterior. Ele também tem sucesso em sua
atividade, mas, no seu caso, o animal é por vezes armazenado no congelador, outras
vezes dado como comida aos cães, e outras ainda servido em banquetes para amigos e
convidados. Em termos técnicos, ambas as caças são similares: um caçador, um
mesmo instrumento (arco e flecha), um mesmo resultado (por exemplo, carne de
javali).
A distribuição do produto, todavia, será distinta. Em um caso, ele é repartido conforme
regras; em outro, o caçador faz o que bem deseja. A partir apenas das relações
visíveis e da técnica utilizada, nada se poderá saber sobre isso. Mas existem relações
invisíveis, relações sociais, que condicionam a produção — a caça — e explicam a
distribuição. No primeiro caso, a natureza aparece como uma extensão do corpo do
bando. No interior dos limites em que este se move, a natureza pertence a ele. Tratase — em termos modernos — de uma posse virtual, mas que garante que o javali,
mesmo em liberdade, pertença ao grupo. Quando um de seus integrantes caça o
animal, deve, forçosamente, distribuir o produto entre os detentores dessa posse. Em
contraste, o moderno yuppie caça em sua propriedade privada, o javali lhe pertence e
ele faz com ele o que quiser.
Esse exemplo revela que qualquer processo de trabalho (a caça e a coleta também são
formas de trabalho) é condicionado por uma pré-distribuição dos meios e objetos de
trabalho. Em nossos exemplos: a apropriação coletiva da natureza por um lado, a
propriedade privada do solo por outro. Dessa maneira, em qualquer momento, uma
sociedade não apenas produz segundo o nível de desenvolvimento tecnológico que
herdou das gerações passadas (e que eventualmente pôde incrementar), mas também
o faz segundo a forma de distribuição dos meios e objetos de trabalho. As relações de
produção condicionam e determinam as relações técnicas, fazendo com que, às vezes,
uma mesma relação técnica seja regida por diferentes relações sociais. E estas
relações sociais se incorporam à própria técnica, expressando-se em determinadas
relações de poder (Winner 1985).
3) Os problemas ambientais são objetivos e devem ser assumidos cientificamente.
Antes de meados da década de 80, os problemas ambientais eram nacionais, regionais
ou locais; eram discretos e se relacionavam à contaminação dos rios, ao
desmatamento, à poluição ambiental urbana, à depredação de espécies animais e
vegetais, aos efeitos de produtos químicos sobre a saúde, etc. A partir de meados dos
anos 80, a mudança climática tornou-se o denominador comum de toda a problemática
ambiental, e o aquecimento global, o réu principal (Sarewitz e Pielke 2001). Tudo está
ligado ao clima, e a redução do aquecimento global passou a ser o objetivo da política
ambiental internacional. De modo acrítico, muitas organizações e grupos ecologistas e
ambientalistas aceitaram considerar o aquecimento global como o responsável pela
crise ambiental (Lenoir 1995). A mudança climática representa a relação de cada
aspecto com o todo. Incide sobre a biodiversidade, tem impacto sobre a situação das
florestas e sofre os efeitos dela, atinge a atividade produtiva humana, está conectada a
muitas doenças infecciosas, etc. A mudança climática unifica os diversos problemas
ambientais. Reflete, assim, perfeitamente aquela idéia da inter-relação entre os
fenômenos e os ciclos de vida, tão importante na ecologia. Ademais, ninguém fica
alheio às mudanças climáticas. Elas aparecem como uma preocupação de todos,
unificam ideologicamente a espécie humana. Seguindo os preceitos da ecologia, a
mudança climática representa um desafio para a sociedade humana como espécie. Por
fim, a mudança climática é estudada cientificamente. Apenas um grupo seleto de
cientistas, com um sofisticado equipamento técnico, pode realizar medições e
monitoramentos atmosféricos, alertando-nos para o fato de que, e o grau em que, o
mundo está se aquecendo, e indicando a influência desse aquecimento sobre cada
região do planeta. A mudança climática delegou à ciência o papel de avaliar seus
impactos (Tommasino e Foladori 2001).
Isso criou uma grande elitização e tecnicização do problema ambiental. Ninguém pode
sentir o aquecimento global: quem determina o grau, a amplitude e os efeitos da
problemática ambiental são agora os cientistas3.
A antropologia comparativa alerta para o fato de que sempre existiram formas
institucionalizadas de apropriação elitista do conhecimento sobre a natureza externa. O
"conhecimento indígena", que em princípio parece o mais democrático, é ele mesmo
socialmente diferenciado, pelo menos segundo o sexo e a idade (Ellen e Harris 2000).
Os magos ou xamãs nas sociedades de caçadores, os druidas na sociedade agropastoril
descentralizada dos celtas (Crumley 1994), os governantes e sacerdotes nas
sociedades agrárias baseadas na captação de tributo, ou a Igreja Católica na sociedade
feudal, reservaram a si próprios o saber ambiental de sua época e, em geral, lograram
objetivá-lo, separando-o do saber cotidiano. Mais ainda, a forma de conceber a
natureza, e os problemas que a natureza impõe, não podem ser isolados dos agentes
que criam essa consciência — definitivamente, não se trata simplesmente da
"sociedade", mas de estratos e grupos determinados. O conceito de natureza, que
exclui as relações entre os seres humanos, faz com que os problemas ambientais
apareçam como comuns à espécie humana, sem considerar que as próprias relações e
contradições no interior da sociedade humana são, elas também, naturais. A definição
do que é natureza — delimitação básica para a ação técnica sobre o ambiente —
depende dos conflitos sociais e do poder ideológico. Diz Ellen a esse respeito:
Precisamos examinar em que medida as definições oficiais de natureza
simplesmente legitimam aquelas dos agentes política e moralmente
poderosos, e o grau em que combinam definições de diferentes grupos de
interesse. Precisamos perguntar-nos de que maneira definições
particulares de natureza servem a interesses de grupos particulares,
sejam estes o lobby conservacionista, a Igreja Católica Romana, ou povos
indígenas que vêem vantagens em reinventar uma tradição particular de
natureza — o modelo do Éden ecológico (Ellen 1996:28).
A antropologia pode concorrer para uma revalorização do conhecimento tradicional,
contra uma visão cientificista definitivamente aliada aos grupos mais poderosos da
sociedade contemporânea. Como sugere Ingold (2000b), a antropologia deveria
contribuir para abalar, por meio de sua crítica epistemológica, os argumentos
tecnicistas.
Houve um tempo em que os cientistas eram menos arrogantes, e é
natural pensar que eles devam aprender com os atores locais, mas essa
humildade desapareceu faz muito tempo, na medida em que a ciência
aceitou tornar-se, em uma proporção cada vez maior, a serviçal do poder
corporativo e estatal. O objetivo último da pesquisa ambiental em
antropologia social deve ser, com certeza, o de desestabilizar essa
hierarquia de poder e controle. Os recursos que o antropólogo deve trazer
para esse projeto não são tanto técnicos e metodológicos quanto políticos
e epistemológicos (Ingold 2000b:222).
Essa crítica, contudo, não pode degenerar em um ataque infantil à "razão" e à
"ciência", mas deve reconhecer formas distintas de se fazer ciência, e suas múltiplas
relações com os interesses econômicos e políticos dos grupos envolvidos na
problemática ambiental (Ellen e Harris 2000). Pálsson analisa os efeitos do sistema de
cotas de pesca na Islândia. Diz que o sistema de cotas individuais e transferíveis (isto
é, comercial) baseia-se em uma racionalidade modernista, que exclui as variáveis
sociais da gestão ambiental, homogeneíza conceitualmente o mar e as espécies
marinhas, ao mesmo tempo em que marginaliza as pequenas empresas familiares de
pesca. E conclui:
A resposta adequada à agenda modernista não é o apego romântico ao
passado, o fetichismo do "conhecimento tradicional", mas antes um
modelo de gestão que seja democrático o suficiente para permitir um
diálogo significativo entre especialistas e praticantes, e flexível o bastante
para permitir uma adaptação realista às complexidades e contingências
do mundo — em suma, uma ética comunitária de "muddling through"*.
Aqueles que estão direta e cotidianamente envolvidos no uso de recursos
podem, afinal, dispor de informações altamente valiosas sobre o que se
passa no mar em momentos determinados. É importante prestar atenção
ao conhecimento prático dos capitães dos barcos, levando em
consideração a contingência e as extremas flutuações no ecossistema
(Pálsson 2004).
Vemos então a importância do conhecimento prático e do conhecimento local, não
apenas com respeito a uma melhor abordagem do diagnóstico ambiental, mas também
no exercício da democracia na produção de conhecimento. Todavia, adverte este autor,
quando falamos de conhecimento prático ou conhecimento local, não devemos supor
tratar-se de uma forma de apreender o mundo, similar à que se pratica na academia,
mas sim de um tipo de conhecimento ancorado em situações concretas, flexíveis e
mutáveis.
O conhecimento indígena é por vezes apresentado como uma mercadoria
vendável — um "capital cultural", similar a uma coisa. Grande parte do
conhecimento do praticante é tácito, consistindo em disposições inscritas
no corpo como resultado do processo de engajamento direto com tarefas
cotidianas. Uma discussão exaustiva do que constitui o conhecimento
tácito e de como este é adquirido e utilizado parece essencial, tanto para
a renegociação da hegemonia da expertise científica quanto para a
reconsideração das relações entre os humanos e seu ambiente. Nesse
processo, os antropólogos têm um papel crucial a desempenhar, dado o
método etnográfico e sua imersão rotineira na realidade dos praticantes
(Pálsson 2004).
A antropologia atua aqui revalorizando o conhecimento tradicional — não apenas,
entretanto, com base naquilo que os grupos humanos "pensam" acerca do entorno
natural e social, mas sim, principalmente, com base no que fazem nele. As múltiplas
expertises (Scoones 1999) do ambiental constituem práticas sociais, e não um
conhecimento em abstrato (embora algumas formas de expertise tendam em maior ou
menor medida a distanciar-se do concreto).
Contribuição metodológica para a sustentabilidade
Outra área na qual antropologia pode contribuir diz respeito à forma de considerar a
cultura, aos diferentes papéis que os setores e classes sociais têm na produção dessa
cultura e, portanto, das práticas e concepções referentes ao meio natural.
Tanto a poluição quanto a depredação de recursos — as duas grandes áreas em que é
possível agrupar todos os problemas ambientais — podem ser relativizados pela
cultura. "O que é sujo ou limpo?"; "quando uma espécie ou recurso está em extinção?"
— são perguntas cuja resposta depende de critérios relativos à cultura. Constitui um
paradoxo o fato de que a antropologia tenha "criado" o problema do relativismo
cultural e, nos últimos anos, esteja tentando aboli-lo.
O relativismo cultural, como corrente teórica e método de abordagem do estudo das
sociedades de pequena escala, tornou-se dominante a partir do desenvolvimento da
escola boasiana na segunda década do século XX. Boas sublinhava a necessidade de
estudar cada cultura em si mesma, em seu "particularismo histórico", mas sem ir à
busca de leis gerais do desenvolvimento humano (Boas 1948). O relativismo cultural,
que surgiu em contraposição ao evolucionismo positivista do século XIX, converteu-se
em um lastro moral para a antropologia. Levado até suas últimas conseqüências pelo
pós-modernismo, pode ser enunciado assim: nenhuma sociedade é superior a outra e,
portanto, as sociedades não podem ser comparadas. O resultado foi a proliferação de
estudos de caso, e a dificuldade de elaborar sínteses que consolidassem teoricamente
todo esse material. Todavia, é interessante destacar terem sido os autores mais
próximos aos problemas ecológicos e ao estudo da relação natureza-sociedade aqueles
que apresentaram as teorias mais generalizantes, que permitiam comparar sociedades
com diferentes níveis de desenvolvimento, como é o caso de Julian Steward, Leslie
White, Marvin Harris (Worster 1993) e, inclusive, Marshall Sahlins (1964) — ainda que
esse tipo de comparação nunca tenha estado isento de dificuldades metodológicas (De
Munck 2002).
O argumento do relativismo cultural serviu para deixar os antropólogos com a
consciência tranqüila, já que não existiriam critérios para medir comparativamente a
sustentabilidade. Limpo ou sujo, ordem ou desordem, são padrões de "certo" ou
"errado" que dependem de um sistema de valores (Douglas 1966). Cada cultura decide
sua própria felicidade e não se podem impor os cânones das sociedades desenvolvidas
às sociedades tradicionais. Segundo esse critério, tudo é válido, desde as mutilações
até a miséria, em nome do relativismo cultural4. A antropologia, com este conceito,
complicou involuntariamente a vida de políticos e planejadores.
Todavia, a própria antropologia tem, recentemente, entabulado esforços para escapar
do dilema entre a equivalência das culturas e a necessidade de tomar uma posição
política — posição que sempre reflete os interesses de uma cultura ou grupo social.
Esta disjuntiva poderia ser considerada um obstáculo ou uma virtude (Ellen 1996;
Descola e Pálsson 1996; Milton 1996; Brosius 1999). Obstáculo, porque pode ser
paralisante e signo de conservadorismo, quando chega o momento de propor metas
para um melhor desenvolvimento humano. Também aparece como um obstáculo ao
dificultar o diálogo com outros agentes e ciências envolvidas na prática do
desenvolvimento sustentável. Como diz Ellen, em sua introdução a uma das principais
coletâneas da antropologia ecológica contemporânea:
Manejar um discurso relativista da natureza e da cultura é muito mais
fácil para aqueles que estão em posição de tratar seus dados como texto,
que negam ou não têm nenhum interesse em comparações explícitas e
generalizações pan-humanas. Torna-se bem mais difícil fazê-lo se
queremos traduzir o aporte de tais idéias em termos que sejam
compreensíveis e produtivos no trabalho dos cientistas "naturais" e
daqueles que, em várias profissões aplicadas, fazem uso das idéias e
modelos de mundo desses últimos; ou, então, se buscamos explicar de
que modo uma experiência particular do mundo parece ser
suficientemente compartilhada pelos humanos para que eles possam
reconhecer as coisas de que falam (Ellen 1996:2).
Por outro lado, a sustentação de um princípio de "relativismo razoável" (Maybury-Lewis
2002) consistiria em uma virtude epistemológica, no sentido de se reconhecer que não
existe nenhuma sociedade humana que tenha vivido em harmonia perfeita com seu
entorno natural, "nenhuma civilização ecologicamente inocente" (González Alcantud e
González de Molina 1992:30).
Depois da hegemonia das correntes pós-modernas nos anos 80 e na primeira metade
dos anos 90 — que viam como impossível a comparação etnográfica —, a acumulação
de materiais de campo, a maior comunicação entre os investigadores e a discussão dos
princípios relativistas no interior das próprias sociedades tradicionais levaram ao
ressurgimento de projetos comparativos orientados para a identificação de tendências
na evolução social. Descola e Pálsson, por exemplo, afirmam:
Paradoxalmente, uma fé renovada no projeto comparativo pode ter
emergido da riqueza mesma da própria experiência etnográfica, isto é, do
reconhecimento partilhado de que certos padrões, estilos de prática e
conjuntos de valores, descritos por colegas antropólogos em diferentes
partes do mundo, são compatíveis com o conhecimento que cada um tem
de uma sociedade particular. [...] Em outras palavras, a etnografia
promove o foco no particular, e a multiplicação de particulares
etnográficos reaviva o interesse pela comparação (Descola e Pálsson
1996:17-18).
Um dos resultados do exercício comparativo, e do retorno a uma concepção histórica
transcultural, é a idéia de que a evolução dos humanos exibe uma tendência em
direção à complexidade. O uso da categoria de complexidade, contudo, enquanto
indicador de diferenças entre sociedades, tem, para alguns, conotações negativas,
associadas ao evolucionismo linear de princípios do século XX, ao qual tão firmemente
se opôs a escola relativista. Não obstante, hoje se entende por complexidade uma
característica emergente dos sistemas sociais, nos quais a acumulação de mudanças
graduais conduz a outra estrutura, original porém não arbitrária, e sim enraizada na
herança ecológica e social legada pelas gerações precedentes. Isto nos permite, em
princípio, escapar da armadilha lógica de uma antropologia que reconhece a unicidade
da espécie humana mas, ao mesmo tempo, defende o relativismo de suas culturas
(Gardner 1987). Se conferimos ao dado antropológico uma profundidade histórica,
podemos identificar uma tendência à complexidade por acúmulo de informação (Lewin
1992), respeitando as peculiaridades e recusando uma hierarquização moral das
culturas ou de seu comportamento diante do meio ambiente. Desta maneira,
escapamos do relativismo cultural extremo, que não leva a lugar nenhum, e podemos
dialogar com outras disciplinas e ciências.
Para superar o paradoxo do relativismo cultural, a antropologia precisou passar a
analisar a cultura como um processo, e não como uma entidade dada (Ingold 1986).
Precisou analisar a diferente participação dos setores, estratos ou classes sociais na
produção da cultura, em lugar de tomá-la como uma resultante indiferenciada da
sociedade. Apenas entendendo a cultura em sua trajetória histórica e em sua relação
diferencial com os grupos que a criam, pôde a antropologia criticar o relativismo
cultural absoluto. Ela foi capaz, assim, de justificar historicamente determinados
comportamentos e, ao mesmo tempo, identificar e responsabilizar aqueles que se
beneficiam dos ditos comportamentos; pôde passar a analisar a cultura como um
produto contraditório da experiência humana (Foladori 1992).
A reconsideração conceitual da cultura forçou, também, o questionamento da
dicotomia natureza/cultura. Ingold (2000b) demonstrou as incongruências dessa
dicotomia. Se revisamos os principais conceitos utilizados na tradição antropológica
para explicar a reprodução da cultura, vemos que todos conduzem a uma mesma
conclusão: a concepção da cultura como algo dado, resultado do consumo (Foladori
1992). As noções de enculturação, endoculturação ou socialização se referem aos
mecanismos pelos quais a cultura se transmite de uma geração a outra. A linguagem,
as práticas do comportamento cotidiano, a educação etc. são meios por intermédio dos
quais as novas gerações vão adquirindo a cultura do grupo no qual se inserem. Ao
consumir a cultura, essas novas gerações fazem-na sua, interiorizam-na e, por essa
via, se convertem em seus transmissores.
A palavra etnocentrismo se refere ao valor positivo e superior que os integrantes de
uma cultura atribuem a suas próprias pautas culturais, desmerecendo cultura alheias.
O etnocentrismo aparece, pois, como a soma dos preconceitos que uma sociedade tem
sobre si mesma. Mas se nos perguntamos de onde surgem esses juízos, a resposta é
circular: a comunidade de vida, de cultura, impõe preconceitos que seus membros
consomem e, então, transmitem e ostentam.
O relativismo cultural supõe a suspensão de juízos de valor sobre as diversas culturas.
Não há culturas superiores ou inferiores, apenas diferentes. Porém, avaliar as condutas
de acordo com as regras étnicas do contexto em que elas se produzem equivale a
julgar uma cultura após ter consumido seus preconceitos. De novo — agora sob o
conceito de relativismo cultural — revela-se a necessidade de consumir a cultura para
poder entendê-la.
A aculturação ou mudança cultural explica os processos de transmissão cultural, de
adaptação de uma cultura a outra. Inclui a deculturação ou perda de pautas culturais
por parte de uma sociedade, e a posterior adaptação a novas pautas, ou aculturação.
Na análise da mudança social, a ênfase é posta sobre o elemento externo. As
mudanças se originam do contato de uma cultura com outra. Nos casos mais
favoráveis, a cultura pode mudar internamente, em resultado de uma ação individual,
uma invenção ou uma descoberta. Os conceitos de aculturação ou de mudança cultural
são coerentes com o conjunto teórico anteriormente mencionado; se uma cultura se
reproduz a si mesma, a única possibilidade de mudança reside em agentes externos:
contato entre povos ou catástrofe natural. Trata-se, então, do consumo que uma
sociedade realiza das pautas culturais de outras sociedades, por mecanismos que
podem ser de imposição violenta ou de aceitação voluntária.
A implicação dos conceitos anteriores é simples: cada indivíduo reproduz a cultura por
meio do consumo de suas pautas culturais. Não há um só conceito, na antropologia
acadêmica dominante, que privilegie ou destaque quem produz a cultura, como e em
que grau. Está claro, além disso, que o que se consome é algo terminado, um produto.
Não obstante, é evidente que algo que existe deve ter sido produzido. Mais do que
isso, a produção implica um processo, o produto é apenas seu resultado.
As modernas correntes da antropologia que redirecionaram seu objeto de estudo para
o simbólico são outro exemplo dessa visão consumista da cultura. Vejam-se, nas três
últimas décadas, a etnometodologia de Garfinkel (1967) e seu derivado, a etnoecologia
(Durand 2002), bem como o interpretacionismo simbólico (Geertz 1973) e o
culturalismo de um Sahlins (1976) pós-materialista. Essas correntes de pensamento
reivindicavam o simbólico como exclusividade da antropologia, relegando a segundo
plano a análise da ordem material. Tratava-se de uma autolimitação desprovida de
qualquer justificativa, já que o simbólico sempre foi objeto de estudo antropológico,
desde os primeiros trabalhos holistas de pensadores evolucionistas como Tylor e
Morgan. É claro que essa orientação da antropologia para o simbólico encontra sua
explicação tanto no contexto externo à disciplina como em suas debilidades internas. A
penetração do sistema capitalista até o último rincão do planeta torna inviável estudar
os povos primitivos sem considerar sua integração ao mercado, esfera de
conhecimento para a qual os antropólogos não estão preparados. O desaparecimento
crescente de sociedades primitivas ou indígenas priva os antropólogos de seu objeto de
estudo. A reação foi lamentável: o refúgio dos estudos antropológicos em uma esfera
de manifestação humana — o simbólico — na qual, em princípio, as demais ciências
sociais não poderiam competir5. A fragmentação das ciências e sua luta pela
sobrevivência no mercado acadêmico legou à antropologia uma definição restrita da
cultura, e uma quantidade de termos de difícil precisão. Segundo Milton,
[o objeto de estudo da antropologia] veio a restringir-se a uma categoria
de fenômenos que se supunha existir na mente das pessoas [...] Há uma
confusa gama de termos usados para glosar esta categoria de
fenômenos, incluindo "idéias", "conhecimento", e "modelos folk" (Milton
1996:18).
A crescente participação de antropólogos em equipes inter- ou multidisciplinares
também contribuiu para essa marginalização temática da disciplina. Relega-se a eles a
tarefa de cobrir a "dimensão humana", mas o viés unilateral das ciências naturais
representadas nessas equipes pressiona no sentido de reduzir o campo da
antropologia. No dizer de Ingold:
Enquanto os cientistas fazem o trabalho de revelar a realidade objetiva
"lá fora", do antropólogo espera-se que se contente em descobrir os
princípios de sua construção cultural "dentro da cabeça das pessoas",
supostamente a partir de atitudes e crenças convencionais de
racionalidade questionável, mais do que por meio da observação empírica
e análise racional (Ingold 2000a:222).
Felizmente para a tradição antropológica, essa virada para o simbólico tem recebido
críticas irrefutáveis por parte do realismo crítico (Dickens 1996), com o que a visão
holista da antropologia voltou a ser reconhecida como sua ferramenta talvez mais
importante (p.ex., Croll e Parkin 1992). Desse modo, apesar da leitura "consumista"
da cultura e de sua variante "simbólica", a antropologia ecológica tem, recentemente,
exercido pressões no sentido de considerar o comportamento e o pensamento
humanos como processos em construção, derivados da heterogeneidade interna das
sociedades (Pálsson 1991; Foladori 1992). Os estudos dedicados à análise dos
discursos ambientalistas contemporâneos, por exemplo, mostram sua ancoragem nas
contradições e desigualdades das relações sociais materiais (Brosius 1999). Esses
discursos ambientalistas são considerados como uma cosmovisão ocidental
hegemônica, construída a partir das práticas reais das pessoas em seu ambiente
(Milton 1996:214-218).
Um claro exemplo da produção de cultura, girando em torno de temas ambientais e
segundo distintos grupos de interesse, é o caso das mudanças no conceito de
"toxicidade" nos Estados Unidos durante as últimas décadas. Tesh (2000), em seu
estudo das alterações na definição e nos valores-limite dos indicadores de toxicidade,
mostra como a falta de sustentação científica não constituiu obstáculo para que o
movimento ambientalista norte-americano obtivesse, em um período de vinte anos, do
início dos anos 70 até os 90, uma série de conquistas tanto na legislação como no
desempenho científico. Algumas das conquistas na determinação do critério de
toxicidade dos produtos lançados no mercado são:
a) A inclusão de indicadores de outras doenças além do câncer, como
distúrbios endócrinos, nervosos e até psíquicos. Antes, se o produto não
mostrava sinais de que poderia produzir câncer, não era considerado
tóxico.
b) A inclusão, além das investigações concernentes a um ser humano
médio, daquelas voltadas para setores pobres da população e para
minorias étnicas. Antes, considerava-se apenas a possibilidade de um
produto ser tóxico para um indivíduo "médio", ao passo que, por estarem
em uma etapa diferente do ciclo de vida, ou por terem uma dieta
alimentar diferente, muitos grupos não representados pelo indivíduo
médio poderiam sofrer, de forma individualizada, os efeitos de certos
produtos químicos.
c) A consideração dos efeitos não apenas de cada produto químico
tomado isoladamente, mas também daqueles de suas combinações, já
que elementos que isoladamente são inofensivos podem se tornar
agressivos quando combinados com outros.
d) Uma mudança no conceito de doença, que passou a levar em conta os
biomarkers — indicadores de possíveis tendências negativas,
reconhecidos mesmo que não se possa identificar imediatamente a
doença —, já que o organismo pode só apresentar os efeitos de uma
contaminação após o acúmulo, por um período prolongado, do agente
tóxico em questão.
e) Uma redução da porcentagem considerada requisito epidemiológico
para que se estabeleçam correlações com elementos contaminadores. Se,
para ser considerado tóxico, um produto tinha de apresentar os efeitos
em 90%, ou mais, dos casos analisados, esse percentual foi reduzido
para 70% ou mesmo 50%, segundo o produto.
Conhecendo a diferente participação dos grupos sociais no processo de produção da
cultura, a antropologia se encontra em condições de oferecer aos estudos ambientais
uma explicação das formas de atuar e representar que facilitam ou bloqueiam
determinados fenômenos de contaminação e/ou depredação da natureza (Durand
2002), por parte dos setores responsáveis, dos beneficiados e dos prejudicados.
Reflexões finais
O reconhecimento, por parte da moderna antropologia ecológica, da cultura como um
processo em formação, como um resultado de interesses contraditórios e de
participação desigual, conduz a importantes conclusões para a discussão da
problemática ambiental, e, também, para a orientação das políticas públicas. Algumas
delas seriam:
A necessidade de considerar as diferenças entre os grupos sociais e no interior destes.
Não basta distinguir grupos qualitativamente diferentes por sua aparência externa,
como a divisão entre homens e mulheres, entre crianças, adultos e velhos, ou entre
grupos étnicos. É necessário estudar o interior de cada grupo, já que, de outro modo,
as médias estatísticas ou os tipos qualitativos ocultarão as diferenças de classe. Um
estudo recente (Taks 2001) revela, por exemplo, nas práticas e atitudes diante da
terra e dos animais domésticos, a variação entre trabalhadores rurais assalariados e
produtores familiares no Uruguai: estes últimos manifestam maior preocupação com a
reprodução da fertilidade dos solos. Essa diferença permanece oculta quando se
analisa o produtor de forma genérica, sem considerar os tipos de relações sociais de
produção. Os enfoques das ciências naturais sobre a degradação ambiental perdem de
vista as contradições no interior das sociedades, e tomam o grupo humano como uma
unidade. O resultado são propostas de sustentabilidade ecológica que,
paradoxalmente, podem acarretar insustentabilidade social: práticas agronômicas
ecologicamente sustentáveis podem marginalizar pequenos produtores; limites à
exploração de recursos naturais podem empobrecer camponeses, coletores, caçadores
e pescadores; o ordenamento territorial urbano pode remover assentamentos precários
sem oferecer alternativas.
A necessidade de que existam processos de monitoração, em tempo real, da aplicação
das políticas. Se a cultura é um processo, se a cultura se produz, é vital a participação
ativa dos grupos envolvidos para garantir a correspondência entre planos e atividades,
no que diz respeito à satisfação das necessidades. Não é possível partir da cultura
como algo dado para, depois, adaptar as políticas. As políticas devem ser corrigidas
permanentemente na própria prática. Isso não é realizável sem a participação ativa
dos envolvidos, monitorando o processo. Scoones (2002:497) menciona a "gestão
adaptativa" de Holling (ver Winterhalder 1994:36), o aprendizado iterativo e a
deliberação inclusiva, como aspectos metodológicos cruciais dessa monitoração. A
gestão adaptativa se baseia no fato de que não há relação mecânica de causa-efeito na
transformação do ambiente — as incertezas estão sempre presentes, razão pela qual é
necessária uma aproximação gradual da resolução de problemas, que inclua a
avaliação contínua como parte integral do mesmo processo. Esse tipo de gestão
deveria permitir canalizar as distintas percepções e discursos dos diferentes grupos
envolvidos. Dessa maneira, será possível prevenir-se contra mudanças inesperadas e
fortalecer a capacidade de resposta diante delas, em lugar de apenas remediar
problemas ambientais. Torna-se imperativo, então, modificar o enquadramento formal
dos projetos de desenvolvimento, estabelecendo cronogramas flexíveis e objetivos
ajustáveis e em sintonia com as necessidades e possibilidades em nível local e regional
(Drijver 1992).
É necessário reconhecer que, segundo sua posição na distribuição da riqueza social, na
ocupação do espaço construído e nas decisões políticas, os grupos e classes sociais
respondem de maneiras diferentes tanto aos impactos internos quanto àqueles
provenientes da natureza externa — por exemplo, eventos extremos que podem
culminar em desastres. Além disso, antropólogos e outros cientistas sociais,
preocupados com as relações entre a experiência prática e as representações do
mundo, devem estar prontos para observar percepções do ambiente distintas,
mutáveis e não raro ambivalentes (O'Riordan 1976; Carrier 2001). Essas
ambivalências estão enraizadas nas distintas práticas concernentes ao mundo material
e nas posições particulares das pessoas e grupos em determinada estrutura social,
assim como na dinâmica da luta ideológica, por meio da imposição de certos discursos
sobre o ambiente, sua conservação e transformação. A "ciência normal", no sentido de
Kuhn (1962), é limitada para fazer frente a impactos ambientais que afetam
diferenciadamente os grupos e classes sociais e são por eles percebidos também de
maneiras distintas. É preciso, por um lado, promover uma integração mais estreita
entre ciência normal e conhecimento prático. Por outro, é necessário que as agendas
de investigação científica se estabeleçam "de baixo para cima". Exemplos de políticas
científicas orientadas nessa direção, como no caso da community-based research
[pesquisa de base comunitária], são uma alternativa para se resgatar o interesse dos
afetados e permitir que se utilizem vantajosamente os avanços da "ciência normal",
em conjunção com os conhecimentos práticos e tradicionais (Invernizzi 2004).
Notas
1 Não podemos discutir aqui as denominações das diferentes escolas que abordam a
relação sociedade-natureza (ver Blanc-Pamard 1996; Milton 1997; Brosius 1999; Little
1999). Chamamos de antropologia ecológica o conjunto de estudos, institucionalmente
marcados no interior da antropologia, que buscam conhecer a diversidade e as
similaridades das experiências humanas em relação a seus ambientes. Os trabalhos
antropológicos nesse campo partem da descrição das relações materiais das
sociedades em seus ambientes, sem negligenciar o papel fundante que têm as práticas
simbólicas.
2 Vejam-se as críticas de Goldblatt (1998) a Giddens sobre este tema.
3 A tomada em consideração da percepção "vulgar" da mudança climática, como
demonstra o exemplo dos povos do Ártico (Nuttal 2001), é muito recente.
4 Maybury-Lewis (2002) diz que os antropólogos são acusados injustamente de um tal
relativismo extremo. Ainda que a idéia de que todo antropólogo seja um defensor do
vale-tudo constitua uma caricatura, deve-se reconhecer que o relativismo tem sido um
dos argumentos levantados para evitar comprometimentos (ver Durand 2002:169-70).
Esta problemática tem sido discutida extensamente por Brosius (1999) em relação aos
estudos ambientais empreendidos de uma perspectiva antropológica.
5 O que sempre foi equivocado, uma vez que, a partir da linguagem, a semiótica
compete com igual autoridade nesse mesmo campo.
Referências bibliográficas
AMBLER, J. 1999. "Attacking poverty while improving the environment: towards winwin policy options". Poverty and environment initiative New York, Brussels.
http://stone.undp.org/dius/seed/ peifomm/ACF889.pdf. (28 de fevereiro de 2004).
ANDERSON, A. 2002. "Faunal collapse, landscape change and settlement history in
Remote Oceania". World Archaeology, 33(3):375-390.
BARRET, R., KUZAWA, C., MCDADE, T., e ARMELAGOS, G. J. 1998. "Emerging and reemerging infectious diseases: the Third Epidemiological Transition". Annual Review of
Anthropology, 27:247-71.
BERKES, F. e C. FOLKE (eds.). 1998. Linking social and ecological systems.
management practices and social mechanisms for building resilience. Cambridge:
Cambridge University Press.
BLANC-PAMARD, C. 1996. "Medio natural". In: P. Bonte e M. Izard (eds.), Diccionario
Akal de Etnología y Antropología. Madrid: Akal.
BOAS, F. 1948. Race, language and culture. New York: Macmillan.
BROSIUS, J. P. 1999. "Analyses and interventions. Anthropological engagements with
environmentalism". Current Anthropology, 40(3):277-309.
CARRIER, J. 2001. "Limits of environmental understanding: action and constraint",
Journal of Political Ecology, 8:25-43.
CROLL, E. e PARKIN, D. (eds.). 1992. Bush base: forest farm. Culture, environment
and development. London/New York: Routledge.
CRUMLEY, C. 1994. "The ecology of conquest. Contrasting agropastoral and
agricultural societies' adaptation to climatic change". In: C. Crumley (ed.), Historical
ecology. Santa Fé: School of American Research Press.
DE MUNCK, V. 2002. "Contemporary issues and challenges for comparativists",
Anthropological Theory, 2(1): 5-19.
DESCOLA, P. e G. PÁLSSON. 1996. "Introduction". In: P. Descola e G. Pálsson (eds.),
Nature and society. London: Routledge.
DICKENS, P. 1996. Reconstructing nature. London: Routledge.
DOUGLAS, M. 1966. Purity and danger: an analysis of the concepts of pollution and
taboo. London: Pelican.
DRIJVER, C. 1992. "People's participation in environmental projects". In: E. Croll e D.
Parkin (eds.), Bush base: forest farm. Culture, environment and development. London:
Routledge.
DURAND, L. 2002. "La relación ambiente-cultura en antropología: recuento y
perspectivas". Nueva Antropología, XVIII(61):169-184.
ELLEN, R. 1986. "What Black Elk left unsaid". Anthropology Today, 2(6):8-13.
___ . 1996. "Introduction". In: R. Ellen e K. Fukui (eds.), Redefining nature. Oxford:
Berg.
___ . 1999. "Categories of Animality and Canine Abuse". Anthropos, 94:57-68.
___ ., e H. Harris. 2000. Introduction. In: R. Ellen, P. Parkes e A. Bicker (eds.),
Indigenous environmental knowledge and its transformations. Amsterdam: Harwood
Academic Publishers.
ESCOBAR, A. 1999. "After nature. Steps to an antiessentialist political ecology".
Current Anthropology, 40(1):1-30.
FOLADORI, G. 1992. "Consumo y producción de cultura: dos enfoques contrapuestos
en las ciencias sociales". Anales de Antropología, 29.
___ . 2000. "Una tipología del pensamiento ambientalista". Revista de Estudos
Ambientais, 2(1):42-60.
___ . 2001. Limites do desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora da
Unicamp/Imprensa Oficial.
GARDNER, H. 1987. La nueva ciencia de la mente. Barcelona: Paidós.
GARFINKEL, H. (1967. Studies in ethnomethodology, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
GEERTZ, C. 1973. The interpretation of culture. New York: Basic Books.
GLACKEN, C. 1996 [1967]. Huellas en la playa de Rodas. Barcelona: Ediciones del
Serbal.
GOLDBLATT, D. 1998. Teoria social e ambiente. Lisboa: Instituto Piaget.
GONZÁLEZ ALCANTUD, J.A. e GONZÁLEZ DE MOLINA, M. 1992. "Introducción". In: J.A.
González Alcantud e M. González de Molina (eds.), La tierra. Mitos, ritos y realidades,
Barcelona: Anthropos.
GUYER, J. 1988 [1968]. "The multiplication of labour". Current Anthropology,
29(2):247-272.
HARDIN, G. 1989. "La tragedia de los espacios colectivos". In: H. Daly (ed.),
Economía, ecología, ética. México, DF: Fondo de Cultura Económica.
HAYNES, G. 2002. "The catastrophic extinction of North American mammoths and
mastodonts". World Archaeology, 33(3): 391-416.
HEADLAND, T. 1997. "Revisionism in Ecological Anthropology". Current Anthropology
38(4):605-609.
HORNBORG, A. 1992. "Machine fetishism, value and the image of unlimited good:
towards a thermodynamics of imperialism". Man, 27(1):1-18.
INGERSON, A. 1994. "Tracking and testing the nature-culture dichotomy". In: C.
Crumley (ed.), Historical ecology. Santa Fé: School of American Research Press.
INGERSON, A. 1997. "Comments on T. Headland, 'Revisionism in ecological
anthropology'". Current Anthropology 38(4):615-6.
INGOLD, T. 1986. The appropriation of nature. Manchester: Manchester University
Press.
___ . 1991 [1986]. Evolución y vida social. México: Grijalbo.
___ . 2000a. The perception of the environment. London: Routledge.
___ . 2000b. "Concluding commentary". In: A. Hornborg e G. Pálsson (eds.),
Negotiating nature: culture, power, and environmental argument. Lund: Lund
University Press.
INHORN, M. 1990. "The anthropology of infectious diseases". Annual Review of
Anthropology, 19:89-117.
INVERNIZZI, N. 2004. "Participación ciudadana en ciencia y tecnología en América
Latina: una oportunidad para refundar el compromiso social de la universidad pública".
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 1(2):67-84.
KUHN, T. S. 1962.. The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of
Chicago Press.
KUPER, A. 1973. Anthropologists and anthropology: the British school (1922-1972),
New York: Pica Press.
LEACKY, R., e R. Lewin 1998. La sexta extinción: el futuro de la vida y de la
humanidad. Barcelona: Tusquets.
LECLERC, G. 1973. Antropología y colonialismo. Madrid: Ed. Comunicación.
LENOIR, I. 1995. A verdade sobre o efeito de estufa. Dossier de uma manipulação
planetária. Lisboa: Caminho da Ciência.
LEWIN, R. 1992. Complexity. New York: McMillan.
LITTLE, P. 1999. "Environments and environmentalisms in anthropological research:
facing a new millennium". Annual Review of Anthropology, 28: 253-284.
MACKENZIE, D. 1984. "Marx and the machine". Technology and Culture, 25: 473-502.
MARTIN, P.S. 1984. "Prehistoric overkill: the global model". In: Martin, P.S., e Klein,
R.G. (eds.), Quaternary extinctions. Tucson: Univ. Arizona Press. pp. 354-403.
MAYBURY-LEWIS, D. 2002. "A Antropologia numa era de confusão". Revista Brasileira
de Ciências Sociais, 17(50): 15-23.
[ SciELO ]
MILTON, K. 1996. Environmentalism and cultural theory. London: Routledge.
___ . 1997. "Ecologías: antropología, cultura y entorno". Revista Internacional de
Ciencias Sociales, 154. http://www.unesco.org/issj/rics154/miltonspa.html (28 de
fevereiro de 2004).
NUTTALL, M. 2001. "Pueblos indígenas y la investigación sobre el cambio climático en
el Ártico". Asuntos Indígenas (IWGIA) 4/01:26-33.
ORLOVE, B. 2002. Lines in the water: nature and culture at Lake Titicaca. Berkeley/Los
Angeles/London: University of California Press.
OSTROM, E. 1990. Governing the commons: the evolution of institutions for collective
action. Cambridge University Press: Cambridge.
O'RIORDAN, T. 1976. Environmentalism. London: Pion.
PÁLSSON, G. 1991. Coastal economies, cultural accounts. Manchester University Press:
Manchester.
___ . (no prelo). "Nature and society in the age of postmodernity". In: A. Biersack, A.,
e J. Greenberg (eds.), Imagining political ecology. Duke University Press.
PFAFFENBERGER, B. 1988. "Fetishized objects and humanized nature: towards an
anthropology of technology". Man, 23: 236-252.
___ . 1992. "Social anthropology of technology". Annual Review of Anthropology,
21:491-516.
RICHARDS, P. 1985. Indigenous agricultural revolution. London: Hutchinson.
SAHLINS, M. 1964. "Culture and environment". In: S. Tax (ed.), Horizons of
anthropology. Chicago: Aldine Publishing Company.
___ . 1976. Culture and practical reason. Chicago: Chicago University Press.
SAREWITZ, D. and R. A. Pielke, Jr. 2001. "Extreme events: a research and policy
framework for disasters in context". International Geology Review, 43:406-418.
SCOONES, I. 1999. "New ecology and the social sciences: What prospects for a fruitful
engagement?" Annual Review of Anthropology, 28: 479-507.
STEADMAN, D e MARTIN, P. 2003. "The late Quaternary extinction and future
resurrection of birds on Pacific islands". Earth-Science Reviews, 61:133-147.
TAKS, J. 2001. "Acerca de la alienación del trabajo en los tambos uruguayos". In:
Leopold, L., (ed.), Psicología y organización del trabajo II. Montevideo: Psicolibros.
TESH, S. N. 2000. Uncertain hazards. environmental activists and scientific proof.
Ithaca/ London: Cornell University Press.
TOLEDO, V. 1992. "Campesinos, modernización rural y ecología política: una mirada al
caso de México". In: J.A. González Alcantud e M. González de Molina (eds.), La tierra.
Mitos, ritos y realidades. Barcelona: Anthropos.
TOMMASINO, H. e G. FOLADORI. 2001. "(In) certezas sobre la crisis ambiental",
Ambiente e Sociedade, IV(8):49-68.
WINNER, L. 1985. "¿Tienen política los artefactos?". http://www.campusoei.org/salactsi/winner.htm (28 de fevereiro de 2004).
WINTERHALDER, B. 1994. "Concepts in historical ecology. The view from evolutionary
ecology". In: C. Crumley (ed.), Historical ecology. Santa Fé: School of American
Research Press.
WORSTER, D. 1993. The wealth of nature. New York: Oxford University Press.
Recebido em 26 de agosto de 2002
Aprovado em 2 de julho de 2004
Tradução de Marcela Coelho de Souza
* Em inglês no original: 'to muddle through' significa 'se virar', 'fazer como se pode'
[N. E.].
MANA 10(2):323-348, 2004
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO
SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
Guillermo Foladori e Javier Taks
A relação entre sociedade e meio ambiente vem se afirmando como uma
das principais preocupações, tanto no campo das políticas públicas quanto no da produção de conhecimento. A antropologia, tal como se expressa
nas revistas especializadas e também na constituição de grupos de pesquisa que pretendem influir diretamente sobre as políticas e organizações
da sociedade civil, não permaneceu alheia a esse movimento (Little 1999).
O que não é de surpreeender, já que, por seus antecedentes empíricos e
metodológicos, ela está entre as ciências sociais mais bem situadas para
entender a questão ambiental, abordando-a de um ponto de vista global e
interdisciplinar. A antropologia nasceu, afinal, perguntando-se sobre a
transformação antrópica que diferentes sociedades produziram em seu
ambiente, sobre a continuidade e diferença da espécie humana em relação aos demais seres vivos, e sobre o lugar da consciência na evolução social. Além disso, o advento da disciplina no contexto colonial, ligado às
políticas de controle e mudança social (Leclerc 1973; Kuper 1973), fazemna herdeira de uma vocação de “análise e intervenção” (Brosius 1999).
Este artigo destaca duas áreas em que a antropologia pode contribuir para a compreensão da problemática ambiental e de suas políticas.
A primeira é informativa, e nela seu papel é desmistificar os preconceitos
sobre a relação das sociedades com seus ambientes naturais — preconceitos tais como os mitos da existência de um vínculo harmonioso entre
sociedade e natureza nos tempos pré-industriais, o da tecnologia moderna como causa última da crise ecológica, ou o do papel sacrossanto da
ciência como guia em direção à sustentabilidade. A segunda área é metodológica, e concerne à questão de como abordar os problemas ambientais de modo a caminhar rumo a sociedades mais sustentáveis. Está claro
que, em qualquer dos casos, os méritos não são exclusivos da antropologia, e que esta procede em colaboração com muitas outras disciplinas.
324
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
Contra o fundamentalismo: entre românticos ecológicos
e cornucopianos
O caráter complexo, global e interdisciplinar da problemática ambiental
tem gerado uma gama de posições que nem sempre correspondem às expectativas políticas. Há grupos, tanto de esquerda quanto de direita, que
tomam as sociedades simples como ideal de equilíbrio ecológico; paralelamente, há grupos de direita e também de esquerda que rechaçam as
leis da ecologia como guia para o comportamento humano (Foladori
2000). Várias aparentes incoerências entre posição política e proposta
ambiental devem-se à complexidade do tema, e não vão desaparecer.
Outras derivam de argumentos de forte conteúdo mítico e fundamentalista que refletem, em parte, falta de informação sobre o assunto, e a antropologia tem um papel importante na desmitificação de muitos desses
argumentos. Utilizaremos as seguintes afirmações como exemplo:
1) As sociedades primitivas estabeleciam uma relação harmônica
com a natureza. É freqüente encontrar afirmações como essa, seja em
textos de divulgação, seja em propostas políticas. A imagem de sociedades pré-industriais ou pré-capitalistas vivendo em harmonia com a natureza tem o apelo de, presumidamente, oferecer exemplos reais de convivência equilibrada com esta. Trata-se, todavia, de uma afirmação duvidosa, não apenas por sua generalidade, ao considerar como iguais todas
as sociedades pré-industriais, como também por seu romantismo, que sugere possuírem as ditas sociedades um grau de consciência e atividade
planificadas difícil de imaginar mesmo no caso de grupos pequenos.
Reconhece-se, hoje, que as populações que, há cerca de 12 mil anos,
cruzaram a “ponte” de Beringia do nordeste asiático para o Alasca, participaram na extinção de mamutes, mastodontes e outros grandes mamíferos, à medida que avançavam rumo ao sul do continente. A conhecida
tese de Martin (1984), sobre o papel dos caçadores paleolíticos na extinção de animais em continentes de colonização tardia, forneceu uma prova dos efeitos diretos e indiretos que sociedades com tecnologias “simples” são capazes de provocar a longo prazo sobre o meio ambiente —
ainda que outras variáveis, como mudanças climáticas, possam também
intervir (Haynes 2002).
A responsabilidade de caçadores e coletores na extinção da megafauna nos continentes de colonização tardia se repete no caso das grandes aves, nas ilhas (Steadman e Martin 2003; Anderson 2002; Leacky e
Lewin 1998). A fragmentação do habitat, resultante da derrubada das
matas, a caça indiscriminada e a introdução de espécies predadoras exó-
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
ticas são causas que não diferem, qualitativamente, daquelas que, hoje,
são identificadas como responsáveis pela extinção de espécies. Leacky e
Lewin concluem:
Não são necessárias máquinas de desmatamento maciço para provocar grandes danos ambientais. As sociedades com tecnologia primitiva estabeleceram, no passado recente, uma marca insuperada nesse sentido, já que desencadearam o que, nas palavras de Storrs Olson, consistiu em “umas das
mais rápidas e graves catástrofes biológicas da história da Terra” (Leacky e
Lewin 1998:192).
A destruição da megafauna é apenas a manifestação mais visível das
transformações que, desde os hominídeos que antecederam o Homo sapiens, vêm sendo impostas aos ecossistemas.
Também em um nível orgânico “menor” registraram-se conseqüências significativas. Em suas atividades de coleta e de caça, os hominídeos
adquiriram parasitas próprios aos primatas e outros microrganismos, que
transformaram os ecossistemas. A domesticação de plantas e animais, há
aproximadamente 10 mil anos, implicou alterações radicais, com o sedentarismo, novas dietas, concentrações populacionais e de lixo, de animais domésticos e de plantas, que afetaram radicalmente a coevolução
dos microrganismos. É possível que muitas infecções contemporâneas
(tuberculose, antraz, brucelose etc.) tenham sua origem na domesticação
de animais, no contato direto com eles e no consumo de produtos deles
derivados, como leite, peles e couros (Barret et alii 1998). As epidemias
de varíola entre os anos 251 e 266 d.C., a peste bubônica nos séculos XIII
e XIV, e as catástrofes provocadas pelas epidemias na América espanhola do século XVI são exemplos eloqüentes de uma relação pouco harmônica com a natureza externa e interna ao ser humano, ainda que estes resultados tenham sido indiretos e não intencionais. Inhorn (1990) revisa a
literatura da antropologia médica dedicada às doenças infecciosas, revelando suas contribuições e ressaltando exemplos de comportamentos que
favorecem ou limitam as epidemias e destacando o papel das doenças no
processo de seleção natural.
Na discussão sobre as atitudes e relações das sociedades não-ocidentais com o meio ambiente, a antropologia tem se detido no estudo das
transformações materiais e se ocupado da análise da concepção que os
povos fazem da natureza exterior1. Nesse processo, foi necessário questionar a própria teoria da relação entre sociedade e natureza. Abandonando-se o ponto de vista etnocêntrico, que considerava a natureza co-
325
326
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
mo a ordem objetiva — a ser descrita segundo as ciências naturais, e à
qual cada povo atribuía significados culturais diversos segundo um modelo mental intra- ou supraorgânico —, passou-se a uma atitude, no mínimo, cuidadosa no tratamento do dualismo natureza/cultura, de origem
cartesiana (Ellen 1996), tendo-se chegado até mesmo a visar sua total dissolução (Ingold 2000a). O foco da atenção está centrado na análise das
inter-relações e mediações entre sociopráticas materiais e construção
ideológica. Embora as conclusões sejam ainda provisórias, há consenso
de que as ideologias organicistas, próprias dos grupos caçadores-coletores, não têm necessariamente como correlatos formas que permitam a reprodução a longo prazo de processos biofísicos (Escobar 1999; Headland
1997). E, como assinala Milton (1996), há sociedades não-industriais, estudadas por antropólogos, como os Nayaka da Índia, que não reconhecem a responsabilidade humana na proteção do ambiente, pois isso os
obrigaria a rever a idéias de que é a natureza quem cuida deles.
Em todo caso, se alguma conclusão geral pode ser tirada, é a de que
a natureza não pode ser considerada como algo externo, a que a sociedade humana se adapta, mas sim em um entorno de coevolução, no qual
cada atividade humana implica a emergência de dinâmicas próprias e
independentes na natureza externa, ao mesmo tempo que, em um efeitobumerangue, produz impactos na natureza social e na biologia das populações humanas. No interior desse complexo de forças, não é possível
esperar que as atividades das sociedades não-industriais sejam “adaptativas” (no sentido de tender ao equilíbrio), enquanto que a sociedade industrial moderna seria “não-adaptativa”.
A revitalização contemporânea do mito da “sabedoria ambiental primitiva” tem várias explicações (Milton 1996; 1997). Primeiro, uma falsa
identificação entre as práticas econômicas e rituais de grupos detentores
de tecnologias de baixo impacto ambiental, de um lado, e as técnicas aparentemente similares descritas pelos modernos teóricos da agroecologia,
de outro. Isto constitui uma bandeira política de grande apelo em sociedades com uma população rural significativa, tendendo a justificar as modernas propostas conservacionistas ou ecologistas de gestão ambiental,
que incorporam populações nativas. De fato, toda sociedade possui determinados conhecimentos e práticas que conduzem à reprodução da natureza externa, ou ao cuidado com ela, sem por isso excluir outros que
acarretam efeitos depredatórios ou degradantes sobre os ecossistemas.
Segundo, a crítica ao industrialismo como causa última da crise ambiental tem necessidade da alternativa que as “sociedades primitivas” aparentemente oferecem: satisfação de necessidades básicas acoplada a sis-
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
temas tecnológicos elementares e ao uso de fontes energéticas renováveis. Terceiro, os próprios “nativos” têm visto, na divulgação de sua imagem como “protetores da terra”, uma ferramenta política e econômica
para obter o apoio e financiamento de grupos ambientalistas de pressão
em nível internacional, contra a marginalização e opressão por parte dos
governos e burocracias nacionais.
Conhecer a realidade contraditória dos supostos “guardiães” da natureza (povos “primitivos”) causa confusão a muitos grupos ambientalistas bem intencionados, ou os leva à recusa irrefletida das evidências. Todavia, há que enfatizar a ambigüidade da prática social humana, como
sublinha Ellen para o caso dos Sioux: “a espiritualidade ambiental dos
Sioux anda de mãos dadas com uma dieta vorazmente carnívora, da mesma maneira que o vegetarianismo hindu é encontrado em uma sociedade de extrema pobreza e desequilíbrio ambiental” (Ellen 1986:10). E conclui: “nenhuma cultura humana detém o monopólio da sabedoria ambiental, e […] parece improvável que possamos um dia escapar de alguns
dos mais profundos dilemas da vida social humana (Ellen 1986:10).
Criticar o pensamento ambiental romântico não significa ser indiferente às práticas tradicionais que, freqüentemente, são consideradas ineficientes pela ciência hegemônica. Um exemplo eloqüente é o reconhecimento de que a propriedade coletiva dos recursos naturais não conduz
necessariamente, ao contrário do que sugere a hipótese de Hardin (1989)
sobre a “tragédia dos espaços coletivos”, a uma atitude negligente ou
depredatória sobre o meio ambiente. Segundo Hardin, os espaços coletivos são depredados porque, não sendo propriedade privada, não são do
interesse de ninguém. A conseqüência implícita é que o problema é solucionado estendendo-se às áreas comuns os direitos de propriedade privada. A confusão conceitual provém da visão ideológica de Hardin, para
quem o sistema capitalista é o único existente, e o único possível. No interior de um regime de propriedade privada, os espaços públicos, comuns
ou coletivos tendem a ser utilizados para fins privados, já que tal é a lógica das relações de produção dominantes. Mas, quando estamos diante
de recursos apropriados de forma coletiva, que não se regem totalmente
por relações de propriedade privada, ou estão menos integrados ao mercado, os recursos coletivos não necessariamente se degradam, como demonstram muitos estudos recentes (Ostrom 1990; Berkes e Folke 1998;
Orlove 2002). Este é outro exemplo da falsidade da contradição entre sociedade capitalista e não-capitalista. Para Hardin e outros, existem apenas dois pólos, o capitalismo e o resto. Mas essa dicotomia não se sustenta. Existem múltiplas formas pré- ou não-capitalistas de organização so-
327
328
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
cial, que estabelecem regulações diferentes e contraditórias com a natureza externa (Glacken 1996; Ellen 1999; Foladori 2001).
Alguns informes das Nações Unidas reconhecem, hoje, que sociedades agrícolas menos incorporadas ao mercado exibem maior equilíbrio
ambiental, e que sua integração ao mercado seria causa de um incremento da degradação do ambiente (Ambler 1999).
Segundo Ingerson (1994, 1997), até mesmo os estudantes de antropologia se surpreendem ao reconhecer o caráter contraditório das sociedades menos complexas em suas relações com o meio ambiente. Por um
lado, aqueles que tinham no “mito do bom selvagem” uma ferramenta
de esperança frente à degradação ecológica contemporânea sentem-se
frustrados. Por outro lado, aqueles que supunham que a degradação ambiental era uma prerrogativa da sociedade industrial ou capitalista vêemse sem alternativa, já que essa degradação se afiguraria como um comportamento cultural universal. Ingerson conclui que o maior desafio para
a antropologia ecológica de corte histórico e comparativo é ensinar que
“[…] uma relação benigna de longo prazo entre os seres humanos e a natureza […] pode ser algo sem precedentes sem que, por isso, seja necessariamente impossível” (Ingerson 1997:616).
A desmistificação da “sabedoria ecológica primitiva” não exclui que
a antropologia social tenha gerado contribuições sobre “o alcance e status dos conhecimentos e técnicas tradicionais de gestão de recursos”
(Descola e Pálsson 1996:12), resgatando assim o conhecimento prático
dos diversos povos e a necessidade de participação das populações locais
na produção de uma nova síntese, lado a lado com a ciência gerada nos
laboratórios e centros de investigação (Richards 1985; Toledo 1992). Esta
articulação de saberes não deve ser entendida em termos de anexação
de uma ciência nativa para complementar a ciência ocidental, mas como
estabelecimento de um ecletismo inovador (Ellen e Harris 2000).
A antropologia, de certa maneira, pretende oferecer um olhar sobre
a relação sociedade-natureza, que não caia nem no romantismo ambientalista daqueles que vêem, em algumas sociedades pré-capitalistas, um
modelo de sustentabilidade ambiental (e às vezes social), nem na apologia modernista do capitalismo, baseada na aplicação da ciência e da tecnologia hegemônicas.
2) A crise ambiental é um resultado do grau de desenvolvimento técnico. Alguns movimentos ambientalistas contemporâneos e muitos autores ecodesenvolvimentistas centram sua crítica da crise ambiental no desenvolvimento tecnológico e industrial2. Partem do suposto, muitas vezes
não explicitado, de uma evolução autônoma da técnica e da tecnologia,
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
uma evolução linear desde instrumentos simples até máquinas complexas, paralela à alienação dos homens com respeito aos instrumentos de
trabalho e ao meio ambiente — o que Pfaffenberger chama a “visão padrão da tecnologia” (1992).
Diante da idéia da crescente alienação da humanidade com relação
aos instrumentos que cria, a antropologia contemporânea questiona a suposta autonomia da tecnologia frente às relações sociais de produção, às
decisões políticas e ao papel do conhecimento. Os estudos mais recentes
demonstram o intrincado vínculo entre relações de produção e desenvolvimento da técnica e da tecnologia de qualquer época (Guyer 1988; Pfaffenberger 1988, 1992; Hornborg 1992). Guyer, por exemplo, escreve:
“Tecnologias são necessariamente sociais e políticas na medida em que
implicam […] formas de organização e dominação […] e são necessariamente imbuídas de significados culturais por meio de associações simbólicas” (Guyer 1988:254). Neste sentido, relativiza-se a grande divisão entre as sociedades pré-modernas e as industrializadas.
Embora ninguém seja tolo para negar as significativas conseqüências do advento das máquinas, os sistemas sociotécnicos pré-industriais eram eles mesmos complexos e implicavam dominação e exploração econômicas […]. Um
sistema sociotécnico pré-industrial unifica recursos materiais, rituais e sociais em uma estratégia de conjunto para a reprodução social. No curso da
participação em um tal sistema, muitos indivíduos, senão a maioria, vêem-se
desempenhando papéis dependentes e sendo explorados. A reificação não é
de modo algum restrita à tecnologia industrial (Pfaffenberger 1992:509).
A fonte da alienação não estaria na técnica, mas nas relações sociais
de produção (MacKenzie 1984). Tanto no caso industrial como no pré-industrial, a avaliação dos impactos da mudança tecnológica exige um estudo do contexto, no qual as pessoas sejam distinguidas na qualidade de
produtores ou de usuários, mais do que vistas exclusivamente como vítimas consumistas da tecnologia transferida.
Ingold (1986), referindo-se às sociedades de caçadores e coletores,
mostra de que maneira a forma de apropriação do espaço como natureza
externa à sociedade condiciona a forma de distribuição da produção. Em
muitas dessas sociedades, os indivíduos não detêm mais do que a custódia de uma posse coletiva. Essa relação de apropriação coletiva do espaço
pelos caçadores e coletores contrasta claramente com a propriedade privada da sociedade capitalista. Suponhamos, em um exemplo hipotético, a
caça de um animal por parte de um indivíduo pertencente a uma socieda-
329
330
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
de de caçadores e coletores. Uma vez capturada, com técnicas de arco e
flecha, a presa deve ser distribuída entre os membros do bando. A repartição do animal não será, possivelmente, arbitrária, mas deve obedecer a
determinadas pautas culturais, como o assinalam as mais diversas etnografias. Agora, imaginemos a caça do mesmo animal, realizada por um
excêntrico rentista, que vive de aplicações na bolsa de Londres, mas que,
em seus momentos de ócio, tem como hobby a caça, em sua propriedade,
com arco e flecha semelhantes ao do caçador anterior. Ele também tem
sucesso em sua atividade, mas, no seu caso, o animal é por vezes armazenado no congelador, outras vezes dado como comida aos cães, e outras
ainda servido em banquetes para amigos e convidados. Em termos técnicos, ambas as caças são similares: um caçador, um mesmo instrumento
(arco e flecha), um mesmo resultado (por exemplo, carne de javali).
A distribuição do produto, todavia, será distinta. Em um caso, ele é
repartido conforme regras; em outro, o caçador faz o que bem deseja. A
partir apenas das relações visíveis e da técnica utilizada, nada se poderá
saber sobre isso. Mas existem relações invisíveis, relações sociais, que condicionam a produção — a caça — e explicam a distribuição. No primeiro
caso, a natureza aparece como uma extensão do corpo do bando. No interior dos limites em que este se move, a natureza pertence a ele. Trata-se —
em termos modernos — de uma posse virtual, mas que garante que o javali, mesmo em liberdade, pertença ao grupo. Quando um de seus integrantes caça o animal, deve, forçosamente, distribuir o produto entre os detentores dessa posse. Em contraste, o moderno yuppie caça em sua propriedade privada, o javali lhe pertence e ele faz com ele o que quiser.
Esse exemplo revela que qualquer processo de trabalho (a caça e a
coleta também são formas de trabalho) é condicionado por uma pré-distribuição dos meios e objetos de trabalho. Em nossos exemplos: a apropriação coletiva da natureza por um lado, a propriedade privada do solo
por outro. Dessa maneira, em qualquer momento, uma sociedade não
apenas produz segundo o nível de desenvolvimento tecnológico que herdou das gerações passadas (e que eventualmente pôde incrementar), mas
também o faz segundo a forma de distribuição dos meios e objetos de trabalho. As relações de produção condicionam e determinam as relações
técnicas, fazendo com que, às vezes, uma mesma relação técnica seja regida por diferentes relações sociais. E estas relações sociais se incorporam à própria técnica, expressando-se em determinadas relações de poder (Winner 1985).
3) Os problemas ambientais são objetivos e devem ser assumidos
cientificamente. Antes de meados da década de 80, os problemas am-
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
bientais eram nacionais, regionais ou locais; eram discretos e se relacionavam à contaminação dos rios, ao desmatamento, à poluição ambiental
urbana, à depredação de espécies animais e vegetais, aos efeitos de produtos químicos sobre a saúde, etc. A partir de meados dos anos 80, a mudança climática tornou-se o denominador comum de toda a problemática
ambiental, e o aquecimento global, o réu principal (Sarewitz e Pielke
2001). Tudo está ligado ao clima, e a redução do aquecimento global passou a ser o objetivo da política ambiental internacional. De modo acrítico, muitas organizações e grupos ecologistas e ambientalistas aceitaram
considerar o aquecimento global como o responsável pela crise ambiental (Lenoir 1995). A mudança climática representa a relação de cada aspecto com o todo. Incide sobre a biodiversidade, tem impacto sobre a situação das florestas e sofre os efeitos dela, atinge a atividade produtiva
humana, está conectada a muitas doenças infecciosas, etc. A mudança
climática unifica os diversos problemas ambientais. Reflete, assim, perfeitamente aquela idéia da inter-relação entre os fenômenos e os ciclos
de vida, tão importante na ecologia. Ademais, ninguém fica alheio às mudanças climáticas. Elas aparecem como uma preocupação de todos, unificam ideologicamente a espécie humana. Seguindo os preceitos da ecologia, a mudança climática representa um desafio para a sociedade humana como espécie. Por fim, a mudança climática é estudada cientificamente. Apenas um grupo seleto de cientistas, com um sofisticado equipamento técnico, pode realizar medições e monitoramentos atmosféricos,
alertando-nos para o fato de que, e o grau em que, o mundo está se aquecendo, e indicando a influência desse aquecimento sobre cada região do
planeta. A mudança climática delegou à ciência o papel de avaliar seus
impactos (Tommasino e Foladori 2001).
Isso criou uma grande elitização e tecnicização do problema ambiental. Ninguém pode sentir o aquecimento global: quem determina o grau, a
amplitude e os efeitos da problemática ambiental são agora os cientistas3.
A antropologia comparativa alerta para o fato de que sempre existiram formas institucionalizadas de apropriação elitista do conhecimento
sobre a natureza externa. O “conhecimento indígena”, que em princípio
parece o mais democrático, é ele mesmo socialmente diferenciado, pelo
menos segundo o sexo e a idade (Ellen e Harris 2000). Os magos ou xamãs nas sociedades de caçadores, os druidas na sociedade agropastoril
descentralizada dos celtas (Crumley 1994), os governantes e sacerdotes
nas sociedades agrárias baseadas na captação de tributo, ou a Igreja Católica na sociedade feudal, reservaram a si próprios o saber ambiental de
sua época e, em geral, lograram objetivá-lo, separando-o do saber coti-
331
332
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
diano. Mais ainda, a forma de conceber a natureza, e os problemas que a
natureza impõe, não podem ser isolados dos agentes que criam essa consciência — definitivamente, não se trata simplesmente da “sociedade”,
mas de estratos e grupos determinados. O conceito de natureza, que exclui as relações entre os seres humanos, faz com que os problemas ambientais apareçam como comuns à espécie humana, sem considerar que
as próprias relações e contradições no interior da sociedade humana são,
elas também, naturais. A definição do que é natureza — delimitação básica para a ação técnica sobre o ambiente — depende dos conflitos sociais e do poder ideológico. Diz Ellen a esse respeito:
Precisamos examinar em que medida as definições oficiais de natureza simplesmente legitimam aquelas dos agentes política e moralmente poderosos,
e o grau em que combinam definições de diferentes grupos de interesse. Precisamos perguntar-nos de que maneira definições particulares de natureza
servem a interesses de grupos particulares, sejam estes o lobby conservacionista, a Igreja Católica Romana, ou povos indígenas que vêem vantagens
em reinventar uma tradição particular de natureza — o modelo do Éden ecológico (Ellen 1996:28).
A antropologia pode concorrer para uma revalorização do conhecimento tradicional, contra uma visão cientificista definitivamente aliada
aos grupos mais poderosos da sociedade contemporânea. Como sugere
Ingold (2000b), a antropologia deveria contribuir para abalar, por meio
de sua crítica epistemológica, os argumentos tecnicistas.
Houve um tempo em que os cientistas eram menos arrogantes, e é natural
pensar que eles devam aprender com os atores locais, mas essa humildade
desapareceu faz muito tempo, na medida em que a ciência aceitou tornarse, em uma proporção cada vez maior, a serviçal do poder corporativo e estatal. O objetivo último da pesquisa ambiental em antropologia social deve
ser, com certeza, o de desestabilizar essa hierarquia de poder e controle. Os
recursos que o antropólogo deve trazer para esse projeto não são tanto técnicos e metodológicos quanto políticos e epistemológicos (Ingold 2000b:222).
Essa crítica, contudo, não pode degenerar em um ataque infantil à
“razão” e à “ciência”, mas deve reconhecer formas distintas de se fazer
ciência, e suas múltiplas relações com os interesses econômicos e políticos dos grupos envolvidos na problemática ambiental (Ellen e Harris
2000). Pálsson analisa os efeitos do sistema de cotas de pesca na Islândia.
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
Diz que o sistema de cotas individuais e transferíveis (isto é, comercial)
baseia-se em uma racionalidade modernista, que exclui as variáveis sociais da gestão ambiental, homogeneíza conceitualmente o mar e as espécies marinhas, ao mesmo tempo em que marginaliza as pequenas empresas familiares de pesca. E conclui:
A resposta adequada à agenda modernista não é o apego romântico ao passado, o fetichismo do “conhecimento tradicional”, mas antes um modelo de
gestão que seja democrático o suficiente para permitir um diálogo significativo entre especialistas e praticantes, e flexível o bastante para permitir uma
adaptação realista às complexidades e contingências do mundo — em suma,
uma ética comunitária de “muddling through”*. Aqueles que estão direta e
cotidianamente envolvidos no uso de recursos podem, afinal, dispor de informações altamente valiosas sobre o que se passa no mar em momentos determinados. É importante prestar atenção ao conhecimento prático dos capitães dos barcos, levando em consideração a contingência e as extremas flutuações no ecossistema (Pálsson 2004).
Vemos então a importância do conhecimento prático e do conhecimento local, não apenas com respeito a uma melhor abordagem do diagnóstico ambiental, mas também no exercício da democracia na produção
de conhecimento. Todavia, adverte este autor, quando falamos de conhecimento prático ou conhecimento local, não devemos supor tratar-se de
uma forma de apreender o mundo, similar à que se pratica na academia,
mas sim de um tipo de conhecimento ancorado em situações concretas,
flexíveis e mutáveis.
O conhecimento indígena é por vezes apresentado como uma mercadoria
vendável — um “capital cultural”, similar a uma coisa. Grande parte do conhecimento do praticante é tácito, consistindo em disposições inscritas no
corpo como resultado do processo de engajamento direto com tarefas cotidianas. Uma discussão exaustiva do que constitui o conhecimento tácito e
de como este é adquirido e utilizado parece essencial, tanto para a renegociação da hegemonia da expertise científica quanto para a reconsideração
das relações entre os humanos e seu ambiente. Nesse processo, os antropólogos têm um papel crucial a desempenhar, dado o método etnográfico e sua
imersão rotineira na realidade dos praticantes (Pálsson 2004).
* Em inglês no original: ‘to muddle through’ significa ‘se virar’, ‘fazer como se pode’ [N. E.].
333
334
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
A antropologia atua aqui revalorizando o conhecimento tradicional
— não apenas, entretanto, com base naquilo que os grupos humanos
“pensam” acerca do entorno natural e social, mas sim, principalmente,
com base no que fazem nele. As múltiplas expertises (Scoones 1999) do
ambiental constituem práticas sociais, e não um conhecimento em abstrato (embora algumas formas de expertise tendam em maior ou menor
medida a distanciar-se do concreto).
Contribuição metodológica para a sustentabilidade
Outra área na qual antropologia pode contribuir diz respeito à forma de
considerar a cultura, aos diferentes papéis que os setores e classes sociais têm na produção dessa cultura e, portanto, das práticas e concepções referentes ao meio natural.
Tanto a poluição quanto a depredação de recursos — as duas grandes áreas em que é possível agrupar todos os problemas ambientais —
podem ser relativizados pela cultura. “O que é sujo ou limpo?”; “quando
uma espécie ou recurso está em extinção?” — são perguntas cuja resposta depende de critérios relativos à cultura. Constitui um paradoxo o fato
de que a antropologia tenha “criado” o problema do relativismo cultural
e, nos últimos anos, esteja tentando aboli-lo.
O relativismo cultural, como corrente teórica e método de abordagem do estudo das sociedades de pequena escala, tornou-se dominante
a partir do desenvolvimento da escola boasiana na segunda década do
século XX. Boas sublinhava a necessidade de estudar cada cultura em si
mesma, em seu “particularismo histórico”, mas sem ir à busca de leis gerais do desenvolvimento humano (Boas 1948). O relativismo cultural, que
surgiu em contraposição ao evolucionismo positivista do século XIX, converteu-se em um lastro moral para a antropologia. Levado até suas últimas conseqüências pelo pós-modernismo, pode ser enunciado assim: nenhuma sociedade é superior a outra e, portanto, as sociedades não podem ser comparadas. O resultado foi a proliferação de estudos de caso, e
a dificuldade de elaborar sínteses que consolidassem teoricamente todo
esse material. Todavia, é interessante destacar terem sido os autores mais
próximos aos problemas ecológicos e ao estudo da relação natureza-sociedade aqueles que apresentaram as teorias mais generalizantes, que
permitiam comparar sociedades com diferentes níveis de desenvolvimento, como é o caso de Julian Steward, Leslie White, Marvin Harris (Worster 1993) e, inclusive, Marshall Sahlins (1964) — ainda que esse tipo de
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
comparação nunca tenha estado isento de dificuldades metodológicas
(De Munck 2002).
O argumento do relativismo cultural serviu para deixar os antropólogos com a consciência tranqüila, já que não existiriam critérios para
medir comparativamente a sustentabilidade. Limpo ou sujo, ordem ou
desordem, são padrões de “certo” ou “errado” que dependem de um sistema de valores (Douglas 1966). Cada cultura decide sua própria felicidade e não se podem impor os cânones das sociedades desenvolvidas às
sociedades tradicionais. Segundo esse critério, tudo é válido, desde as
mutilações até a miséria, em nome do relativismo cultural4. A antropologia, com este conceito, complicou involuntariamente a vida de políticos e
planejadores.
Todavia, a própria antropologia tem, recentemente, entabulado esforços para escapar do dilema entre a equivalência das culturas e a necessidade de tomar uma posição política — posição que sempre reflete os
interesses de uma cultura ou grupo social. Esta disjuntiva poderia ser
considerada um obstáculo ou uma virtude (Ellen 1996; Descola e Pálsson
1996; Milton 1996; Brosius 1999). Obstáculo, porque pode ser paralisante
e signo de conservadorismo, quando chega o momento de propor metas
para um melhor desenvolvimento humano. Também aparece como um
obstáculo ao dificultar o diálogo com outros agentes e ciências envolvidas na prática do desenvolvimento sustentável. Como diz Ellen, em sua
introdução a uma das principais coletâneas da antropologia ecológica
contemporânea:
Manejar um discurso relativista da natureza e da cultura é muito mais fácil
para aqueles que estão em posição de tratar seus dados como texto, que negam ou não têm nenhum interesse em comparações explícitas e generalizações pan-humanas. Torna-se bem mais difícil fazê-lo se queremos traduzir o
aporte de tais idéias em termos que sejam compreensíveis e produtivos no
trabalho dos cientistas “naturais” e daqueles que, em várias profissões aplicadas, fazem uso das idéias e modelos de mundo desses últimos; ou, então,
se buscamos explicar de que modo uma experiência particular do mundo
parece ser suficientemente compartilhada pelos humanos para que eles possam reconhecer as coisas de que falam (Ellen 1996:2).
Por outro lado, a sustentação de um princípio de “relativismo razoável” (Maybury-Lewis 2002) consistiria em uma virtude epistemológica,
no sentido de se reconhecer que não existe nenhuma sociedade humana
que tenha vivido em harmonia perfeita com seu entorno natural, “nenhu-
335
336
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
ma civilização ecologicamente inocente” (González Alcantud e González
de Molina 1992:30).
Depois da hegemonia das correntes pós-modernas nos anos 80 e na
primeira metade dos anos 90 — que viam como impossível a comparação
etnográfica —, a acumulação de materiais de campo, a maior comunicação entre os investigadores e a discussão dos princípios relativistas no interior das próprias sociedades tradicionais levaram ao ressurgimento de
projetos comparativos orientados para a identificação de tendências na
evolução social. Descola e Pálsson, por exemplo, afirmam:
Paradoxalmente, uma fé renovada no projeto comparativo pode ter emergido da riqueza mesma da própria experiência etnográfica, isto é, do reconhecimento partilhado de que certos padrões, estilos de prática e conjuntos de
valores, descritos por colegas antropólogos em diferentes partes do mundo,
são compatíveis com o conhecimento que cada um tem de uma sociedade
particular. […] Em outras palavras, a etnografia promove o foco no particular, e a multiplicação de particulares etnográficos reaviva o interesse pela
comparação (Descola e Pálsson 1996:17-18).
Um dos resultados do exercício comparativo, e do retorno a uma concepção histórica transcultural, é a idéia de que a evolução dos humanos
exibe uma tendência em direção à complexidade. O uso da categoria de
complexidade, contudo, enquanto indicador de diferenças entre sociedades, tem, para alguns, conotações negativas, associadas ao evolucionismo
linear de princípios do século XX, ao qual tão firmemente se opôs a escola
relativista. Não obstante, hoje se entende por complexidade uma característica emergente dos sistemas sociais, nos quais a acumulação de mudanças graduais conduz a outra estrutura, original porém não arbitrária, e sim
enraizada na herança ecológica e social legada pelas gerações precedentes. Isto nos permite, em princípio, escapar da armadilha lógica de uma
antropologia que reconhece a unicidade da espécie humana mas, ao mesmo tempo, defende o relativismo de suas culturas (Gardner 1987). Se conferimos ao dado antropológico uma profundidade histórica, podemos identificar uma tendência à complexidade por acúmulo de informação (Lewin
1992), respeitando as peculiaridades e recusando uma hierarquização moral das culturas ou de seu comportamento diante do meio ambiente. Desta
maneira, escapamos do relativismo cultural extremo, que não leva a lugar
nenhum, e podemos dialogar com outras disciplinas e ciências.
Para superar o paradoxo do relativismo cultural, a antropologia precisou passar a analisar a cultura como um processo, e não como uma entida-
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
de dada (Ingold 1986). Precisou analisar a diferente participação dos setores, estratos ou classes sociais na produção da cultura, em lugar de tomála como uma resultante indiferenciada da sociedade. Apenas entendendo
a cultura em sua trajetória histórica e em sua relação diferencial com os
grupos que a criam, pôde a antropologia criticar o relativismo cultural absoluto. Ela foi capaz, assim, de justificar historicamente determinados comportamentos e, ao mesmo tempo, identificar e responsabilizar aqueles que
se beneficiam dos ditos comportamentos; pôde passar a analisar a cultura
como um produto contraditório da experiência humana (Foladori 1992).
A reconsideração conceitual da cultura forçou, também, o questionamento da dicotomia natureza/cultura. Ingold (2000b) demonstrou as incongruências dessa dicotomia. Se revisamos os principais conceitos utilizados na tradição antropológica para explicar a reprodução da cultura, vemos que todos conduzem a uma mesma conclusão: a concepção da cultura
como algo dado, resultado do consumo (Foladori 1992). As noções de enculturação, endoculturação ou socialização se referem aos mecanismos pelos quais a cultura se transmite de uma geração a outra. A linguagem, as
práticas do comportamento cotidiano, a educação etc. são meios por intermédio dos quais as novas gerações vão adquirindo a cultura do grupo no
qual se inserem. Ao consumir a cultura, essas novas gerações fazem-na
sua, interiorizam-na e, por essa via, se convertem em seus transmissores.
A palavra etnocentrismo se refere ao valor positivo e superior que os
integrantes de uma cultura atribuem a suas próprias pautas culturais,
desmerecendo cultura alheias. O etnocentrismo aparece, pois, como a soma dos preconceitos que uma sociedade tem sobre si mesma. Mas se nos
perguntamos de onde surgem esses juízos, a resposta é circular: a comunidade de vida, de cultura, impõe preconceitos que seus membros consomem e, então, transmitem e ostentam.
O relativismo cultural supõe a suspensão de juízos de valor sobre as
diversas culturas. Não há culturas superiores ou inferiores, apenas diferentes. Porém, avaliar as condutas de acordo com as regras étnicas do
contexto em que elas se produzem equivale a julgar uma cultura após ter
consumido seus preconceitos. De novo — agora sob o conceito de relativismo cultural — revela-se a necessidade de consumir a cultura para poder entendê-la.
A aculturação ou mudança cultural explica os processos de transmissão cultural, de adaptação de uma cultura a outra. Inclui a deculturação ou perda de pautas culturais por parte de uma sociedade, e a posterior adaptação a novas pautas, ou aculturação. Na análise da mudança
social, a ênfase é posta sobre o elemento externo. As mudanças se origi-
337
338
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
nam do contato de uma cultura com outra. Nos casos mais favoráveis, a
cultura pode mudar internamente, em resultado de uma ação individual,
uma invenção ou uma descoberta. Os conceitos de aculturação ou de mudança cultural são coerentes com o conjunto teórico anteriormente mencionado; se uma cultura se reproduz a si mesma, a única possibilidade de
mudança reside em agentes externos: contato entre povos ou catástrofe
natural. Trata-se, então, do consumo que uma sociedade realiza das pautas culturais de outras sociedades, por mecanismos que podem ser de imposição violenta ou de aceitação voluntária.
A implicação dos conceitos anteriores é simples: cada indivíduo reproduz a cultura por meio do consumo de suas pautas culturais. Não há
um só conceito, na antropologia acadêmica dominante, que privilegie ou
destaque quem produz a cultura, como e em que grau. Está claro, além
disso, que o que se consome é algo terminado, um produto. Não obstante, é evidente que algo que existe deve ter sido produzido. Mais do que
isso, a produção implica um processo, o produto é apenas seu resultado.
As modernas correntes da antropologia que redirecionaram seu objeto de estudo para o simbólico são outro exemplo dessa visão consumista
da cultura. Vejam-se, nas três últimas décadas, a etnometodologia de Garfinkel (1967) e seu derivado, a etnoecologia (Durand 2002), bem como o
interpretacionismo simbólico (Geertz 1973) e o culturalismo de um Sahlins (1976) pós-materialista. Essas correntes de pensamento reivindicavam o simbólico como exclusividade da antropologia, relegando a segundo plano a análise da ordem material. Tratava-se de uma autolimitação
desprovida de qualquer justificativa, já que o simbólico sempre foi objeto
de estudo antropológico, desde os primeiros trabalhos holistas de pensadores evolucionistas como Tylor e Morgan. É claro que essa orientação da
antropologia para o simbólico encontra sua explicação tanto no contexto
externo à disciplina como em suas debilidades internas. A penetração do
sistema capitalista até o último rincão do planeta torna inviável estudar os
povos primitivos sem considerar sua integração ao mercado, esfera de conhecimento para a qual os antropólogos não estão preparados. O desaparecimento crescente de sociedades primitivas ou indígenas priva os antropólogos de seu objeto de estudo. A reação foi lamentável: o refúgio dos
estudos antropológicos em uma esfera de manifestação humana — o simbólico — na qual, em princípio, as demais ciências sociais não poderiam
competir5. A fragmentação das ciências e sua luta pela sobrevivência no
mercado acadêmico legou à antropologia uma definição restrita da cultura, e uma quantidade de termos de difícil precisão. Segundo Milton,
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
[o objeto de estudo da antropologia] veio a restringir-se a uma categoria de
fenômenos que se supunha existir na mente das pessoas […] Há uma confusa gama de termos usados para glosar esta categoria de fenômenos, incluindo “idéias”, “conhecimento”, e “modelos folk” (Milton 1996:18).
A crescente participação de antropólogos em equipes inter- ou multidisciplinares também contribuiu para essa marginalização temática da
disciplina. Relega-se a eles a tarefa de cobrir a “dimensão humana”, mas
o viés unilateral das ciências naturais representadas nessas equipes pressiona no sentido de reduzir o campo da antropologia. No dizer de Ingold:
Enquanto os cientistas fazem o trabalho de revelar a realidade objetiva “lá
fora”, do antropólogo espera-se que se contente em descobrir os princípios
de sua construção cultural “dentro da cabeça das pessoas”, supostamente a
partir de atitudes e crenças convencionais de racionalidade questionável,
mais do que por meio da observação empírica e análise racional (Ingold
2000a:222).
Felizmente para a tradição antropológica, essa virada para o simbólico tem recebido críticas irrefutáveis por parte do realismo crítico (Dickens
1996), com o que a visão holista da antropologia voltou a ser reconhecida
como sua ferramenta talvez mais importante (p.ex., Croll e Parkin 1992).
Desse modo, apesar da leitura “consumista” da cultura e de sua variante
“simbólica”, a antropologia ecológica tem, recentemente, exercido pressões no sentido de considerar o comportamento e o pensamento humanos
como processos em construção, derivados da heterogeneidade interna das
sociedades (Pálsson 1991; Foladori 1992). Os estudos dedicados à análise
dos discursos ambientalistas contemporâneos, por exemplo, mostram sua
ancoragem nas contradições e desigualdades das relações sociais materiais (Brosius 1999). Esses discursos ambientalistas são considerados como
uma cosmovisão ocidental hegemônica, construída a partir das práticas
reais das pessoas em seu ambiente (Milton 1996:214-218).
Um claro exemplo da produção de cultura, girando em torno de temas ambientais e segundo distintos grupos de interesse, é o caso das mudanças no conceito de “toxicidade” nos Estados Unidos durante as últimas décadas. Tesh (2000), em seu estudo das alterações na definição e
nos valores-limite dos indicadores de toxicidade, mostra como a falta de
sustentação científica não constituiu obstáculo para que o movimento
ambientalista norte-americano obtivesse, em um período de vinte anos,
do início dos anos 70 até os 90, uma série de conquistas tanto na legisla-
339
340
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
ção como no desempenho científico. Algumas das conquistas na determinação do critério de toxicidade dos produtos lançados no mercado são:
a) A inclusão de indicadores de outras doenças além do câncer, como
distúrbios endócrinos, nervosos e até psíquicos. Antes, se o produto
não mostrava sinais de que poderia produzir câncer, não era considerado tóxico.
b) A inclusão, além das investigações concernentes a um ser humano
médio, daquelas voltadas para setores pobres da população e para
minorias étnicas. Antes, considerava-se apenas a possibilidade de
um produto ser tóxico para um indivíduo “médio”, ao passo que, por
estarem em uma etapa diferente do ciclo de vida, ou por terem uma
dieta alimentar diferente, muitos grupos não representados pelo indivíduo médio poderiam sofrer, de forma individualizada, os efeitos
de certos produtos químicos.
c) A consideração dos efeitos não apenas de cada produto químico tomado isoladamente, mas também daqueles de suas combinações, já
que elementos que isoladamente são inofensivos podem se tornar
agressivos quando combinados com outros.
d) Uma mudança no conceito de doença, que passou a levar em conta
os biomarkers — indicadores de possíveis tendências negativas, reconhecidos mesmo que não se possa identificar imediatamente a
doença —, já que o organismo pode só apresentar os efeitos de uma
contaminação após o acúmulo, por um período prolongado, do agente tóxico em questão.
e) Uma redução da porcentagem considerada requisito epidemiológico
para que se estabeleçam correlações com elementos contaminadores. Se, para ser considerado tóxico, um produto tinha de apresentar
os efeitos em 90%, ou mais, dos casos analisados, esse percentual
foi reduzido para 70% ou mesmo 50%, segundo o produto.
Conhecendo a diferente participação dos grupos sociais no processo
de produção da cultura, a antropologia se encontra em condições de oferecer aos estudos ambientais uma explicação das formas de atuar e representar que facilitam ou bloqueiam determinados fenômenos de contaminação e/ou depredação da natureza (Durand 2002), por parte dos setores responsáveis, dos beneficiados e dos prejudicados.
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
Reflexões finais
O reconhecimento, por parte da moderna antropologia ecológica, da cultura como um processo em formação, como um resultado de interesses
contraditórios e de participação desigual, conduz a importantes conclusões para a discussão da problemática ambiental, e, também, para a
orientação das políticas públicas. Algumas delas seriam:
A necessidade de considerar as diferenças entre os grupos sociais e
no interior destes. Não basta distinguir grupos qualitativamente diferentes por sua aparência externa, como a divisão entre homens e mulheres,
entre crianças, adultos e velhos, ou entre grupos étnicos. É necessário estudar o interior de cada grupo, já que, de outro modo, as médias estatísticas ou os tipos qualitativos ocultarão as diferenças de classe. Um estudo
recente (Taks 2001) revela, por exemplo, nas práticas e atitudes diante da
terra e dos animais domésticos, a variação entre trabalhadores rurais assalariados e produtores familiares no Uruguai: estes últimos manifestam
maior preocupação com a reprodução da fertilidade dos solos. Essa diferença permanece oculta quando se analisa o produtor de forma genérica,
sem considerar os tipos de relações sociais de produção. Os enfoques das
ciências naturais sobre a degradação ambiental perdem de vista as contradições no interior das sociedades, e tomam o grupo humano como uma
unidade. O resultado são propostas de sustentabilidade ecológica que,
paradoxalmente, podem acarretar insustentabilidade social: práticas agronômicas ecologicamente sustentáveis podem marginalizar pequenos produtores; limites à exploração de recursos naturais podem empobrecer
camponeses, coletores, caçadores e pescadores; o ordenamento territorial
urbano pode remover assentamentos precários sem oferecer alternativas.
A necessidade de que existam processos de monitoração, em tempo
real, da aplicação das políticas. Se a cultura é um processo, se a cultura
se produz, é vital a participação ativa dos grupos envolvidos para garantir a correspondência entre planos e atividades, no que diz respeito à satisfação das necessidades. Não é possível partir da cultura como algo dado para, depois, adaptar as políticas. As políticas devem ser corrigidas
permanentemente na própria prática. Isso não é realizável sem a participação ativa dos envolvidos, monitorando o processo. Scoones (2002:497)
menciona a “gestão adaptativa” de Holling (ver Winterhalder 1994:36), o
aprendizado iterativo e a deliberação inclusiva, como aspectos metodológicos cruciais dessa monitoração. A gestão adaptativa se baseia no fato
de que não há relação mecânica de causa-efeito na transformação do ambiente — as incertezas estão sempre presentes, razão pela qual é neces-
341
342
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
sária uma aproximação gradual da resolução de problemas, que inclua a
avaliação contínua como parte integral do mesmo processo. Esse tipo de
gestão deveria permitir canalizar as distintas percepções e discursos dos
diferentes grupos envolvidos. Dessa maneira, será possível prevenir-se
contra mudanças inesperadas e fortalecer a capacidade de resposta diante delas, em lugar de apenas remediar problemas ambientais. Torna-se
imperativo, então, modificar o enquadramento formal dos projetos de desenvolvimento, estabelecendo cronogramas flexíveis e objetivos ajustáveis e em sintonia com as necessidades e possibilidades em nível local e
regional (Drijver 1992).
É necessário reconhecer que, segundo sua posição na distribuição
da riqueza social, na ocupação do espaço construído e nas decisões políticas, os grupos e classes sociais respondem de maneiras diferentes tanto
aos impactos internos quanto àqueles provenientes da natureza externa
— por exemplo, eventos extremos que podem culminar em desastres.
Além disso, antropólogos e outros cientistas sociais, preocupados com as
relações entre a experiência prática e as representações do mundo, devem estar prontos para observar percepções do ambiente distintas, mutáveis e não raro ambivalentes (O’Riordan 1976; Carrier 2001). Essas ambivalências estão enraizadas nas distintas práticas concernentes ao mundo
material e nas posições particulares das pessoas e grupos em determinada estrutura social, assim como na dinâmica da luta ideológica, por meio
da imposição de certos discursos sobre o ambiente, sua conservação e
transformação. A “ciência normal”, no sentido de Kuhn (1962), é limitada para fazer frente a impactos ambientais que afetam diferenciadamente os grupos e classes sociais e são por eles percebidos também de maneiras distintas. É preciso, por um lado, promover uma integração mais
estreita entre ciência normal e conhecimento prático. Por outro, é necessário que as agendas de investigação científica se estabeleçam “de baixo
para cima”. Exemplos de políticas científicas orientadas nessa direção,
como no caso da community-based research [pesquisa de base comunitária], são uma alternativa para se resgatar o interesse dos afetados e permitir que se utilizem vantajosamente os avanços da “ciência normal”, em
conjunção com os conhecimentos práticos e tradicionais (Invernizzi 2004).
Recebido em 26 de agosto de 2002
Aprovado em 2 de julho de 2004
Tradução de Marcela Coelho de Souza
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
Javier Taks é professor do Departamento de Antropología Social y Cultural,
Universidad de la República, Uruguay; Guillermo Foladori é professor do
Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas,
México.
Notas
Não podemos discutir aqui as denominações das diferentes escolas que
abordam a relação sociedade-natureza (ver Blanc-Pamard 1996; Milton 1997; Brosius 1999; Little 1999). Chamamos de antropologia ecológica o conjunto de estudos, institucionalmente marcados no interior da antropologia, que buscam conhecer a diversidade e as similaridades das experiências humanas em relação a seus
ambientes. Os trabalhos antropológicos nesse campo partem da descrição das relações materiais das sociedades em seus ambientes, sem negligenciar o papel fundante que têm as práticas simbólicas.
1
2
Vejam-se as críticas de Goldblatt (1998) a Giddens sobre este tema.
3 A tomada em consideração da percepção “vulgar” da mudança climática,
como demonstra o exemplo dos povos do Ártico (Nuttal 2001), é muito recente.
Maybury-Lewis (2002) diz que os antropólogos são acusados injustamente
de um tal relativismo extremo. Ainda que a idéia de que todo antropólogo seja
um defensor do vale-tudo constitua uma caricatura, deve-se reconhecer que o relativismo tem sido um dos argumentos levantados para evitar comprometimentos
(ver Durand 2002:169-70). Esta problemática tem sido discutida extensamente
por Brosius (1999) em relação aos estudos ambientais empreendidos de uma perspectiva antropológica.
4
O que sempre foi equivocado, uma vez que, a partir da linguagem, a semiótica compete com igual autoridade nesse mesmo campo.
5
343
344
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
Referências bibliográficas
AMBLER, J. 1999. “Attacking poverty
while improving the environment:
towards win-win policy options”.
Poverty and environment initiative
New York, Brussels.
http://stone.undp.org/dius/seed/
peifomm/ACF889.pdf. (28 de fevereiro de 2004).
ANDERSON, A. 2002. “Faunal collapse, landscape change and settlement history in Remote Oceania”.
World Archaeology, 33(3):375-390.
BARRET, R., KUZAWA, C., MCDADE,
T., e ARMELAGOS, G. J. 1998.
“Emerging and re-emerging infectious diseases: the Third Epidemiological Transition”. Annual Review
of Anthropology, 27:247-71.
BERKES, F. e C. FOLKE (eds.). 1998.
Linking social and ecological systems. management practices and
social mechanisms for building resilience. Cambridge: Cambridge
University Press.
BLANC-PAMARD, C. 1996. “Medio
natural”. In: P. Bonte e M. Izard
(eds.), Diccionario Akal de Etnología y Antropología. Madrid: Akal.
BOAS, F. 1948. Race, language and
culture. New York: Macmillan.
BROSIUS, J. P. 1999. “Analyses and interventions. Anthropological engagements with environmentalism”.
Current Anthropology, 40(3):277309.
CARRIER, J. 2001. “Limits of environmental understanding: action and
constraint”, Journal of Political
Ecology, 8:25-43.
CROLL, E. e PARKIN, D. (eds.). 1992.
Bush base: forest farm. Culture, environment and development. London/New York: Routledge.
CRUMLEY, C. 1994. “The ecology of
conquest. Contrasting agropastoral
and agricultural societies´ adaptation to climatic change”. In: C.
Crumley (ed.), Historical ecology.
Santa Fé: School of American Research Press.
DE MUNCK, V. 2002. “Contemporary
issues and challenges for comparativists”, Anthropological Theory,
2(1): 5-19.
DESCOLA, P. e G. PÁLSSON. 1996.
“Introduction”. In: P. Descola e G.
Pálsson (eds.), Nature and society.
London: Routledge.
DICKENS, P. 1996. Reconstructing nature. London: Routledge.
DOUGLAS, M. 1966. Purity and danger: an analysis of the concepts of
pollution and taboo. London: Pelican.
DRIJVER, C. 1992. “People´s participation in environmental projects”.
In: E. Croll e D. Parkin (eds.), Bush
base: forest farm. Culture, environment and development. London:
Routledge.
DURAND, L. 2002. “La relación ambiente-cultura en antropología: recuento y perspectivas”. Nueva Antropología, XVIII(61):169-184.
ELLEN, R. 1986. “What Black Elk left
unsaid”. Anthropology Today,
2(6):8-13.
___ . 1996. “Introduction”. In: R. Ellen
e K. Fukui (eds.), Redefining nature. Oxford: Berg.
___ . 1999. “Categories of Animality
and Canine Abuse”. Anthropos,
94:57-68.
___ ., e H. Harris. 2000. Introduction.
In: R. Ellen, P. Parkes e A. Bicker
(eds.), Indigenous environmental
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
knowledge and its transformations.
Amsterdam: Harwood Academic
Publishers.
ESCOBAR, A. 1999. “After nature.
Steps to an antiessentialist political
ecology”. Current Anthropology,
40(1):1-30.
FOLADORI, G. 1992. “Consumo y producción de cultura: dos enfoques
contrapuestos en las ciencias sociales”. Anales de Antropología, 29.
___ . 2000. “Una tipología del pensamiento ambientalista”. Revista de
Estudos Ambientais, 2(1):42-60.
___ . 2001. Limites do desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora
da Unicamp/Imprensa Oficial.
GARDNER, H. 1987. La nueva ciencia
de la mente. Barcelona: Paidós.
GARFINKEL, H. (1967. Studies in ethnomethodology, Englewood Cliffs:
Prentice-Hall.
GEERTZ, C. 1973. The interpretation
of culture. New York: Basic Books.
GLACKEN, C. 1996 [1967]. Huellas en
la playa de Rodas. Barcelona: Ediciones del Serbal.
GOLDBLATT, D. 1998. Teoria social e
ambiente. Lisboa: Instituto Piaget.
GONZÁLEZ ALCANTUD, J.A. e
GONZÁLEZ DE MOLINA, M.
1992. “Introducción”. In: J.A. González Alcantud e M. González de
Molina (eds.), La tierra. Mitos, ritos
y realidades, Barcelona: Anthropos.
GUYER, J. 1988 [1968]. “The multiplication of labour”. Current Anthropology, 29(2):247-272.
HARDIN, G. 1989. “La tragedia de los
espacios colectivos”. In: H. Daly
(ed.), Economía, ecología, ética.
México, DF: Fondo de Cultura Económica.
HAYNES, G. 2002. “The catastrophic
extinction of North American mammoths and mastodonts”. World Archaeology, 33(3): 391-416.
HEADLAND, T. 1997. “Revisionism in
Ecological Anthropology”. Current
Anthropology 38(4):605-609.
HORNBORG, A. 1992. “Machine fetishism, value and the image of unlimited good: towards a thermodynamics of imperialism”. Man,
27(1):1-18.
INGERSON, A. 1994. “Tracking and
testing the nature-culture dichotomy”. In: C. Crumley (ed.), Historical ecology. Santa Fé: School of
American Research Press.
INGERSON, A. 1997. “Comments on
T. Headland, ‘Revisionism in ecological anthropology’”. Current
Anthropology 38(4):615-6.
INGOLD, T. 1986. The appropriation of
nature. Manchester: Manchester
University Press.
___ . 1991 [1986]. Evolución y vida social. México: Grijalbo.
___ . 2000a. The perception of the environment. London: Routledge.
___ . 2000b. “Concluding commentary”. In: A. Hornborg e G. Pálsson
(eds.), Negotiating nature: culture,
power, and environmental argument. Lund: Lund University Press.
INHORN, M. 1990. “The anthropology
of infectious diseases”. Annual Review of Anthropology, 19:89-117.
INVERNIZZI, N. 2004. “Participación
ciudadana en ciencia y tecnología
en América Latina: una oportunidad para refundar el compromiso
social de la universidad pública”.
Revista Iberoamericana de Ciencia,
Tecnología y Sociedad, 1(2):67-84.
KUHN, T. S. 1962.. The structure of
scientific revolutions. Chicago: The
University of Chicago Press.
KUPER, A. 1973. Anthropologists and
anthropology: the British school
(1922-1972), New York: Pica Press.
LEACKY, R., e R. Lewin 1998. La sexta extinción: el futuro de la vida y
345
346
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
de la humanidad. Barcelona: Tusquets.
LECLERC, G. 1973. Antropología y colonialismo. Madrid: Ed. Comunicación.
LENOIR, I. 1995. A verdade sobre o
efeito de estufa. Dossier de uma
manipulação planetária. Lisboa:
Caminho da Ciência.
LEWIN, R. 1992. Complexity. New
York: McMillan.
LITTLE, P. 1999. “Environments and
environmentalisms in anthropological research: facing a new millennium”. Annual Review of Anthropology, 28: 253-284.
MACKENZIE, D. 1984. “Marx and the
machine”. Technology and Culture, 25: 473-502.
MARTIN, P.S. 1984. “Prehistoric overkill: the global model”. In: Martin,
P.S., e Klein, R.G. (eds.), Quaternary extinctions. Tucson: Univ. Arizona Press. pp. 354–403.
MAYBURY-LEWIS, D. 2002. “A Antropologia numa era de confusão”.
Revista Brasileira de Ciências Sociais, 17(50): 15-23.
MILTON, K. 1996. Environmentalism
and cultural theory. London: Routledge.
___ . 1997. “Ecologías: antropología,
cultura y entorno”. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 154.
http://www.unesco.org/issj/rics154/miltonspa.html (28 de fevereiro de 2004).
NUTTALL, M. 2001. “Pueblos indígenas y la investigación sobre el cambio climático en el Ártico”. Asuntos
Indígenas (IWGIA) 4/01:26-33.
ORLOVE, B. 2002. Lines in the water:
nature and culture at Lake Titicaca.
Berkeley/Los
Angeles/London:
University of California Press.
OSTROM, E. 1990. Governing the commons: the evolution of institutions
for collective action. Cambridge
University Press: Cambridge.
O’RIORDAN, T. 1976. Environmentalism. London: Pion.
PÁLSSON, G. 1991. Coastal economies, cultural accounts. Manchester University Press: Manchester.
___ . (no prelo). “Nature and society
in the age of postmodernity”. In: A.
Biersack, A., e J. Greenberg (eds.),
Imagining political ecology. Duke
University Press.
PFAFFENBERGER, B. 1988. “Fetishized objects and humanized nature:
towards an anthropology of technology”. Man, 23: 236-252.
___ . 1992. “Social anthropology of
technology”. Annual Review of
Anthropology, 21:491-516.
RICHARDS, P. 1985. Indigenous agricultural revolution. London: Hutchinson.
SAHLINS, M. 1964. “Culture and environment”. In: S. Tax (ed.), Horizons of anthropology. Chicago: Aldine Publishing Company.
___ . 1976. Culture and practical reason. Chicago: Chicago University
Press.
SAREWITZ, D. and R. A. Pielke, Jr.
2001. “Extreme events: a research
and policy framework for disasters
in context”. International Geology
Review, 43:406-418.
SCOONES, I. 1999. “New ecology and
the social sciences: What prospects
for a fruitful engagement?” Annual
Review of Anthropology, 28: 479507.
STEADMAN, D e MARTIN, P. 2003.
“The late Quaternary extinction
and future resurrection of birds on
Pacific islands”. Earth-Science Reviews, 61:133–147.
TAKS, J. 2001. “Acerca de la alienación del trabajo en los tambos uruguayos”. In: Leopold, L., (ed.), Psi-
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
cología y organización del trabajo
II. Montevideo: Psicolibros.
TESH, S. N. 2000. Uncertain hazards.
environmental activists and scientific proof. Ithaca/ London: Cornell
University Press.
TOLEDO, V. 1992. “Campesinos, modernización rural y ecología política: una mirada al caso de México”.
In: J.A. González Alcantud e M.
González de Molina (eds.), La tierra. Mitos, ritos y realidades. Barcelona: Anthropos.
TOMMASINO, H. e G. FOLADORI.
2001. “(In) certezas sobre la crisis
ambiental”, Ambiente e Sociedade, IV(8):49-68.
WINNER, L. 1985. “¿Tienen política
los artefactos?”. http://www.campus-oei.org/salactsi/winner.htm
(28 de fevereiro de 2004).
WINTERHALDER, B. 1994. “Concepts
in historical ecology. The view from
evolutionary ecology”. In: C.
Crumley (ed.), Historical ecology.
Santa Fé: School of American Research Press.
WORSTER, D. 1993. The wealth of nature. New York: Oxford University
Press.
347
348
UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL
Resumo
Abstract
A presente crise ecológica conduziu a
uma revisão de paradigmas em antropologia, e ao questionamento da contribuição da disciplina para a elaboração das políticas ambientais e para a
luta dos movimentos ambientalistas.
Este artigo argumenta que a antropologia é valiosa para aqueles que pretendem construir uma sociedade mais
sustentável. Primeiro, produzindo informação e conhecimento crítico acerca dos significados das atitudes perante o meio natural de humanos modernos e premodernos. Segundo, e mais
importante, a antropologia poderia
contribuir, mediante pautas metodológicas, para o estudo das relações entre
cultura e ambiente. Por um lado, entendendo essas relações como resultado de processos contraditórios de produção de sentido, enraizados na transformação e apropriação desigual da
natureza, e contra a visão consumista
da cultura. Por outro lado, entendendose a cultura como um processo histórico, a antropologia seria capaz de superar os erros derivados do relativismo
cultural radical, que até o presente tem
limitado a participação da disciplina na
elaboração das políticas ambientais.
Palavras-chave Antropologia ecológica,
Relações cultura-natureza, Desenvolvimento sustentável.
The current ecological crisis has led to
a critical review of anthropology’s
mainstream paradigms and to questions over its contribution to environmental policy-making and the political
aims of environmental movements.
This article argues that anthropology
is valuable in two ways for those attempting to build a more sustainable
society. Firstly, it produces critical information and knowledge about the
meanings of pre-modern and modern
human attitudes towards the natural
environment. Secondly, and more importantly, by providing methodological
guidelines for studying relations between culture and the environment,
anthropology allows us to understand
these relations as the outcome of mutually contradictory processes of producing meaning – one rooted in the
unequal transformation and appropriation of nature, the other opposed to a
consumerist vision of culture. At the
same time, by apprehending culture as
a historical process, anthropology is
capable of overcoming the failures of
radical cultural relativism which have
so far limited the discipline’s participation in environmental policy making.
Key words Ecological anthropology,
Culture-nature relations, Sustainable
development.
Mana
Print ISSN 0104-9313
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
→
ARTIGOS
"Não congelarás a imagem", ou: como não
desentender o debate ciência-religião*
Bruno Latour
Bruno Latour é professor do Centre de Sociologie de l'Inovation da École Nationale
Supérieure des Mines, Paris
RESUMO
Este artigo examina as condições de felicidade (estendendo-se o sentido que tem este
conceito na teorias dos atos de fala) da enunciação religiosa. Por analogia com a fala de
amor, a fala religiosa é aqui vista como um discurso transformativo antes que
informativo, isto é, um discurso que fala-faz (de) quem fala antes que do mundo, mas
que, ao fazê-lo/ falá-lo, muda o mundo em que se fala tanto quanto aqueles que nele
falam. Comparam-se em seguida as condições de verdade do discurso da ciência,
fundadas no estabelecimento de longas cadeias mediativas entre a palavra e o mundo, e
as condições de felicidade da fala religiosa, fala de proximidade, radicada em uma
"imediação". A partir de uma análise ilustrativa de alguns modos de experimentação das
imagens (visuais) religiosas na arte, conclui-se então com uma recusa da dupla redução
caricatural da religião à crença e da ciência ao conhecimento.
Palavras-chave: Religião, Ciência, Discurso, Imagem, Crença, Conhecimento
ABSTRACT
This article examines the felicity conditions (extending the sense assumed by this
concept in speech act theory) of religious statements. In an analogy with love talk,
religious talk is seen here as transformative discourse rather than as informative
discourse - that is, a discourse which speaks of whoever is uttering it rather than of the
world, but which, in doing it, alters the world of which it speaks just as much as those
who speak in it. The article then compares the truth conditions of scientific discourse,
founded on the establishment of long mediating chains between word and world, and the
felicity conditions of religious speech, a close-range speech rooted in 'imediation'.
Providing an illustrative analysis of various ways of experiencing religious (visual) images
in art, the article concludes by refusing the doubly stereotypic reduction of religion to
belief and science to knowledge.
Key-words: Religion, Science, Discourse, Image, Belief, Knowledge
Não tenho nenhuma autoridade para falar a vocês sobre religião e experiência, já que
não sou pregador, nem teólogo, nem filósofo da religião — nem mesmo uma pessoa
particularmente piedosa. Felizmente, religião pode não ter a ver com autoridade e força,
mas com experimentação, hesitação e fraqueza. Se é assim, então devo começar
colocando-me numa posição da mais extrema fraqueza. William James, no final de sua
obra-prima, As variedades da experiência religiosa, diz que sua forma de pragmatismo
ostenta um rótulo "grosseiro", o do pluralismo. Eu deveria antes afirmar, na abertura
desta palestra, que o rótulo que trago — ou devo dizer: o estigma? — é ainda mais
grosseiro: fui criado como católico e, para agravar, nem mesmo posso falar com meus
filhos sobre o que faço na Igreja aos domingos. Quero hoje começar daí, dessa
impossibilidade de falar com meus amigos e meus próprios familiares sobre uma religião
importante para mim; quero começar esta conferência a partir dessa hesitação, dessa
fraqueza, esse gaguejar, essa deficiência da fala. Religião, na minha tradição, no canto
do mundo de onde venho, tornou-se algo impossível de enunciar1.
Mas não creio que me seria dado falar apenas a partir de tal posição enfraquecida e
negativa. Também tenho uma base um pouco mais firme, que me estimula a abordar
esse assunto dificílimo. Se ousei responder ao convite para lhes falar, é porque também
venho trabalhando há muitos anos em interpretações da prática científica que são um
pouco diferentes daquelas comumente oferecidas (Latour 1999). É claro que numa
discussão sobre "ciência e religião" qualquer mudança, ainda que pequena, ainda que
controversa, no modo como a ciência é considerada terá conseqüências nas várias
formas de se falar de religião. A produção de verdades em ciência, religião, direito,
política, tecnologia, economia etc. é o que venho estudando ao longo dos anos, em meu
programa orientado para uma antropologia do mundo moderno (ou melhor, nãomoderno). O que procuro fazer são comparações sistemáticas entre o que chamei de
'regimes de enunciação'; e se há no que segue algum argumento técnico, é dessa
antropologia comparativa bem idiossincrática que ele provém. Fazendo uma frouxa
analogia com a teoria dos atos de fala, eu diria que tenho me dedicado a mapear as
'condições de felicidade' das diversas atividades que, em nossas culturas, são capazes de
suscitar a verdade.
Devo notar, de início, que não tenciono fazer uma crítica da religião. Que a verdade
esteja em questão na ciência assim como na religião é algo que, para mim, não está em
questão. Ao contrário do que alguns de vocês que conheçam (muito provavelmente de
oitiva) meu trabalho sobre a ciência poderiam ser levados a pensar, estou interessado
principalmente nas condições práticas do 'dizer a verdade', e não em denunciar a religião
após haver contestado — é o que se diz — as alegações da ciência. Se já era necessário
levar a ciência a sério sem lhe dar qualquer espécie de 'explicação social', mais
necessária ainda é tal postura perante a religião: denúncias e desmistificações
simplesmente passam ao largo da questão. De fato, meu problema é justamente como se
pôr em sintonia com as condições de felicidade de diversos tipos de 'geradores de
verdades'.
E agora, ao trabalho. Não creio que seja possível falar de religião sem deixar clara a
forma de discurso mais conforme ao seu tipo de 'predicação'. A religião, ao menos na
tradição a partir da qual falarei — a saber, a cristã —, é um modo de pregar, de predicar,
de enunciar a verdade — eis por que tenho de imitar na escrita a situação em que uma
prédica é feita do púlpito. Esta é literalmente, tecnicamente, teologicamente uma forma
de dar a notícia, de trazer a 'boa nova', o que em grego se chamou 'evangelios'.
Portanto, não vou falar da religião em geral, como se existisse algum domínio, assunto
ou problema universal chamado 'religião' que permitisse comparar divindades, rituais e
crenças, da Papua-Nova Guiné a Meca, da Ilha de Páscoa à cidade do Vaticano. Um fiel
tem uma só religião, como uma criança tem uma só mãe. Não há ponto de vista a partir
do qual seria possível comparar diferentes religiões e ao mesmo tempo falar de modo
religioso. Como vêem, meu propósito não é falar sobre religião, mas falar-lhes
religiosamente, ao menos de modo suficientemente religioso para que possamos começar
a analisar as condições de felicidade desse ato de fala, demonstrando in vivo, esta noite
e nesta sala, que tipo de 'condição de verdade' ele exige. Nosso tema envolve
experiência, e é uma experiência o que pretendo produzir.
Falar a respeito da religião, falar a partir da religião
Argumentarei que a religião — mais uma vez, dentro da tradição que é a minha — não
fala a respeito de ou sobre coisas, mas de dentro de ou a partir de coisas, entidades,
agências, situações, substâncias, relações, experiências — chame-se como se quiser —
que são altamente sensíveis aos modos como se fala delas. Estes são, por assim dizer,
modos da fala, formas de discurso. João diria: o Verbo, Verbum, ou Logos. Ou bem eles
portam o espírito mesmo a partir do qual falam, e deles se poderá então dizer que são
verdadeiros, fiéis, comprovados, experimentados, autoevidentes, ou não transportam,
não reproduzem, não realizam, não transmitem aquilo a partir do qual falam, e então,
imediatamente e sem nenhuma inércia, começam a mentir, a se desfazer, a deixar de ter
qualquer referência, qualquer fundamento. Esses modos da fala ou bem evocam o
espírito que pronunciam, e são verdadeiros, ou não o fazem, e são menos que falsos —
são simplesmente irrelevantes, parasíticos.
Nada há de extravagante, espiritual ou misterioso em começar a descrever dessa forma a
fala religiosa. Estamos habituados a outras formas de discurso perfeitamente mundanas,
que tampouco são avaliadas segundo sua correspondência com algum estado de coisas,
e sim pela qualidade da interação que produzem graças à forma como são pronunciadas.
Essa experiência — e é experiência o que desejamos aqui compartilhar — é comum no
domínio do 'discurso amoroso' e, mais amplamente, nas relações pessoais. "Você me
ama?" não é julgado pela originalidade da frase — não há outra que seja mais batida,
banal, trivial, tediosa, recauchutada —, mas sim pela transformação que opera no
ouvinte e também no falante. Conversa de informação é uma coisa, e de transformação,
outra. Quando aquelas palavras são proferidas, algo acontece. Um pequeno
deslocamento na marcha ordinária das coisas. Uma diminuta mudança na cadência do
tempo. A pessoa tem de se decidir, se envolver; talvez comprometer-se
irreversivelmente. Não nos submetemos aqui apenas a uma experiência entre outras,
mas a uma alteração da pulsação e do andamento da experiência: 'kairos' é a palavra
que os gregos teriam empregado para designar esse sentido novo de urgência.
Antes de voltar à fala religiosa, e a fim de deslocar nossas formas usuais de enquadrar
aquelas frases portadoras de amor, gostaria de destacar duas características da
experiência que todos temos — assim espero — ao pronunciá-las ou escutá-las.
A primeira é que tais frases não são julgadas por seu conteúdo, pelo número de bytes
que possuem, mas por suas capacidades performativas. São avaliadas principalmente por
essa única interrogação: produzem elas aquilo de que falam, a saber, amantes? (Não
estou aqui tão interessado no amor como eros, que geralmente demanda pouca
conversa, mas sim, para usar a distinção tradicional, no amor como agapè). Na injunção
do amor, a atenção é redirecionada, não para o conteúdo da mensagem, mas para o
continente mesmo, a feitura da pessoa. Não se tenta decifrá-las, a tais injunções, como
se transportassem uma mensagem, mas como se transformassem os mensageiros eles
próprios. E no entanto, seria errado dizer que elas não têm valor de verdade, apenas por
não possuírem conteúdo informacional. Ao contrário: embora não se possam marcar p's
e q's para calcular a tabela de verdade dessas afirmações, é muito importante — questão
a que dedicamos muitas noites e dias — decidir se são verazes, fiéis, enganadoras,
superficiais, ou simplesmente obscuras e vagas. Principalmente porque semelhantes
injunções não estão de forma alguma limitadas ao meio exclusivo da fala: sorrisos,
suspiros, silêncios, abraços, gestos, olhares, posturas, tudo pode transmitir o argumento
— sim, é de um argumento que se trata, e muito bem amarrado, por sinal. Mas é um
argumento peculiar, que é em grande parte julgado conforme o tom com que é proferido,
sua tonalidade. O amor é feito de silogismos cujas premissas são pessoas. Não estamos
prontos a dar um braço e uma perna para sermos capazes de distinguir verdade de
falsidade nessa estranha fala que transporta pessoas, e não informação? Se há algum
tipo de envolvimento que seja partilhado por todos na detecção da verdade, na
construção da confiança, é certamente essa capacidade de distinguir entre o discurso
amoroso correto e o errado. Assim, uma das condições de felicidade que podemos
prontamente reconhecer é a existência de formas de discurso — novamente, não se trata
apenas de linguagem — que sejam capazes de transmitir pessoas e não informação: seja
porque produzem em parte as pessoas, ou porque novos estados — 'novos começos',
como diria William James — se produzem nas pessoas a quem esse tipo de fala se dirige.
A segunda característica que desejo destacar na performance específica — e totalmente
banal — da conversa de amor é que suas frases parecem capazes de mudar o modo de
se habitar o espaço e o fluir do tempo. Mais uma vez, essa experiência é tão disseminada
que poderíamos deixar passar despercebida sua originalidade estratégica. Apesar de
muito comum, ela não é tão freqüentemente descrita — salvo em alguns filmes de
Ingmar Bergman, ou em alguns romances peculiares — porque 'eros', o eros
hollywoodiano, costuma ocupar a cena com tanto estardalhaço, que a sutil dinâmica da
'agapè' raramente é notada. Mas penso que podemos partilhar da mesma experiência em
grau suficiente para capitalizá-la mais adiante em proveito de minha análise: o que vocês
diriam que lhes acontece quando alguém se dirige a vocês numa fala de amor? De modo
muito simples, eu diria: vocês estavam longe, estão agora mais perto — e os amantes
parecem possuir um tesouro próprio de sabedoria que responde pelas sutis razões dessas
alternações entre distância e proximidade. Essa mudança radical diz respeito não só ao
espaço mas também ao tempo: até agora você sentia um destino inflexível, uma
fatalidade, como um fluxo que vinha diretamente do passado até um presente cada vez
menor, levando à inércia, ao tédio, talvez à morte; e repentinamente uma palavra, uma
atitude, uma indagação, uma postura, um não-sei-quê, e o tempo volta a fluir, como se
ele começasse no presente e tivesse a capacidade de abrir o futuro e reinterpretar o
passado: surge uma possibilidade, o destino é superado, você respira, possui um dom,
tem esperança, ganha movimento. Assim como a palavra 'perto' capta as novas formas
com que o espaço é agora habitado, a palavra 'presente' parece agora ser aquela com
que melhor se pode resumir o que acontece: você está novamente, renovadamente
presente diante do outro, e vice-versa. E é claro que ambos podem num instante voltar a
estar ausentes e distantes — por isso é que o coração bate tão rápido, por isso a
exaltação e ao mesmo tempo a ansiedade: uma palavra mal proferida, um gesto
inoportuno, um movimento errado e, instantaneamente, o terrível sentimento de
estranhamento e distância, esse desânimo que vem com a inexorável passagem do
tempo, todo aquele enfado desaba sobre você mais uma vez, intolerável, mortal. De
repente, nenhum dos dois entende o que faz diante do outro: é simplesmente
insuportável.
Não é, de fato, uma comuníssima experiência, essa que acabo de esboçar — a que se
tem na crise amorosa, dos dois lados dessa diferença ínfima entre o que é próximo e
presente e o que é distante e ausente? Essa diferença tão vivamente marcada por uma
nuança, fina como uma lâmina, ao mesmo tempo sutil e corpulenta: uma diferença entre
falar certo e falar errado daquilo que nos faz sensíveis à presença do outro?
Se agora tomamos conjuntamente os dois aspectos da interpelação amorosa, tal como
acabo de esboçar, podemos nos convencer de que existe uma forma de discurso que: a)
tem a ver com a transformação daqueles que trocam a mensagem, e não com o
transporte de informação; b) é sensível ao tom com que a mensagem é proferida: tão
sensível, que faz passar, por uma crise decisiva, da distância à proximidade, e de volta
ao estranhamento; da ausência à presença, e de volta, lamentavelmente, à primeira.
Dessa maneira de falar, direi que ela "re-presenta", num dos muitos significados literais
da palavra: ela apresenta novamente o que é estar presente naquilo que se fala. E essa
maneira de falar: c) é a um só tempo completamente comum, extremamente complexa,
e não muito freqüentemente descrita em detalhes.
Como redirecionar a atenção?
É dessa atmosfera que desejo me valer para novamente começar minha prédica, visto
que falar — mais que isso: pregar religião — é o que vou tentar esta noite, para produzir
experiência comum num grau que permita sua posterior análise. Quero usar o modelo da
interpelação de amor para nos reabituar a uma forma de discurso religioso que foi
perdida, incapaz de voltar a representar-se a si mesma, de se repetir, devido à passagem
da religião à crença (voltarei a isso adiante). Sabemos que a competência que
procuramos é comum, que ela é sutil, que não costuma ser descrita, que facilmente
aparece e desaparece, fala a verdade para depois desmentir. As condições de felicidade
de minha própria fala estão, assim, claramente delineadas: falharei se não puder
produzir, promover, eduzir aquilo de que se trata. Ou bem posso re-presentá-lo
novamente a vocês, isto é, apresentá-lo em sua presença de outrora renovada, e então o
digo em verdade; ou não o faço, e ainda que pronuncie as mesmas palavras, o que falo é
em vão, minto a vocês, não passo de um tambor vazio, ressoando no vazio.
Três palavras, portanto, são importantes para cumprir meu contrato de risco com vocês:
'próximo', 'presente', 'transformação'. Para ter alguma chance de reencenar a maneira
correta de falar de coisas de religião — na tradição da Palavra, que é aquela em que
cresci —, preciso redirecionar a atenção de vocês, afastando-a de assuntos e domínios
supostamente pertencentes à religião, mas que poderiam tornar vocês indiferentes ou
hostis à minha maneira de falar. Devemos resistir a duas tentações, para que meu
argumento tenha a chance de representar alguma coisa — e seja, assim, verdadeiro. A
primeira tentação seria abandonar a 'transformação' necessária para que este ato de fala
funcione; a segunda seria desviar nossa atenção para o distante, em vez do próximo e
presente.
Para dizê-lo de modo simples, porém, espero, não demasiado provocativo: se, quando
ouvem falar de religião, vocês dirigem a atenção para o longínquo, o superior, o
sobrenatural, o infinito, o distante, o transcendente, o misterioso, o nebuloso, o sublime,
o eterno, é bem provável que não tenham sequer começado a ser sensíveis àquilo em
que a fala religiosa tenta envolvê-los. Lembrem-se de que estou usando o modelo da
interpelação amorosa, para falar de sentenças distintas mas que têm o mesmo espírito, o
mesmo regime de enunciação. Assim como as sentenças amorosas devem transformar os
ouvintes, tornando-os próximos e presentes, sob pena de serem nulas, os modos de
'falar religião' devem trazer o ouvinte e também o falante à mesma proximidade e ao
mesmo sentido renovado de presença — sob pena de serem menos que insignificantes.
Se vocês são atraídos pelo distante, em assuntos religiosos, pelo que é longínquo, cifrado
e misterioso, então estão perdidos, vocês literalmente se foram, não estão comigo,
permanecem ausentes em espírito. Tornam mentira aquilo que lhes dou a oportunidade
de ouvir novamente esta noite. Vocês entendem o que estou dizendo? O modo como o
digo? A tradição da Palavra que coloco em movimento mais uma vez?
A primeira tentativa de redirecionar a atenção de vocês é torná-los conscientes da
armadilha do que chamarei comunicação de duplo-clique. Se se recorre a um marco de
referência desse tipo para avaliar a qualidade do discurso religioso, ele fica sem sentido,
vazio, tedioso, repetitivo, exatamente como o discurso amoroso não-correspondido, e
pela mesma razão: pois como este, aquele não traz qualquer mensagem, mas
transporta, transforma os próprios emissores e receptores — ou, do contrário, falhará. E
no entanto, tal é, precisamente, o padrão de referência da comunicação de duplo-clique:
ela quer que acreditemos que é factível transportar, sem a menor deformação, uma
informação precisa qualquer sobre situações e coisas que não estão presentes aqui. Nos
casos mais ordinários, quando as pessoas perguntam "isso é verdade?", "isso
corresponde a alguma situação de fato?", o que têm em mente é uma espécie de ato ou
comando como o duplo-clique, que permita acesso imediato à informação; e é nisso que
se dão mal, porque é assim também que se falseiam os modos de falar que nos são mais
caros. O discurso religioso, ao contrário, busca justamente frustrar a tendência ao duploclique, desviá-la, rompê-la, subvertê-la, torná-la impossível. A fala religiosa, como a fala
amorosa, quer garantir que até mesmo os mais alheados, os mais distantes observadores
voltem a estar atentos, para que não percam seu tempo a ignorar o chamado à
conversão. Desapontar, em primeiro lugar. Desapontar: "Que tem essa geração, que
pede um sinal? Nenhum sinal lhe será dado!".
Transporte de informação sem deformação não é, não é de modo algum uma das
condições de felicidade do discurso religioso. Quando a Virgem ouve a saudação do anjo
Gabriel — assim narra a venerável história —, ela se transforma tão completamente, que
engravida e passa a trazer dentro de si o Salvador, que por sua agência se faz
novamente presente no mundo. Esse não é certamente um caso de comunicação de
duplo-clique! Por outro lado, perguntar "quem foi Maria", verificar se era ou não
'realmente' virgem, imaginar de que modo se impregnou de raios espermáticos, resolver
se Gabriel era macho ou fêmea, estas são perguntas duplo-clique. Elas querem que
vocês abandonem o tempo presente e que desviem a atenção do significado da história
venerável. Tais questões não são ímpias, nem mesmo irracionais — são apenas um erro
de categorização. São tão irrelevantes, que nem é necessário dar-se o trabalho de
respondê-las. Não porque conduzam a mistérios inconcebíveis, mas porque, com sua
idiotice, produzem mistérios desinteressantes e absolutamente inúteis. Elas devem ser
quebradas, interrompidas, anuladas, ridicularizadas — e mostrarei adiante de que modo
essa interrupção foi sistematicamente buscada numa das tradições iconográficas do
Ocidente cristão. A única maneira de compreender histórias como a da Anunciação é
repeti-las, isto é, pronunciar novamente a Palavra que produziu no ouvinte o mesmo
efeito, a saber, a que impregna vocês, pois é a vocês que me dirijo esta noite, é a vocês
que estou saudando, com a mesma dádiva, o mesmo presente da renovada presença.
Esta noite, sou para vocês Gabriel! — ou vocês não entendem uma palavra do que digo,
e então sou uma fraude...
Tarefa nada fácil — sei que fracassarei, estou fadado a fracassar: ao falar, desafio todas
as probabilidades. Porém minha questão é outra, porque é um pouco mais analítica:
quero que percebam o tipo de erro de categorização graças ao qual se produz a crença
na crença. Ou bem repito a primeira história, porque volto a narrá-la da mesma forma
eficiente como foi originalmente narrada, ou engancho uma estúpida questão referencial
em uma relativa à transferência de mensagens entre emissor e receptor, cometendo
assim mais que uma estupidez grosseira: estarei desse modo falsificando a venerável
história, distorcendo-a até torná-la irreconhecível. Paradoxalmente, ao formatar as
questões no leito de Procrusto da transferência de informação, visando chegar ao
significado 'exato' da história, eu a estarei deformando, transformando-a
monstruosamente numa crença absurda, no tipo de crença que faz a religião vergar-se
sob seu peso, até cair no monturo do obscurantismo do passado. O valor de verdade
daquelas histórias depende de nós, nesta noite, exatamente como a história inteira de
dois amantes depende da habilidade que tiverem em novamente re-encenar a injunção
do amor no minuto em que procuram um ao outro, no instante mais escuro de seu
estranhamento: se falham — tempo presente —, foi em vão — tempo pretérito — que
viveram tanto tempo juntos.
Notem que não me referi àquelas frases como irracionais nem desarrazoadas, como se a
religião tivesse de algum modo de ser protegida contra uma extensão irrelevante da
racionalidade. Quando Ludwig Wittgenstein escreve: "Quero dizer 'eles não tratam disso
como uma questão de razoabilidade'. Quem quer que leia as Epístolas verá que está dito:
não só não é razoável, mas é loucura. Não só não é razoável, mas não pretende sê-lo"2,
ele parece desentender profundamente o tipo de loucura sobre a qual escreve o
Evangelho. Longe de não pretender ser razoável, o Evangelho simplesmente aciona o
mesmo raciocínio comum e o aplica a uma espécie diferente de situação: não tenta
alcançar estados de coisas distantes, mas trazer os interlocutores para mais perto
daquilo que dizem um do outro. A suposição de que, para além do conhecimento racional
daquilo que é palpável, também exista uma espécie de crença desarrazoada e respeitável
em coisas por demais distantes para serem palpáveis me parece uma forma muito
condescendente de tolerância. Prefiro dizer que a racionalidade nunca é excessiva, que a
ciência não conhece fronteiras, e que não há absolutamente nada misterioso, ou mesmo
não-razoável, no discurso religioso — salvo os mistérios artificiais, produzidos, como
acabei de dizer, pelas indagações erradas, feitas no modo errado, na tonalidade errada,
às argumentações perfeitamente razoáveis que se aplicam à feitura de pessoas. Apoderarse de algo na fala e ser apanhado pela fala de alguém podem ser coisas bem diferentes,
mas para ambas é necessária a mesma bagagem básica — mental, moral, psicológica e
cognitiva.
Mais precisamente, devemos distinguir duas formas de mistério: uma referida a modos
comuns, complexos, sutis de enunciar a fala amorosa para que esta seja eficaz — e é
com efeito um mistério de aptidão, um jeito especial, como jogar bem tênis, como boa
poesia, boa filosofia, talvez alguma espécie de "maluquice" —, e outra totalmente
artificial, provocada pelo indevido curto-circuito entre dois regimes de enunciação
heterogêneos. A confusão entre os dois mistérios é que faz a voz tremer quando as
pessoas falam de religião, seja por não desejarem nenhum mistério — ótimo, não há
mesmo nenhum! — ou por acreditarem que estão diante de alguma mensagem críptica
que precisam decodificar através de uma chave esotérica que só os iniciados dominam.
Mas não há nada oculto, nada cifrado, nada esotérico, nada extravagante na fala
religiosa: ela é apenas difícil de realizar, apenas um pouco sutil, demanda exercício,
requer grande cuidado, pode salvar os que a enunciam. Confundir a fala que transforma
os mensageiros com a que transporta mensagens — crípticas ou não — não é prova de
racionalidade, é simplesmente uma idiotice, agravada pela impiedade. É tão idiota como,
digamos, uma mulher que, quando o companheiro lhe pede que repita se o ama ou não,
simplesmente aperte a tecla play de um gravador para provar que, cinco anos antes,
havia de fato dito "eu te amo, querido". Isso poderia com efeito provar algo, mas não,
decerto, que ela tenha presentemente renovado sua promessa de amor; é uma prova,
não se há de negar: prova de que ela é uma mulher leviana, desatenciosa e
provavelmente lunática.
Basta de comunicação de duplo-clique. As duas outras características — proximidade e
presença — são muito mais importantes para nosso propósito, pois nos levarão ao
terceiro termo de nossa série de conferências, a saber, a ciência*. É espantoso que a
maioria das pessoas, quando querem mostrar generosidade em relação à religião,
tenham de formulá-lo em termos de sua necessária irracionalidade. Eu de certo modo
prefiro aqueles que, como Pascal Boyer, francamente tentam explicar a religião — para
livrar-se dela — apontando as localizações cerebrais e o valor de sobrevivência de
algumas de suas extravagâncias mais bárbaras3. Sempre me sinto mais à vontade diante
de argumentos puramente naturalísticos do que dessa espécie de tolerância hipócrita que
segrega e circunscreve a religião como uma forma de disparate especializado na
transcendência e em sentimentos íntimos reconfortantes. Alfred North Whitehead, a meu
ver, deu cabo daqueles que querem da religião que "embeleze a alma" com um belo
mobiliário (cf. Whitehead 1926). A religião, na tradição que eu gostaria de tornar
novamente presente, nada tem a ver com subjetividade, nem com transcendência, nem
com irracionalidade, e a última coisa de que ela necessita é a tolerância dos intelectuais
abertos e caridosos, que querem acrescentar aos fatos da ciência — verdadeiros, porém
secos — o profundo e encantador 'suplemento de alma' provido por pitorescos
sentimentos religiosos.
Aqui, temo que terei de discordar da maioria, se não de todos os conferencistas
anteriores sobre o confronto ciência-religião, que falam como diplomatas de Camp David
traçando linhas em mapas dos territórios de Israel/Palestina. Todos tentam resolver o
conflito como se houvesse um único domínio, um só reino para dividir em dois ou,
seguindo essa terrível similaridade com a Terra Santa, como se duas 'reivindicações
igualmente válidas' devessem consolidar-se lado a lado, uma relativa ao que é natural,
outra ao sobrenatural. E alguns conferencistas, como os mais extremistas zelotes de
Jerusalém e Ramala — o paralelo é assombroso —, rejeitam os esforços dos diplomatas,
querendo reivindicar toda a terra para si, e empurrar as hostes religiosas e
obscurantistas para além do rio Jordão ou, inversamente, afogar as dos naturalistas no
mar Mediterrâneo... Julgo que tais questões — se há um domínio ou dois, se há
hegemonia ou paralelismo, se a relação é polêmica ou pacífica — são igualmente
controversas por uma razão que toca no coração do problema: todas supõem que ciência
e religião têm reivindicações similares, porém divergentes, à posse e colonização de um
território — seja deste mundo ou do outro. Acredito, ao contrário, que não há ponto de
contato entre os dois, não mais que qualquer competição ecológica direta entre,
digamos, rãs e rouxinóis.
Não estou afirmando que ciência e religião sejam incomensuráveis em virtude do fato de
que uma apreende o mundo visível objetivo do "aqui", enquanto a outra apreende o
mundo invisível subjetivo ou transcendente do além; afirmo que mesmo essa
incomensurabilidade seria um erro de categorização. Pois nem a ciência nem a religião se
enquadram nessa perspectiva, que as colocaria face a face, e não mantêm entre si
relações bastantes sequer para fazê-las incomensuráveis. Nem a religião nem a ciência
estão muito interessadas no que é visível: é a ciência que apreende o longínquo e o
distante; quanto à religião, ela nem mesmo tenta apreender alguma coisa.
Ciência e religião: uma comédia de erros
Meu argumento poderia a princípio parecer contra-intuitivo, já que intento recorrer
simultaneamente ao que aprendi com os estudos de antropologia da ciência sobre a
prática científica e àquilo que espero que vocês tenham experimentado esta noite, ao
reenquadrar a fala religiosa com ajuda do argumento amoroso. A religião nem mesmo
tenta — se vocês me acompanharam até agora — alcançar qualquer coisa que esteja
além, mas sim representar a presença daquilo que é designado, em determinado
linguajar técnico e ritual, a 'palavra encarnada' — ou seja, dizer novamente que ela está
aqui, viva, e não morta nem distante. Não tenta designar algo, mas falar a partir do novo
estado que ela produz por sua maneira de dizer, seus modos de discurso. A religião,
nessa tradição, tudo faz para redirecionar constantemente a atenção, obstando
sistematicamente à vontade de se afastar, de ignorar, de se ficar indiferente ou blasé,
entediado. A ciência, inversamente, nada tem a ver com o visível, o direto, o imediato, o
tangível, o mundo vivido do senso comum e dos "fatos" robustos e obstinados. Bem ao
contrário, como diversas vezes mostrei, ela constrói caminhos extraordinariamente
longos, complicados, mediados, indiretos e sofisticados, através de camadas
concatenadas de instrumentos, cálculos e modelos, para ter acesso a mundos — como
William James, insisto no plural — que são invisíveis por serem demasiadamente
pequenos, distantes, poderosos, grandes, estranhos, surpreendentes, contra-intuitivos.
Apenas por meio de redes de laboratórios e instrumentos é possível obter aquelas longas
cadeias referenciais que permitem maximizar os dois aspectos contrários de mobilidade
(ou transporte) e imutabilidade (ou constância) que constituem, ambos, a in-formação —
aquilo que chamei, por essa razão, 'móveis imutáveis'.
E notem aqui que a ciência em ação, a ciência tal como é feita na prática, é ainda mais
afastada da comunicação do duplo-clique do que a religião: distorção, transformação,
recodificação, modelagem, tradução, todas essas mediações radicais são necessárias
para produzir informação acurada e confiável. Se a ciência fosse informação sem
transformação, como quer o bom senso comum, os estados de coisas mais distanciados
do aqui e agora continuariam para nós em completa obscuridade. A comunicação de
duplo-clique faz menos justiça à transformação da informação nas redes científicas do
que à estranha habilidade que têm, na religião, alguns atos de fala em transformar os
locutores.
Que comédia de erros! Quando o debate entre ciência e religião é encenado, os adjetivos
sofrem uma inversão quase perfeita: é da ciência que se deve dizer que alcança o mundo
invisível do além, que é espiritual, milagrosa, que sacia e edifica a alma4. E é a religião
que deve ser qualificada como local, objetiva, visível, mundana, não-milagrosa,
repetitiva, obstinada, de robusta compleição.
Na tradicional fábula da corrida entre a lebre científica e a tartaruga religiosa, duas coisas
são inteiramente irreais: a lebre e a tartaruga. A religião nem mesmo tenta correr para
conhecer o além; procura, sim, quebrar todos os hábitos de pensamento que dirigem
nossa atenção para o longínquo, o ausente, o sobremundo, a fim de conduzi-la de volta
ao encarnado, à presença renovada daquilo que fora incompreendido e distorcido,
mortal, daquilo do qual se diz ser 'o que foi, o que é, o que será', em direção àquelas
palavras que trazem a salvação. A ciência nada apreende de modo direto e preciso; ela
adquire lentamente sua precisão, sua validade, sua condição de verdade, no longo,
arriscado e doloroso desvio que passa pelas mediações de experimentos — não de
experiências —, de laboratórios — não o senso comum —, de teorias — não a
visibilidade; e se ela é capaz de obter a verdade, é ao preço de transformações
espantosas que se dão na passagem de um meio ao seguinte. Portanto, a simples
montagem de um palco onde o sério e profundo problema da "relação entre ciência e
religião" se desenrolaria já é uma impostura, para não dizer uma farsa, que distorce
ciência e religião, religião e ciência, para além de toda possibilidade de reconhecimento.
O único protagonista que sonharia com a tola idéia de encenar uma corrida entre lebre e
tartaruga, de opô-las a fim de decidir quem domina quem — ou de inventar acordos
diplomáticos ainda mais bizarros entre os dois personagens —, o único animador de
semelhante circo é a comunicação de duplo-clique. Só ela, com sua extravagante idéia de
um transporte sem transformação e que alcança estados ou situações distantes, só ela
poderia sonhar com tal confrontação, distorcendo tanto a prática cuidadosa da ciência
quanto a repetição cuidadosa da fala religiosa personificadora. Só ela consegue tornar
ambas, ciência e religião, incompreensíveis: primeiro, ao distorcer o acesso mediado e
indireto que, pelo duro labor dos cientistas, a ciência tem ao mundo invisível,
apresentando-o, ao contrário, como uma simples, direta e não-problemática apreensão
do visível; e a seguir, falseando a religião, forçando-a a abandonar o objetivo de
representar renovadamente aquilo de que fala, e fazendo-nos alheadamente olhar na
direção do mundo invisível do além, que ela não tem recursos, nem competência, nem
autoridade, nem capacidade para alcançar — e muito menos para apreender. Sim, uma
comédia de erros... triste comédia, que tornou quase impossível adotar o racionalismo, já
que isso significaria ignorar o funcionamento da ciência, mais ainda do que os objetivos
da religião.
Dois modos distintos de conectar enunciados
Os dois regimes de invisiblidade, tão distorcidos pela evocação do sonho de uma
comunicação instantânea e não mediada, podem ficar mais claros se recorrermos a
documentos visuais. Minha idéia, como espero que já esteja evidente, é deslocar o
ouvinte, trazê-lo da oposição entre ciência e religião para uma outra, entre dois tipos de
objetividade. A luta tradicional jogava a ciência, definida como apreensão do visível, do
próximo, do adjacente, do impessoal, do cognoscível, contra a religião, que
supostamente lidaria com o distante, o vago, o misterioso, o pessoal, o incerto e o
incognoscível.
Quero substituir essa oposição, que a meu ver é um artefato, por esta: de um lado, as
longas e mediadas cadeias referenciais da ciência, que levam ao distante e ao ausente, e
de outro, a busca da representação do que é próximo e presente na religião. Já mostrei,
em outras oportunidades, que a ciência não é absolutamente uma forma de ato de fala
que tenta transpor o abismo entre as palavras e "o" mundo — no singular. Isso
equivaleria ao salto mortale tão ridicularizado por James; na verdade a ciência, tal como
é praticada, seria mais propriamente uma tentativa de deambular — novamente, uma
expressão de James — de uma inscrição a outra, tomando cada uma delas a cada vez,
como a matéria da qual se extrai uma forma. 'Forma', aqui, deve ser entendida muito
literalmente, muito materialmente: é o papel em que você coloca a 'matéria' do estágio
imediatamente anterior.
Já que exemplos sempre ajudam a tornar visível o caminho invisível traçado pela ciência
no pluriverso, tomemos o caso do laboratório de Jean R., em Paris, onde se procura obter
informação sobre os fatores que disparam um único neurônio isolado. Obviamente, não
existe um modo direto, não mediado e não artificial de tomar um neurônio, dentre os
bilhões que compõem a massa cinzenta, e torná-lo visível. Assim, é preciso começar com
ratos, que primeiro são guilhotinados, para terem os cérebros extraídos e cortados em
finas seções graças ao micrótomo; cada uma destas é, a seguir, preparada de modo a
ficar viva por algumas horas, colocada sob um potente microscópio e, então, com a ajuda
de um monitor de televisão, uma microsseringa e um microeletrodo são inseridos
delicadamente em um dos neurônios que o microscópio pode pôr em foco, dentre os
milhões que estão simultaneamente a disparar — e essa operação pode falhar, pois focar
um neurônio e pôr a microsseringa em contato justamente com ele para capturar os
neurotransmissores enquanto se registra sua atividade elétrica é um um feito de que
poucos são capazes; a seguir, a atividade é registrada, as substâncias químicas liberadas
pela atividade neuronal são recolhidas na pipeta, e o resultado é transformado em um
artigo que apresenta sinopticamente aquelas várias inscrições. A despeito de todo o
interesse do processo pelo qual os neurônios disparam, não pretendo falar sobre ele, mas
apenas chamar a atenção de vocês para o movimento, o salto entre uma inscrição e a
seguinte.
É claro que, sem a artificialidade do laboratório, nenhum desses caminhos através das
inscrições — cada uma servindo de matéria para a seguinte, que lhe dá nova forma —
poderia produzir um fenômeno visível. A referência, a operação de referir, não é o gesto
de um locutor, que aponta com o dedo para um gato a ronronar sobre o capacho, mas
um negócio muito mais arriscado, um caso bem mais impuro, que conecta literatura
publicada — fora do laboratório — a mais literatura publicada — pelo laboratório —
através de muitas intermediações, uma das quais, claro, é a dos ratos, esses heróis não
celebrados de tanta biologia.
O que quero dizer é que essas cadeias referenciais têm características contraditórias
muito interessantes: constituem nossa melhor fonte de objetividade e certeza, e no
entanto são artificiais, indiretas, folheadas. Não há dúvida de que a referência é precisa;
essa precisão, porém, não é dada por nenhum par de coisas mimeticamente semelhantes
entre si, mas, ao contrário, por toda uma cadeia de habilíssimas transformações
artificiais. Enquanto a cadeia permanece íntegra, o valor de verdade da referência em
seu conjunto permanece calculável. Mas se uma inscrição é isolada, se uma imagem é
extraída, se o quadro da trajetória contínua de transformações é congelado, a qualidade
da referência imediatamente decai. Isoladamente, uma imagem científica não tem valor
de verdade, embora possa desencadear, na filosofia mítica da ciência que é usada pela
maioria das pessoas, uma espécie de referente-fantasma que será tomado, numa espécie
de ilusão de ótica, por modelo da cópia — ainda que não seja senão a imagem virtual de
uma 'cópia' isolada!
Isso, a propósito, prova que os fatos, os famigerados fatos que alguns filósofos supõem
ser a substância de que é feito o mundo visível do senso comum, não são, afinal, mais
que um equívoco a respeito do processo artificial — porém produtivo — da objetividade
científica: aquilo que foi descarrilado com o congelamento de uma sucessão referencial
de quadros. Não há nada de primitivo ou primevo nos fatos, eles não são o fundamento
das percepções5. É portanto inteiramente desencaminhador tentar adicionar às questões
de fato algum tipo de estado de coisas subjetivo que possa ocupar a mente dos que
crêem.
Embora parte do que eu disse aqui demasiado rapidamente possa ainda ser motivo de
controvérsia, é necessário que eu o tome como pano de fundo não contestado, pois
quero usá-lo para lançar nova luz sobre o regime religioso da invisibilidade. Assim como
há um equívoco sobre o caminho descrito pela deambulação das mediações científicas,
há, penso, um desentendimento comum do percurso traçado pelas imagens religiosas6.
Tradicionalmente, no cristianismo, a defesa dos ícones religiosos tem consistido em
afirmar que a imagem não é o objeto de uma 'latria' — como em idolatria — mas de uma
'dulia', termo grego com o qual se diz que o fiel, diante da cópia — uma Virgem, um
crucifixo, uma estátua de santo —, tem o espírito voltado para o protótipo, o original
unicamente digno de adoração. Essa, no entanto, é uma defesa que nunca chegou a
convencer os iconoclastas platônicos, bizantinos, luteranos ou calvinistas — para não
falarmos no mulá talibã Mohammad Omar, que fez passar pelas armas os Budas de
Bamiyan, no Afeganistão.
Com efeito, o regime cristão de invisibilidade é tão distinto dessa débil defesa tradicional
quanto a trajetória referencial científica está distante dos glorificados 'fatos'. O que a
iconografia tentou realizar em incontáveis proezas artísticas é o exato oposto de dirigir o
olhar para o modelo distante: ao contrário, despenderam-se esforços incríveis para
deflectir o olhar habitual do espectador e atrair sua atenção para o estado presente, o
único de que se pode afirmar que oferece salvação. Tudo se passa como se pintores,
entalhadores e patronos de obras de arte tivessem tentado quebrar as imagens
internamente, a fim de torná-las inadequadas ao consumo informativo normal; como se
eles quisessem principiar, ensaiar, iniciar um ritmo, um movimento de conversão que se
compreende apenas quando o espectador — o espectador devoto — toma a si repetir a
mesma melodia, no mesmo ritmo e andamento. É a isso que, com meu colega Joseph
Koerner, chamo 'iconoclasmo interior': comparado a este, o iconoclasmo 'exterior' parece
sempre ingênuo e inócuo — para não dizer, redondamente tolo (ver Koerner 2002).
Uns poucos exemplos bastarão. Nesse afresco de Fra Angelico no convento de São
Marcos, em Florença, o pintor utilizou múltiplos recursos para complicar nosso acesso
direto ao tópico: não só o túmulo está vazio — num primeiro momento, uma grande
decepção para as mulheres —, como também o dedo do anjo aponta na direção de uma
aparição do Cristo ressurrecto que não é diretamente visível para elas, pois resplandece
às suas costas. Que pode ser mais desapontador e surpreendente do que a declaração do
anjo: "Ele não está aqui, ele ressuscitou"? Tudo, nesse afresco, diz respeito ao vazio da
apreensão usual. No entanto, não é sobre o vazio, como se a atenção da pessoa fosse
orientada para o nada; ao contrário, faz-nos retornar à presença da presença: mas para
isso não devemos olhar para a pintura, nem para o que a pintura sugere, e sim para o
que nos está presente agora. Como podem um evangelista e, a seguir, um pintor como o
frei Angelico tornar mais vívido, novamente, o redirecionamento da atenção? "Vocês
estão olhando no lugar errado... vocês não entenderam as Escrituras". E, se formos
bastante estúpidos para deixar escapar a mensagem, um monge, colocado à esquerda —
e que representa o ocupante da cela —, servirá de legenda para toda a história; legenda,
no sentido etimológico, isto é: nos mostrará como devemos ver. O que ele vê?
Absolutamente nada, não há nada a ser visto aí; mas vocês devem olhar aqui, através do
olho interno da piedade, para aquilo que o afresco supostamente significa: alhures, não
num túmulo, não entre os mortos, mas entre os vivos (ver figura 1).
Mais bizarro ainda é o caso, estudado por Louis Marin, de uma Anunciação pintada por
Piero della Francesca, em Perúgia (cf. Marin 1989). Se reconstruímos o quadro na
realidade virtual — e Piero foi tão grande mestre nessa primeira matematização do
campo visual, que podemos fazê-lo com exatidão, usando computadores —, percebemos
que o anjo realmente está invisível para a Virgem! Ele — ou ela? — está oculto pela
coluna! E isso, tratando-se de um mestre como ele, não pode ser simplesmente um
descuido. Piero empregou a poderosa ferramenta da perspectiva e recodificou sua
interpretação do que é um anjo invisível, de modo a tornar impossível o ponto de vista
banal, usual, trivial, de que se trata aqui de um mensageiro comum que encontra a
Virgem no espaço normal das interações diárias. Mais uma vez, a idéia é evitar, tanto
quanto possível, o transporte normal de mensagens, mesmo ao empregar o novo e
fabuloso espaço de visibilidade e cálculo inventado pelos pintores e cientistas do
Quattrocento — esse mesmo espaço que será tão poderosamente utilizado pela ciência
para a multiplicação daqueles móveis imutáveis que acabo de definir. A meta não é
acrescentar um mundo invisível ao visível, mas distorcer, opacificar o mundo visível até
que não se possa ser levado a desentender as Escrituras, e sim a re-encená-las
fielmente.
Não houve, entre os que retrataram o desapontamento do visível sem simplesmente
acrescentar mais um mundo do invisível (o que seria uma contradição em termos), pintor
mais astucioso que Caravaggio. Na sua famosa versão do episódio dos peregrinos de
Emaús, que não entendem, num primeiro momento, que estão viajando na companhia do
Salvador ressuscitado, e só vêm a reconhecê-lo quando ele reparte o pão à mesa da
taverna, Caravaggio re-produz na pintura essa mesma invisibilidade, apenas com uma
réstia de luz — toque de tinta — que redireciona a atenção dos peregrinos quando eles
subitamente percebem aquilo que tinham de ver. E, por certo, toda a idéia de pintar tal
encontro sem acrescentar-lhe nenhum evento sobrenatural é a de redirecionar a atenção
de quem olha a pintura; o espectador de súbito percebe que nunca verá mais que esses
pequenos intervalos e rupturas, esses traços de pincel, e que a realidade para a qual
deve voltar-se não está ausente na morte — como os peregrinos vinham discutindo ao
longo do caminho até o albergue —, e sim presente, agora, em sua plena e velada
presença. A idéia não é afastar nosso olhar desse mundo e voltá-lo para um outro mundo
do além, mas sim perceber-realizar finalmente, diante dessa pintura, esse milagre de
compreensão: o que está em questão nas Escrituras agora se realizou, foi percebido
agora, entre pintor, espectadores e patronos, entre vocês: vocês não compreenderam as
Escrituras? Ele ressuscitou — por que olham para a distância e a morte? Está aqui,
novamente presente. "Eis por que ardia nosso coração enquanto ele nos falava".
A iconografia cristã, em todas as suas formas, mostrou-se obcecada por essa questão de
representar renovadamente aquilo de que ela trata, e de garantir visualmente que não
haja incompreensão da mensagem transmitida, que no ato de fala esteja realmente em
questão um emissor ou receptor em transformação, e não uma mera transferência de
mensagem incorretamente endereçada. No tema venerável e algo ingênuo da missa de
São Gregório — banido após a Contra-Reforma —, o argumento parece muito menos
elaborado do que em Caravaggio, mas é disposto com a mesma intensidade sutil. O papa
Gregório, segundo consta, viu subitamente, quando celebrava missa, a hóstia e o vinho
substituídos tridimensionalmente pelo real corpo do Cristo com todos os instrumentos da
Paixão. A presença real está aqui representada ainda outra vez, e pintada em duas
dimensões pelo artista, para comemorar esse ato de re-entendimento pelo papa, ao
realizar — também no sentido inglês de 'perceber' — aquilo que o venerável ritual
significava.
Após a Reforma, essa visualização um tanto sangrenta se tornará repulsiva para muitos;
mas o ponto que quero ressaltar é que cada um desses quadros, não importa quão
sofisticado ou naïf, canônico ou apócrifo, sempre transmite uma dupla injunção. Ela
primeiramente tem a ver com o tema que todos eles ilustram, e a maioria dessas
imagens, como a fala amorosa com a qual comecei, é repetitiva e chega, não raro, a ser
entediante — a ressurreição, o encontro de Emaús, a missa gregoriana. Mas há uma
segunda injunção que também é transmitida: ela atravessa a tediosa repetição do tema e
nos força a recordar aquilo que é a compreensão da presença que a mensagem carrega.
Essa segunda injunção equivale ao tom, à tonalidade de que nos conscientizamos na
conversa de amor: original não é o que a pessoa diz, mas o movimento que renova a
presença através de antigos dizeres.
Amantes, pintores religiosos e patronos da arte devem cuidar para que o modo usual da
fala adquira determinada vibração, se querem estar seguros de que seus interlocutores
não se deixarão distraidamente levar para longe, no espaço e no tempo. É exatamente
isso que acontece subitamente ao pobre Gregório: durante a repetição do ritual, ele é
repentinamente atingido pelo próprio ato de fala que transforma a hóstia no corpo de
Cristo, pela percepção-realização das palavras sob a forma de um Cristo sofredor. O erro
seria pensar que essa é uma imagem ingênua que apenas papistas retrógrados poderiam
levar a sério: bem ao contrário, é uma sofisticadíssima versão do que é estar novamente
cônscio da real presença de Cristo na missa. Mas, para isso, a pessoa deve ouvir as duas
injunções simultaneamente. Essa não é a pintura de um milagre, embora também o seja:
antes, essa pintura também diz o que é compreender a palavra 'milagre' literalmente e
não no sentido habitual, blasé, da palavra — e 'literal' aqui não significa o oposto de
espiritual, mas de ordinário, alheado, indiferente.
Mesmo um artista brilhante como Philippe de Champaigne, em meados do século XVII,
ainda procurava garantir que espectador nenhum ignorasse que repetir o rosto de Cristo
— literalmente imprimi-lo num véu — não devia ser confundido com mera fotocópia (ver
figura 2). Essa meditação extraordinária sobre o que é ocultar e repetir nos é revelada
pela presença de três distintos tecidos: aquele de que se fez a tela, duplicado pelo tecido
daquilo que é designado como verônica, triplicado por outro véu, uma cortina, esta num
trompe l'oeil que poderia dissimular a relíquia com um simples movimento de mão, se
fôssemos tolos a ponto de nos equivocarmos quanto ao seu significado. Que magnífico,
chamar vera icona — 'imagem verdadeira', em latim** — àquilo que é precisamente um
quadro falso, três vezes velado: tanto é impossível tomá-lo como fotografia, que, por um
milagre de reprodução, é um positivo e não um negativo do rosto de Cristo que se
apresenta ao espectador — e aqueles artistas, pintores e gravadores sabiam tudo sobre
positivo e negativo; portanto, novamente, como no caso de Piero, não pode tratar-se de
um descuido. Mas não há dúvida de que este é — se posso usar tal metáfora — um 'falso
positivo', uma vez que a vera icona, o quadro verdadeiro, é, precisamente, uma
reprodução, mas não do significado referencial do mundo, e sim uma reprodução no
sentido re-presentacional da palavra: "Atenção! Prestem atenção! ver o rosto de Cristo
não é procurar por um original, por uma verdadeira cópia referencial que transportaria
vocês de volta ao passado, de volta a Jerusalém, mas mera superfície de pigmento
gretado, com um milímetro de espessura, que começa a indicar de que modo vocês
mesmos, agora, nesta instituição de Port Royal, devem olhar seu Salvador". Embora esse
rosto pareça tão diretamente olhar-nos de volta, ele é ainda mais oculto e velado que o
de Deus, que recusou revelar-se a Moisés. Mostrar e ocultar é o que faz a verdadeira
reprodução, com a condição de que seja uma falsa reprodução pelos padrões das
fotocópias, impressoras e da comunicação duplo-clique. Mas o que está oculto não é uma
mensagem sob a primeira, uma informação esotérica dissimulada em informação banal, e
sim um tom, uma injunção para que você, o espectador, redirecione sua atenção,
afastando-a do que está morto e devolvendo-a para o que vive.
Eis por que haverá sempre alguma sensação de incerteza quando uma imagem cristã for
destruída ou mutilada (ver figura 3). Essa Pietà foi certamente quebrada por algum
fanático, não sabemos se durante a Reforma ou durante a Revolução — não faltaram
desses episódios na França. Mas quem quer que tenha sido, certamente nunca percebeu
quanta ironia podia haver em acrescentar uma destruição exterior à destruição interior
que a estátua em si tão bem representou: o que é uma Pietà, senão a imagem da Virgem
com o coração partido, amparando em seu regaço o cadáver partido de seu filho, que é a
imagem partida de Deus seu pai — embora, como a Escritura cuida de dizer, "nenhum de
seus ossos tenha sido quebrado"? Como se pode destruir uma imagem já a tal ponto
destruída? Como é possível querer erradicar a crença numa imagem que já desapontou
todas as crenças, a ponto de Deus em pessoa, o Deus do superior e do transcendente,
jazer aqui, morto, no colo da mãe? Quem poderá ir mais fundo, na crítica de todas as
imagens, do que já está explicitamente afirmado pela teologia? Não seria antes o caso de
argumentar que o iconoclasta exterior não faz mais que acrescentar um ato ingênuo e
superficial de destruição a um ato de destruição extraordinariamente profundo? Quem é
mais ingênuo: aquele que esculpiu a Pietà da 'kenósis' de Deus***, ou aquele que
acredita haver crentes bastante ingênuos para atribuírem existência a uma mera
imagem, em lugar de espontaneamente voltarem o olhar para o Deus original? Quem vai
mais longe? Provavelmente aquele que diz não haver nenhum original.
Como continuar o movimento dos enunciados geradores de
verdades?
Um modo de resumir meu argumento, como conclusão, é dizer que provavelmente
estivemos equivocados em defender as imagens por seu apelo a um protótipo, ao qual
elas simplesmente aludiam; no entanto foi essa, como mostrei acima, sua defesa
tradicional. A iconofilia nada tem com voltar o olhar para um protótipo, numa espécie de
ascensão gradual e platonística. A iconofilia consiste, mais propriamente, em continuar o
processo iniciado por uma imagem, num prolongamento do fluxo de imagens. São
Gregório dá continuidade ao texto da Eucaristia quando vê o Cristo em seu corpo real e
não simbólico; e o pintor prossegue o milagre, quando pinta a representação num quadro
que nos faz recordar o que significa realmente compreender aquilo de que fala esse texto
antigo e misterioso; e eu, hoje, agora, continuo a continuação pictural da história,
reinterpretando o texto, se através do uso de diapositivos, de argumentos, de inflexões
da voz, de qualquer coisa que esteja à mão, torno vocês novamente cônscios do que é
compreender aquelas imagens sem buscar um protótipo, e sem distorcê-las em meros
veículos de transferência de informação. Iconoclastia ou iconolatria, portanto, nada mais
é do que congelamento do quadro, interrupção do movimento da imagem e o isolamento
desta, sua retirada dos fluxos de imagens renovadas, em função da crença de que a
imagem tem, em si mesma, um significado — e visto que ela não o tem, uma vez
isolada, então deve ser destruída sem piedade.
Ignorando a fluência característica da ciência e da religião, transformamos a questão das
relações entre elas numa oposição entre 'conhecimento' e 'crença', oposição que então
julgamos necessário superar, ou resolver polidamente, ou ampliar violentamente. O que
sustentei nesta conferência é bem diferente: a crença é uma caricatura da religião,
exatamente como o conhecimento é uma caricatura da ciência. A crença é modelada por
uma falsa idéia de ciência, como se fosse possível propor a pergunta "você acredita em
Deus?" segundo o mesmo modelo de "você acredita no aquecimento global?". Ocorre que
a primeira questão não traz nenhum dos instrumentos que permitiriam o prosseguimento
da referência, e que a segunda conduz o locutor a um fenômeno ainda mais invisível do
que Deus ao olho desarmado, uma vez que para chegar a ele devemos viajar por
imagens de satélite, simulação computacional, teorias de instabilidade da atmosfera
terrestre, química da alta estratosfera... Crença não é questão de um quaseconhecimento e mais um salto de fé para ir além; conhecimento não é uma questão de
quase-crença, a que supostamente podemos responder se olharmos diretamente para as
coisas próximas, ao nosso alcance.
Na fala religiosa há de fato um salto de fé, mas este não é um salto mortal de acrobacia,
que visa superar a referência por meios mais ousados e arriscados; é uma acrobacia,
sim, mas que tem por objetivo pular e dançar na direção do que é próximo e presente,
redirecionar a atenção, afastando-a do hábito e da indiferença, preparar a pessoa para
que seja tomada novamente pela presença que quebra a passagem usual e habitual do
tempo. Quanto ao conhecimento, ele não é uma apreensão direta do ordinário e do
visível, contra todas as crenças na autoridade; é, sim, uma extraordinária confiança —
ousada, complexa e intrincada — em cadeias progressivamente articuladas e inclusivas
de transformações de documentos, as quais, por muitos tipos distintos de provas,
conduzem além, para novos tipos de visões, e assim nos obrigam a romper com as
intuições e preconceitos do senso comum. A crença é simplesmente irrelavante para
qualquer ato de fala religioso; o conhecimento não é um modo preciso de caracterizar a
atividade científica. Poderíamos avançar um pouco, se designássemos como fé o
movimento que nos traz para o próximo e o presente, e mantivéssemos a palavra crença
para essa mistura necessária de confiança e desconfiança com que temos necessidade de
considerar todas as coisas que não podemos ver diretamente. A diferença entre ciência e
religião não se encontraria, portanto, nas competências mentais diversas associadas a
dois reinos distintos — a 'crença', aplicada a vagos assuntos espirituais, e o
'conhecimento', às coisas diretamente observáveis —, mas na aplicação de um mesmo
amplo conjunto de competências a duas cadeias de mediadores que vão em duas
direções distintas. A primeira cadeia leva ao que simplesmente está por demais
longínquo e é por demais contra-intuitivo para que possa ser diretamente apreendido —
ou seja, a ciência. A segunda cadeia, a religiosa, também leva ao invisível, porém o que
ela atinge não é invisível por estar oculto, cifrado e distante, mas apenas por ser dificil de
renovar.
O que quero dizer é que, tanto no caso da ciência quanto no da religião, congelar o
quadro, isolar um mediador dos seus encadeamentos, de sua série, impede
instantaneamente que o significado seja modulado e transmitido em verdade. A verdade
não se encontra na correspondência — seja entre as palavras e as coisas, no caso da
ciência, ou entre original e cópia, no caso da religião —, mas em tomar a si novamente a
tarefa de continuar o fluxo, de prolongar em um passo a mais a cascata das mediações.
Meu argumento é que em nossa atual economia de imagens talvez tenhamos cometido
um ligeiro equívoco em relação ao segundo mandamento de Moisés e faltado ao respeito
com os mediadores. Deus não pediu que não fizéssemos imagens — de que mais
dispomos para produzir objetividade, para gerar piedade? æ; ele disse que não
congelássemos a imagem, que não isolássemos um quadro retirando-o do fluxo que, só
ele, empresta-lhes, às imagens, seu real — repetidamente representado,
recorrentemente reparado e realizado — sentido.
Muito provavelmente, terei falhado em estender para vocês, nesta noite, nesta mesma
sala, esse fluxo, essa cascata de mediadores. Se é assim, então menti, então não estive
a falar no modo religioso, não fui capaz de pregar, e simplesmente falei sobre religião,
como se houvesse um domínio de crenças específicas, ao qual uma pessoa pudesse
vincular-se por alguma espécie de apreensão referencial. Esse teria sido um erro não
menor que o do amante que, ouvindo a pergunta "você me ama?", respondesse: "eu já
te disse que sim há tanto tempo, por que perguntar novamente?". Por quê? Porque não
adianta haver dito no passado, se você não pode mais uma vez, agora, dizê-lo, e tornarme novamente vivo para você, de novo próximo e presente. Por que haveria alguém de
pretender falar religião, senão para salvar-me, converter-me, no ato?
Notas
* No espírito do argumento do autor, o texto aqui publicado mantém sua forma original
de conferência. A versão original em inglês será publicada em 2005 pela Oxford
University Press, na coletânea Science, Religion, and the Human Experience (organizada
por James D. Proctor), que traz os textos da série homônima de conferências ministradas
na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara em 2001-2003 (ver
http://www.srhe.ucsb.edu/).
1 Para uma extensão desse argumento e de sua demonstração prática, ver Latour 2002.
Transitei em torno dessas questões em Latour 1998 e em Latour 2002. Para uma
investigação sobre o pano de fundo da comparação entre ciência e religião, ver Latour e
Weibel 2002.
2 Citado por Putnam em sua conferência ["The Depths and Shallows of Experience",
conferência de Hillary Putnam, parte da mesma série em que esta de Latour foi
pronunciada].
3 Ver a conferência de Boyer ["Gods, Spirits and the Mental Instincts that Create Them",
nesta mesma série] e seu livro Religion Explained (Boyer 2001). A teologia evolucionária
compartilha com a velha teologia natural do século XVIII a admiração pelo 'ajustamento
maravilhoso' do mundo. Não importa muito se isso leva a uma admiração pela sabedoria
de Deus ou da Evolução, pois em ambos os casos é essa admirável conformidade que
provoca a impressão de que uma explanação foi oferecida. Darwin, está claro, destruiria
a velha teologia natural tanto quanto esta outra teologia natural baseada na evolução:
não há conformidade, nenhuma adaptação sublime, nenhum ajuste maravilhoso. Mas os
novos teólogos naturais não perceberam que Darwin desmantelou a igreja deles ainda
mais rapidamente do que a daqueles predecessores que eles tanto desprezam.
4 Na pena de William James, a ciência aparece no feminino, ele a designa por she, em
vez do neutro usual em inglês, it — bela prova de correção política avant la lettre...
5 Para um argumento bem mais desenvolvido sobre visualização na ciência, ver Galison
1997; Jones e Galison 1998; e Latour e Weibel 2002.
6 Para o conjunto do que se segue, ver o catálogo da exposição Iconoclash. Beyond the
science wars in science, religion and art (Latour e Weibel 2002).
Referências bibliográficas
BOYER, Pascal. 2001. Religion explained: the human instincts that fashion gods, spirits
and ancestors. London: William Heinemann.
GALISON, Peter. 1997. Image and logic. A material culture of microphysics. Chicago: The
University of Chicago Press.
JONES, Carrie e GALISON, Peter (orgs.). 1998. Picturing science, producing art. London:
Routledge.
KOERNER, Joseph. 2002. "The Icon as Iconoclash". In: B. Latour e P. Weibel, Iconoclash:
beyong the image wars in science, religion and art. Cambridge, Mass.: MIT Press. pp.
164-214.
LATOUR, Bruno. 1998. "How to be Iconophilic in Art, Science and Religion?" In: C. Jones
e P. Galison (orgs.), Picturing science, producing art. London: Routledge. pp. 418-440.
___ . 1999. Pandora's hope. Essays on the reality of science studies. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press.
___ . 2002a. "Thou shall not take the Lord's name in vain — being a sort of sermon on
the hesitations of religious speech". Res, 39:215-235.
___ . 2002b. Jubiler ou les tourments de la parole religieuse. Paris: Les Empêcheurs de
penser en rond.
___ e WEIBEL, Peter (org.). 2002. Iconoclash: beyond the image wars in science, religion
and art. Cambridge, Mass.: MIT Press.
MARIN, Louis. 1989. Opacité de la peinture. Essais sur la représentation. Paris: Usher.
WHITEHEAD, Alfred North. 1926. Religion in the making. New York: Fordham University
Press.
Recebido em 9 de fevereiro de 2004
Aprovado em 10 de março de 2004
Tradução de Amir Geiger
* A saber, a série de conferências Science, Religion, and the Human Experience [N.E.].
** Kenósis, cenose, é palavra grega para "esvaziamento"; ela se refere à renúncia (ao
menos parcial) da natureza divina por Cristo na encarnação [N.E.].
*** A palavra verônica (latim veronica, anagrama, se não derivado metatético de vera
icona, por etimologia popular), em português como em algumas outras línguas, designa
o sudário, o tecido com que santa Verônica, segundo a lenda, enxugou o suor de Jesus
no caminho para o Calvário, e no qual teria ficado impressa a 'verdadeira imagem' do
rosto dele [N.T.].
MANA 10(2):349-376, 2004
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”, OU:
COMO NÃO DESENTENDER
O DEBATE CIÊNCIA-RELIGIÃO*
Bruno Latour
Não tenho nenhuma autoridade para falar a vocês sobre religião e experiência, já que não sou pregador, nem teólogo, nem filósofo da religião —
nem mesmo uma pessoa particularmente piedosa. Felizmente, religião pode não ter a ver com autoridade e força, mas com experimentação, hesitação e fraqueza. Se é assim, então devo começar colocando-me numa posição da mais extrema fraqueza. William James, no final de sua obra-prima,
As variedades da experiência religiosa, diz que sua forma de pragmatismo
ostenta um rótulo “grosseiro”, o do pluralismo. Eu deveria antes afirmar,
na abertura desta palestra, que o rótulo que trago — ou devo dizer: o estigma? — é ainda mais grosseiro: fui criado como católico e, para agravar,
nem mesmo posso falar com meus filhos sobre o que faço na Igreja aos domingos. Quero hoje começar daí, dessa impossibilidade de falar com meus
amigos e meus próprios familiares sobre uma religião importante para mim;
quero começar esta conferência a partir dessa hesitação, dessa fraqueza,
esse gaguejar, essa deficiência da fala. Religião, na minha tradição, no canto do mundo de onde venho, tornou-se algo impossível de enunciar1.
Mas não creio que me seria dado falar apenas a partir de tal posição
enfraquecida e negativa. Também tenho uma base um pouco mais firme,
que me estimula a abordar esse assunto dificílimo. Se ousei responder ao
convite para lhes falar, é porque também venho trabalhando há muitos
anos em interpretações da prática científica que são um pouco diferentes
daquelas comumente oferecidas (Latour 1999). É claro que numa discussão sobre “ciência e religião” qualquer mudança, ainda que pequena,
ainda que controversa, no modo como a ciência é considerada terá conseqüências nas várias formas de se falar de religião. A produção de verdades em ciência, religião, direito, política, tecnologia, economia etc. é o
que venho estudando ao longo dos anos, em meu programa orientado para uma antropologia do mundo moderno (ou melhor, não-moderno). O
350
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
que procuro fazer são comparações sistemáticas entre o que chamei de
‘regimes de enunciação’; e se há no que segue algum argumento técnico,
é dessa antropologia comparativa bem idiossincrática que ele provém.
Fazendo uma frouxa analogia com a teoria dos atos de fala, eu diria que
tenho me dedicado a mapear as ‘condições de felicidade’ das diversas
atividades que, em nossas culturas, são capazes de suscitar a verdade.
Devo notar, de início, que não tenciono fazer uma crítica da religião.
Que a verdade esteja em questão na ciência assim como na religião é algo que, para mim, não está em questão. Ao contrário do que alguns de
vocês que conheçam (muito provavelmente de oitiva) meu trabalho sobre
a ciência poderiam ser levados a pensar, estou interessado principalmente nas condições práticas do ‘dizer a verdade’, e não em denunciar a religião após haver contestado — é o que se diz — as alegações da ciência.
Se já era necessário levar a ciência a sério sem lhe dar qualquer espécie
de ‘explicação social’, mais necessária ainda é tal postura perante a religião: denúncias e desmistificações simplesmente passam ao largo da questão. De fato, meu problema é justamente como se pôr em sintonia com as
condições de felicidade de diversos tipos de ‘geradores de verdades’.
E agora, ao trabalho. Não creio que seja possível falar de religião
sem deixar clara a forma de discurso mais conforme ao seu tipo de
‘predicação’. A religião, ao menos na tradição a partir da qual falarei — a
saber, a cristã —, é um modo de pregar, de predicar, de enunciar a verdade — eis por que tenho de imitar na escrita a situação em que uma prédica é feita do púlpito. Esta é literalmente, tecnicamente, teologicamente
uma forma de dar a notícia, de trazer a ‘boa nova’, o que em grego se
chamou ‘evangelios’. Portanto, não vou falar da religião em geral, como
se existisse algum domínio, assunto ou problema universal chamado ‘religião’ que permitisse comparar divindades, rituais e crenças, da PapuaNova Guiné a Meca, da Ilha de Páscoa à cidade do Vaticano. Um fiel tem
uma só religião, como uma criança tem uma só mãe. Não há ponto de vista a partir do qual seria possível comparar diferentes religiões e ao mesmo tempo falar de modo religioso. Como vêem, meu propósito não é falar sobre religião, mas falar-lhes religiosamente, ao menos de modo suficientemente religioso para que possamos começar a analisar as condições de felicidade desse ato de fala, demonstrando in vivo, esta noite e
nesta sala, que tipo de ‘condição de verdade’ ele exige. Nosso tema envolve experiência, e é uma experiência o que pretendo produzir.
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
Falar a respeito da religião, falar a partir da religião
Argumentarei que a religião — mais uma vez, dentro da tradição que é a
minha — não fala a respeito de ou sobre coisas, mas de dentro de ou a
partir de coisas, entidades, agências, situações, substâncias, relações, experiências — chame-se como se quiser — que são altamente sensíveis
aos modos como se fala delas. Estes são, por assim dizer, modos da fala,
formas de discurso. João diria: o Verbo, Verbum, ou Logos. Ou bem eles
portam o espírito mesmo a partir do qual falam, e deles se poderá então
dizer que são verdadeiros, fiéis, comprovados, experimentados, autoevidentes, ou não transportam, não reproduzem, não realizam, não transmitem aquilo a partir do qual falam, e então, imediatamente e sem nenhuma inércia, começam a mentir, a se desfazer, a deixar de ter qualquer referência, qualquer fundamento. Esses modos da fala ou bem evocam o
espírito que pronunciam, e são verdadeiros, ou não o fazem, e são menos
que falsos — são simplesmente irrelevantes, parasíticos.
Nada há de extravagante, espiritual ou misterioso em começar a descrever dessa forma a fala religiosa. Estamos habituados a outras formas
de discurso perfeitamente mundanas, que tampouco são avaliadas segundo sua correspondência com algum estado de coisas, e sim pela qualidade da interação que produzem graças à forma como são pronunciadas. Essa experiência — e é experiência o que desejamos aqui compartilhar — é comum no domínio do ‘discurso amoroso’ e, mais amplamente,
nas relações pessoais. “Você me ama?” não é julgado pela originalidade
da frase — não há outra que seja mais batida, banal, trivial, tediosa, recauchutada —, mas sim pela transformação que opera no ouvinte e também no falante. Conversa de informação é uma coisa, e de transformação, outra. Quando aquelas palavras são proferidas, algo acontece. Um
pequeno deslocamento na marcha ordinária das coisas. Uma diminuta
mudança na cadência do tempo. A pessoa tem de se decidir, se envolver;
talvez comprometer-se irreversivelmente. Não nos submetemos aqui apenas a uma experiência entre outras, mas a uma alteração da pulsação e
do andamento da experiência: ‘kairos’ é a palavra que os gregos teriam
empregado para designar esse sentido novo de urgência.
Antes de voltar à fala religiosa, e a fim de deslocar nossas formas
usuais de enquadrar aquelas frases portadoras de amor, gostaria de destacar duas características da experiência que todos temos — assim espero — ao pronunciá-las ou escutá-las.
A primeira é que tais frases não são julgadas por seu conteúdo, pelo
número de bytes que possuem, mas por suas capacidades performativas.
351
352
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
São avaliadas principalmente por essa única interrogação: produzem elas
aquilo de que falam, a saber, amantes? (Não estou aqui tão interessado no
amor como eros, que geralmente demanda pouca conversa, mas sim, para
usar a distinção tradicional, no amor como agapè). Na injunção do amor, a
atenção é redirecionada, não para o conteúdo da mensagem, mas para o
continente mesmo, a feitura da pessoa. Não se tenta decifrá-las, a tais injunções, como se transportassem uma mensagem, mas como se transformassem os mensageiros eles próprios. E no entanto, seria errado dizer que
elas não têm valor de verdade, apenas por não possuírem conteúdo informacional. Ao contrário: embora não se possam marcar p’s e q’s para calcular a tabela de verdade dessas afirmações, é muito importante — questão
a que dedicamos muitas noites e dias — decidir se são verazes, fiéis, enganadoras, superficiais, ou simplesmente obscuras e vagas. Principalmente
porque semelhantes injunções não estão de forma alguma limitadas ao
meio exclusivo da fala: sorrisos, suspiros, silêncios, abraços, gestos, olhares, posturas, tudo pode transmitir o argumento — sim, é de um argumento que se trata, e muito bem amarrado, por sinal. Mas é um argumento peculiar, que é em grande parte julgado conforme o tom com que é proferido, sua tonalidade. O amor é feito de silogismos cujas premissas são pessoas. Não estamos prontos a dar um braço e uma perna para sermos capazes de distinguir verdade de falsidade nessa estranha fala que transporta
pessoas, e não informação? Se há algum tipo de envolvimento que seja
partilhado por todos na detecção da verdade, na construção da confiança,
é certamente essa capacidade de distinguir entre o discurso amoroso correto e o errado. Assim, uma das condições de felicidade que podemos prontamente reconhecer é a existência de formas de discurso — novamente,
não se trata apenas de linguagem — que sejam capazes de transmitir pessoas e não informação: seja porque produzem em parte as pessoas, ou porque novos estados — ‘novos começos’, como diria William James — se produzem nas pessoas a quem esse tipo de fala se dirige.
A segunda característica que desejo destacar na performance específica — e totalmente banal — da conversa de amor é que suas frases parecem capazes de mudar o modo de se habitar o espaço e o fluir do tempo. Mais uma vez, essa experiência é tão disseminada que poderíamos
deixar passar despercebida sua originalidade estratégica. Apesar de muito comum, ela não é tão freqüentemente descrita — salvo em alguns filmes de Ingmar Bergman, ou em alguns romances peculiares — porque
‘eros’, o eros hollywoodiano, costuma ocupar a cena com tanto estardalhaço, que a sutil dinâmica da ‘agapè’ raramente é notada. Mas penso
que podemos partilhar da mesma experiência em grau suficiente para
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
capitalizá-la mais adiante em proveito de minha análise: o que vocês diriam que lhes acontece quando alguém se dirige a vocês numa fala de
amor? De modo muito simples, eu diria: vocês estavam longe, estão agora mais perto — e os amantes parecem possuir um tesouro próprio de sabedoria que responde pelas sutis razões dessas alternações entre distância e proximidade. Essa mudança radical diz respeito não só ao espaço
mas também ao tempo: até agora você sentia um destino inflexível, uma
fatalidade, como um fluxo que vinha diretamente do passado até um presente cada vez menor, levando à inércia, ao tédio, talvez à morte; e repentinamente uma palavra, uma atitude, uma indagação, uma postura,
um não-sei-quê, e o tempo volta a fluir, como se ele começasse no presente e tivesse a capacidade de abrir o futuro e reinterpretar o passado:
surge uma possibilidade, o destino é superado, você respira, possui um
dom, tem esperança, ganha movimento. Assim como a palavra ‘perto’
capta as novas formas com que o espaço é agora habitado, a palavra ‘presente’ parece agora ser aquela com que melhor se pode resumir o que
acontece: você está novamente, renovadamente presente diante do outro, e vice-versa. E é claro que ambos podem num instante voltar a estar
ausentes e distantes — por isso é que o coração bate tão rápido, por isso
a exaltação e ao mesmo tempo a ansiedade: uma palavra mal proferida,
um gesto inoportuno, um movimento errado e, instantaneamente, o terrível sentimento de estranhamento e distância, esse desânimo que vem
com a inexorável passagem do tempo, todo aquele enfado desaba sobre
você mais uma vez, intolerável, mortal. De repente, nenhum dos dois entende o que faz diante do outro: é simplesmente insuportável.
Não é, de fato, uma comuníssima experiência, essa que acabo de esboçar — a que se tem na crise amorosa, dos dois lados dessa diferença
ínfima entre o que é próximo e presente e o que é distante e ausente? Essa diferença tão vivamente marcada por uma nuança, fina como uma lâmina, ao mesmo tempo sutil e corpulenta: uma diferença entre falar certo
e falar errado daquilo que nos faz sensíveis à presença do outro?
Se agora tomamos conjuntamente os dois aspectos da interpelação
amorosa, tal como acabo de esboçar, podemos nos convencer de que existe uma forma de discurso que: a) tem a ver com a transformação daqueles que trocam a mensagem, e não com o transporte de informação; b) é
sensível ao tom com que a mensagem é proferida: tão sensível, que faz
passar, por uma crise decisiva, da distância à proximidade, e de volta ao
estranhamento; da ausência à presença, e de volta, lamentavelmente, à
primeira. Dessa maneira de falar, direi que ela “re-presenta”, num dos
muitos significados literais da palavra: ela apresenta novamente o que é
353
354
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
estar presente naquilo que se fala. E essa maneira de falar: c) é a um só
tempo completamente comum, extremamente complexa, e não muito freqüentemente descrita em detalhes.
Como redirecionar a atenção?
É dessa atmosfera que desejo me valer para novamente começar minha
prédica, visto que falar — mais que isso: pregar religião — é o que vou
tentar esta noite, para produzir experiência comum num grau que permita sua posterior análise. Quero usar o modelo da interpelação de amor
para nos reabituar a uma forma de discurso religioso que foi perdida, incapaz de voltar a representar-se a si mesma, de se repetir, devido à passagem da religião à crença (voltarei a isso adiante). Sabemos que a competência que procuramos é comum, que ela é sutil, que não costuma ser
descrita, que facilmente aparece e desaparece, fala a verdade para depois desmentir. As condições de felicidade de minha própria fala estão,
assim, claramente delineadas: falharei se não puder produzir, promover,
eduzir aquilo de que se trata. Ou bem posso re-presentá-lo novamente a
vocês, isto é, apresentá-lo em sua presença de outrora renovada, e então
o digo em verdade; ou não o faço, e ainda que pronuncie as mesmas palavras, o que falo é em vão, minto a vocês, não passo de um tambor vazio, ressoando no vazio.
Três palavras, portanto, são importantes para cumprir meu contrato
de risco com vocês: ‘próximo’, ‘presente’, ‘transformação’. Para ter alguma
chance de reencenar a maneira correta de falar de coisas de religião — na
tradição da Palavra, que é aquela em que cresci —, preciso redirecionar a
atenção de vocês, afastando-a de assuntos e domínios supostamente pertencentes à religião, mas que poderiam tornar vocês indiferentes ou hostis
à minha maneira de falar. Devemos resistir a duas tentações, para que meu
argumento tenha a chance de representar alguma coisa — e seja, assim,
verdadeiro. A primeira tentação seria abandonar a ‘transformação’ necessária para que este ato de fala funcione; a segunda seria desviar nossa
atenção para o distante, em vez do próximo e presente.
Para dizê-lo de modo simples, porém, espero, não demasiado provocativo: se, quando ouvem falar de religião, vocês dirigem a atenção para
o longínquo, o superior, o sobrenatural, o infinito, o distante, o transcendente, o misterioso, o nebuloso, o sublime, o eterno, é bem provável que
não tenham sequer começado a ser sensíveis àquilo em que a fala religiosa tenta envolvê-los. Lembrem-se de que estou usando o modelo da
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
interpelação amorosa, para falar de sentenças distintas mas que têm o
mesmo espírito, o mesmo regime de enunciação. Assim como as sentenças amorosas devem transformar os ouvintes, tornando-os próximos e presentes, sob pena de serem nulas, os modos de ‘falar religião’ devem trazer o ouvinte e também o falante à mesma proximidade e ao mesmo sentido renovado de presença — sob pena de serem menos que insignificantes. Se vocês são atraídos pelo distante, em assuntos religiosos, pelo que
é longínquo, cifrado e misterioso, então estão perdidos, vocês literalmente se foram, não estão comigo, permanecem ausentes em espírito. Tornam mentira aquilo que lhes dou a oportunidade de ouvir novamente esta noite. Vocês entendem o que estou dizendo? O modo como o digo? A
tradição da Palavra que coloco em movimento mais uma vez?
A primeira tentativa de redirecionar a atenção de vocês é torná-los
conscientes da armadilha do que chamarei comunicação de duplo-clique.
Se se recorre a um marco de referência desse tipo para avaliar a qualidade do discurso religioso, ele fica sem sentido, vazio, tedioso, repetitivo,
exatamente como o discurso amoroso não-correspondido, e pela mesma
razão: pois como este, aquele não traz qualquer mensagem, mas transporta, transforma os próprios emissores e receptores — ou, do contrário,
falhará. E no entanto, tal é, precisamente, o padrão de referência da comunicação de duplo-clique: ela quer que acreditemos que é factível transportar, sem a menor deformação, uma informação precisa qualquer sobre
situações e coisas que não estão presentes aqui. Nos casos mais ordinários, quando as pessoas perguntam “isso é verdade?”, “isso corresponde
a alguma situação de fato?”, o que têm em mente é uma espécie de ato
ou comando como o duplo-clique, que permita acesso imediato à informação; e é nisso que se dão mal, porque é assim também que se falseiam os
modos de falar que nos são mais caros. O discurso religioso, ao contrário,
busca justamente frustrar a tendência ao duplo-clique, desviá-la, rompêla, subvertê-la, torná-la impossível. A fala religiosa, como a fala amorosa,
quer garantir que até mesmo os mais alheados, os mais distantes observadores voltem a estar atentos, para que não percam seu tempo a ignorar o
chamado à conversão. Desapontar, em primeiro lugar. Desapontar: “Que
tem essa geração, que pede um sinal? Nenhum sinal lhe será dado!”.
Transporte de informação sem deformação não é, não é de modo algum uma das condições de felicidade do discurso religioso. Quando a
Virgem ouve a saudação do anjo Gabriel — assim narra a venerável história —, ela se transforma tão completamente, que engravida e passa a
trazer dentro de si o Salvador, que por sua agência se faz novamente presente no mundo. Esse não é certamente um caso de comunicação de du-
355
356
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
plo-clique! Por outro lado, perguntar “quem foi Maria”, verificar se era ou
não ‘realmente’ virgem, imaginar de que modo se impregnou de raios espermáticos, resolver se Gabriel era macho ou fêmea, estas são perguntas
duplo-clique. Elas querem que vocês abandonem o tempo presente e que
desviem a atenção do significado da história venerável. Tais questões não
são ímpias, nem mesmo irracionais — são apenas um erro de categorização. São tão irrelevantes, que nem é necessário dar-se o trabalho de respondê-las. Não porque conduzam a mistérios inconcebíveis, mas porque,
com sua idiotice, produzem mistérios desinteressantes e absolutamente
inúteis. Elas devem ser quebradas, interrompidas, anuladas, ridicularizadas — e mostrarei adiante de que modo essa interrupção foi sistematicamente buscada numa das tradições iconográficas do Ocidente cristão. A
única maneira de compreender histórias como a da Anunciação é repetilas, isto é, pronunciar novamente a Palavra que produziu no ouvinte o
mesmo efeito, a saber, a que impregna vocês, pois é a vocês que me dirijo
esta noite, é a vocês que estou saudando, com a mesma dádiva, o mesmo
presente da renovada presença. Esta noite, sou para vocês Gabriel! — ou
vocês não entendem uma palavra do que digo, e então sou uma fraude...
Tarefa nada fácil — sei que fracassarei, estou fadado a fracassar: ao
falar, desafio todas as probabilidades. Porém minha questão é outra, porque é um pouco mais analítica: quero que percebam o tipo de erro de categorização graças ao qual se produz a crença na crença. Ou bem repito a
primeira história, porque volto a narrá-la da mesma forma eficiente como
foi originalmente narrada, ou engancho uma estúpida questão referencial
em uma relativa à transferência de mensagens entre emissor e receptor,
cometendo assim mais que uma estupidez grosseira: estarei desse modo
falsificando a venerável história, distorcendo-a até torná-la irreconhecível.
Paradoxalmente, ao formatar as questões no leito de Procrusto da transferência de informação, visando chegar ao significado ‘exato’ da história, eu
a estarei deformando, transformando-a monstruosamente numa crença absurda, no tipo de crença que faz a religião vergar-se sob seu peso, até cair
no monturo do obscurantismo do passado. O valor de verdade daquelas
histórias depende de nós, nesta noite, exatamente como a história inteira
de dois amantes depende da habilidade que tiverem em novamente re-encenar a injunção do amor no minuto em que procuram um ao outro, no instante mais escuro de seu estranhamento: se falham — tempo presente —,
foi em vão — tempo pretérito — que viveram tanto tempo juntos.
Notem que não me referi àquelas frases como irracionais nem desarrazoadas, como se a religião tivesse de algum modo de ser protegida contra uma extensão irrelevante da racionalidade. Quando Ludwig Wittgens-
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
tein escreve: “Quero dizer ‘eles não tratam disso como uma questão de
razoabilidade’. Quem quer que leia as Epístolas verá que está dito: não só
não é razoável, mas é loucura. Não só não é razoável, mas não pretende
sê-lo”2, ele parece desentender profundamente o tipo de loucura sobre a
qual escreve o Evangelho. Longe de não pretender ser razoável, o Evangelho simplesmente aciona o mesmo raciocínio comum e o aplica a uma
espécie diferente de situação: não tenta alcançar estados de coisas distantes, mas trazer os interlocutores para mais perto daquilo que dizem um do
outro. A suposição de que, para além do conhecimento racional daquilo
que é palpável, também exista uma espécie de crença desarrazoada e respeitável em coisas por demais distantes para serem palpáveis me parece
uma forma muito condescendente de tolerância. Prefiro dizer que a racionalidade nunca é excessiva, que a ciência não conhece fronteiras, e que
não há absolutamente nada misterioso, ou mesmo não-razoável, no discurso religioso — salvo os mistérios artificiais, produzidos, como acabei
de dizer, pelas indagações erradas, feitas no modo errado, na tonalidade
errada, às argumentações perfeitamente razoáveis que se aplicam à feitura de pessoas. Apoderar-se de algo na fala e ser apanhado pela fala de alguém podem ser coisas bem diferentes, mas para ambas é necessária a
mesma bagagem básica — mental, moral, psicológica e cognitiva.
Mais precisamente, devemos distinguir duas formas de mistério: uma
referida a modos comuns, complexos, sutis de enunciar a fala amorosa para que esta seja eficaz — e é com efeito um mistério de aptidão, um jeito
especial, como jogar bem tênis, como boa poesia, boa filosofia, talvez alguma espécie de “maluquice” —, e outra totalmente artificial, provocada
pelo indevido curto-circuito entre dois regimes de enunciação heterogêneos. A confusão entre os dois mistérios é que faz a voz tremer quando as
pessoas falam de religião, seja por não desejarem nenhum mistério — ótimo, não há mesmo nenhum! — ou por acreditarem que estão diante de
alguma mensagem críptica que precisam decodificar através de uma chave esotérica que só os iniciados dominam. Mas não há nada oculto, nada
cifrado, nada esotérico, nada extravagante na fala religiosa: ela é apenas
difícil de realizar, apenas um pouco sutil, demanda exercício, requer grande cuidado, pode salvar os que a enunciam. Confundir a fala que transforma os mensageiros com a que transporta mensagens — crípticas ou não
— não é prova de racionalidade, é simplesmente uma idiotice, agravada
pela impiedade. É tão idiota como, digamos, uma mulher que, quando o
companheiro lhe pede que repita se o ama ou não, simplesmente aperte a
tecla play de um gravador para provar que, cinco anos antes, havia de fato dito “eu te amo, querido”. Isso poderia com efeito provar algo, mas não,
357
358
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
decerto, que ela tenha presentemente renovado sua promessa de amor; é
uma prova, não se há de negar: prova de que ela é uma mulher leviana,
desatenciosa e provavelmente lunática.
Basta de comunicação de duplo-clique. As duas outras características — proximidade e presença — são muito mais importantes para nosso
propósito, pois nos levarão ao terceiro termo de nossa série de conferências, a saber, a ciência*. É espantoso que a maioria das pessoas, quando
querem mostrar generosidade em relação à religião, tenham de formulálo em termos de sua necessária irracionalidade. Eu de certo modo prefiro
aqueles que, como Pascal Boyer, francamente tentam explicar a religião
— para livrar-se dela — apontando as localizações cerebrais e o valor de
sobrevivência de algumas de suas extravagâncias mais bárbaras3. Sempre me sinto mais à vontade diante de argumentos puramente naturalísticos do que dessa espécie de tolerância hipócrita que segrega e circunscreve a religião como uma forma de disparate especializado na transcendência e em sentimentos íntimos reconfortantes. Alfred North Whitehead,
a meu ver, deu cabo daqueles que querem da religião que “embeleze a
alma” com um belo mobiliário (cf. Whitehead 1926). A religião, na tradição que eu gostaria de tornar novamente presente, nada tem a ver com
subjetividade, nem com transcendência, nem com irracionalidade, e a última coisa de que ela necessita é a tolerância dos intelectuais abertos e
caridosos, que querem acrescentar aos fatos da ciência — verdadeiros,
porém secos — o profundo e encantador ‘suplemento de alma’ provido
por pitorescos sentimentos religiosos.
Aqui, temo que terei de discordar da maioria, se não de todos os conferencistas anteriores sobre o confronto ciência-religião, que falam como
diplomatas de Camp David traçando linhas em mapas dos territórios de
Israel/Palestina. Todos tentam resolver o conflito como se houvesse um
único domínio, um só reino para dividir em dois ou, seguindo essa terrível
similaridade com a Terra Santa, como se duas ‘reivindicações igualmente
válidas’ devessem consolidar-se lado a lado, uma relativa ao que é natural, outra ao sobrenatural. E alguns conferencistas, como os mais extremistas zelotes de Jerusalém e Ramala — o paralelo é assombroso —, rejeitam os esforços dos diplomatas, querendo reivindicar toda a terra para
si, e empurrar as hostes religiosas e obscurantistas para além do rio Jordão ou, inversamente, afogar as dos naturalistas no mar Mediterrâneo...
Julgo que tais questões — se há um domínio ou dois, se há hegemonia ou
* A saber, a série de conferências Science, Religion, and the Human Experience [N.E.].
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
paralelismo, se a relação é polêmica ou pacífica — são igualmente controversas por uma razão que toca no coração do problema: todas supõem que
ciência e religião têm reivindicações similares, porém divergentes, à posse e colonização de um território — seja deste mundo ou do outro. Acredito, ao contrário, que não há ponto de contato entre os dois, não mais que
qualquer competição ecológica direta entre, digamos, rãs e rouxinóis.
Não estou afirmando que ciência e religião sejam incomensuráveis
em virtude do fato de que uma apreende o mundo visível objetivo do
“aqui”, enquanto a outra apreende o mundo invisível subjetivo ou transcendente do além; afirmo que mesmo essa incomensurabilidade seria um
erro de categorização. Pois nem a ciência nem a religião se enquadram
nessa perspectiva, que as colocaria face a face, e não mantêm entre si relações bastantes sequer para fazê-las incomensuráveis. Nem a religião
nem a ciência estão muito interessadas no que é visível: é a ciência que
apreende o longínquo e o distante; quanto à religião, ela nem mesmo tenta apreender alguma coisa.
Ciência e religião: uma comédia de erros
Meu argumento poderia a princípio parecer contra-intuitivo, já que intento recorrer simultaneamente ao que aprendi com os estudos de antropologia da ciência sobre a prática científica e àquilo que espero que vocês tenham experimentado esta noite, ao reenquadrar a fala religiosa com
ajuda do argumento amoroso. A religião nem mesmo tenta — se vocês
me acompanharam até agora — alcançar qualquer coisa que esteja além,
mas sim representar a presença daquilo que é designado, em determinado linguajar técnico e ritual, a ‘palavra encarnada’ — ou seja, dizer novamente que ela está aqui, viva, e não morta nem distante. Não tenta designar algo, mas falar a partir do novo estado que ela produz por sua maneira de dizer, seus modos de discurso. A religião, nessa tradição, tudo
faz para redirecionar constantemente a atenção, obstando sistematicamente à vontade de se afastar, de ignorar, de se ficar indiferente ou blasé, entediado. A ciência, inversamente, nada tem a ver com o visível, o
direto, o imediato, o tangível, o mundo vivido do senso comum e dos “fatos” robustos e obstinados. Bem ao contrário, como diversas vezes mostrei, ela constrói caminhos extraordinariamente longos, complicados, mediados, indiretos e sofisticados, através de camadas concatenadas de instrumentos, cálculos e modelos, para ter acesso a mundos — como William James, insisto no plural — que são invisíveis por serem demasiada-
359
360
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
mente pequenos, distantes, poderosos, grandes, estranhos, surpreendentes, contra-intuitivos. Apenas por meio de redes de laboratórios e instrumentos é possível obter aquelas longas cadeias referenciais que permitem maximizar os dois aspectos contrários de mobilidade (ou transporte)
e imutabilidade (ou constância) que constituem, ambos, a in-formação —
aquilo que chamei, por essa razão, ‘móveis imutáveis’.
E notem aqui que a ciência em ação, a ciência tal como é feita na
prática, é ainda mais afastada da comunicação do duplo-clique do que a
religião: distorção, transformação, recodificação, modelagem, tradução,
todas essas mediações radicais são necessárias para produzir informação
acurada e confiável. Se a ciência fosse informação sem transformação,
como quer o bom senso comum, os estados de coisas mais distanciados
do aqui e agora continuariam para nós em completa obscuridade. A comunicação de duplo-clique faz menos justiça à transformação da informação nas redes científicas do que à estranha habilidade que têm, na religião, alguns atos de fala em transformar os locutores.
Que comédia de erros! Quando o debate entre ciência e religião é
encenado, os adjetivos sofrem uma inversão quase perfeita: é da ciência
que se deve dizer que alcança o mundo invisível do além, que é espiritual, milagrosa, que sacia e edifica a alma4. E é a religião que deve ser
qualificada como local, objetiva, visível, mundana, não-milagrosa, repetitiva, obstinada, de robusta compleição.
Na tradicional fábula da corrida entre a lebre científica e a tartaruga
religiosa, duas coisas são inteiramente irreais: a lebre e a tartaruga. A religião nem mesmo tenta correr para conhecer o além; procura, sim, quebrar todos os hábitos de pensamento que dirigem nossa atenção para o
longínquo, o ausente, o sobremundo, a fim de conduzi-la de volta ao encarnado, à presença renovada daquilo que fora incompreendido e distorcido, mortal, daquilo do qual se diz ser ‘o que foi, o que é, o que será’, em
direção àquelas palavras que trazem a salvação. A ciência nada apreende de modo direto e preciso; ela adquire lentamente sua precisão, sua
validade, sua condição de verdade, no longo, arriscado e doloroso desvio
que passa pelas mediações de experimentos — não de experiências —,
de laboratórios — não o senso comum —, de teorias — não a visibilidade;
e se ela é capaz de obter a verdade, é ao preço de transformações espantosas que se dão na passagem de um meio ao seguinte. Portanto, a simples montagem de um palco onde o sério e profundo problema da “relação entre ciência e religião” se desenrolaria já é uma impostura, para não
dizer uma farsa, que distorce ciência e religião, religião e ciência, para
além de toda possibilidade de reconhecimento.
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
O único protagonista que sonharia com a tola idéia de encenar uma
corrida entre lebre e tartaruga, de opô-las a fim de decidir quem domina
quem — ou de inventar acordos diplomáticos ainda mais bizarros entre os
dois personagens —, o único animador de semelhante circo é a comunicação de duplo-clique. Só ela, com sua extravagante idéia de um transporte
sem transformação e que alcança estados ou situações distantes, só ela poderia sonhar com tal confrontação, distorcendo tanto a prática cuidadosa
da ciência quanto a repetição cuidadosa da fala religiosa personificadora.
Só ela consegue tornar ambas, ciência e religião, incompreensíveis: primeiro, ao distorcer o acesso mediado e indireto que, pelo duro labor dos
cientistas, a ciência tem ao mundo invisível, apresentando-o, ao contrário,
como uma simples, direta e não-problemática apreensão do visível; e a seguir, falseando a religião, forçando-a a abandonar o objetivo de representar renovadamente aquilo de que fala, e fazendo-nos alheadamente olhar
na direção do mundo invisível do além, que ela não tem recursos, nem competência, nem autoridade, nem capacidade para alcançar — e muito menos para apreender. Sim, uma comédia de erros... triste comédia, que tornou quase impossível adotar o racionalismo, já que isso significaria ignorar
o funcionamento da ciência, mais ainda do que os objetivos da religião.
Dois modos distintos de conectar enunciados
Os dois regimes de invisiblidade, tão distorcidos pela evocação do sonho de
uma comunicação instantânea e não mediada, podem ficar mais claros se
recorrermos a documentos visuais. Minha idéia, como espero que já esteja
evidente, é deslocar o ouvinte, trazê-lo da oposição entre ciência e religião
para uma outra, entre dois tipos de objetividade. A luta tradicional jogava a
ciência, definida como apreensão do visível, do próximo, do adjacente, do
impessoal, do cognoscível, contra a religião, que supostamente lidaria com
o distante, o vago, o misterioso, o pessoal, o incerto e o incognoscível.
Quero substituir essa oposição, que a meu ver é um artefato, por esta:
de um lado, as longas e mediadas cadeias referenciais da ciência, que levam ao distante e ao ausente, e de outro, a busca da representação do que
é próximo e presente na religião. Já mostrei, em outras oportunidades, que
a ciência não é absolutamente uma forma de ato de fala que tenta transpor
o abismo entre as palavras e “o” mundo — no singular. Isso equivaleria ao
salto mortale tão ridicularizado por James; na verdade a ciência, tal como é
praticada, seria mais propriamente uma tentativa de deambular — novamente, uma expressão de James — de uma inscrição a outra, tomando cada
361
362
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
uma delas a cada vez, como a matéria da qual se extrai uma forma. ‘Forma’,
aqui, deve ser entendida muito literalmente, muito materialmente: é o papel em que você coloca a ‘matéria’ do estágio imediatamente anterior.
Já que exemplos sempre ajudam a tornar visível o caminho invisível
traçado pela ciência no pluriverso, tomemos o caso do laboratório de Jean
R., em Paris, onde se procura obter informação sobre os fatores que disparam um único neurônio isolado. Obviamente, não existe um modo direto, não mediado e não artificial de tomar um neurônio, dentre os bilhões que compõem a massa cinzenta, e torná-lo visível. Assim, é preciso
começar com ratos, que primeiro são guilhotinados, para terem os cérebros extraídos e cortados em finas seções graças ao micrótomo; cada uma
destas é, a seguir, preparada de modo a ficar viva por algumas horas, colocada sob um potente microscópio e, então, com a ajuda de um monitor
de televisão, uma microsseringa e um microeletrodo são inseridos delicadamente em um dos neurônios que o microscópio pode pôr em foco, dentre os milhões que estão simultaneamente a disparar — e essa operação
pode falhar, pois focar um neurônio e pôr a microsseringa em contato justamente com ele para capturar os neurotransmissores enquanto se registra sua atividade elétrica é um um feito de que poucos são capazes; a seguir, a atividade é registrada, as substâncias químicas liberadas pela atividade neuronal são recolhidas na pipeta, e o resultado é transformado
em um artigo que apresenta sinopticamente aquelas várias inscrições. A
despeito de todo o interesse do processo pelo qual os neurônios disparam, não pretendo falar sobre ele, mas apenas chamar a atenção de vocês para o movimento, o salto entre uma inscrição e a seguinte.
É claro que, sem a artificialidade do laboratório, nenhum desses caminhos através das inscrições — cada uma servindo de matéria para a
seguinte, que lhe dá nova forma — poderia produzir um fenômeno visível. A referência, a operação de referir, não é o gesto de um locutor, que
aponta com o dedo para um gato a ronronar sobre o capacho, mas um negócio muito mais arriscado, um caso bem mais impuro, que conecta literatura publicada — fora do laboratório — a mais literatura publicada —
pelo laboratório — através de muitas intermediações, uma das quais, claro, é a dos ratos, esses heróis não celebrados de tanta biologia.
O que quero dizer é que essas cadeias referenciais têm características contraditórias muito interessantes: constituem nossa melhor fonte de
objetividade e certeza, e no entanto são artificiais, indiretas, folheadas.
Não há dúvida de que a referência é precisa; essa precisão, porém, não é
dada por nenhum par de coisas mimeticamente semelhantes entre si,
mas, ao contrário, por toda uma cadeia de habilíssimas transformações
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
artificiais. Enquanto a cadeia permanece íntegra, o valor de verdade da
referência em seu conjunto permanece calculável. Mas se uma inscrição
é isolada, se uma imagem é extraída, se o quadro da trajetória contínua
de transformações é congelado, a qualidade da referência imediatamente decai. Isoladamente, uma imagem científica não tem valor de verdade,
embora possa desencadear, na filosofia mítica da ciência que é usada pela maioria das pessoas, uma espécie de referente-fantasma que será tomado, numa espécie de ilusão de ótica, por modelo da cópia — ainda que
não seja senão a imagem virtual de uma ‘cópia’ isolada!
Isso, a propósito, prova que os fatos, os famigerados fatos que alguns
filósofos supõem ser a substância de que é feito o mundo visível do senso
comum, não são, afinal, mais que um equívoco a respeito do processo artificial — porém produtivo — da objetividade científica: aquilo que foi
descarrilado com o congelamento de uma sucessão referencial de quadros. Não há nada de primitivo ou primevo nos fatos, eles não são o fundamento das percepções5. É portanto inteiramente desencaminhador tentar adicionar às questões de fato algum tipo de estado de coisas subjetivo
que possa ocupar a mente dos que crêem.
Embora parte do que eu disse aqui demasiado rapidamente possa
ainda ser motivo de controvérsia, é necessário que eu o tome como pano
de fundo não contestado, pois quero usá-lo para lançar nova luz sobre o
regime religioso da invisibilidade. Assim como há um equívoco sobre o
caminho descrito pela deambulação das mediações científicas, há, penso,
um desentendimento comum do percurso traçado pelas imagens religiosas6. Tradicionalmente, no cristianismo, a defesa dos ícones religiosos
tem consistido em afirmar que a imagem não é o objeto de uma ‘latria’ —
como em idolatria — mas de uma ‘dulia’, termo grego com o qual se diz
que o fiel, diante da cópia — uma Virgem, um crucifixo, uma estátua de
santo —, tem o espírito voltado para o protótipo, o original unicamente
digno de adoração. Essa, no entanto, é uma defesa que nunca chegou a
convencer os iconoclastas platônicos, bizantinos, luteranos ou calvinistas
— para não falarmos no mulá talibã Mohammad Omar, que fez passar
pelas armas os Budas de Bamiyan, no Afeganistão.
Com efeito, o regime cristão de invisibilidade é tão distinto dessa
débil defesa tradicional quanto a trajetória referencial científica está distante dos glorificados ‘fatos’. O que a iconografia tentou realizar em incontáveis proezas artísticas é o exato oposto de dirigir o olhar para o modelo distante: ao contrário, despenderam-se esforços incríveis para deflectir o olhar habitual do espectador e atrair sua atenção para o estado
presente, o único de que se pode afirmar que oferece salvação. Tudo se
363
364
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
passa como se pintores, entalhadores e patronos de obras de arte tivessem tentado quebrar as imagens internamente, a fim de torná-las inadequadas ao consumo informativo normal; como se eles quisessem principiar, ensaiar, iniciar um ritmo, um movimento de conversão que se compreende apenas quando o espectador — o espectador devoto — toma a si
repetir a mesma melodia, no mesmo ritmo e andamento. É a isso que, com
meu colega Joseph Koerner, chamo ‘iconoclasmo interior’: comparado a
este, o iconoclasmo ‘exterior’ parece sempre ingênuo e inócuo — para
não dizer, redondamente tolo (ver Koerner 2002).
Uns poucos exemplos bastarão. Nesse afresco de Fra Angelico no
convento de São Marcos, em Florença, o pintor utilizou múltiplos recursos para complicar nosso acesso direto ao tópico: não só o túmulo está vazio — num primeiro momento, uma grande decepção para as mulheres —,
como também o dedo do anjo aponta na direção de uma aparição do Cristo ressurrecto que não é diretamente visível para elas, pois resplandece
às suas costas. Que pode ser mais desapontador e surpreendente do que
a declaração do anjo: “Ele não está aqui, ele ressuscitou”? Tudo, nesse
afresco, diz respeito ao vazio da apreensão usual. No entanto, não é sobre o vazio, como se a atenção da pessoa fosse orientada para o nada; ao
contrário, faz-nos retornar à presença da presença: mas para isso não devemos olhar para a pintura, nem para o que a pintura sugere, e sim para
o que nos está presente agora. Como podem um evangelista e, a seguir,
um pintor como o frei Angelico tornar mais vívido, novamente, o redirecionamento da atenção? “Vocês estão olhando no lugar errado... vocês
não entenderam as Escrituras”. E, se formos bastante estúpidos para deixar escapar a mensagem, um monge, colocado à esquerda — e que representa o ocupante da cela —, servirá de legenda para toda a história;
legenda, no sentido etimológico, isto é: nos mostrará como devemos ver.
O que ele vê? Absolutamente nada, não há nada a ser visto aí; mas vocês
devem olhar aqui, através do olho interno da piedade, para aquilo que o
afresco supostamente significa: alhures, não num túmulo, não entre os
mortos, mas entre os vivos (ver figura 1).
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
Figura 1: Fra Angelico
Mais bizarro ainda é o caso, estudado por Louis Marin, de uma Anunciação pintada por Piero della Francesca, em Perúgia (cf. Marin 1989). Se
reconstruímos o quadro na realidade virtual — e Piero foi tão grande mestre nessa primeira matematização do campo visual, que podemos fazê-lo
com exatidão, usando computadores —, percebemos que o anjo realmente está invisível para a Virgem! Ele — ou ela? — está oculto pela coluna!
E isso, tratando-se de um mestre como ele, não pode ser simplesmente
um descuido. Piero empregou a poderosa ferramenta da perspectiva e recodificou sua interpretação do que é um anjo invisível, de modo a tornar
impossível o ponto de vista banal, usual, trivial, de que se trata aqui de
um mensageiro comum que encontra a Virgem no espaço normal das interações diárias. Mais uma vez, a idéia é evitar, tanto quanto possível, o
transporte normal de mensagens, mesmo ao empregar o novo e fabuloso
espaço de visibilidade e cálculo inventado pelos pintores e cientistas do
Quattrocento — esse mesmo espaço que será tão poderosamente utilizado pela ciência para a multiplicação daqueles móveis imutáveis que acabo de definir. A meta não é acrescentar um mundo invisível ao visível,
mas distorcer, opacificar o mundo visível até que não se possa ser levado
a desentender as Escrituras, e sim a re-encená-las fielmente.
Não houve, entre os que retrataram o desapontamento do visível sem
simplesmente acrescentar mais um mundo do invisível (o que seria uma
contradição em termos), pintor mais astucioso que Caravaggio. Na sua
famosa versão do episódio dos peregrinos de Emaús, que não entendem,
num primeiro momento, que estão viajando na companhia do Salvador
365
366
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
ressuscitado, e só vêm a reconhecê-lo quando ele reparte o pão à mesa
da taverna, Caravaggio re-produz na pintura essa mesma invisibilidade,
apenas com uma réstia de luz — toque de tinta — que redireciona a atenção dos peregrinos quando eles subitamente percebem aquilo que tinham
de ver. E, por certo, toda a idéia de pintar tal encontro sem acrescentarlhe nenhum evento sobrenatural é a de redirecionar a atenção de quem
olha a pintura; o espectador de súbito percebe que nunca verá mais que
esses pequenos intervalos e rupturas, esses traços de pincel, e que a realidade para a qual deve voltar-se não está ausente na morte — como os
peregrinos vinham discutindo ao longo do caminho até o albergue —, e
sim presente, agora, em sua plena e velada presença. A idéia não é afastar nosso olhar desse mundo e voltá-lo para um outro mundo do além,
mas sim perceber-realizar finalmente, diante dessa pintura, esse milagre
de compreensão: o que está em questão nas Escrituras agora se realizou,
foi percebido agora, entre pintor, espectadores e patronos, entre vocês:
vocês não compreenderam as Escrituras? Ele ressuscitou — por que
olham para a distância e a morte? Está aqui, novamente presente. “Eis
por que ardia nosso coração enquanto ele nos falava”.
A iconografia cristã, em todas as suas formas, mostrou-se obcecada
por essa questão de representar renovadamente aquilo de que ela trata,
e de garantir visualmente que não haja incompreensão da mensagem
transmitida, que no ato de fala esteja realmente em questão um emissor
ou receptor em transformação, e não uma mera transferência de mensagem incorretamente endereçada. No tema venerável e algo ingênuo da
missa de São Gregório — banido após a Contra-Reforma —, o argumento
parece muito menos elaborado do que em Caravaggio, mas é disposto
com a mesma intensidade sutil. O papa Gregório, segundo consta, viu
subitamente, quando celebrava missa, a hóstia e o vinho substituídos tridimensionalmente pelo real corpo do Cristo com todos os instrumentos
da Paixão. A presença real está aqui representada ainda outra vez, e pintada em duas dimensões pelo artista, para comemorar esse ato de re-entendimento pelo papa, ao realizar — também no sentido inglês de ‘perceber’ — aquilo que o venerável ritual significava.
Após a Reforma, essa visualização um tanto sangrenta se tornará repulsiva para muitos; mas o ponto que quero ressaltar é que cada um desses quadros, não importa quão sofisticado ou naïf, canônico ou apócrifo,
sempre transmite uma dupla injunção. Ela primeiramente tem a ver com
o tema que todos eles ilustram, e a maioria dessas imagens, como a fala
amorosa com a qual comecei, é repetitiva e chega, não raro, a ser entediante — a ressurreição, o encontro de Emaús, a missa gregoriana. Mas
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
há uma segunda injunção que também é transmitida: ela atravessa a tediosa repetição do tema e nos força a recordar aquilo que é a compreensão da presença que a mensagem carrega. Essa segunda injunção equivale ao tom, à tonalidade de que nos conscientizamos na conversa de
amor: original não é o que a pessoa diz, mas o movimento que renova a
presença através de antigos dizeres.
Amantes, pintores religiosos e patronos da arte devem cuidar para
que o modo usual da fala adquira determinada vibração, se querem estar
seguros de que seus interlocutores não se deixarão distraidamente levar
para longe, no espaço e no tempo. É exatamente isso que acontece subitamente ao pobre Gregório: durante a repetição do ritual, ele é repentinamente atingido pelo próprio ato de fala que transforma a hóstia no corpo de Cristo, pela percepção-realização das palavras sob a forma de um
Cristo sofredor. O erro seria pensar que essa é uma imagem ingênua que
apenas papistas retrógrados poderiam levar a sério: bem ao contrário, é
uma sofisticadíssima versão do que é estar novamente cônscio da real
presença de Cristo na missa. Mas, para isso, a pessoa deve ouvir as duas
injunções simultaneamente. Essa não é a pintura de um milagre, embora
também o seja: antes, essa pintura também diz o que é compreender a
palavra ‘milagre’ literalmente e não no sentido habitual, blasé, da palavra — e ‘literal’ aqui não significa o oposto de espiritual, mas de ordinário, alheado, indiferente.
Figura 2: Philippe de Champaigne
367
368
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
Mesmo um artista brilhante como Philippe de Champaigne, em meados do século XVII, ainda procurava garantir que espectador nenhum ignorasse que repetir o rosto de Cristo — literalmente imprimi-lo num véu
— não devia ser confundido com mera fotocópia (ver figura 2). Essa meditação extraordinária sobre o que é ocultar e repetir nos é revelada pela
presença de três distintos tecidos: aquele de que se fez a tela, duplicado
pelo tecido daquilo que é designado como verônica, triplicado por outro
véu, uma cortina, esta num trompe l’oeil que poderia dissimular a relíquia com um simples movimento de mão, se fôssemos tolos a ponto de
nos equivocarmos quanto ao seu significado. Que magnífico, chamar vera icona — ‘imagem verdadeira’, em latim* — àquilo que é precisamente
um quadro falso, três vezes velado: tanto é impossível tomá-lo como fotografia, que, por um milagre de reprodução, é um positivo e não um negativo do rosto de Cristo que se apresenta ao espectador — e aqueles artistas, pintores e gravadores sabiam tudo sobre positivo e negativo; portanto, novamente, como no caso de Piero, não pode tratar-se de um descuido. Mas não há dúvida de que este é — se posso usar tal metáfora — um
‘falso positivo’, uma vez que a vera icona, o quadro verdadeiro, é, precisamente, uma reprodução, mas não do significado referencial do mundo,
e sim uma reprodução no sentido re-presentacional da palavra: “Atenção! Prestem atenção! ver o rosto de Cristo não é procurar por um original, por uma verdadeira cópia referencial que transportaria vocês de volta ao passado, de volta a Jerusalém, mas mera superfície de pigmento
gretado, com um milímetro de espessura, que começa a indicar de que
modo vocês mesmos, agora, nesta instituição de Port Royal, devem olhar
seu Salvador”. Embora esse rosto pareça tão diretamente olhar-nos de
volta, ele é ainda mais oculto e velado que o de Deus, que recusou revelar-se a Moisés. Mostrar e ocultar é o que faz a verdadeira reprodução,
com a condição de que seja uma falsa reprodução pelos padrões das fotocópias, impressoras e da comunicação duplo-clique. Mas o que está
oculto não é uma mensagem sob a primeira, uma informação esotérica
dissimulada em informação banal, e sim um tom, uma injunção para que
você, o espectador, redirecione sua atenção, afastando-a do que está morto e devolvendo-a para o que vive.
* A palavra verônica (latim veronica, anagrama, se não derivado metatético de vera icona, por etimologia popular), em português como em algumas outras línguas, designa o sudário, o tecido com
que santa Verônica, segundo a lenda, enxugou o suor de Jesus no caminho para o Calvário, e no
qual teria ficado impressa a ‘verdadeira imagem’ do rosto dele [N.T.].
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
Figura 3. Pietà
Eis por que haverá sempre alguma sensação de incerteza quando
uma imagem cristã for destruída ou mutilada (ver figura 3). Essa Pietà foi
certamente quebrada por algum fanático, não sabemos se durante a Reforma ou durante a Revolução — não faltaram desses episódios na França. Mas quem quer que tenha sido, certamente nunca percebeu quanta
ironia podia haver em acrescentar uma destruição exterior à destruição
interior que a estátua em si tão bem representou: o que é uma Pietà, senão a imagem da Virgem com o coração partido, amparando em seu regaço o cadáver partido de seu filho, que é a imagem partida de Deus seu
pai — embora, como a Escritura cuida de dizer, “nenhum de seus ossos
tenha sido quebrado”? Como se pode destruir uma imagem já a tal ponto
destruída? Como é possível querer erradicar a crença numa imagem que
já desapontou todas as crenças, a ponto de Deus em pessoa, o Deus do
superior e do transcendente, jazer aqui, morto, no colo da mãe? Quem
poderá ir mais fundo, na crítica de todas as imagens, do que já está explicitamente afirmado pela teologia? Não seria antes o caso de argumentar que o iconoclasta exterior não faz mais que acrescentar um ato ingênuo e superficial de destruição a um ato de destruição extraordinariamente profundo? Quem é mais ingênuo: aquele que esculpiu a Pietà da
‘kenósis’ de Deus*, ou aquele que acredita haver crentes bastante ingênuos para atribuírem existência a uma mera imagem, em lugar de espon-
* Kenósis, cenose, é palavra grega para “esvaziamento”; ela se refere à renúncia (ao menos parcial) da natureza divina por Cristo na encarnação [N.E.].
369
370
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
taneamente voltarem o olhar para o Deus original? Quem vai mais longe? Provavelmente aquele que diz não haver nenhum original.
Como continuar o movimento dos enunciados
geradores de verdades?
Um modo de resumir meu argumento, como conclusão, é dizer que provavelmente estivemos equivocados em defender as imagens por seu apelo a um protótipo, ao qual elas simplesmente aludiam; no entanto foi essa,
como mostrei acima, sua defesa tradicional. A iconofilia nada tem com
voltar o olhar para um protótipo, numa espécie de ascensão gradual e platonística. A iconofilia consiste, mais propriamente, em continuar o processo iniciado por uma imagem, num prolongamento do fluxo de imagens.
São Gregório dá continuidade ao texto da Eucaristia quando vê o Cristo
em seu corpo real e não simbólico; e o pintor prossegue o milagre, quando pinta a representação num quadro que nos faz recordar o que significa
realmente compreender aquilo de que fala esse texto antigo e misterioso;
e eu, hoje, agora, continuo a continuação pictural da história, reinterpretando o texto, se através do uso de diapositivos, de argumentos, de inflexões da voz, de qualquer coisa que esteja à mão, torno vocês novamente
cônscios do que é compreender aquelas imagens sem buscar um protótipo, e sem distorcê-las em meros veículos de transferência de informação.
Iconoclastia ou iconolatria, portanto, nada mais é do que congelamento
do quadro, interrupção do movimento da imagem e o isolamento desta,
sua retirada dos fluxos de imagens renovadas, em função da crença de
que a imagem tem, em si mesma, um significado — e visto que ela não o
tem, uma vez isolada, então deve ser destruída sem piedade.
Ignorando a fluência característica da ciência e da religião, transformamos a questão das relações entre elas numa oposição entre ‘conhecimento’ e ‘crença’, oposição que então julgamos necessário superar, ou
resolver polidamente, ou ampliar violentamente. O que sustentei nesta
conferência é bem diferente: a crença é uma caricatura da religião, exatamente como o conhecimento é uma caricatura da ciência. A crença é
modelada por uma falsa idéia de ciência, como se fosse possível propor a
pergunta “você acredita em Deus?” segundo o mesmo modelo de “você
acredita no aquecimento global?”. Ocorre que a primeira questão não
traz nenhum dos instrumentos que permitiriam o prosseguimento da referência, e que a segunda conduz o locutor a um fenômeno ainda mais
invisível do que Deus ao olho desarmado, uma vez que para chegar a ele
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
devemos viajar por imagens de satélite, simulação computacional, teorias de instabilidade da atmosfera terrestre, química da alta estratosfera... Crença não é questão de um quase-conhecimento e mais um salto
de fé para ir além; conhecimento não é uma questão de quase-crença, a
que supostamente podemos responder se olharmos diretamente para as
coisas próximas, ao nosso alcance.
Na fala religiosa há de fato um salto de fé, mas este não é um salto
mortal de acrobacia, que visa superar a referência por meios mais ousados e arriscados; é uma acrobacia, sim, mas que tem por objetivo pular e
dançar na direção do que é próximo e presente, redirecionar a atenção,
afastando-a do hábito e da indiferença, preparar a pessoa para que seja
tomada novamente pela presença que quebra a passagem usual e habitual do tempo. Quanto ao conhecimento, ele não é uma apreensão direta
do ordinário e do visível, contra todas as crenças na autoridade; é, sim,
uma extraordinária confiança — ousada, complexa e intrincada — em cadeias progressivamente articuladas e inclusivas de transformações de documentos, as quais, por muitos tipos distintos de provas, conduzem além,
para novos tipos de visões, e assim nos obrigam a romper com as intuições e preconceitos do senso comum. A crença é simplesmente irrelavante para qualquer ato de fala religioso; o conhecimento não é um modo
preciso de caracterizar a atividade científica. Poderíamos avançar um
pouco, se designássemos como fé o movimento que nos traz para o próximo e o presente, e mantivéssemos a palavra crença para essa mistura necessária de confiança e desconfiança com que temos necessidade de considerar todas as coisas que não podemos ver diretamente. A diferença
entre ciência e religião não se encontraria, portanto, nas competências
mentais diversas associadas a dois reinos distintos — a ‘crença’, aplicada
a vagos assuntos espirituais, e o ‘conhecimento’, às coisas diretamente
observáveis —, mas na aplicação de um mesmo amplo conjunto de competências a duas cadeias de mediadores que vão em duas direções distintas. A primeira cadeia leva ao que simplesmente está por demais longínquo e é por demais contra-intuitivo para que possa ser diretamente
apreendido — ou seja, a ciência. A segunda cadeia, a religiosa, também
leva ao invisível, porém o que ela atinge não é invisível por estar oculto,
cifrado e distante, mas apenas por ser dificil de renovar.
O que quero dizer é que, tanto no caso da ciência quanto no da religião, congelar o quadro, isolar um mediador dos seus encadeamentos, de
sua série, impede instantaneamente que o significado seja modulado e
transmitido em verdade. A verdade não se encontra na correspondência
— seja entre as palavras e as coisas, no caso da ciência, ou entre original
371
372
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
e cópia, no caso da religião —, mas em tomar a si novamente a tarefa de
continuar o fluxo, de prolongar em um passo a mais a cascata das mediações. Meu argumento é que em nossa atual economia de imagens talvez
tenhamos cometido um ligeiro equívoco em relação ao segundo mandamento de Moisés e faltado ao respeito com os mediadores. Deus não pediu que não fizéssemos imagens — de que mais dispomos para produzir
objetividade, para gerar piedade? æ; ele disse que não congelássemos a
imagem, que não isolássemos um quadro retirando-o do fluxo que, só ele,
empresta-lhes, às imagens, seu real — repetidamente representado, recorrentemente reparado e realizado — sentido.
Muito provavelmente, terei falhado em estender para vocês, nesta
noite, nesta mesma sala, esse fluxo, essa cascata de mediadores. Se é assim, então menti, então não estive a falar no modo religioso, não fui capaz de pregar, e simplesmente falei sobre religião, como se houvesse um
domínio de crenças específicas, ao qual uma pessoa pudesse vincular-se
por alguma espécie de apreensão referencial. Esse teria sido um erro não
menor que o do amante que, ouvindo a pergunta “você me ama?”, respondesse: “eu já te disse que sim há tanto tempo, por que perguntar novamente?”. Por quê? Porque não adianta haver dito no passado, se você
não pode mais uma vez, agora, dizê-lo, e tornar-me novamente vivo para
você, de novo próximo e presente. Por que haveria alguém de pretender
falar religião, senão para salvar-me, converter-me, no ato?
Recebido em 9 de fevereiro de 2004
Aprovado em 10 de março de 2004
Tradução de Amir Geiger
Bruno Latour é professor do Centre de Sociologie de l’Inovation da École
Nationale Supérieure des Mines, Paris.
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
Notas
* No espírito do argumento do autor, o texto aqui publicado mantém sua forma original de conferência. A versão original em inglês será publicada em 2005
pela Oxford University Press, na coletânea Science, Religion, and the Human Experience (organizada por James D. Proctor), que traz os textos da série homônima
de conferências ministradas na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara em
2001-2003 (ver http://www.srhe.ucsb.edu/).
1 Para uma extensão desse argumento e de sua demonstração prática, ver
Latour 2002. Transitei em torno dessas questões em Latour 1998 e em Latour 2002.
Para uma investigação sobre o pano de fundo da comparação entre ciência e religião, ver Latour e Weibel 2002.
Citado por Putnam em sua conferência [“The Depths and Shallows of Experience”, conferência de Hillary Putnam, parte da mesma série em que esta de
Latour foi pronunciada].
2
3 Ver a conferência de Boyer [“Gods, Spirits and the Mental Instincts that
Create Them”, nesta mesma série] e seu livro Religion Explained (Boyer 2001). A
teologia evolucionária compartilha com a velha teologia natural do século XVIII a
admiração pelo ‘ajustamento maravilhoso’ do mundo. Não importa muito se isso
leva a uma admiração pela sabedoria de Deus ou da Evolução, pois em ambos os
casos é essa admirável conformidade que provoca a impressão de que uma explanação foi oferecida. Darwin, está claro, destruiria a velha teologia natural tanto
quanto esta outra teologia natural baseada na evolução: não há conformidade,
nenhuma adaptação sublime, nenhum ajuste maravilhoso. Mas os novos teólogos
naturais não perceberam que Darwin desmantelou a igreja deles ainda mais rapidamente do que a daqueles predecessores que eles tanto desprezam.
Na pena de William James, a ciência aparece no feminino, ele a designa
por she, em vez do neutro usual em inglês, it — bela prova de correção política
avant la lettre...
4
5 Para um argumento bem mais desenvolvido sobre visualização na ciência,
ver Galison 1997; Jones e Galison 1998; e Latour e Weibel 2002.
Para o conjunto do que se segue, ver o catálogo da exposição Iconoclash.
Beyond the science wars in science, religion and art (Latour e Weibel 2002).
6
373
374
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
Referências bibliográficas
BOYER, Pascal. 2001. Religion explained: the human instincts that fashion gods, spirits and ancestors.
London: William Heinemann.
GALISON, Peter. 1997. Image and logic. A material culture of microphysics. Chicago: The University of
Chicago Press.
JONES, Carrie e GALISON, Peter
(orgs.). 1998. Picturing science,
producing art. London: Routledge.
KOERNER, Joseph. 2002. “The Icon as
Iconoclash”. In: B. Latour e P. Weibel, Iconoclash: beyong the image
wars in science, religion and art.
Cambridge, Mass.: MIT Press. pp.
164-214.
LATOUR, Bruno. 1998. “How to be Iconophilic in Art, Science and Religion?” In: C. Jones e P. Galison
(orgs.), Picturing science, producing art. London: Routledge. pp.
418-440.
___ . 1999. Pandora’s hope. Essays on
the reality of science studies. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
___ . 2002a. “Thou shall not take the
Lord’s name in vain — being a sort
of sermon on the hesitations of religious speech”. Res, 39:215-235.
___ . 2002b. Jubiler ou les tourments
de la parole religieuse. Paris: Les
Empêcheurs de penser en rond.
___ e WEIBEL, Peter (org.). 2002. Iconoclash: beyond the image wars in
science, religion and art. Cambridge, Mass.: MIT Press.
MARIN, Louis. 1989. Opacité de la
peinture. Essais sur la représentation. Paris: Usher.
WHITEHEAD, Alfred North. 1926. Religion in the making. New York:
Fordham University Press.
“NÃO CONGELARÁS A IMAGEM”
Resumo
Abstract
Este artigo examina as condições de
felicidade (estendendo-se o sentido
que tem este conceito na teorias dos
atos de fala) da enunciação religiosa.
Por analogia com a fala de amor, a fala
religiosa é aqui vista como um discurso
transformativo antes que informativo,
isto é, um discurso que fala-faz (de)
quem fala antes que do mundo, mas
que, ao fazê-lo/ falá-lo, muda o mundo
em que se fala tanto quanto aqueles
que nele falam. Comparam-se em seguida as condições de verdade do discurso da ciência, fundadas no estabelecimento de longas cadeias mediativas entre a palavra e o mundo, e as
condições de felicidade da fala religiosa, fala de proximidade, radicada em
uma “imediação”. A partir de uma
análise ilustrativa de alguns modos de
experimentação das imagens (visuais)
religiosas na arte, conclui-se então
com uma recusa da dupla redução caricatural da religião à crença e da ciência ao conhecimento.
Palavras-chave Religião, Ciência, Discurso, Imagem, Crença, Conhecimento
This article examines the felicity conditions (extending the sense assumed
by this concept in speech act theory) of
religious statements. In an analogy
with love talk, religious talk is seen here as transformative discourse rather
than as informative discourse – that is,
a discourse which speaks of whoever
is uttering it rather than of the world,
but which, in doing it, alters the world
of which it speaks just as much as those who speak in it. The article then
compares the truth conditions of scientific discourse, founded on the establishment of long mediating chains between word and world, and the felicity
conditions of religious speech, a closerange speech rooted in ‘imediation’.
Providing an illustrative analysis of various ways of experiencing religious
(visual) images in art, the article concludes by refusing the doubly stereotypic reduction of religion to belief and
science to knowledge.
Key-words Religion, Science, Discourse, Image, Belief, Knowledge
375
Mana
Print ISSN 0104-9313
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
→
ARTIGO BIBLIOGRÁFICO
Para o conhecimento das línguas da Amazônia
Bruna Franchetto; Elsa Gomez-Imbert
Bruna Franchetto é professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social
do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro; Elsa Gomez-Imbert é
pesquisadora do CNRS associada à Université Toulouse 2, ERSS
RESUMO
O livro Amazonian Languages, organizado por R. M. W. Dixon e A. Y. Aikhenvald,
publicado em 1999, já é uma obra de referência, de consulta quase obrigatória para
todos os que se interessam por lingüística, línguas indígenas da Amazônia e etnologia
das terras baixas da América do Sul. Não obstante, o livro contém partes e temas que
têm suscitado reações na comunidade científica, fora e dentro do Brasil. Este ensaio
apresenta não somente as contribuições do livro para o avanço dos conhecimentos
sobre línguas amazônicas, mas também as críticas das quais são passíveis alguns de
seus capítulos, por suas limitações empíricas e teóricas, bem como a Introdução, por
suas colocações provocativas a respeito de certas políticas de pesquisa na América do
Sul. A introdução do livro opõe categorias — lingüistas nacionais versus estrangeiros —
e escamoteia identidades — lingüistas missionários e missionários lingüistas —,
descrevendo um quadro discutível e equivocado do que são e significam a pesquisa e o
estudo das línguas indígenas, sejam elas "amazônicas" ou não.
Palavras-chave: Línguas indígenas; Lingüística; Amazônia; Etnolingüística; Política
lingüística
ABSTRACT
The book Amazonian Languages, compiled by R. M. W. Dixon and A. Y. Aikhenvald,
published in 1999, is already a reference work - indeed, practically compulsory reading
for anyone interested in linguistics, the indigenous languages of Amazonia and the
ethnology of lowlands South America. Nonetheless, the book contains sections and
themes that have provoked strong reactions in the scientific community both inside
and outside Brazil. This essay presents not only the book's undoubted contributions
towards advancing our knowledge of Amazonian languages, but also the criticisms
justifiably levelled at some of its chapters, caused by empirical and theoretical
limitations, as well as others concerning the book's introduction and its provocative
opinions regarding specific research policies in South America. The introduction to the
book opposes categories (national versus foreign linguists), plays verbal sophistry with
identities (missionary linguists and linguistic missionaries) and paints a contestable and
erroneous picture of what it means to research and study indigenous languages,
'Amazonian' or otherwise.
Key words: Indigenous Languages; Linguistics; Amazonia; Ethnolinguistics; Linguistic
policies.
R. M. W. Dixon e Alexandra Y. Aikhenvald (orgs.). 1999. The Amazonian
Languages. Cambridge: Cambridge University Press. 446 pp.
O livro The Amazonian Languages se apresenta como um "passo primeiro e preliminar
para a elucidação das características estruturais das línguas amazônicas, bem como de
suas relações genéticas e regionais" (:2). Pode ser considerado uma referência
obrigatória para todos aqueles que desejam encontrar numa única publicação
informações sistematizadas e confiáveis sobre troncos, famílias e línguas da Amazônia,
não somente as que ainda existem, como também aquelas já extintas e sobre as quais
existe algum tipo de documentação. É esta a razão que nos motivou a empreender
uma leitura atenta de seu conteúdo e de suas premissas.
Os organizadores do livro são lingüistas com longa experiência fora da Amazônia.
Robert M. W. Dixon é um renomado pesquisador das línguas aborígenes da Austrália.
Alexandra Y. Aikhenvald chegou ao Brasil nos anos 80, retomando hipóteses relativas à
existência de macroagrupamentos genéticos, como o Nostrático, o Austronésio, o SinoCaucasiano e o Ameríndio, e tentando estabelecer relações entre eles, numa busca do
que podemos chamar de "língua original". Dixon e Aikhenvald se encontraram quando
faziam pesquisa na Amazônia, com falantes de línguas das famílias Arawá e arawak,
respectivamente. Hoje, dirigem o Research Centre for Linguistic Typology na La Trobe
University, na Austrália, o qual tem atraído, ultimamente, vários estudantes, inclusive
brasileiros, que realizam pesquisas sobre línguas indígenas no Brasil.
Algo surpreendente da parte de editores com um tal histórico é sua posição
(introduzida logo no início do volume, à p. xxvi) de evitar o uso de qualquer uma das
teorias lingüísticas formais correntes (ou passadas), de modo que os "surveys
lingüísticos neste volume tenham um valor duradouro", objetivo que desejam atingir
"em termos do que veio a ser chamado recentemente de Teoria Lingüística Básica
(Basic Linguistic Theory/BLT) [...], a tradição acumulada de descrições lingüísticas que
evoluiu nos últimos dois mil anos". A maior parte dos leitores, mesmo sendo lingüistas,
certamente não ouviu falar ou leu sobre a BLT, que não consiste tanto em uma teoria
quanto em um vocabulário voltado para identificação, definição e nomeação de
fenômenos lingüísticos. Como tal, a BLT não está livre de teorias implícitas, o que pode
gerar equívocos ou confusões conceituais.
É o caso, no livro em questão, da identificação de fenômenos considerados como
manifestação de concordância ou de uma lógica "ergativa": dependendo do autor e do
modelo descritivo por ele adotado, que remete a uma teoria não explicitada, fatos
distintos podem ser subsumidos sob um mesmo rótulo, ou fatos da mesma natureza,
mesmo se superficialmente distintos, podem ser tratados como sendo de natureza
distinta. Assim, a discussão em torno das manifestações de concordância, presentes
freqüentemente, mas não sempre, na morfologia da palavra verbal, só seria possível
se houvesse clareza, se não consenso, a respeito do que pode ser chamado de
concordância e da diferença entre categorias substantivas ou lexicais e categorias
funcionais ou gramaticais. Outro exemplo é a existência de um tipo (morfossintático)
de língua conhecido como "ergativo". Uma língua é dita ergativa se nela o agente do
verbo transitivo é tratado pela morfologia ou pela sintaxe de modo a distingui-lo do
paciente ou objeto do verbo transitivo, por sua vez codificado do mesmo modo que o
argumento único do verbo intransitivo. É um arranjo morfossintático que se opõe ao
arranjo das línguas de tipo nominativo-acusativo, como, por exemplo, o português ou
o inglês, nas quais os argumentos "sujeito" constituem uma categoria que inclui o
agente transitivo e o argumento único do verbo intransitivo, marcando como "outro" o
objeto do verbo transitivo. Aqui, também, pode-se observar que sob o guarda-chuva
da ergatividade têm-se abrigado fenômenos dos mais díspares: padrões e formas de
concordância ou de séries de índices pessoais no verbo, marcas de caso nominal,
mecanismos sintáticos usados para expressar a co-referencialidade (relação entre
argumentos que possuem o mesmo índice referencial) e que permitem a coordenação
e a subordinação, até as ordens possíveis de constituintes na frase. A confusão poderia
ser clareada se os lingüistas conseguissem ter uma referência teórica comum, não do
gênero BLT, mas resultante de um compromisso consciente e discutido entre teorias
formais existentes, permitindo pelo menos um vocabulário compartilhado.
A idéia de evitar formalismos específicos de modo a tornar a informação mais acessível
seria compreensível se os editores não tivessem decidido que "a maior parte das
gramáticas (certamente todas as dotadas de um valor permanente) são escritas em
termos dos parâmetros da Teoria Lingüística Básica", e não declarassem "opacas"
(:370) ou inexistentes aquelas filiadas a outras tradições — uma atitude, digamos, um
tanto paroquial.
O livro compõe-se de quinze capítulos: o primeiro é uma introdução, dez deles
enfocam as famílias lingüísticas maiores, dois cobrem conjuntos de pequenas famílias e
línguas isoladas, dois tratam de áreas lingüísticas (Noroeste Amazônico e Alto Xingu).
Sete artigos são de autoria de membros do Summer Institute of Linguistics (SIL)1,
cinco, dos próprios editores e três, de dois lingüistas brasileiros. O objetivo é fornecer
um perfil tipológico para cada família ou língua na Amazônia, sintetizando o que se
conhece a partir das fontes disponíveis, tanto publicadas como inéditas, incluindo
informações pessoais dadas por pesquisadores e missionários. O livro oferece um
panorama da Amazônia por famílias lingüísticas, contém índices de línguas e de
autores, mas não trata de línguas importantes como waorani (wao ou huaorani ou
auca), por exemplo, língua isolada da Amazônia equatoriana falada ainda por cerca de
duas mil pessoas (ver Queixalós e Lescure 2000). Neste ensaio, nós nos
concentraremos em aspectos ou capítulos que podemos efetivamente julgar a partir
das nossas competências.
O conteúdo da "Introdução" (capítulo 1) — e seu tom — é, para dizer o mínimo,
controverso, à parte uma salutar lição sobre o uso correto e os limites dos métodos
para reconstrução do passado e da história lingüísticos, advertindo contra os perigos
contidos em hipóteses frágeis concernentes às relações genéticas para além das
fronteiras de famílias solidamente estabelecidas. Tanto a defesa do trabalho dos
lingüistas missionários quanto a crítica dos pesquisadores sul-americanos — acusados
de publicar em "periódicos obscuros", de possuírem um baixo padrão acadêmico e de
preferirem confinar-se a examinar o português e o espanhol em termos da mais
recente teoria formal importada do norte — já ocasionaram protestos que foram
expressos em foros locais e internacionais. A perspectiva parcial dos editores oscila
entre uma aparente ingenuidade e uma visão extremamente limitada e
preconceituosa. A defesa da ação missionária de instituições como o SIL na Amazônia
choca-se com fatos, passados e presentes, que testemunham interesses antiindígenas
e intolerância cultural. Além disso, a "obra literária" desses missionários no Brasil não
é exatamente uma referência ou um sucesso: cartilhas e coletâneas de textos
tradicionais por eles produzidos deixam muito a desejar em termos de conteúdo e de
suas qualidades pedagógicas e estéticas (ver Hvalkof e Aaby 1981; Stoll 1982). Os
dois únicos bons dicionários em línguas indígenas (Grenand 1989; Matteï-Müller 1994)
não são de autoria de membros do SIL. A lingüística do SIL não é muito mais
produtiva, interessante ou menos dominada por modas teóricas do que a dos
acadêmicos das universidades locais (leiam-se brasileiras). O uso escasso de trabalhos
produzidos por pesquisadores sul-americanos não missionários — principalmente
quando escritos em outra língua que não o inglês, em uma tendência que infelizmente
se alastra entre pesquisadores de língua inglesa — assim como a falta de familiaridade
com a etnologia amazônica e estudos históricos são provavelmente a principal causa
dos erros e falhas que se encontram no livro. De fato, esse mesmo descaso diante da
literatura etnológica reaparece em vários capítulos: a propósito dos mitos no capítulo
3, sobre línguas arawak; das línguas francas no Alto Xingu, no capítulo 15; ou da
hipótese pouco verossímil sobre a origem das diferenças fonológicas entre fala
masculina e feminina nos Karajá, no capítulo 6, que trata das línguas macro-jê.
Os capítulos de Desmond Derbyshire e Cheryl Jensen são os melhores do livro.
Derbyshire consegue oferecer, no capítulo 2, um perfil tipológico consistente da família
karib, com honestidade e clareza. Há, todavia, erros na apresentação de dados de
outros autores, provavelmente resultantes do exame apressado de certas fontes ou da
falta de familiaridade com outras. Existem fontes mais recentes sobre o Karijona do
que as citadas pelo autor (Robayo 1986; 1987; 1989; 1995; 1996a-b); o
"alongamento prosódico das vogais" em certas línguas karib (nota 3 à tabela 2.3, p. 29
do livro) pode ser analisado como um efeito do acento rítmico iâmbico, como Hayes fez
para o Hixkaryana (ver também Meira 1998 para o Tiriyó). Alguns pontos importantes
não recebem a devida atenção. A discussão dos "afixos derivacionais verbais", cuja
riqueza consiste em um dos traços tipológicos da família (3.2.1) — "fazer" verbos
graças à interação entre uma morfologia altamente aglutinativa e a construção da
frase-enunciado —, poderiam ser objeto de uma discussão mais ampla e melhor
ilustrada.
Jensen mostra competência ao sumarizar no denso capítulo 5 as principais
características da família tupi-guarani, a melhor documentada nas terras baixas sulamericanas. Todavia, Jensen deixa de fora importantes fontes brasileiras, como Leite
(1990; 1994), Vieira (1993), Leite e Vieira (1991; 1995), que certamente ofereceriam
informações mais abundantes e aprofundadas sobre a sintaxe tupi-guarani, sobretudo
no que concerne à natureza de pronomes e nomes, às construções causativas, aos
padrões ativo-estativo2 e ergativo.
Aryon Rodrigues, conhecido lingüista brasileiro, é o autor dos capítulos sobre as
línguas tupi e macro-jê. O primeiro tem seu valor diminído em virtude do
desconhecimento de muitas das pesquisas em nível de doutorado feitas por estudantes
brasileiros que estavam ainda em andamento quando de sua elaboração. A cobertura
dos tópicos selecionados é fragmentária e muitos fenômenos interessantes não são
mencionados, como, em sintaxe, a incorporação de nomes e adjetivos (Moore 1985)
ou o movimento V23 (Storto 1997) e, em fonologia, a deslabialização (perda da
articulação labial) e a desnasalização (perda da nasalidade) como processos
diacrônicos (Moore e Galúcio 1993).
O capítulo sobre as línguas macro-jê cumpre a importante função de reunir não apenas
as referências mais importantes, como também várias informações tipológicas. Nem
todas as famílias jê estão adequadamente representadas, particularmente aquela à
qual pertence a língua karajá, para a qual existem boas fontes. Rodrigues apresenta o
que parecem ser características morfológicas e sintáticas macro-jê; a mais
interessante delas é o que o autor chama de "flexão que indica a contigüidade de um
determinante", um "dispositivo flexional difuso nas línguas macro-jê" (:181), presente
também em línguas tupi e karib. Esse fenômeno é definido como uma manifestação
morfológica da flexão em nomes e posposições ou da concordância nos verbos. Um
quadro de referência teórica teria permitido ao autor enxergar um mesmo conjunto de
fatos sintáticos sob diferenças morfológicas superficiais. Perde-se de vista, assim, uma
generalização potencialmente importante: as formas pronominais prefixadas parecem
apresentar uma distribuição complementar com os argumentos nominais plenos. Se
esta observação é válida, seria bom, pelo menos, tentar investigar a natureza da
concordância, a natureza referencial dos índices pronominais e a natureza dos nomes
enquanto adjuntos quando não ocorrem em posição de argumento que precede
imediatamente o núcleo regente (o verbo). Há certa falta de clareza na definição das
categorias lingüísticas. Por exemplo, parece que o que o autor nomeia "flexão de
número" é um processo derivacional que cria verbos com um significado plural (grupo)
ou iterativo (5.3). Quanto à seção dedicada à sintaxe macro-jê (6), a demonstração da
unidade das famílias desse tronco por meio de uma tipologia da ordem de palavras é
discutível, pois reúne dados heterogêneos, limitando-se a uma característica
superficial, visto que as línguas jê utilizam-se de vários mecanismos de mudança de
ordem dos elementos da frase.
O capítulo 7 é dedicado às línguas da família tukano, apresentadas sob o ponto de
vista do SIL, instituição a que pertence a autora, Janet Barnes. A bibliografia é parcial:
29 das 33 referências bibliográficas são trabalhos do SIL e não há referência às
publicações de pesquisadores não-missionários ou escritas em português ou em
francês. Dados complementares — bibliografia, descrições, estado atual das línguas e
de seus falantes, mapas recentes das áreas tukano e da Amazônia em geral — podem
ser encontrados em dois livros publicados no ano 2000. O primeiro é As línguas
amazônicas hoje, organizado por Francisco Queixalós e Odile R. Lescure; o segundo é
Lenguas Indígenas de Colombia (daqui por diante, LIC), organizado por Maria-Stella
González de Pérez e Maria-Luisa Rodríguez de Montes. A autora do capítulo "Tukano"
oferece uma proposta que, se é inovadora, não está apoiada em uma argumentação
convincente: a divisão da família em três ramos em lugar da divisão tradicional,
geográfica, entre um ramo ocidental e um ramo oriental. O novo ramo, chamado de
"central", não corresponde a critérios geográficos e reúne duas línguas
tradicionalmente incluídas no ramo oriental: a mais setentrional (cubeo ou kubeo) e a
mais meridional (tanimuca ou tanimuka-retuarã) das línguas orientais. "Central" é um
rótulo enganador, e os próprios editores equivocaram-se ao afirmar que as línguas
tukano são faladas em três áreas distintas: "Even Tucano, one of the most linguistically
homogeneous of families (sic), is spoken over three distinct areas" (:1). Nenhum perfil
"central" emerge da apresentação de Barnes. Na nota 2 (:211), ela chama a atenção
para a seção do capítulo dedicado à gramática das línguas tukano, onde se
ressaltariam as diferenças entre o tanimuka e as outras línguas: "Note the number of
instances in the grammar section where Tanimuca differs from all the other languages
therein described". Diferentemente do kubeo, que — como as outras línguas orientais
— tem seis vogais, nasalidade morfêmica, evidenciais e o sistema de classificadores
nominais mais rico da família, o tanimuka perdeu a sexta vogal, a nasalidade
morfêmica, bem como quase todos os classificadores nominais, e tem um sistema
reduzido de evidenciais. A única especificidade do ramo "central" em relação às outras
línguas orientais seria a situação de contato com línguas arawak, dado o sistema de
exogamia lingüística existente nessa região do noroeste amazônico. Uma das línguas
orientais, o pisamira ou pápiwa, não aparece no inventário das línguas tukano (:209),
pois, segundo a autora (:207), não haveria suficientes dados disponíveis para justificar
a sua inclusão. González de Pérez (2000), contudo, documentou o pisamira, língua em
perigo de extinção, com apenas 30 falantes.
O capítulo "Tukano" contém observações discutíveis e lacunas, das quais destacamos,
aqui, as mais relevantes. Há uma seção intitulada "Adjetivos" (§3.6), classe lexical
inexistente na família (e em muitas línguas, não somente amazônicas). As
características tipológicas mais interessantes são achatadas, como é o caso da
existência de verbos seriais, fenômeno ilustrado tão-somente por exemplos traduzidos
para o inglês.
Passando para a fonologia, vê-se que não são apresentados processos segmentais e
nem identificadas as moras4, constituintes essenciais da estrutura prosódica no
condicionamento dos processos fonológicos tukano (Gomez-Imbert 1997a, b; Ramirez
1997). As moras são freqüentemente ocultadas pela redução arbitrária de vogais
longas, como no caso dos pronomes; nos exemplos das línguas barasana (11, 20) e
karapana (14), os pronomes, isolados ou não, têm uma mora, ao passo que em tuyuka
têm sempre duas moras (17, 30, 31). A transcrição dos dados oculta um processo de
alongamento: nas línguas tatuyo, karapana, barasana, makuna (e com certeza em
outras), tanto as raízes lexicais quanto a palavra têm, minimamente, duas moras. Pelo
efeito dessa minimalidade prosódica, os pronomes têm realização monomoraica (uma
só mora) quando um sufixo aparece na palavra, mas são bimoraicos (duas moras)
quando aparecem isolados. Uma raiz como "fumar", representada por u em karapana
(14), é bimoraica, ou seja, em realidade, úú. A nasalidade das línguas "centrais" e
"orientais" é definida como autossegmento morfêmico, definição inadequada para o
tanimuka que, como as línguas ocidentais, tem nasalidade vocálica e propagação da
nasalidade bloqueada pelas consoantes surdas. A autora não oferece o inventário dos
segmentos que são alvo da nasalidade e não reconhece a transparência dos segmentos
surdos, detalhes importantes para uma tipologia dos sistemas de harmonia nasal, nas
línguas amazônicas e alhures. Os tons das línguas tukano são uniformemente
reduzidos a sistemas de acento ("accent") ou de acento tonal ("pitch-accent"), com
dois tons, alto e baixo, sendo o tom alto associado ao acento. Assim, uma palavra com
tons altos teria somente tantos acentos quanto fosse o número de sílabas: esquece-se
assim o valor contrastivo do acento. Algumas línguas tukano podem ser interpretadas
como línguas acentuais — tuyuka (Barnes 1996), pisamira (González de Pérez 2000),
desana —, mas outras só podem ser analisadas como sendo línguas tonais: tatuyo
(Gomez-Imbert 1982), tukano (Ramirez 1997). A maioria das línguas orientais é tonal,
segundo as descrições que constam do LIC. Numa análise do barasana como língua de
acento tonal (Gomez-Imbert 1997a; Gomez-Imbert e Kenstowicz 2000), são
necessários dois valores acentuais ou dois acentos para opor as duas melodias tonais
presentes no léxico: alto, alto-baixo. Dessa maneira, a análise tonal permite dar conta
de processos que a análise acentual não pode explicar (Gomez-Imbert 2001).
Ainda no mesmo capítulo, a identificação de alguns morfemas nos parece questionável.
Vale a pena dar alguns exemplos que mostram como as análises propostas não se
adequam à riqueza do material empírico de que dispomos. Assim, a forma -ja/je
(§3.2.2) não é apenas a de um sufixo genitivo, pois se comporta como uma raiz
nominal nas línguas da área piraparaná (tatuyo, karapana, barasana, makuna). As
ocorrências do sufixo -re são apenas parcialmente explicadas, se restringirmos seu
significado ao de um "marcador de especificidade" ("specificity marker" (§3.4)). Tratase, primariamente, de um marcador de objeto oblíqüo (ou indireto, exceto em
tanimuka); secundariamente, -re marca um objeto indireto e também um objeto
direto, dependendo de uma escala de saliência em relação ao traço "animado".
Vejamos uns poucos exemplos da língua tatuyo. Esse sufixo pode aparecer no objeto
especificado com referência inanimada, como na frase pátu-re ~dái-haj-ká-hoó-wí,
"nósj mandamos a coca para elesi"; mas se o objeto inanimado co-ocorrer, na mesma
frase, com um objeto animado, será este último que levará o sufixo (~dá-re pátu hajká-hoó-wí, "para eles nósj mandamos a coca"). Por outro lado, quando o objeto não é
especificado, é engatilhado um processo de incorporação nominal (~dái-haj-ká[pátu~dúú]wí "nósj [coca-alimentar] elesi"). Como se vê, temos aqui um contra-exemplo à
generalização que consta do capítulo 1 do livro, que afirma: "Se há incorporação
nominal, tipicamente apenas nomes obrigatoriamente possuídos podem ser
incorporados" ("If there is noun incorporation, typically only nouns which are
obligatorily possessed can be incorporated"). A incorporação de nomes absolutos5
("camarões-pescar", "formigas-queimar") não é menos usual que a incorporação de
nomes dependentes. Outras generalizações podem ser infirmadas. Em tatuyo, os
verbos com semântica espacial podem receber dois prefixos de referência cruzada
(~dái-haj-ká-ehá-w í "nósj alcançamos elesi") e são providos de três posições para
prefixos: duas para a referência cruzada dos argumentos com referência animada e
uma para o prefixo de modo-aspecto ká-, identificado pela autora como sendo
somente um prefixo nominal (ver Gomez-Imbert 1982). Os dados não confirmam outra
generalização proposta: "As línguas tucano são inteiramente sufixais" ("Tucano
languages are entirely suffixal").
A afirmação de que o multilingüismo é a norma na Amazônia (:5) baseia-se na
identificação de duas áreas lingüísticas caracterizadas por fenômenos de contato e
conseqüente difusão entre línguas não relacionadas geneticamente. No capítulo 14,
"Areal diffusion and language contact in the Içana-Vaupés basin, north-west
Amazonia", Alexandra Y. Aikhenvald procura estabelecer a difusão de três famílias
geneticamente independentes, arawak setentrional (AR), tukano oriental (TO) e makú
(MA), identificando traços partilhados pelas línguas nessa área e utilizando como
"controle" línguas "testemunho", ou seja, línguas das mesmas famílias faladas fora da
área. Seguimos essa mesma estratégia usando o achagua (AR, Meléndez 1989) e as
línguas TO da área Piraparaná (trabalhos de Gomez-Imbert) como línguas
"testemunho", mas não encontramos evidências fortes a favor do argumento da
autora. O leitor pode procurar informações sobre as três famílias em contato nos
capítulos 3, 7 e 9 do livro.
Aikhenvald afirma que as bacias dos rios Vaupés e Içana formam uma área lingüística
bem definida e que, dentro desta área, a bacia do Vaupés é claramente uma subárea:
"[...] the combined Vaupés and Içana river basins constitutes a well-defined linguistic
area; and within this the Vaupés basin is a clear linguistic sub-area" (:385). A
perpectiva da autora é parcial, pois refere-se somente à porção brasileira, e contém
erros no que diz respeito à situação na Colômbia. O baixo rio Caquetá-Yapurá,
tributário setentrional do rio Amazônas, e seus afluentes (Cananari, Piraparaná e
Miritiparaná) foram esquecidos. Além disso, os grupos TO do Piraparaná (Tatuyo,
Barasana/Taiwano, Makuna) são situados equivocadamente no rio Vaupés ("on the
Vaupés"). A partir de uma perspectiva mais ampla, temos um quadro diferente da área
toda, onde os TO aparecem rodeados por grupos arawak, enquanto os Makú não
apenas os circundam como também estão dispersos entre eles (LIC tem excelentes
mapas da área colombiana). Há situações de contato, relevantes para entender a
complexidade do sistema intertribal da região, não consideradas. No ocidente,
encontramos os Kabiyari (AR) junto com grupos TO do Piraparaná, resultando, por
exemplo, em similaridades entre a mitologia kabiyari e a barasana. No sul, o contato
aproxima o yukuna (AR) e o tanimuka (TO), com influências arawak sobre este último
(apenas mencionadas, na nota 6). Ignorando que as línguas yukuna e o kabiyari são
faladas na Colômbia, a autora afirma, equivocadamente, que a principal diferença
entre o Uaupés brasileiro e o Vaupés colombiano é o fato de que uma língua nãotukano, tariana, é falada no Brasil (no mapa 2, p. 66, kabiyari e yukuna estão de fato
muito longe de sua localização real)6.
O capítulo escrito por Aikhenvald é antes um esboço que um texto fechado, o que
talvez explique as repetições e os erros. Há erros de transcrição das línguas TO: c e
não k (9, 31), j e não h (31, 32); ph (19, 22) e kh (35) e h em coda silábica (35) são
segmentos fonéticos não fonológicos em tukano; yei (1, 2) no lugar de yi?i "I (eu)",
uma vez que ei é uma seqüência de vogais impossível na maioria das línguas TO. Há
erros nas glosas — "cobra" e não "anaconda" (19) —, e de classificação: o tanimuka,
tradicionalmente no ramo tukano oriental, e no capítulo 7 no ramo central, está, agora,
no ramo ocidental, "West Tucano". Há também erros na utilização do vocabulário
sociológico: o significado de "fratria" não é bem compreendido no contexto tukano
oriental; é usado o termo "tribo", hoje cuidadosamente evitado pelos antropólogos que
estudam essas sociedades, e é introduzida uma nova e discutível unidade social,
"subtribo".
Uma observação central diz respeito às atitudes diante da língua. Segundo Aikhenvald,
o papel de emblema de identidade étnica assumido pela língua paterna faz com que
mesmo as línguas mais próximas sejam mantidas estritamente separadas, criando um
impedimento muito forte para empréstimos lexicais, em contraste com outras
situações de multilingüismo. A identificação do grupo social com a sua língua e a
percepção de uma associação entre "tribo" e língua limitariam drasticamente os
empréstimos lexicais ("language identification and the perceived link between tribe and
language drastically limit the extent of lexical borrowing", p.392). Na verdade,
empréstimos lexicais vindos da língua materna ocorrem na vida cotidiana,
simplesmente pelo fato de a língua da mãe ser a primeira a ser aprendida pela criança;
as variações presentes em uma mesma língua são introduzidas por meio das línguas
maternas dos falantes. Pares de línguas TO estreitamente relacionadas —
karapana/tatuyo, barasana/taiwano — pertencem a grupos ligados por trocas
matrimoniais preferenciais, e é difícil decidir se a proximidade é devida à conexão
genética, ao contato, ou a ambos. Empréstimos lexicais entre famílias operaram com
certeza em casos como: a) "tucano": jáatOe, baniwa (AR), dasé, tukano (TO), racé,
barasana (TO); b) "onça": t awi, achagua (AR), jáaßi, baniwa (AR), jaßí, kubeo (TO),
jáí, barasana (TO); jaßí-~bi; c) "cão": kubeo (TO), t awi-mi, "o que foi onça", achagua
(AR).
As evidências fonológicas de contatos interlingüísticos são pouco convincentes.
Primeiro, vejamos as três características do tariana partilhadas com TO e MA (:394395): 1) a nasalização como traço prosódico da palavra, 2) o acento tonal e os padrões
de entonação, 3) os fonemas com pouca carga funcional. A nasalidade (1) é definida
como "auto-segmento associado ao morfema" em TO (capítulo 7), como "prosódia da
sílaba" em MA (capítulo 9), e nenhuma evidência desta propriedade é apresentada
para o tariana. Uma vez que o acento tonal (2) não existe em tukano, a mais tonal das
línguas TO (Ramirez 1997), é difícil atribuir o acento tonal tariana à influência tukano.
Dois fonemas com baixa carga funcional, i, o, presentes nas línguas TO e MA, não
existem, segundo Aikhenvald, em outras línguas AR; em realidade, o i existe em
Guajiro e o o do marcador feminino tariana aparece também em achagua (AR) {-to,
t o, u}.
Em segundo lugar, os traços tariana resultantes da influência TO incluem: a) nas
oclusivas aspiradas, fonemas próprios do tariana e ausentes em tukano, a carga
funcional baixa e a tendência a uma variação livre com as oclusivas simples seriam
influência tukano; b) a ocorrência de sílabas (C)Vh7 no meio da palavra, alternando
com (C)hV e CVh antes de oclusivas surdas, lembra as sílabas CVh do tukano (esta
última existe em achagua como sílaba êmica, nu-enahto "minha filha", ao passo que
em tukano é ética); (c) y torna-se dy em início de palavra, um processo comum
também em achagua (AR); (d) a oclusiva glotal que, sem ser contrastiva, aparece
esporadicamente no fim de palavra em tariana, seria influência de um traço prosódico
de final de sentença do barasana e tatuyo, línguas da área Piraparaná que não têm
nenhum contato com o tariana.
Línguas TO, que se estendem pelo Brasil e avizinham-se ao tariana, mostram grande
atividade na região do aparelho fonador conhecida como "laringe", atividade ausente
nas línguas do Piraparaná, afastadas do tariana e que não apresentam pré-aspiração
ou pós-aspiração das oclusivas surdas. As línguas tukano orientais vizinhas do tariana
têm sílabas éticas CVh e ChV (tukano), oclusivas aspiradas êmicas Ch (Wanano),
apagamento de uma vogal tautomorfêmica antes de h ou entre consoantes surdas
(tukano, Wanano), e oclusão glotal êmica ou ética (ver descrições no LIC). Alguns
desses traços reaparecem em tanimuka (TO) e yukuna (AR). A direção da difusão não
é evidente, nestes e em outros casos. Classificadores nominais são comuns às línguas
TO e AR. As primeiras distinguem duas classes conceituais maiores, entes animados
(incluindo todos os animais) e entes inanimados. As arawak classificam os animais pela
forma, ao passo que as tukano orientais o fazem apenas com entes inanimados. Em
Kubeo (TO), todavia, classificadores de forma aparecem em nomes referentes a
animais (Gomez-Imbert 1996), ao passo que o tanimuka (TO) desenvolveu um
marcador de gênero neutro -a/-ka que aparece em nomes referentes a animais e a
entes inanimados; ambos os grupos têm mantido intensas trocas com povos arawak,
baniwa no primeiro caso e yukuna no segundo.
A difusão regional reduz-se de fato, para Aikhenwald, à influência unilateral das línguas
TO na língua tariana (AR). Com relação às oclusivas aspiradas surdas, daria para
pensar que a direção da influência vai do tariana ao tukano8.
O capítulo 15, escrito por Lucy Seki, lingüista da Universidade de Campinas, é
dedicado a um outro exemplo de sistema sociocultural multilíngüe — o Alto Xingu.
Neste, seria possível detectar não apenas a direção e os significados dos empréstimos
lexicais, mas também os sinais de uma difusão de traços fonológicos e morfológicos
através das fronteiras de línguas geneticamente não conectadas. Infelizmente, não há
evidências que suportem a afirmação da autora de que algumas características
fonológicas e morfológicas das línguas alto-xinguanas resultem de difusão. Entre os
traços considerados como tendo se desenvolvido nas línguas karib e tupi-guarani
xinguanas devido à "influência" arawak, a mudança p>h é um processo de
debucalização (perda da articulação na cavidade bucal) observado em todo o mundo
como mudança natural (no Uaupés, acontece em barasana/taiwano e makuna sem
nenhuma influência arawak). Uma relação causal é proposta entre a estrutura silábica
CV arawak e a ocorrência dessa mesma estrutura no karib xinguano, que seria
excepcional; aprendemos, porém, nos capítulos 3 (:78) e 2 (:26) do mesmo volume,
que línguas arawak e línguas karib não xinguanas têm uma estrutura silábica muito
similar (C)V(V)(C), com um conjunto muito similar de consoantes permitidas na
posição de coda. Mais do que isso, há erros geográficos (leste e oeste, e norte e sul,
têm suas posições trocadas nas tabelas 5.1 e 5.2) e importantes fontes de informação
lingüística, etnográfica e histórica são ignoradas. São esquecidos os Bakairi, grupo
indígena que fala uma língua de um dos ramos meridionais da família karib e que
permaneceu um longo tempo integrado ao sistema alto-xinguano e nunca deixou de
ter com este relações significativas (Franchetto 2001).
Em vários pontos do livro apresentam-se traços lingüísticos e culturais supostamente
recorrentes, em listas à la Borges elaboradas com base em informações banais ou
simplesmente errôneas. Um exemplo são as páginas sobre difusão (:7-10), onde
encontramos um esboço das fonologias amazônicas: "Há tipicamente um fonema
líquido, que é freqüentemente um flap. Há usualmente mais africadas que fricativas.
Uma vogal central alta não-arredondada i é freqüente. Um sistema vocálico amazônico
típico tem como membros i,e,a,i,u/o. Há tipicamente nasalização contrastiva de
vogais". O perfil consonantal pobre — um flap e mais africadas que fricativas — precisa
ser matizado: o flap pode ser um alofone de d, e africadas coronais são muitas vezes
parte de uma série de oclusivas ou podem ter alofones fricativos. Há, por outro lado,
características tipológicas relevantes, que tanto autores quanto editores deixaram
passar. Uma distinção entre soantes e obstruintes, como sendo as duas classes
maiores de consoantes, em lugar de uma correlação de vozeamento, é um traço
amplamente disseminado na Amazônia: na família karib, onde o vozeamento parece
recente, quando existente; em metade da família arawak; em quatro de nove dos
ramos do tronco tupi; nas línguas tupi-guarani; em pequenas famílias como
Kahuapana, Jivaro, Peba-yagua, Zaparo, Yanomami, Txapakura; nas línguas Bora
(Witoto) e Warao; em Trumai, onde existe apenas uma obstruinte vozeada d, que é
implosiva; em duas das três línguas Nambikwara. A nasalidade como propriedade nãosegmental, uma vez que se estende por vários segmentos, é uma característica de
área mais importante do que as vogais nasais. É significativo que dados de línguas
amazônicas sejam amplamente usados em artigos tipológicos recentes (Peng 2000).
Alguns tipologistas podem achar útil o tipo de informação mencionada acima, mas
fonólogos que trabalham com descrições e análises mais precisas farão,
provavelmente, o que fez um dos editores do livro (:1): "aprender espanhol e
português e, então, ir para a América do Sul [e] dessa maneira conseguir alcançar
algum grau de insight na área lingüisticamente mais complexa, hoje, no mundo".
The Amazonian Languages é, sem dúvida, o resultado de um trabalho exaustivo de
seus editores. É um handbook que estará, obviamente, em todas as livrarias e nas
estantes dos pesquisadores que estudam a Amazônia, objeto de constantes consultas.
Um lingüista amazonista, todavia, tem a sensação de que o livro é prematuro e foi
feito às pressas. Uma revisão mais cuidadosa teria evitado erros em mapas, tabelas,
exemplos e dados, em geral. É certamente um "passo preliminar", como dizem os
editores, e não é o "primeiro" (ver Payne 1990, uma obra não mencionada no capítulo
1). Além disso, como procuramos mostrar em nossos comentários, não parece ser
satisfatoriamente representativo dos atuais conhecimentos sobre línguas amazônicas,
sob vários pontos de vista9. O conselho dos próprios editores poderia também se
aplicar a alguns capítulos do livro: "Deveríamos ter presente que o simples fato de algo
ter sido publicado num livro não significa necessariamente que este algo tenha algum
valor" (:15).
Notas
1 O Summer Institute of Linguistics é uma das maiores organizações missionárias
evangélicas, de origem norte-americana, que atuam no Brasil, bem como em muitos
países da América Latina e do resto do mundo, onde vivem populações consideradas
como não tendo ainda recebido a palavra do Deus do cristianismo, revelada e difundida
através das diversas línguas existentes. Os membros do SIL são geralmente formados
em lingüística e treinados para estudar línguas de sociedades de tradição oral (ou
ágrafas), reduzi-las à escrita graças ao estabelecimento de ortografias de base
fonológica, realizar a tradução de textos bíblicos e do Evangelho e implementar a
alfabetização de modo a produzir leitores e propagadores do credo cristão, com todos
seus corolários morais e culturais.
2 A tipologia de base morfossintática distingue, além das línguas com sistema ergativoabsolutivo e das línguas com sistema nominativo-acusativo, línguas ativo-estativas.
Nestas, observa-se a cisão em duas categorias do que é comumente chamado de
"sujeito" do verbo intransitivo. O sujeito intransitivo ativo manifesta a mesma forma do
e se comporta como o sujeito (agente) transitivo, ao passo que o sujeito intransitivo
estativo ou inativo tem a mesma forma e se comporta como o objeto (paciente)
transitivo. Muitas vezes, a forma do argumento inativo revela ter a mesma natureza
dos índices pronominais que ocorrem nos nomes que designam o "possuidor" (uma
relação de dependência).
3 Na visão gerativa da sintaxe, o fenômeno chamado de "V2" é interpretado como
resultante do movimento do verbo da posição em que é inicialmente gerado para a
posição que segue imediatamente o primeiro constituinte da frase.
4 Na representação fonológica dos fenômenos prosódicos, a mora é a unidade
melódica ligada de um lado à sílaba e do outro aos segmentos (vogais e consoantes).
Uma vogal longa ou uma consoante geminada são, assim, representadas como sendo
associadas a duas moras. A fonologia prosódica é, hoje, um ramo essencial da
descrição e da teoria que trata dos fatos sonoros das línguas.
5 Nomes absolutos contrastam com nomes dependentes ou "obrigatoriamente
possuídos". Os segundos são inerentemente relacionais e dependem, em seu sentido,
de outro termo, que, por exemplo, denota o "possuidor", como é o caso de termos que
denotam partes do corpo (cabeça de X) ou categorias de parentesco (irmão de X). Os
nomes absolutos podem entrar numa relação de dependência, mas seu sentido não é
primariamente relacional (vento, gaivota, pimenta, etc.).
6 Em livro mais recente sobre contato lingüístico no noroeste amazônico (Aikhenvald
2002), a autora apresenta uma visão diferente dessa área.
7 C é consoante, V é vogal; os parênteses indicam segmento que pode ou não ocorrer;
h é som aspirado, laringal, porque produzido com as membranas conhecidas como
"cordas vocais" relaxadas e abertas, não tendo nenhuma articulação na cavidade da
boca.
8 No capítulo 3 (:77) lê-se que "(6) a full set of aspirated voiceless stops is found only
in some NA [northern arawak] languages (Biç, Ta) (...) These languages developed
aspirated labial and velar stops as the result of a metathesis with h (...) An example of
the sequence stop-V-h in proto-NA is *ku:paki > ku:pahi > ku:phe in baniwa and
tariana". Acompanhando observações de Gomez-Imbert, podemos dizer que o mesmo
acontece em tukano: h pode desvozear (ensurdecer) ou apagar a vogal
tautomorfêmica precedente, como em "barra (de sabão)" — kuhi > kUhi/khi, ou
permitir metátese, resultando na forma — khui (p.d.). O desvozeamento ou
apagamento de vogal pode levar a afirmar impropriamente que existe uma série de
oclusivas aspiradas em tukano (ver West e Welch em Gonzalez-de-Perez e Rodriguez
de Montes 2000).
9 Aikhenvald, em seu livro Language Contact in Amazônia, recentemente publicado
(2002: 2, n. 1), reitera que Amazonian Languages deve ser considerado "as a state of
the art classification", visto que, segundo ela, está todo baseado nos conhecimentos de
pesquisadores familiares com cada uma das famílias lingüísticas.
Referências bibliográficas
AIKHENVALD, Alexandra Y. 2002. Language Contact in Amazônia. Oxford: Oxford
University Press.
FRANCHETTO, Bruna. 2001. "Línguas e história no Alto Xingu". In: B. Franchetto e M.
Heckenberger (orgs.), Os povos do Alto Xingu. História e cultura. Rio de Janeiro:
Editora UFRJ. pp. 111-156.
GOMEZ-IMBERT, Elsa. 1982. De la forme et du sens dans la classification nominale en
tatuyo (langue Tukano Orientale d'Amazonie Colombienne). Thèse de 3e cycle, U. ParisSorbonne [TDM 19. Paris: ORSTOM, 1986].
___ . 1996. "When animals become 'rounded' and 'feminine': conceptual categories
and linguistic classification in a multilingual setting". In: J. J. Gumperz e S. C. Levinson
(orgs.), Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge: Cambridge University Press. pp.
438-469.
___ . 1997a. Morphologie et phonologie barasana: approche non-linéaire. Doctorat
d'Etat, Université Paris 8. Saint-Denis.
___ . 1997b. "Structure prosodique et processus segmentaux en barasana (langue
Tukano orientale d'Amazonie colombienne)". Cahiers de Grammaire, 22:97-125.
Toulouse: U. Toulouse-Le Mirail.
___ . 2001. "More on the tone versus pitch accent typology: evidence from Barasana
and other Eastern Tukanoan languages". In: Shigeki Kaji (ed.), Proceedings of the
Symposium Cross-Linguistic Studies of Tonal phenomena. Tonogenesis, Japanese.
Accentology and other Topics, pp. 369-412. Tokyo: Institute for the study of
Languages and Cultures of Asia and Africa ILCAA.
___ e KENSTOWICZ, Michael. 2000. "Barasana tone and accent". lnternational Journal
of American Linguistics, 66.4: 419-463.
GRENAND, Françoise. 1989. Dictionnaire Wayãpi-Français. Paris: SELAF.
HAYES, Bruce. 1994. Metrical Stress Theory: Principles and Case Studies. Chicago:
University of Chicago Press.
HVALKOF, Søren, e AABY, Peter (orgs). 1981. Is god an American? An anthropological
perspective on the missionary work of the Summer Institute of Linguistics.
Copenhagen: IGWIA and Survival International.
LEITE, Yonne. 1990. "Para uma tipologia ativa do Tapirapé: os clíticos referenciais de
pessoa". Cadernos de Estudos Lingüísticos, 18:37-56.
___ . 1994. "As construções causativas em Tapirapé". Revista Latinoamericana de
Estudios Etnolingüísticos, VIII:73-86.
___ e VIEIRA, Márcia D. 1991. "Atividade e Ergatividade nas línguas da família TupiGuarani: problemas de análise". In: Anais do V Encontro Nacional da ANPOLL (Recife,
25-27 de julho de 1990): 247-255. Porto Alegre: ANPOLL.
___ . 1995. "As construções causativas em Línguas da Família Tupi-Guarani: um
problema sintático". In: Anais do IX Encontro Nacional da ANPOLL, v. 1: 974-980. João
Pessoa.
GONZÀLEZ DE PÉREZ, Maria-Stella. 2000. "Bases para el estudio de la lengua
pisamira". In: M. S. Gonzalez-de-Perez e M. L. Rodriguez de Montes (orgs.), Lenguas
indígenas de Colombia: una visión descriptiva. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y
Cuervo. pp. 373-393.
___ e RODRíGUEZ DE MONTES, Maria-Luisa (orgs.). 2000. Lenguas indígenas de
Colombia: una visión descriptiva. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. [LIC].
MATTEÏ-MÜLLER, Marie-Claude. 1994. Diccionario ilustrado Panare-Español, índice
Español-Panare. Un aporte al estudio de los Panare-E'ñepa. Comisión Nacional para la
Comemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Caracas:
Gráficas Armitano.
MEIRA, Sérgio. 1998. "Rhythmic stress in Tiriyó (Cariban)". International Journal of
American Linguistics, 64.4:352-378.
MELÉNDEZ, Miguel-Angel. 1989. El nominal en achagua. Lenguas aborígenes de
Colombia. Descripciones, 4: 3-66. Bogotá: CCELA.
MOORE, Denny. 1985. "Nominal Stem and Adjective Stem Incorporation in Gavião".
International Journal of American Linguistics, 51.4:513-515.
___ e GALÚCIO, Vilacy A. 1993. "Reconstruction of Proto-Tupari Consonants and
Vowels". Survey of California and other Indian Languages, Report 8. In: M. Langdon,
Proceedings of the Meeting of the Society for the Study of the Indigenous Languages of
the Americas, July 2-4, 1993, and the Hokan-Penutian Workshop, July 3, 1993,
Columbus, Ohio. Berkeley: University of California. pp. 119-138.
PAYNE, Doris L. (org.). 1990. Amazonian Linguistics. Studies in Lowland South
American Languages. Austin: University of Texas Press.
QUEIXALÓS, Francisco e LESCURE, Odile (orgs.). 2000. As línguas amazônicas hoje.
São Paulo: IRD, ISA, MPEG.
RAMIREZ, Henri. 1997. A fala tukano dos ye'pa-masa. Manaus: CEDEM. t. 1:
Gramática.
ROBAYO, Camilo. 1986. La flexión verbal del carijona. Tesis de grado, U. de los Andes,
Postgrado de Etnolingüística. Bogotá.
___ . 1987. Le système des personnes de la langue carijona. Mémoire de DEA, U. Paris
VII-Jussieu. Paris.
___ . 1989. "En faisant une rame: texte carijona". Amerindia, 14:189-199.
___ . 1995. "¿Llegó tarde la educación a los Carijona?". Lenguas Aborígenes de
Colômbia, Bogotá: CCELA Universidad de los Andes, Memorias 3.
___ . 1996a. "Comentarios sobre los documentos de Uribe, de De Wavrin y Tastevin
sobre la lengua Carijona y datos actuales". In: J. Landaburu, A. M. Ospina e T. Rojas
Curieux (orgs.), Documentos sobre Lenguas Aborígenes de Colombia del archivo de
Paul Rivet. Bogotá: Universidad de los Andes. pp. 511-516.
___ . 1996b. "Datos actuales de la lengua Carijona, equivalentes al documento de De
Wavrin donde usa el cuestionario llamado 'Vocabulario personal'". In: J. Landaburu, A.
M. Ospina e T. Rojas Curieux (orgs.), Documentos sobre Lenguas Aborígenes de
Colombia del archivo de Paul Rivet. Bogotá: Universidad de los Andes. pp. 517-520.
___ . 1996c. "Datos actuales de la lengua Carijona, equivalentes al documento de De
Wavrin donde utiliza el cuestionario del Instituto Etnológico de Paris". In: J. Landaburu,
A. M. Ospina e T. Rojas Curieux (orgs.), Documentos sobre Lenguas Aborígenes de
Colombia del archivo de Paul Rivet. Bogotá: Universidad de los Andes. pp. 521-538.
___ . 1996d. "Datos actuales de la lengua Carijona, equivalentes al documento de
Tastevin 'Uitoto, Carijona, Tanimuca, Curetú y Cocama'". In: J. Landaburu, A. M.
Ospina e T. Rojas Curieux (orgs.), Documentos sobre Lenguas Aborígenes de Colombia
del archivo de Paul Rivet. Bogotá: Universidad de los Andes. pp. 539-554.
STOLL, David. 1982. Fishers of men or founders of empire? The Wycliffe Bible
Translators in Latin America. London: ZED.
STORTO, Luciana R. 1997. Verb raising and word order variation in Karitiana. Boletim
da ABRALIN, 20:107-32.
VIEIRA, Márcia M. D. 1994. O fenômeno de não-configuracionalidade na língua Asurini
do Trocará: um problema derivado da projeção dos argumentos verbais. Tese de
Doutorado, 274 f. Depto de Lingüística, IEL, Unicamp. Campinas.
Recebido em 30 de fevereiro de 2004
Aprovado em 3 de setembro de 2004
MANA 10(2):377-396, 2004
ARTIGO BIBLIOGRÁFICO
PARA O CONHECIMENTO
DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
Bruna Franchetto e Elsa Gomez-Imbert
R. M. W. Dixon e Alexandra Y. Aikhenvald (orgs.). 1999. The Amazonian
Languages. Cambridge: Cambridge University Press. 446 pp.
O livro The Amazonian Languages se apresenta como um “passo primeiro e preliminar para a elucidação das características estruturais das línguas amazônicas, bem como de suas relações genéticas e regionais” (:2).
Pode ser considerado uma referência obrigatória para todos aqueles que
desejam encontrar numa única publicação informações sistematizadas e
confiáveis sobre troncos, famílias e línguas da Amazônia, não somente as
que ainda existem, como também aquelas já extintas e sobre as quais
existe algum tipo de documentação. É esta a razão que nos motivou a
empreender uma leitura atenta de seu conteúdo e de suas premissas.
Os organizadores do livro são lingüistas com longa experiência fora
da Amazônia. Robert M. W. Dixon é um renomado pesquisador das línguas aborígenes da Austrália. Alexandra Y. Aikhenvald chegou ao Brasil
nos anos 80, retomando hipóteses relativas à existência de macroagrupamentos genéticos, como o Nostrático, o Austronésio, o Sino-Caucasiano e
o Ameríndio, e tentando estabelecer relações entre eles, numa busca do
que podemos chamar de “língua original”. Dixon e Aikhenvald se encontraram quando faziam pesquisa na Amazônia, com falantes de línguas das famílias Arawá e arawak, respectivamente. Hoje, dirigem o Research Centre for Linguistic Typology na La Trobe University, na Austrália, o qual tem atraído, ultimamente, vários estudantes, inclusive brasileiros, que realizam pesquisas sobre línguas indígenas no Brasil.
Algo surpreendente da parte de editores com um tal histórico é sua
posição (introduzida logo no início do volume, à p. xxvi) de evitar o uso
de qualquer uma das teorias lingüísticas formais correntes (ou passadas),
de modo que os “surveys lingüísticos neste volume tenham um valor du-
378
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
radouro”, objetivo que desejam atingir “em termos do que veio a ser chamado recentemente de Teoria Lingüística Básica (Basic Linguistic
Theory/BLT) […], a tradição acumulada de descrições lingüísticas que
evoluiu nos últimos dois mil anos”. A maior parte dos leitores, mesmo
sendo lingüistas, certamente não ouviu falar ou leu sobre a BLT, que não
consiste tanto em uma teoria quanto em um vocabulário voltado para
identificação, definição e nomeação de fenômenos lingüísticos. Como tal,
a BLT não está livre de teorias implícitas, o que pode gerar equívocos ou
confusões conceituais.
É o caso, no livro em questão, da identificação de fenômenos considerados como manifestação de concordância ou de uma lógica “ergativa”: dependendo do autor e do modelo descritivo por ele adotado, que
remete a uma teoria não explicitada, fatos distintos podem ser subsumidos sob um mesmo rótulo, ou fatos da mesma natureza, mesmo se superficialmente distintos, podem ser tratados como sendo de natureza distinta. Assim, a discussão em torno das manifestações de concordância, presentes freqüentemente, mas não sempre, na morfologia da palavra verbal, só seria possível se houvesse clareza, se não consenso, a respeito do
que pode ser chamado de concordância e da diferença entre categorias
substantivas ou lexicais e categorias funcionais ou gramaticais. Outro
exemplo é a existência de um tipo (morfossintático) de língua conhecido
como “ergativo”. Uma língua é dita ergativa se nela o agente do verbo
transitivo é tratado pela morfologia ou pela sintaxe de modo a distinguilo do paciente ou objeto do verbo transitivo, por sua vez codificado do
mesmo modo que o argumento único do verbo intransitivo. É um arranjo
morfossintático que se opõe ao arranjo das línguas de tipo nominativoacusativo, como, por exemplo, o português ou o inglês, nas quais os argumentos “sujeito” constituem uma categoria que inclui o agente transitivo e o argumento único do verbo intransitivo, marcando como “outro” o
objeto do verbo transitivo. Aqui, também, pode-se observar que sob o
guarda-chuva da ergatividade têm-se abrigado fenômenos dos mais díspares: padrões e formas de concordância ou de séries de índices pessoais
no verbo, marcas de caso nominal, mecanismos sintáticos usados para
expressar a co-referencialidade (relação entre argumentos que possuem
o mesmo índice referencial) e que permitem a coordenação e a subordinação, até as ordens possíveis de constituintes na frase. A confusão poderia ser clareada se os lingüistas conseguissem ter uma referência teórica comum, não do gênero BLT, mas resultante de um compromisso consciente e discutido entre teorias formais existentes, permitindo pelo menos um vocabulário compartilhado.
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
A idéia de evitar formalismos específicos de modo a tornar a informação mais acessível seria compreensível se os editores não tivessem decidido que “a maior parte das gramáticas (certamente todas as dotadas
de um valor permanente) são escritas em termos dos parâmetros da Teoria Lingüística Básica”, e não declarassem “opacas” (:370) ou inexistentes aquelas filiadas a outras tradições — uma atitude, digamos, um tanto
paroquial.
O livro compõe-se de quinze capítulos: o primeiro é uma introdução,
dez deles enfocam as famílias lingüísticas maiores, dois cobrem conjuntos de pequenas famílias e línguas isoladas, dois tratam de áreas lingüísticas (Noroeste Amazônico e Alto Xingu). Sete artigos são de autoria de
membros do Summer Institute of Linguistics (SIL)1, cinco, dos próprios
editores e três, de dois lingüistas brasileiros. O objetivo é fornecer um
perfil tipológico para cada família ou língua na Amazônia, sintetizando o
que se conhece a partir das fontes disponíveis, tanto publicadas como
inéditas, incluindo informações pessoais dadas por pesquisadores e missionários. O livro oferece um panorama da Amazônia por famílias lingüísticas, contém índices de línguas e de autores, mas não trata de línguas
importantes como waorani (wao ou huaorani ou auca), por exemplo, língua isolada da Amazônia equatoriana falada ainda por cerca de duas mil
pessoas (ver Queixalós e Lescure 2000). Neste ensaio, nós nos concentraremos em aspectos ou capítulos que podemos efetivamente julgar a partir das nossas competências.
O conteúdo da “Introdução” (capítulo 1) — e seu tom — é, para dizer o mínimo, controverso, à parte uma salutar lição sobre o uso correto e
os limites dos métodos para reconstrução do passado e da história lingüísticos, advertindo contra os perigos contidos em hipóteses frágeis concernentes às relações genéticas para além das fronteiras de famílias solidamente estabelecidas. Tanto a defesa do trabalho dos lingüistas missionários quanto a crítica dos pesquisadores sul-americanos — acusados de
publicar em “periódicos obscuros”, de possuírem um baixo padrão acadêmico e de preferirem confinar-se a examinar o português e o espanhol
em termos da mais recente teoria formal importada do norte — já ocasionaram protestos que foram expressos em foros locais e internacionais. A
perspectiva parcial dos editores oscila entre uma aparente ingenuidade e
uma visão extremamente limitada e preconceituosa. A defesa da ação
missionária de instituições como o SIL na Amazônia choca-se com fatos,
passados e presentes, que testemunham interesses antiindígenas e intolerância cultural. Além disso, a “obra literária” desses missionários no
Brasil não é exatamente uma referência ou um sucesso: cartilhas e cole-
379
380
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
tâneas de textos tradicionais por eles produzidos deixam muito a desejar
em termos de conteúdo e de suas qualidades pedagógicas e estéticas (ver
Hvalkof e Aaby 1981; Stoll 1982). Os dois únicos bons dicionários em línguas indígenas (Grenand 1989; Matteï-Müller 1994) não são de autoria
de membros do SIL. A lingüística do SIL não é muito mais produtiva, interessante ou menos dominada por modas teóricas do que a dos acadêmicos das universidades locais (leiam-se brasileiras). O uso escasso de
trabalhos produzidos por pesquisadores sul-americanos não missionários
— principalmente quando escritos em outra língua que não o inglês, em
uma tendência que infelizmente se alastra entre pesquisadores de língua
inglesa — assim como a falta de familiaridade com a etnologia amazônica e estudos históricos são provavelmente a principal causa dos erros e
falhas que se encontram no livro. De fato, esse mesmo descaso diante da
literatura etnológica reaparece em vários capítulos: a propósito dos mitos
no capítulo 3, sobre línguas arawak; das línguas francas no Alto Xingu,
no capítulo 15; ou da hipótese pouco verossímil sobre a origem das diferenças fonológicas entre fala masculina e feminina nos Karajá, no capítulo 6, que trata das línguas macro-jê.
Os capítulos de Desmond Derbyshire e Cheryl Jensen são os melhores do livro. Derbyshire consegue oferecer, no capítulo 2, um perfil tipológico consistente da família karib, com honestidade e clareza. Há, todavia, erros na apresentação de dados de outros autores, provavelmente resultantes do exame apressado de certas fontes ou da falta de familiaridade com outras. Existem fontes mais recentes sobre o Karijona do que as
citadas pelo autor (Robayo 1986; 1987; 1989; 1995; 1996a-b); o “alongamento prosódico das vogais” em certas línguas karib (nota 3 à tabela 2.3,
p. 29 do livro) pode ser analisado como um efeito do acento rítmico iâmbico, como Hayes fez para o Hixkaryana (ver também Meira 1998 para o
Tiriyó). Alguns pontos importantes não recebem a devida atenção. A discussão dos “afixos derivacionais verbais”, cuja riqueza consiste em um
dos traços tipológicos da família (3.2.1) — “fazer” verbos graças à interação entre uma morfologia altamente aglutinativa e a construção da fraseenunciado —, poderiam ser objeto de uma discussão mais ampla e melhor ilustrada.
Jensen mostra competência ao sumarizar no denso capítulo 5 as principais características da família tupi-guarani, a melhor documentada nas
terras baixas sul-americanas. Todavia, Jensen deixa de fora importantes
fontes brasileiras, como Leite (1990; 1994), Vieira (1993), Leite e Vieira
(1991; 1995), que certamente ofereceriam informações mais abundantes
e aprofundadas sobre a sintaxe tupi-guarani, sobretudo no que concerne
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
à natureza de pronomes e nomes, às construções causativas, aos padrões
ativo-estativo2 e ergativo.
Aryon Rodrigues, conhecido lingüista brasileiro, é o autor dos capítulos sobre as línguas tupi e macro-jê. O primeiro tem seu valor diminído
em virtude do desconhecimento de muitas das pesquisas em nível de
doutorado feitas por estudantes brasileiros que estavam ainda em andamento quando de sua elaboração. A cobertura dos tópicos selecionados é
fragmentária e muitos fenômenos interessantes não são mencionados,
como, em sintaxe, a incorporação de nomes e adjetivos (Moore 1985) ou
o movimento V23 (Storto 1997) e, em fonologia, a deslabialização (perda
da articulação labial) e a desnasalização (perda da nasalidade) como processos diacrônicos (Moore e Galúcio 1993).
O capítulo sobre as línguas macro-jê cumpre a importante função de
reunir não apenas as referências mais importantes, como também várias
informações tipológicas. Nem todas as famílias jê estão adequadamente
representadas, particularmente aquela à qual pertence a língua karajá,
para a qual existem boas fontes. Rodrigues apresenta o que parecem ser
características morfológicas e sintáticas macro-jê; a mais interessante delas é o que o autor chama de “flexão que indica a contigüidade de um
determinante”, um “dispositivo flexional difuso nas línguas macro-jê”
(:181), presente também em línguas tupi e karib. Esse fenômeno é definido como uma manifestação morfológica da flexão em nomes e posposições ou da concordância nos verbos. Um quadro de referência teórica teria permitido ao autor enxergar um mesmo conjunto de fatos sintáticos
sob diferenças morfológicas superficiais. Perde-se de vista, assim, uma
generalização potencialmente importante: as formas pronominais prefixadas parecem apresentar uma distribuição complementar com os argumentos nominais plenos. Se esta observação é válida, seria bom, pelo menos, tentar investigar a natureza da concordância, a natureza referencial
dos índices pronominais e a natureza dos nomes enquanto adjuntos quando não ocorrem em posição de argumento que precede imediatamente o
núcleo regente (o verbo). Há certa falta de clareza na definição das categorias lingüísticas. Por exemplo, parece que o que o autor nomeia “flexão de número” é um processo derivacional que cria verbos com um significado plural (grupo) ou iterativo (5.3). Quanto à seção dedicada à sintaxe macro-jê (6), a demonstração da unidade das famílias desse tronco
por meio de uma tipologia da ordem de palavras é discutível, pois reúne
dados heterogêneos, limitando-se a uma característica superficial, visto
que as línguas jê utilizam-se de vários mecanismos de mudança de ordem dos elementos da frase.
381
382
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
O capítulo 7 é dedicado às línguas da família tukano, apresentadas
sob o ponto de vista do SIL, instituição a que pertence a autora, Janet
Barnes. A bibliografia é parcial: 29 das 33 referências bibliográficas são
trabalhos do SIL e não há referência às publicações de pesquisadores
não-missionários ou escritas em português ou em francês. Dados complementares — bibliografia, descrições, estado atual das línguas e de seus
falantes, mapas recentes das áreas tukano e da Amazônia em geral —
podem ser encontrados em dois livros publicados no ano 2000. O primeiro é As línguas amazônicas hoje, organizado por Francisco Queixalós e
Odile R. Lescure; o segundo é Lenguas Indígenas de Colombia (daqui
por diante, LIC), organizado por Maria-Stella González de Pérez e Maria-Luisa Rodríguez de Montes. A autora do capítulo “Tukano” oferece
uma proposta que, se é inovadora, não está apoiada em uma argumentação convincente: a divisão da família em três ramos em lugar da divisão
tradicional, geográfica, entre um ramo ocidental e um ramo oriental. O
novo ramo, chamado de “central”, não corresponde a critérios geográficos e reúne duas línguas tradicionalmente incluídas no ramo oriental: a
mais setentrional (cubeo ou kubeo) e a mais meridional (tanimuca ou tanimuka-retuarã) das línguas orientais. “Central” é um rótulo enganador,
e os próprios editores equivocaram-se ao afirmar que as línguas tukano
são faladas em três áreas distintas: “Even Tucano, one of the most linguistically homogeneous of families (sic), is spoken over three distinct
areas” (:1). Nenhum perfil “central” emerge da apresentação de Barnes.
Na nota 2 (:211), ela chama a atenção para a seção do capítulo dedicado
à gramática das línguas tukano, onde se ressaltariam as diferenças entre
o tanimuka e as outras línguas: “Note the number of instances in the
grammar section where Tanimuca differs from all the other languages
therein described”. Diferentemente do kubeo, que — como as outras línguas orientais — tem seis vogais, nasalidade morfêmica, evidenciais e o
sistema de classificadores nominais mais rico da família, o tanimuka perdeu a sexta vogal, a nasalidade morfêmica, bem como quase todos os
classificadores nominais, e tem um sistema reduzido de evidenciais. A
única especificidade do ramo “central” em relação às outras línguas
orientais seria a situação de contato com línguas arawak, dado o sistema
de exogamia lingüística existente nessa região do noroeste amazônico.
Uma das línguas orientais, o pisamira ou pápiwa, não aparece no inventário das línguas tukano (:209), pois, segundo a autora (:207), não haveria
suficientes dados disponíveis para justificar a sua inclusão. González de
Pérez (2000), contudo, documentou o pisamira, língua em perigo de extinção, com apenas 30 falantes.
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
O capítulo “Tukano” contém observações discutíveis e lacunas, das
quais destacamos, aqui, as mais relevantes. Há uma seção intitulada “Adjetivos” (§3.6), classe lexical inexistente na família (e em muitas línguas,
não somente amazônicas). As características tipológicas mais interessantes são achatadas, como é o caso da existência de verbos seriais, fenômeno ilustrado tão-somente por exemplos traduzidos para o inglês.
Passando para a fonologia, vê-se que não são apresentados processos segmentais e nem identificadas as moras4, constituintes essenciais da
estrutura prosódica no condicionamento dos processos fonológicos tukano (Gomez-Imbert 1997a, b; Ramirez 1997). As moras são freqüentemente ocultadas pela redução arbitrária de vogais longas, como no caso dos
pronomes; nos exemplos das línguas barasana (11, 20) e karapana (14),
os pronomes, isolados ou não, têm uma mora, ao passo que em tuyuka
têm sempre duas moras (17, 30, 31). A transcrição dos dados oculta um
processo de alongamento: nas línguas tatuyo, karapana, barasana, makuna (e com certeza em outras), tanto as raízes lexicais quanto a palavra
têm, minimamente, duas moras. Pelo efeito dessa minimalidade prosódica, os pronomes têm realização monomoraica (uma só mora) quando um
sufixo aparece na palavra, mas são bimoraicos (duas moras) quando aparecem isolados. Uma raiz como “fumar”, representada por u em karapana (14), é bimoraica, ou seja, em realidade, úú. A nasalidade das línguas
“centrais” e “orientais” é definida como autossegmento morfêmico, definição inadequada para o tanimuka que, como as línguas ocidentais, tem
nasalidade vocálica e propagação da nasalidade bloqueada pelas consoantes surdas. A autora não oferece o inventário dos segmentos que são
alvo da nasalidade e não reconhece a transparência dos segmentos surdos, detalhes importantes para uma tipologia dos sistemas de harmonia
nasal, nas línguas amazônicas e alhures. Os tons das línguas tukano são
uniformemente reduzidos a sistemas de acento (“accent”) ou de acento
tonal (“pitch-accent”), com dois tons, alto e baixo, sendo o tom alto associado ao acento. Assim, uma palavra com tons altos teria somente tantos
acentos quanto fosse o número de sílabas: esquece-se assim o valor contrastivo do acento. Algumas línguas tukano podem ser interpretadas como línguas acentuais — tuyuka (Barnes 1996), pisamira (González de Pérez 2000), desana —, mas outras só podem ser analisadas como sendo línguas tonais: tatuyo (Gomez-Imbert 1982), tukano (Ramirez 1997). A maioria das línguas orientais é tonal, segundo as descrições que constam do
LIC. Numa análise do barasana como língua de acento tonal (Gomez-Imbert 1997a; Gomez-Imbert e Kenstowicz 2000), são necessários dois valores acentuais ou dois acentos para opor as duas melodias tonais presen-
383
384
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
tes no léxico: alto, alto-baixo. Dessa maneira, a análise tonal permite dar
conta de processos que a análise acentual não pode explicar (Gomez-Imbert 2001).
Ainda no mesmo capítulo, a identificação de alguns morfemas nos
parece questionável. Vale a pena dar alguns exemplos que mostram como as análises propostas não se adequam à riqueza do material empírico
de que dispomos. Assim, a forma -ja/je (§3.2.2) não é apenas a de um sufixo genitivo, pois se comporta como uma raiz nominal nas línguas da
área piraparaná (tatuyo, karapana, barasana, makuna). As ocorrências
do sufixo -re são apenas parcialmente explicadas, se restringirmos seu
significado ao de um “marcador de especificidade” (“specificity marker”
(§3.4)). Trata-se, primariamente, de um marcador de objeto oblíqüo (ou
indireto, exceto em tanimuka); secundariamente, -re marca um objeto indireto e também um objeto direto, dependendo de uma escala de saliência em relação ao traço “animado”.
Vejamos uns poucos exemplos da língua tatuyo. Esse sufixo pode
aparecer no objeto especificado com referência inanimada, como na frase pátu-re ~dái-haj-ká-hoó-wí, “nósj mandamos a coca para elesi”; mas
se o objeto inanimado co-ocorrer, na mesma frase, com um objeto animado, será este último que levará o sufixo (~dá-re pátu haj-ká-hoó-wí, “para
eles nósj mandamos a coca”). Por outro lado, quando o objeto não é especificado, é engatilhado um processo de incorporação nominal (~dáihaj-ká[pátu-~dúú]wí “nósj [coca-alimentar] elesi”). Como se vê, temos
aqui um contra-exemplo à generalização que consta do capítulo 1 do livro, que afirma: “Se há incorporação nominal, tipicamente apenas nomes obrigatoriamente possuídos podem ser incorporados” (“If there is
noun incorporation, typically only nouns which are obligatorily possessed can be incorporated”). A incorporação de nomes absolutos5 (“camarões-pescar”, “formigas-queimar”) não é menos usual que a incorporação de nomes dependentes. Outras generalizações podem ser infirmadas. Em tatuyo, os verbos com semântica espacial podem receber dois
prefixos de referência cruzada (~dái-haj-ká-ehá-wí “nósj alcançamos elesi”) e são providos de três posições para prefixos: duas para a referência
cruzada dos argumentos com referência animada e uma para o prefixo
de modo-aspecto ká-, identificado pela autora como sendo somente um
prefixo nominal (ver Gomez-Imbert 1982). Os dados não confirmam outra generalização proposta: “As línguas tucano são inteiramente sufixais”
(“Tucano languages are entirely suffixal”).
A afirmação de que o multilingüismo é a norma na Amazônia (:5)
baseia-se na identificação de duas áreas lingüísticas caracterizadas por
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
fenômenos de contato e conseqüente difusão entre línguas não relacionadas geneticamente. No capítulo 14, “Areal diffusion and language contact in the Içana-Vaupés basin, north-west Amazonia”, Alexandra Y. Aikhenvald procura estabelecer a difusão de três famílias geneticamente
independentes, arawak setentrional (AR), tukano oriental (TO) e makú
(MA), identificando traços partilhados pelas línguas nessa área e utilizando como “controle” línguas “testemunho”, ou seja, línguas das mesmas famílias faladas fora da área. Seguimos essa mesma estratégia usando o achagua (AR, Meléndez 1989) e as línguas TO da área Piraparaná
(trabalhos de Gomez-Imbert) como línguas “testemunho”, mas não encontramos evidências fortes a favor do argumento da autora. O leitor pode procurar informações sobre as três famílias em contato nos capítulos
3, 7 e 9 do livro.
Aikhenvald afirma que as bacias dos rios Vaupés e Içana formam
uma área lingüística bem definida e que, dentro desta área, a bacia do
Vaupés é claramente uma subárea: “[...] the combined Vaupés and Içana
river basins constitutes a well-defined linguistic area; and within this the
Vaupés basin is a clear linguistic sub-area” (:385). A perpectiva da autora é parcial, pois refere-se somente à porção brasileira, e contém erros no
que diz respeito à situação na Colômbia. O baixo rio Caquetá-Yapurá,
tributário setentrional do rio Amazônas, e seus afluentes (Cananari, Piraparaná e Miritiparaná) foram esquecidos. Além disso, os grupos TO do
Piraparaná (Tatuyo, Barasana/Taiwano, Makuna) são situados equivocadamente no rio Vaupés (“on the Vaupés”). A partir de uma perspectiva
mais ampla, temos um quadro diferente da área toda, onde os TO aparecem rodeados por grupos arawak, enquanto os Makú não apenas os circundam como também estão dispersos entre eles (LIC tem excelentes mapas da área colombiana). Há situações de contato, relevantes para entender a complexidade do sistema intertribal da região, não consideradas.
No ocidente, encontramos os Kabiyari (AR) junto com grupos TO do Piraparaná, resultando, por exemplo, em similaridades entre a mitologia
kabiyari e a barasana. No sul, o contato aproxima o yukuna (AR) e o tanimuka (TO), com influências arawak sobre este último (apenas mencionadas, na nota 6). Ignorando que as línguas yukuna e o kabiyari são faladas na Colômbia, a autora afirma, equivocadamente, que a principal
diferença entre o Uaupés brasileiro e o Vaupés colombiano é o fato de
que uma língua não-tukano, tariana, é falada no Brasil (no mapa 2, p. 66,
kabiyari e yukuna estão de fato muito longe de sua localização real)6.
O capítulo escrito por Aikhenvald é antes um esboço que um texto
fechado, o que talvez explique as repetições e os erros. Há erros de trans-
385
386
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
crição das línguas TO: c e não k (9, 31), j e não h (31, 32); ph (19, 22) e kh
(35) e h em coda silábica (35) são segmentos fonéticos não fonológicos em
tukano; yei (1, 2) no lugar de yi?i “I (eu)”, uma vez que ei é uma seqüência de vogais impossível na maioria das línguas TO. Há erros nas glosas
— “cobra” e não “anaconda” (19) —, e de classificação: o tanimuka, tradicionalmente no ramo tukano oriental, e no capítulo 7 no ramo central,
está, agora, no ramo ocidental, “West Tucano”. Há também erros na utilização do vocabulário sociológico: o significado de “fratria” não é bem
compreendido no contexto tukano oriental; é usado o termo “tribo”, hoje
cuidadosamente evitado pelos antropólogos que estudam essas sociedades, e é introduzida uma nova e discutível unidade social, “subtribo”.
Uma observação central diz respeito às atitudes diante da língua.
Segundo Aikhenvald, o papel de emblema de identidade étnica assumido pela língua paterna faz com que mesmo as línguas mais próximas sejam mantidas estritamente separadas, criando um impedimento muito
forte para empréstimos lexicais, em contraste com outras situações de
multilingüismo. A identificação do grupo social com a sua língua e a percepção de uma associação entre “tribo” e língua limitariam drasticamente os empréstimos lexicais (“language identification and the perceived
link between tribe and language drastically limit the extent of lexical borrowing”, p.392). Na verdade, empréstimos lexicais vindos da língua materna ocorrem na vida cotidiana, simplesmente pelo fato de a língua da
mãe ser a primeira a ser aprendida pela criança; as variações presentes
em uma mesma língua são introduzidas por meio das línguas maternas
dos falantes. Pares de línguas TO estreitamente relacionadas — karapana/tatuyo, barasana/taiwano — pertencem a grupos ligados por trocas
matrimoniais preferenciais, e é difícil decidir se a proximidade é devida à
conexão genética, ao contato, ou a ambos. Empréstimos lexicais entre famílias operaram com certeza em casos como: a) “tucano”: jáatOe, baniwa (AR), dasé, tukano (TO), racé, barasana (TO); b) “onça”: t∫awi, achagua (AR), jáaßi, baniwa (AR), jaßí, kubeo (TO), jáí, barasana (TO); jaßí~bi; c) “cão”: Kubeo (TO), t∫awi-mi, “o que foi onça”, achagua (AR).
As evidências fonológicas de contatos interlingüísticos são pouco convincentes. Primeiro, vejamos as três características do tariana partilhadas
com TO e MA (:394-395): 1) a nasalização como traço prosódico da palavra, 2) o acento tonal e os padrões de entonação, 3) os fonemas com pouca carga funcional. A nasalidade (1) é definida como “auto-segmento associado ao morfema” em TO (capítulo 7), como “prosódia da sílaba” em
MA (capítulo 9), e nenhuma evidência desta propriedade é apresentada
para o tariana. Uma vez que o acento tonal (2) não existe em tukano, a
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
mais tonal das línguas TO (Ramirez 1997), é difícil atribuir o acento tonal
tariana à influência tukano. Dois fonemas com baixa carga funcional, i, o,
presentes nas línguas TO e MA, não existem, segundo Aikhenvald, em
outras línguas AR; em realidade, o i existe em Guajiro e o o do marcador
feminino tariana aparece também em achagua (AR) {-to, t∫o, u}.
Em segundo lugar, os traços tariana resultantes da influência TO incluem: a) nas oclusivas aspiradas, fonemas próprios do tariana e ausentes
em tukano, a carga funcional baixa e a tendência a uma variação livre
com as oclusivas simples seriam influência tukano; b) a ocorrência de sílabas (C)Vh7 no meio da palavra, alternando com (C)hV e CVh antes de
oclusivas surdas, lembra as sílabas CVh do tukano (esta última existe em
achagua como sílaba êmica, nu-enahto “minha filha”, ao passo que em
tukano é ética); (c) y torna-se dy em início de palavra, um processo comum também em achagua (AR); (d) a oclusiva glotal que, sem ser contrastiva, aparece esporadicamente no fim de palavra em tariana, seria influência de um traço prosódico de final de sentença do barasana e tatuyo,
línguas da área Piraparaná que não têm nenhum contato com o tariana.
Línguas TO, que se estendem pelo Brasil e avizinham-se ao tariana,
mostram grande atividade na região do aparelho fonador conhecida como
“laringe”, atividade ausente nas línguas do Piraparaná, afastadas do tariana e que não apresentam pré-aspiração ou pós-aspiração das oclusivas surdas. As línguas tukano orientais vizinhas do tariana têm sílabas éticas CVh
e ChV (tukano), oclusivas aspiradas êmicas Ch (Wanano), apagamento de
uma vogal tautomorfêmica antes de h ou entre consoantes surdas (tukano,
Wanano), e oclusão glotal êmica ou ética (ver descrições no LIC). Alguns
desses traços reaparecem em tanimuka (TO) e yukuna (AR). A direção da
difusão não é evidente, nestes e em outros casos. Classificadores nominais
são comuns às línguas TO e AR. As primeiras distinguem duas classes conceituais maiores, entes animados (incluindo todos os animais) e entes inanimados. As arawak classificam os animais pela forma, ao passo que as tukano orientais o fazem apenas com entes inanimados. Em Kubeo (TO), todavia, classificadores de forma aparecem em nomes referentes a animais
(Gomez-Imbert 1996), ao passo que o tanimuka (TO) desenvolveu um marcador de gênero neutro -a/-ka que aparece em nomes referentes a animais
e a entes inanimados; ambos os grupos têm mantido intensas trocas com
povos arawak, baniwa no primeiro caso e yukuna no segundo.
A difusão regional reduz-se de fato, para Aikhenwald, à influência
unilateral das línguas TO na língua tariana (AR). Com relação às oclusivas aspiradas surdas, daria para pensar que a direção da influência vai
do tariana ao tukano8.
387
388
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
O capítulo 15, escrito por Lucy Seki, lingüista da Universidade de
Campinas, é dedicado a um outro exemplo de sistema sociocultural multilíngüe — o Alto Xingu. Neste, seria possível detectar não apenas a direção e os significados dos empréstimos lexicais, mas também os sinais de
uma difusão de traços fonológicos e morfológicos através das fronteiras
de línguas geneticamente não conectadas. Infelizmente, não há evidências que suportem a afirmação da autora de que algumas características
fonológicas e morfológicas das línguas alto-xinguanas resultem de difusão. Entre os traços considerados como tendo se desenvolvido nas línguas
karib e tupi-guarani xinguanas devido à “influência” arawak, a mudança
p>h é um processo de debucalização (perda da articulação na cavidade
bucal) observado em todo o mundo como mudança natural (no Uaupés,
acontece em barasana/taiwano e makuna sem nenhuma influência arawak). Uma relação causal é proposta entre a estrutura silábica CV arawak
e a ocorrência dessa mesma estrutura no karib xinguano, que seria excepcional; aprendemos, porém, nos capítulos 3 (:78) e 2 (:26) do mesmo
volume, que línguas arawak e línguas karib não xinguanas têm uma estrutura silábica muito similar (C)V(V)(C), com um conjunto muito similar
de consoantes permitidas na posição de coda. Mais do que isso, há erros
geográficos (leste e oeste, e norte e sul, têm suas posições trocadas nas tabelas 5.1 e 5.2) e importantes fontes de informação lingüística, etnográfica e histórica são ignoradas. São esquecidos os Bakairi, grupo indígena
que fala uma língua de um dos ramos meridionais da família karib e que
permaneceu um longo tempo integrado ao sistema alto-xinguano e nunca
deixou de ter com este relações significativas (Franchetto 2001).
Em vários pontos do livro apresentam-se traços lingüísticos e culturais supostamente recorrentes, em listas à la Borges elaboradas com base
em informações banais ou simplesmente errôneas. Um exemplo são as páginas sobre difusão (:7-10), onde encontramos um esboço das fonologias
amazônicas: “Há tipicamente um fonema líquido, que é freqüentemente
um flap. Há usualmente mais africadas que fricativas. Uma vogal central
alta não-arredondada i é freqüente. Um sistema vocálico amazônico típico
tem como membros i,e,a,i,u/o. Há tipicamente nasalização contrastiva de
vogais”. O perfil consonantal pobre — um flap e mais africadas que fricativas — precisa ser matizado: o flap pode ser um alofone de d, e africadas
coronais são muitas vezes parte de uma série de oclusivas ou podem ter
alofones fricativos. Há, por outro lado, características tipológicas relevantes, que tanto autores quanto editores deixaram passar. Uma distinção entre soantes e obstruintes, como sendo as duas classes maiores de consoantes, em lugar de uma correlação de vozeamento, é um traço amplamente
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
disseminado na Amazônia: na família karib, onde o vozeamento parece
recente, quando existente; em metade da família arawak; em quatro de
nove dos ramos do tronco tupi; nas línguas tupi-guarani; em pequenas famílias como Kahuapana, Jivaro, Peba-yagua, Zaparo, Yanomami, Txapakura; nas línguas Bora (Witoto) e Warao; em Trumai, onde existe apenas
uma obstruinte vozeada d, que é implosiva; em duas das três línguas Nambikwara. A nasalidade como propriedade não-segmental, uma vez que se
estende por vários segmentos, é uma característica de área mais importante do que as vogais nasais. É significativo que dados de línguas amazônicas sejam amplamente usados em artigos tipológicos recentes (Peng
2000). Alguns tipologistas podem achar útil o tipo de informação mencionada acima, mas fonólogos que trabalham com descrições e análises mais
precisas farão, provavelmente, o que fez um dos editores do livro (:1):
“aprender espanhol e português e, então, ir para a América do Sul [e] dessa maneira conseguir alcançar algum grau de insight na área lingüisticamente mais complexa, hoje, no mundo”.
The Amazonian Languages é, sem dúvida, o resultado de um trabalho exaustivo de seus editores. É um handbook que estará, obviamente,
em todas as livrarias e nas estantes dos pesquisadores que estudam a Amazônia, objeto de constantes consultas. Um lingüista amazonista, todavia,
tem a sensação de que o livro é prematuro e foi feito às pressas. Uma revisão mais cuidadosa teria evitado erros em mapas, tabelas, exemplos e dados, em geral. É certamente um “passo preliminar”, como dizem os editores, e não é o “primeiro” (ver Payne 1990, uma obra não mencionada no
capítulo 1). Além disso, como procuramos mostrar em nossos comentários,
não parece ser satisfatoriamente representativo dos atuais conhecimentos
sobre línguas amazônicas, sob vários pontos de vista9. O conselho dos próprios editores poderia também se aplicar a alguns capítulos do livro: “Deveríamos ter presente que o simples fato de algo ter sido publicado num livro não significa necessariamente que este algo tenha algum valor” (:15).
Recebido em 30 de fevereiro de 2004
Aprovado em 3 de setembro de 2004
Bruna Franchetto é professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro; Elsa Gomez-Imbert é pesquisadora do CNRS associada à Université Toulouse
2, ERSS.
389
390
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
Notas
1 O Summer Institute of Linguistics é uma das maiores organizações missionárias evangélicas, de origem norte-americana, que atuam no Brasil, bem como
em muitos países da América Latina e do resto do mundo, onde vivem populações consideradas como não tendo ainda recebido a palavra do Deus do cristianismo, revelada e difundida através das diversas línguas existentes. Os membros
do SIL são geralmente formados em lingüística e treinados para estudar línguas
de sociedades de tradição oral (ou ágrafas), reduzi-las à escrita graças ao estabelecimento de ortografias de base fonológica, realizar a tradução de textos bíblicos
e do Evangelho e implementar a alfabetização de modo a produzir leitores e propagadores do credo cristão, com todos seus corolários morais e culturais.
A tipologia de base morfossintática distingue, além das línguas com sistema ergativo-absolutivo e das línguas com sistema nominativo-acusativo, línguas
ativo-estativas. Nestas, observa-se a cisão em duas categorias do que é comumente chamado de “sujeito” do verbo intransitivo. O sujeito intransitivo ativo manifesta a mesma forma do e se comporta como o sujeito (agente) transitivo, ao passo
que o sujeito intransitivo estativo ou inativo tem a mesma forma e se comporta
como o objeto (paciente) transitivo. Muitas vezes, a forma do argumento inativo
revela ter a mesma natureza dos índices pronominais que ocorrem nos nomes que
designam o “possuidor” (uma relação de dependência).
2
Na visão gerativa da sintaxe, o fenômeno chamado de “V2” é interpretado
como resultante do movimento do verbo da posição em que é inicialmente gerado
para a posição que segue imediatamente o primeiro constituinte da frase.
3
4 Na representação fonológica dos fenômenos prosódicos, a mora é a unidade melódica ligada de um lado à sílaba e do outro aos segmentos (vogais e consoantes). Uma vogal longa ou uma consoante geminada são, assim, representadas
como sendo associadas a duas moras. A fonologia prosódica é, hoje, um ramo essencial da descrição e da teoria que trata dos fatos sonoros das línguas.
5 Nomes absolutos contrastam com nomes dependentes ou “obrigatoriamente possuídos”. Os segundos são inerentemente relacionais e dependem, em seu
sentido, de outro termo, que, por exemplo, denota o “possuidor”, como é o caso de
termos que denotam partes do corpo (cabeça de X) ou categorias de parentesco
(irmão de X). Os nomes absolutos podem entrar numa relação de dependência,
mas seu sentido não é primariamente relacional (vento, gaivota, pimenta, etc.).
6 Em livro mais recente sobre contato lingüístico no noroeste amazônico (Aikhenvald 2002), a autora apresenta uma visão diferente dessa área.
7 C é consoante, V é vogal; os parênteses indicam segmento que pode ou
não ocorrer; h é som aspirado, laringal, porque produzido com as membranas co-
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
nhecidas como “cordas vocais” relaxadas e abertas, não tendo nenhuma articulação na cavidade da boca.
8 No capítulo 3 (:77) lê-se que “(6) a full set of aspirated voiceless stops is
found only in some NA [northern arawak] languages (Biç, Ta) (…) These languages developed aspirated labial and velar stops as the result of a metathesis with h
(…) An example of the sequence stop-V-h in proto-NA is *ku:paki > ku:pahi >
ku:phe in baniwa and tariana”. Acompanhando observações de Gomez-Imbert,
podemos dizer que o mesmo acontece em tukano: h pode desvozear (ensurdecer)
ou apagar a vogal tautomorfêmica precedente, como em “barra (de sabão)” —
kuhi > kUhi/khi, ou permitir metátese, resultando na forma — khui (p.d.). O desvozeamento ou apagamento de vogal pode levar a afirmar impropriamente que
existe uma série de oclusivas aspiradas em tukano (ver West e Welch em Gonzalez-de-Perez e Rodriguez de Montes 2000).
Aikhenvald, em seu livro Language Contact in Amazônia, recentemente publicado (2002: 2, n. 1), reitera que Amazonian Languages deve ser considerado “as
a state of the art classification”, visto que, segundo ela, está todo baseado nos conhecimentos de pesquisadores familiares com cada uma das famílias lingüísticas.
9
391
392
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
Referências bibliográficas
AIKHENVALD, Alexandra Y. 2002.
Language Contact in Amazônia.
Oxford: Oxford University Press.
FRANCHETTO, Bruna. 2001. “Línguas e história no Alto Xingu”. In:
B. Franchetto e M. Heckenberger
(orgs.), Os povos do Alto Xingu.
História e cultura. Rio de Janeiro:
Editora UFRJ. pp. 111-156.
GOMEZ-IMBERT, Elsa. 1982. De la
forme et du sens dans la classification nominale en tatuyo (langue Tukano Orientale d’Amazonie Colombienne). Thèse de 3e cycle, U. Paris-Sorbonne [TDM 19. Paris: ORSTOM, 1986].
___ . 1996. “When animals become
‘rounded’ and ‘feminine’: conceptual categories and linguistic classification in a multilingual setting”.
In: J. J. Gumperz e S. C. Levinson
(orgs.), Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 438-469.
___ . 1997a. Morphologie et phonologie barasana: approche non-linéaire. Doctorat d’Etat, Université Paris
8. Saint-Denis.
___ . 1997b. “Structure prosodique et
processus segmentaux en barasana
(langue Tukano orientale d’Amazonie colombienne)”. Cahiers de
Grammaire, 22:97-125. Toulouse:
U. Toulouse-Le Mirail.
___ . 2001. “More on the tone versus
pitch accent typology: evidence
from Barasana and other Eastern
Tukanoan languages”. In: Shigeki
Kaji (ed.), Proceedings of the Symposium Cross-Linguistic Studies of
Tonal phenomena. Tonogenesis, Japanese. Accentology and other Topics, pp. 369-412. Tokyo: Institute
for the study of Languages and
Cultures of Asia and Africa ILCAA.
___ e KENSTOWICZ, Michael. 2000.
“Barasana tone and accent”. lnternational Journal of American Linguistics, 66.4: 419-463.
GRENAND, Françoise. 1989. Dictionnaire Wayãpi-Français. Paris: SELAF.
HAYES, Bruce. 1994. Metrical Stress
Theory: Principles and Case Studies. Chicago: University of Chicago Press.
HVALKOF, Søren, e AABY, Peter (orgs). 1981. Is god an American?
An anthropological perspective on
the missionary work of the Summer
Institute of Linguistics. Copenhagen: IGWIA and Survival International.
LEITE, Yonne. 1990. “Para uma tipologia ativa do Tapirapé: os clíticos referenciais de pessoa”. Cadernos de
Estudos Lingüísticos, 18:37-56.
___ . 1994. “As construções causativas
em Tapirapé”. Revista Latinoamericana de Estudios Etnolingüísticos,
VIII:73-86.
___ e VIEIRA, Márcia D. 1991. “Atividade e Ergatividade nas línguas
da família Tupi-Guarani: problemas de análise”. In: Anais do V Encontro Nacional da ANPOLL (Recife, 25-27 de julho de 1990): 247255. Porto Alegre: ANPOLL.
___ . 1995. “As construções causativas
em Línguas da Família Tupi-Guarani: um problema sintático”. In:
Anais do IX Encontro Nacional da
ANPOLL, v. 1: 974-980. João Pessoa.
GONZÁLEZ DE PÉREZ, Maria-Stella.
2000. “Bases para el estudio de la
lengua pisamira”. In: M. S. Gonzalez-de-Perez e M. L. Rodriguez de
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
Montes (orgs.), Lenguas indígenas
de Colombia: una visión descriptiva. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. pp. 373-393.
___ e RODRÍGUEZ DE MONTES,
Maria-Luisa (orgs.). 2000. Lenguas
indígenas de Colombia: una visión
descriptiva. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. [LIC].
MATTEÏ-MÜLLER,
Marie-Claude.
1994. Diccionario ilustrado PanareEspañol, índice Español-Panare. Un
aporte al estudio de los PanareE’ñepa. Comisión Nacional para la
Comemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Caracas: Gráficas Armitano.
MEIRA, Sérgio. 1998. “Rhythmic stress
in Tiriyó (Cariban)”. International
Journal of American Linguistics,
64.4:352-378.
MELÉNDEZ, Miguel-Angel. 1989. El
nominal en achagua. Lenguas aborígenes de Colombia. Descripciones, 4: 3-66. Bogotá: CCELA.
MOORE, Denny. 1985. “Nominal Stem
and Adjective Stem Incorporation
in Gavião”. International Journal
of American Linguistics, 51.4:513515.
___ e GALÚCIO, Vilacy A. 1993. “Reconstruction of Proto-Tupari Consonants and Vowels”. Survey of
California and other Indian Languages, Report 8. In: M. Langdon,
Proceedings of the Meeting of the
Society for the Study of the Indigenous Languages of the Americas,
July 2-4, 1993, and the Hokan-Penutian Workshop, July 3, 1993, Columbus, Ohio. Berkeley: University
of California. pp. 119-138.
PAYNE, Doris L. (org.). 1990. Amazonian Linguistics. Studies in Lowland South American Languages.
Austin: University of Texas Press.
QUEIXALÓS, Francisco e LESCURE,
Odile (orgs.). 2000. As línguas ama-
zônicas hoje. São Paulo: IRD, ISA,
MPEG.
RAMIREZ, Henri. 1997. A fala tukano
dos ye’pa-masa. Manaus: CEDEM.
t. 1: Gramática.
ROBAYO, Camilo. 1986. La flexión
verbal del carijona. Tesis de grado,
U. de los Andes, Postgrado de Etnolingüística. Bogotá.
___ . 1987. Le système des personnes
de la langue carijona. Mémoire de
DEA, U. Paris VII-Jussieu. Paris.
___ . 1989. “En faisant une rame: texte
carijona”. Amerindia, 14:189-199.
___ . 1995. “¿Llegó tarde la educación
a los Carijona?”. Lenguas Aborígenes de Colômbia, Bogotá: CCELA
Universidad de los Andes, Memorias 3.
___ . 1996a. “Comentarios sobre los documentos de Uribe, de De Wavrin y
Tastevin sobre la lengua Carijona y
datos actuales”. In: J. Landaburu,
A. M. Ospina e T. Rojas Curieux
(orgs.), Documentos sobre Lenguas
Aborígenes de Colombia del archivo de Paul Rivet. Bogotá: Universidad de los Andes. pp. 511-516.
___ . 1996b. “Datos actuales de la lengua Carijona, equivalentes al documento de De Wavrin donde usa
el cuestionario llamado ‘Vocabulario personal’”. In: J. Landaburu,
A. M. Ospina e T. Rojas Curieux
(orgs.), Documentos sobre Lenguas
Aborígenes de Colombia del archivo de Paul Rivet. Bogotá: Universidad de los Andes. pp. 517-520.
___ . 1996c. “Datos actuales de la lengua Carijona, equivalentes al documento de De Wavrin donde utiliza el cuestionario del Instituto Etnológico de Paris”. In: J. Landaburu, A. M. Ospina e T. Rojas Curieux
(orgs.), Documentos sobre Lenguas
Aborígenes de Colombia del archivo de Paul Rivet. Bogotá: Universidad de los Andes. pp. 521-538.
393
394
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
___ . 1996d. “Datos actuales de la lengua Carijona, equivalentes al documento de Tastevin ‘Uitoto, Carijona, Tanimuca, Curetú y Cocama’”.
In: J. Landaburu, A. M. Ospina e T.
Rojas Curieux (orgs.), Documentos
sobre Lenguas Aborígenes de Colombia del archivo de Paul Rivet.
Bogotá: Universidad de los Andes.
pp. 539-554.
STOLL, David. 1982. Fishers of men or
founders of empire? The Wycliffe
Bible Translators in Latin America.
London: ZED.
STORTO, Luciana R. 1997. Verb raising and word order variation in
Karitiana. Boletim da ABRALIN,
20:107-32.
VIEIRA, Márcia M. D. 1994. O fenômeno de não-configuracionalidade na
língua Asurini do Trocará: um problema derivado da projeção dos argumentos verbais. Tese de Doutorado, 274 f. Depto de Lingüística,
IEL, Unicamp. Campinas.
PARA O CONHECIMENTO DAS LÍNGUAS DA AMAZÔNIA
Resumo
Abstract
O livro Amazonian Languages, organizado por R. M. W. Dixon e A. Y. Aikhenvald, publicado em 1999, já é uma
obra de referência, de consulta quase
obrigatória para todos os que se interessam por lingüística, línguas indígenas da Amazônia e etnologia das terras baixas da América do Sul. Não obstante, o livro contém partes e temas
que têm suscitado reações na comunidade científica, fora e dentro do Brasil.
Este ensaio apresenta não somente as
contribuições do livro para o avanço
dos conhecimentos sobre línguas amazônicas, mas também as críticas das
quais são passíveis alguns de seus capítulos, por suas limitações empíricas e
teóricas, bem como a Introdução, por
suas colocações provocativas a respeito de certas políticas de pesquisa na
América do Sul. A introdução do livro
opõe categorias — lingüistas nacionais
versus estrangeiros — e escamoteia
identidades — lingüistas missionários
e missionários lingüistas —, descrevendo um quadro discutível e equivocado do que são e significam a pesquisa e o estudo das línguas indígenas, sejam elas “amazônicas” ou não.
Palavras-chave Línguas indígenas; Lingüística; Amazônia; Etnolingüística;
Política lingüística
The book Amazonian Languages, compiled by R. M. W. Dixon and A. Y. Aikhenvald, published in 1999, is already
a reference work – indeed, practically
compulsory reading for anyone interested in linguistics, the indigenous languages of Amazonia and the ethnology
of lowlands South America. Nonetheless, the book contains sections and
themes that have provoked strong reactions in the scientific community both
inside and outside Brazil. This essay
presents not only the book’s undoubted
contributions towards advancing our
knowledge of Amazonian languages,
but also the criticisms justifiably levelled at some of its chapters, caused by
empirical and theoretical limitations, as
well as others concerning the book’s introduction and its provocative opinions
regarding specific research policies in
South America. The introduction to the
book opposes categories (national versus foreign linguists), plays verbal sophistry with identities (missionary linguists and linguistic missionaries) and
paints a contestable and erroneous picture of what it means to research and
study indigenous languages, ‘Amazonian’ or otherwise.
Key words Indigenous Languages; Linguistics; Amazonia; Ethnolinguistics;
Linguistic policies.
395
Mana
Print ISSN 0104-9313
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
→
ENTREVISTA
Por uma antropologia do centro
Bruno Latour
Esta entrevista foi realizada em Paris, em fevereiro de 2004, no gabinete de Bruno
Latour na École Nationale Supérieure des Mines, por Renato Sztutman e Stelio Marras.
A École des Mines oferece, tradicionalmente, cursos em geofísica, engenharia de
materiais e energia, robótica, matemática, economia industrial, mecânica, reatores.
Ali, Latour ensina sociologia, no quadro da formação oferecida pelo "Centre de
sociologie de l'innovation", mas parece preferir não ser tomado por um sociólogo. Sua
formação é em filosofia, embora ele não se diga filósofo. Epistemólogo seria, ainda
talvez, uma designação mais justa. Se bem que ele não recusaria de todo o rótulo de
historiador das ciências. Ele próprio se define como um "sujeito híbrido". Visto como
um antropólogo, Latour seria um antropólogo da modernidade — mais
especificamente, um antropólogo da ciência ou da natureza. Como ciência humana das
coisas, esta antropologia da natureza não adere, contudo, seja ao realismo das
ciências naturais, seja ao construtivismo das humanidades. Latour situa sua
perspectiva nem de um lado, nem de outro, mas no meio — no centro, precisamente
onde ocorre seu objeto de estudo por excelência, os híbridos ou matters of concern,
isto é, as coisas ao mesmo tempo naturais e domesticadas, os quase-sujeitos e quaseobjetos dotados simultaneamente de objetividade e paixão. E é também no centro do
Ocidente e de seus coletivos modernos que se processa a produção e proliferação
desses híbridos, em paralelo à prática, tipicamente moderna, de sua purificação. É por
isso que os laboratórios de alta tecnologia, por exemplo, são lugares privilegiados de
investigação etnográfica para uma antropologia das ciências, coração de uma
antropologia da modernidade. Metodologicamente, trata-se de seguir as coisas através
das redes em que elas se transportam, descrevê-las em seus enredos — é preciso
estudá-las não a partir dos pólos da natureza ou da sociedade, com suas respectivas
visadas críticas sobre o pólo oposto, e sim simetricamente, entre um e outro.
Por meio de uma dezena de livros e de centenas de artigos e ensaios, as idéias de
Latour vão se estendendo, também em rede, pelos continentes. Seu livro-manifesto
Jamais fomos modernos — ensaio de antropologia simétrica (publicado na França em
1991, no Brasil em 1994), foi traduzido em 18 línguas. Ao desmontar ali a ilusão
moderna de que é possível isolar o domínio da natureza (o inato) do domínio da
política (a ação humana), Latour reconectou a modernidade a todas as demais
naturezas-culturas do globo, delineando propostas para uma possível convivência
intraplanetária. Quase como um profetismo às avessas, o novo mundo para onde
Latour aponta é idêntico ao mundo tal qual ele sempre foi, mas que nunca os
modernos, antes, pudemos notar.
Sociologia da crítica, antropologia da ciência, science studies... Qual o melhor modo de
se referir ao seu campo de pesquisa? Seria essa aparente indefinição um sintoma da
urgência de uma redefinição dos instrumentos capazes de iluminar os mecanismos da
modernidade?
Em termos de "disciplina", o que eu faço não existe. Meu trabalho se situa ao lado da
história das ciências, da nova história das ciências — a área que mais atrai gente hoje
no mundo universitário —, daquilo que costumamos chamar de science studies,
expressão que não tem correspondente direto em francês, e que é a tradução em
inglês da palavra grega "epistemologia". Sempre colaborei com os antropólogos, e de
vez em quando gosto de me definir como um antropólogo das ciências. Esse rótulo
agora é menos útil, graças ao trabalho de Philippe Descola, que vem desenvolvendo a
escola da "antropologia da natureza" (este é o nome de seu curso no Collège de
France), e eu fico muito contente em fazer parte dela. Mas ao mesmo tempo, aqui [na
École des Mines], eu ensino sociologia. Minha formação é unicamente em filosofia,
meus diplomas são em filosofia. Assim, os rótulos não são fáceis de estabelecer. Por
outro lado, se definirmos pelo objeto, o único objeto que estudo é o que chamei, de
início, de "objetos híbridos", e que chamo agora de matters of concern, em oposição
aos matters of fact. É o que interessa também ao pessoal dos science studies, os
antropólogos da ciência, os historiadores da ciência, que convergem para este objeto
que tem características novas e que podemos definir como — segundo o antigo sentido
desses termos — things em inglês, choses em francês: coisas, ou seja, seres que têm
necessidade de uma representação, no duplo sentido da palavra, como tentei precisar
no livro Politiques de la Nature (2000). Assim, para responder à questão, em termos
de rótulo, não disponho de uma definição precisa para oferecer. No entanto, em
termos de objeto, penso que meu objeto é o estudo dos matters of concern, a
invenção de um certo empirismo — um segundo empirismo, digamos, que não tem a
ver simplesmente com os objetos, no sentido tradicional do empirismo, mas com os
matters of concern, com as coisas que constituem causas, em oposição aos objetos1.
Eu gosto dos antropólogos, gosto dos sociólogos (um pouco menos, talvez!), gosto dos
filósofos (um pouco menos ainda!), e gosto muito dos science studies, este é o meu
domínio, que, em parte, eu mesmo criei, juntamente com amigos, e o domínio de
pertença é sempre importante. É nele que encontro os colegas mais queridos.
Você utiliza a antropologia clássica para criar instrumentos metodológicos que
permitam uma nova abordagem da ciência moderna. Isso implica, segundo você, a
constituição de uma antropologia simétrica. Em que sentido a empresa de uma
antropologia da modernidade pode contribuir para renovar a antropologia geral?
Comecei pela utilização bastante clássica da antropologia definida como etnografia,
como método etnográfico. Se pensarmos na formação clássica em antropologia tal
como se fazia há mais ou menos trinta anos, veremos que não havia muitas formas de
aplicá-la ao estudo das atividades científicas do centro. Em troca, o método etnográfico
era utilizável. E assim alguns autores, como Mike Lynch, na Califórnia, Karin Knorr,
também na Califórnia, Sharon Traweek (uma verdadeira antropóloga entre os
sociólogos) e eu mesmo, sempre na Califórnia, por acaso e sem nos conhecermos,
utilizamos os métodos etnográficos. E foi apenas depois que trouxemos o problema
para a antropologia geral que nos defrontamos rapidamente — ou rapidamente para
mim — com a questão "Natureza/Cultura", mononaturalismo e multiculturalismo.
Nessa época, na Califórnia, você já possuía alguma formação em antropologia?
Sim, porque eu já havia passado dois anos na África pela ORSTOM2, onde tinha bons
colegas, como Marc Augé.
Você fez o serviço militar na África, não é?
Sim. Fiz o meu primeiro trabalho de campo lá, sobre a formação de trabalhadores de
médio escalão em fábricas na Costa do Marfim. Eu já era, então, um sujeito híbrido,
uma vez que estava na Costa do Marfim, mas estudava um assunto relativo à
modernidade. Aplicávamos o método etnográfico, mas não abordávamos as grandes
questões da antropologia. Estas encontramos depois, quando começamos a fazer
estudos de campo, e aí nos demos conta de que os antropólogos não compreendiam
nada do que fazíamos, pois eram obcecados pela distinção "Natureza/Cultura", uma
natureza e várias culturas. Foi nesse momento que conheci Philippe Descola e Marshall
Sahlins e, em seguida, Eduardo Viveiros de Castro. Com eles, as minhas discussões
começaram a se aproximar realmente da antropologia. Foi então que publiquei Nous
n'avons jamais été modernes (1991), que foi um momento-chave para mim, quando
entrei em contato com os antropólogos, que começavam a dizer haver ali algo de
interessante para eles, pois, até então, não se haviam aplicado métodos etnográficos à
distinção "Natureza-Cultura". Penso que, desse ponto de vista, prestei um serviço aos
antropólogos. Mas será que isso abalou a antropologia como um todo? Não. Porque, de
início, nada abala a antropologia e as disciplinas acadêmicas em geral, e também
porque as ciências continuam a interessar apenas a pouquíssimas pessoas. Assim,
afora Descola e Viveiros de Castro, um pouco Sahlins, o impacto da antropologia das
ciências como a que faço sobre a antropologia geral é, creio, nulo. Por outro lado, há
pessoas como Paul Rabinow, toda uma série de antropólogos pós-modernos, que
mantêm laços mais fecundos entre os science studies e a antropologia. Mas isso
permanece sempre meio marginal na antropologia, como vocês sabem muito bem, pois
são antropólogos.
Por que a influência dos science studies se fez sentir mais nos Estados Unidos, e tão
pouco na França?
Na França, isso não teve absolutamente qualquer influência, salvo no curso de
Descola, ou na Inglaterra, um pouco por Marilyn Strathern, que estabeleceu conexões
muito produtivas entre os science studies e a antropologia. Na Alemanha, tenho a
impressão de que não houve grande influência. Assim, a antropologia continua o
debate entre ciência e cultura3. Sobretudo, isso não teve qualquer influência no lugar
onde justamente teria de ter tido, ou seja, nas relações entre a antropologia física e a
antropologia cultural. Era lá que estava — e ainda está — o futuro, o impacto futuro
dos recursos intelectuais mobilizados pelos science studies. E esse trabalho ainda nem
sequer começou, apesar de ser interessantíssimo. As coisas não caminham rápido na
vida intelectual.
Qual é, para você, a diferença mais significativa entre a (nova) antropologia das
ciências e a assim chamada filosofia das ciências?
Aqui, o contraste é total, entre a epistemologia (ou filosofia da ciência) e os science
studies. Há ainda um terceiro personagem, que é a história das ciências, hoje em dia
muito desenvolvido na França e muito interessante. Há muitas coisas agora. Assim, há
Ian Hacking, que é, aliás, um colega de Descola no Collège de France, um caso típico
dessa hibridização entre filosofia, história e sociologia das ciências. Mas ele não é
francês, é canadense... Durante muito tempo, a única maneira de se pensar a ciência
na França era a epistemologia. Mas isso mudou muito, pois há Hacking no Collège de
France; há, ao redor de Dominique Pestre, historiadores da ciência numerosos e de
ótima qualidade, de nível internacional. Assim, a situação agora é bem mais rica. Há
muitos bons trabalhos do que podemos chamar de science studies na França, sobre a
França, e feitos por franceses. A ligação com a antropologia, creio, permanece débil,
pois seria preciso que os antropólogos se interessassem, justamente, pelo centro. Há
poucos antropólogos que fazem isso, e quando o fazem, é da maneira mais superficial
possível.
Poderíamos dizer que esses antropólogos que trabalham com o tema da modernidade
não se interessam senão pela "periferia" da cultura ocidental?
Sim, é isso, a periferia do centro! E não o centro do centro! Ou tampouco a periferia,
aliás. Agora não sabemos muito bem onde é o centro e onde é a periferia. Os
antropólogos não se interessam pelas multinacionais, eles não se interessam pela
indústria, pelas técnicas. Mas não posso lhes falar sobre a antropologia na França.
Sobre esse assunto, seria melhor vocês entrevistarem Descola, pois eu não freqüento
os antropólogos — só freqüento os melhores! Eu não freqüento todos os outros; não
estou habilitado a responder a essa questão. Mas o ponto é que, de fato, meu projeto
vem mudar a antropologia em geral. Se deslocarmos o debate de conceitos como
"mononaturalismo" e "multiculturalismo" para novos conceitos, faremos a antropologia
mudar. Quando Viveiros de Castro inventa sua história de "multinaturalismo", ele
chuta o pau da barraca. Isso é certo. Assim, depois disso, a antropologia deve se
refazer. Mas quais são aqueles que têm consciência desse problema, além das três
pessoas já mencionadas?
Você apresenta o projeto, a Constituição Moderna, como algo fadado ao fracasso.
Quais são os signos deste destino trágico, uma vez que a ciência parece continuar
ocupando um lugar de centralidade na produção de nossas verdades? Se é assim, por
que não podemos mais ser modernos? Nós jamais fomos modernos, ou fomos, uma
vez, mas agora deixamos de sê-lo? Retrospectivamente, de acordo com sua teoria, nós
já não éramos, antes, modernos. Mas éramos mais modernos que hoje? Somos menos
modernos que há trinta anos?
Sim, isso é certo. Não tenho provas, pois todos os signos podem ser reinterpretados
dentro de uma lógica de desenvolvimento modernista. Eu não possuo uma só prova —
o que me preocupa muito, aliás — de que a história e a flecha do tempo modernistas
não sejam verdadeiras. Se formos habermasianos, a lógica do desenvolvimento dos
últimos cinqüenta anos pode ser perfeitamente compreendida como o avanço da
modernidade, da "hipermodernidade", como disseram alguns, com o pequeno
problema da pós-modernidade, entretanto, que é um sintoma bastante forte. Então, o
que eu faço é simplesmente oferecer uma outra interpretação, dizendo: se olharmos as
coisas de um modo diferente, é possível que o que está acabando seja uma
modernidade que jamais existiu de fato: jamais fomos modernos. É paradoxal. Mas, ali
onde eu possuo as provas que os outros não possuem, é porque, digamos, mais uma
vez, graças à história da ciência, graças aos science studies, nós nos demos conta,
finalmente, de que o único disparador e as únicas provas de que os modernistas
dispõem para fazer o seu quadro de desenvolvimento do Homem modernista — da
Renascença até hoje — são as ciências. É Galileu, é Newton, Pasteur, Einstein etc. Ora,
é justamente isso que, juntamente com os historiadores da ciência, meus amigos,
pudemos revisar de algum modo. Porque agora temos a história de Galileu, a história
de Newton, a história de Pasteur, a história de Einstein. A cada vez, em lugar de
encontrar uma separação entre objetividade e subjetividade, encontramos o contrário.
Foi isso que contei na minha pequena conferência no Collège de France, no quadro do
seminário de Descola. Para nós, que somos historiadores da ciência, no sentido dos
science studies, as provas de que jamais fomos modernos são mais fortes, pois
dispomos justamente dos exemplos das ciências, que nós revisamos. Por isso a idéia
de uma Grande Narrativa modernista parece hoje em dia bem menos crível. Mas não é
propriamente um destino trágico não ser moderno. O que seria trágico seria o fato de
sermos mesmo modernos. Este sim seria um destino trágico. Aliás, os modernistas já
choraram todas as lágrimas disponíveis para explicar que ser moderno era terrível, era
desencantar-se etc. Então o fato de jamais termos sido modernos não é absolutamente
uma tragédia. É justamente o contrário! Os europeus jamais abandonaram a matriz
antropológica ordinária4. Agora temos a prova disso, pois Descola está mostrando que
o modernismo é um dos quatro casos de identificação com a natureza: o naturalismo,
ao lado do analogismo, do totemismo e do animismo. É um caso digno de interesse,
mas é uma variante entre outras. Não é mais o horizonte para o qual evolui o resto do
mundo. Isso coloca evidentemente problemas políticos enormes, que Descola não
resolve. Descola tem muitas qualidades, mas sua política é completamente clássica.
Mas há algo realmente inédito, historicamente falando, no que dizem e fazem os
modernos...
Sim, eles são originais. O naturalismo é muito original. Eles são interessantes. O
modernismo é uma particularidade antropológica interessante. Certamente — não o
nego. E podemos mesmo ir mais longe. Essa particularidade explica muito de seu
dinamismo. É porque estivemos constantemente a imaginar a purificação que pudemos
operar a hibridização. Essa hipótese, que formulei sem a menor prova em 1991 em
Jamais fomos modernos, eu diria que se acha hoje, no fim das contas, razoavelmente
confirmada. Aliás, devo agradecer por isso, em parte, aos trabalhos dos antropólogos.
É graças ao fato de o modernismo não ser uma realidade, mas uma interpretação da
realidade que tem um efeito muito importante sobre esta, que podemos agora fazer
uma antropologia do dinamismo dos modernos. É precisamente porque eles estão
constantemente a trabalhar com a idéia de purificação que puderam produzir esses
hibridismos, que os outros — diríamos hoje, os analogistas ou os multinaturalistas —
se proíbem. Eu falei disso algumas vezes com Sahlins e com Viveiros de Castro, e creio
que essa não é uma hipótese absurda, ainda que continue sem poder prová-la. O
dinamismo dos modernos é ter feito constantemente outra coisa que aquela que
pretendiam fazer. A comparação com a China é muito interessante, com os chineses
conforme imaginados e reconstruídos por François Jullien5, pois lá vemos muito bem a
diferença de um pensamento que procura, ao contrário, ficar o mais próximo possível
da prática. É muito interessante, mas nós, do lado ocidental, não compreendemos esse
pensamento, pois ele nos parece banal. Ora, essa banalidade é, segundo Jullien,
justamente a força e o interesse desse pensamento, que se recusa a dramatizar suas
preocupações.
Então, eu não possuo signos, possuo índices que reinterpreto sob outra ótica. Mas se
vocês me perguntam qual é a prova que eu tenho de jamais termos sido modernos...
bem, eu não tenho provas! Todos os meus amigos pensam que minha hipótese não é
verdadeira, que a modernização avança; mesmo aqui [no CSI] — vocês podem
perguntar a meus colegas — ninguém acredita na minha hipótese. Todos pensam que
a modernização continua; muitos crêem que nós nos tornamos pós-modernos. É de se
espantar, pois esse livro que eu escrevi em três semanas foi publicado em dezoito
línguas! É uma hipótese que interessou a muita gente, mas que eu não consigo de
maneira nenhuma provar.
Para voltar a Philippe Descola, ele fala de uma ontologia naturalista. Você fala de uma
constituição moderna que oculta ou encobre, digamos, um lado não-moderno e que
poderia ser chamado, para continuar com os termos de Descola, de animismo,
totemismo ou analogismo. Que acontece, então, em sua própria reflexão, com essa
noção de ontologia?
Essa é uma questão difícil... Não sei. Os naturalistas são realmente naturalistas? Sim e
não. Na perspectiva de Descola, o naturalismo define um certo modo de identificação.
Ora, penso que isso não é certo no que diz respeito aos modernos, pois define apenas
o lado de sua empresa que corresponde à representação oficial que eles têm de si
mesmos, e da qual têm necessidade para construir os recintos [enceintes] dos matters
of fact. Mas ao mesmo tempo, no interior desse recinto, que é, grosso modo, seu
laboratório, eles vivem de uma maneira bastante diferente. Por exemplo, os átomos
que, em uma ontologia naturalista, são supostamente tão exteriores a nós, exibirão,
no laboratório, um monte de outras ontologias — no plural —, uma porção de estados
ontológicos que contradizem flagrantemente a visão pedagógica e epistemológica
oficial. Essa contradição não é entre o velado e o revelado, mas entre o recinto e o que
ele permite. Não é a mesma coisa. É porque os modernos estão protegidos das
conseqüências de sua hibridização que eles se permitem tais coisas.
A questão diz respeito ao recinto. É exatamente como se nós tivéssemos uma central
nuclear e, para fazer essa central nuclear, fosse necessário construir recintos sólidos
para proteger o que se passa no núcleo do reator, separando-o muito bem do exterior.
Que é, então, necessário estudar? Os recintos? O núcleo do reator? O exterior? Tudo,
provavelmente. Se nos interessarmos pelo recinto, diremos que os modernos possuem
uma ontologia naturalista — é isso o que diz Descola —, mas se nos interessarmos
pelo que se faz dentro dos recintos, veremos algo muito diferente. Isso não quer dizer
que eles sejam animistas — os modernos não podem ser de modo algum animistas,
totemistas ou analogistas. Bem, analogistas talvez seja mais provável, pois herdamos
muito do analogismo... Vê-se isso muito bem, aliás, no belo livro de Foucault, As
palavras e as coisas. Herdamos muitos aspectos do analogismo. O problema é que não
sabemos como se passou do analogismo ao naturalismo, da "prosa do mundo", como
diz Foucault, à Natureza modernista. O fato é que há pouca antropologia do
modernismo. Temos muito menos estudos, curiosamente, sobre as nossas ontologias
que sobre a ontologia dos Achuar, por exemplo. Então não temos respostas a essas
questões. Pessoas como Descola e Viveiros de Castro costumam dizer: "estudo os
outros e não nós, e por isso não considero os naturalistas modernos por aquilo que
eles fazem realmente, mas apenas por aquilo que eles dizem oficialmente sobre si
mesmos". E assim, o paradoxo é que sabemos menos sobre as ontologias mobilizadas
pelos biólogos, pelos técnicos de computação, pelos empresários, que sobre aquelas
mobilizadas pelas práticas de caça achuar. Porque pensamos que os brancos, os
habitantes do centro, realmente possuem uma ontologia naturalista. Isso é uma
verdade tão superficial que acaba por se tornar completamente falsa. (Os brasileiros
são interessantes porque eles jamais acreditaram, no final das contas, nessa história
de purificação. Eles possuem uma visão que difere daquela do modernismo dos
franceses.)
Então, direi, para retomar os termos da questão de vocês, que não se trata aqui de
uma ontologia pura e simples, mas de uma ontologia que ainda não conhecemos, em
virtude da falta de estudos. Mas quando estamos diante de alguns bons trabalhos —
como, por exemplo, o belíssimo livro de Hans Jorg Rheinberger sobre os seres
biológicos em um laboratório contemporâneo —, vemos que a ontologia naturalista de
Descola e Viveiros de Castro não parece descrever muito bem o que se passa nesse
laboratório. Coisas estranhas acontecem com os seres biológicos. Isso não quer dizer
que os biólogos sejam animistas, isso significa que acontecem coisas que a criação do
recinto modernista permite. Quando se está no recinto modernista, é possível fazer
experiências sobre as ontologias que não se pode fazer quando se está no terreno do
animismo. É essa a diferença crucial, é essa a particularidade do naturalismo. Mas aqui
há uma questão técnica que tomaria muito o nosso tempo.
Tomemos a questão anterior sob um prisma diferente. Os modernos detêm uma certa
constituição, que lhes permite encobrir o que se passa realmente dentro de seus
recintos. Entre os pré-modernos, ao contrário, poderíamos dizer que tudo se passa de
uma maneira diferente, que eles são mais transparentes e que jamais se enganam. Ou
seja: o que eles dizem, eles fazem. O "engano" seria um atributo dos modernos.
Podemos dizer que os modernos encerram uma contradição mais séria que os demais?
Se isso é verdade, eles se tornariam realmente diferentes dos outros, situando-se em
uma posição realmente assimétrica.
É muito interessante essa questão. Eu e Viveiros de Castro já discutimos muito sobre
esse ponto. Não é absurdo dizer que a particularidade dos modernos é estar em maior
contradição consigo mesmos que os demais coletivos. O caso dos chineses é, nesse
sentido, extraordinário; tomemos mais uma vez os chineses de Jullien, que descreve
efetivamente as suas práticas. Mas na nossa perspectiva, a dos modernos, criadores
de recintos no interior dos quais se faz algo diferente, o objetivo da sua filosofia [dos
chineses] não é descrever as suas práticas, mas criar condições para que isso que eles
sabem na prática possa ser levado às últimas conseqüências, com energias
consideráveis, pois os pressupostos e conseqüências das conexões são mantidos em
desconhecimento. Costuma-se concluir do fato de "jamais termos sido modernos" o
fato de que os modernos teriam se enganado. Não é essa a questão — sou geralmente
mal compreendido nesse ponto. Mais uma vez: quando se está numa central nuclear,
nunca se está dentro, mas fora; ninguém vai querer entrar, pois dentro tudo irradia,
tudo queima, e é porque se está fora e que há um recinto de contenção que se pode,
no interior, fazer coisas com energias formidáveis, incomensuráveis, com o que se
passa no exterior... É preciso levar em conta as energias das experiências modernas.
Se, a cada vez que começamos a estabelecer os protocolos dessas experiências nós
nos dissermos: "isso tem influência sobre a sociedade, sobre o cosmos, sobre os
ancestrais, sobre os cultos" etc. se, a todo momento, não tirarmos os olhos do fato
social total da nossa própria cultura, seremos obrigados a tomar graves precauções,
teremos de tomar muito cuidado. E com isso, viveríamos em uma atmosfera de
desaceleração.
A questão de vocês é muito astuciosa. Não se trata de dizer: "todos os outros fazem o
que dizem, e nós, modernos, temos a particularidade de mentir, nós mentimos!".
Superficialmente, isso é verdade. Mas é preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo,
senão não poderemos nos permitir liberar energias. Essa é a grande astúcia dos
modernos: ter uma constituição que possui dois ramos. O primeiro permite alegar:
"quando você faz isso, você pode misturar o que bem quiser, e as conseqüências não
vão existir". O segundo, por sua vez, constata justamente que essas conseqüências
existem. "Ah, sim, destruímos a floresta amazônica, transformamos completamente as
grandes planícies norte-americanas. Uau, isso é estranho, como isso pôde acontecer?"
Não se pode negar que haja para os modernos um contraste excessivo entre o que
eles dizem e o que fazem. É isso que explica sua surpresa total diante das
conseqüências inesperadas de suas ações. Eles dizem que são emancipados, mas ao
mesmo tempo: "ah, é estranho... hoje estamos novamente reconectados à atmosfera,
ao ar que respiramos. Como isso aconteceu? Isso aconteceu porque tivemos uma
influência tão grande que acabou alterando o próprio clima". Nós dizemos, finalmente:
"Olhem só, estamos realmente reconectados!". Pois é, estamos reconectados. Os
outros sabiam. Isso não causa espanto aos outros. E aqui há uma verdadeira
diferença. Os outros nos dizem: "Welcome back!". Nós lhes perguntamos: "Vocês não
são emancipados?". E eles respondem: "Não! Nós sabíamos. Nós, os outros, sabíamos
um pouquinho das coisas". A húbris moderna, que foi estudada por todos os
modernistas — esse é o grande tema da crítica. Há qualquer coisa de verdadeiro nesse
tema da húbris. De qualquer modo, se todas as questões de vocês forem tão difíceis
como esta, eu não poderei mais responder...
Então, se a constituição moderna é oficial, mas não oficiosa, podemos voltar a falar em
uma ontologia de base — e por que não dizer universal? — ligada às práticas de
"tradução" ou "hibridização", essas que tornam impossíveis todos os esforços de
purificação? Você defende a idéia de que todos os coletivos são híbridos. É isso que
tornaria possível a simetrização e a comparação entre os modernos e os outros?
A questão do universal não me parece apropriada. Não é um modo ideal para se falar
do mundo. O problema é: será que podemos viver no mesmo planeta, sabendo que
temos definições completamente diferentes sobre o planeta, sobre o que é viver e o
que é estar junto? E, nesse ponto, a comparação deixa de ser intelectual, para ser uma
comparação que podemos chamar, com Isabelle Stengers, de cosmopolítica, mas não
no sentido de Ulrich Beck ou de Kant. Talvez fosse necessário falar, como Peter
Sloterdijk, em domo ou envelope. Qual o domo no interior do qual se faz a
comparação? Esta é, em si, uma questão importantíssima. A solução clássica dos
antropólogos é dizer que nós sabemos o que é esse domo, ele é o conhecimento, a
natureza, a natureza humana, essa mansão da modernização para onde se
encaminham as culturas, sob uma forma geralmente triste — "tristes trópicos", eis a
fórmula que resume todo um passado. Elas entram na mansão, nós as honramos, elas
se modernizam e se dissolvem em todos sentidos. O imaginário da antropologia é uma
estátua cuja encarnação foi Lévi-Strauss.
Ora, a situação atual é completamente diferente, pois não há mais o domo da
natureza, e menos ainda o tema do desaparecimento das culturas, pois há a formação
de novas culturas completamente bizarras, híbridas, à maneira de Appadurai, feitas de
mercado mundial, de marketing, de arcaísmo, de folclore etc. E a assembléia que
permitiria essa conexão não existe. Por isso, a situação se torna realmente
interessante, pois agora a comparação deixa de ser "somos todos de diferentes
culturas, sobre o pano de fundo de uma mesma natureza", para ser "o que nos
espera?". E assim essas questões vão ficando cada vez mais interessantes. É isso que
eu queria dizer sobre o tema da nova forma de auto-apresentação dos europeus. Os
europeus se representam e se apresentam novamente aos outros, de modo agora
polido, dizendo: "não sabemos em que mundo estamos". Tomemos a famosa disputa
de Valladolid. Valladolid versava sobre os índios. E, como lembram Lévi-Strauss e
Viveiros de Castro, será que os brancos estavam de acordo com eles? Antes, a questão
era simples, era a do universal local, tal a controvérsia de Valladolid. Mas... e se
dissermos: "qual é a diplomacia necessária para que haja um mundo comum entre
esses que dizem 'Em Valladolid, experimentam-se almas; em Porto Rico,
experimentam-se corpos'"? Não há mais mundo comum a abrigar estes dois extremos.
De fato, e estamos mesmo assim engajados ora em uns, ora em outros, obrigados a
estar em guerra para poder fazer a paz. E assim as coisas vão ficando interessantes.
Retomemos, antes de prosseguir, a sua noção de "hibridização"...
Hibridização não é um bom termo. Se o empreguei, foi simplesmente para testá-lo.
"Híbrido" é já todo um mundo da genética. Usei o termo "híbrido" para começar a
discussão, ele descreve bem o fato de que quando você fala em garrafas de água
mineral, por exemplo, você vai encontrar a legislação, os problemas de poluição e a
água vai se pôr a diferir, a se complicar, deixando de estar situada como um matter of
fact. Só que hoje eu não utilizaria mais o termo híbrido, pois, a rigor, só há híbridos,
em toda parte. Se assim fosse não poderíamos mais fazer a distinção entre animismo,
totemismo etc.. Mas nós produzimos um tipo de híbrido que é muito interessante: o
ato da hibridização é negado em seus recintos. Se o recinto exibe matters of fact, seu
interior é codificado. Essa é a nossa invenção. É uma coisa engraçada. E nós, não nós
antropólogos, mas nós que fazemos a cosmopolítica, nós dizemos que a tarefa da
política é abrir o recinto e mostrar o que ele é e o que permite, ou seja, os matters of
concern. Essa oposição está um pouco em toda parte: sobre a guerra no Iraque, por
exemplo, diremos: "esta vai ser rápida, vai dar tudo certo, nós controlamos tudo". Mas
tudo dá errado, como vamos sair dessa, estamos enrascados... Nós vivemos neste
momento uma oposição particularmente dramática. Temos as provas absolutas de que
há armas de destruição em massa, e então, de repente, damo-nos conta de que não
as temos, estávamos enganados. Essa oposição está por toda parte. Fatos indiscutíveis
são substituídos por fatos discutíveis.
Como definir essa noção de cosmopolítica?
Há muitas definições, mas eu prefiro aquela de Isabelle Stengers. Ou seja, a de que a
"política" são os humanos, e que o "cosmos" são as coisas: nenhum dos dois sozinho é
o bastante. A palavra "cosmopolítica" é uma palavra que permite dizer que se fizermos
a política apenas entre humanos, vamos acabar nos fechando em uma esfera exígua
demais, feita de interesses de boa vontade. Se tivermos apenas cosmos, iremos nos
encerrar sozinhos na velha idéia dos naturalistas, que definem a priori um mundo
comum que os outros devem compartilhar. A cosmopolítica permite impedir que os
dois se fechem: o cosmos está lá para impedir que a política se feche, e a política, para
impedir que o cosmos se feche. O cosmos não é mononaturalizado, ele é a expressão
de uma política. Acredito que podemos dizer hoje que temos uma prova para esse
fenômeno, e esta é muito difícil de ser negada. O número de fatos, que aparece ainda
sob a forma modernista de matters of fact, diminuiu muito em relação aos fatos que
aparecem agora sob a forma de matters of concern. Nós não podemos ainda
quantificar a mudança, mas há uma grande mudança. Podemos também interpretar
isso alegando que, não, é simplesmente o modernismo que tenta avançar, mas esse
tipo de interpretação acaba parecendo com os epiciclos ptolomaicos. Enfim, não se
deve acrescentar epiciclos a epiciclos. Não é um modo honesto de pensar.
Tomemos, como exemplo, o caso das descobertas sobre o genoma humano. Fala-se
muito, nos termos de Viveiros de Castro, em "multinaturalismo", ou seja, múltiplas
naturezas. Ora, as descobertas recentes sobre a biotecnologia genômica insistem sobre
uma base biológica certamente universal, que nos reenvia forçosamente ao
mononaturalismo. O que é encoberto nesse processo? Ou, dito de outro modo: não
teria a antiga constituição moderna encontrado, ali, a sua realização?
Este é o gênero importante de questão, pois estamos aqui no cruzamento entre
antropologia física e antropologia cultural, social. Esse cruzamento deverá ser, no
futuro, o cerne da antropologia. Mas reflexões como essas não foram praticamente
realizadas. Mas há um modo típico de responder à questão de vocês. Podemos, e há
gente que o faz, saudar a genômica como o grande evento dos últimos vinte anos.
Podemos efetivamente repetir a narrativa do modernismo com a biologia no centro. Ao
mesmo tempo, entretanto, verifica-se uma proliferação de definições do gene, das
influências dos genes, que reduziu a nada a universalidade do discurso biológico. Este
é tipicamente um problema modernista. Todo mundo tem o mesmo genoma, estamos
todos finalmente unificados sob o teto da mansão da genética. Sim, mas,
simultaneamente, as definições do gene, das influências do gene que serviam para
unificar essa mansão, explodiram em uma multiplicidade de definições. Por exemplo,
muita gente tem síndrome de mongolismo, mas não manifesta o mongolismo. Pierre
Sonigo, que é um grande biólogo francês e que escreveu, no ano passado, um livro
apaixonante sobre o gene, oferece uma definição completamente oposta6. Ele diz não,
o gene não é algo que transporta as informações, mas algo que come. Já não é a
mesma coisa. Todas as conseqüências que você pode tirar de um e de outro para a
unificação do comportamento são diferentes. Evelyn Fox Keller publicou, no ano
passado, The century of the gene, onde argumenta que o discurso sobre a ação do
gene é uma pequena fração, agora, do que se passa na genética7. Há aqui gente que
estuda as questões relativas às doenças que são devidas a um gene apenas, e mesmo
assim observamos diferenças enormes. Sem falar do fato de que agora um gene é uma
empresa, são patentes, é um jogo geopolítico enorme como vemos com o caso dos
transgênicos. É por isso que a relação entre a antropologia física e a antropologia
cultural tornou-se tão interessante de um ponto de vista político. Estamos diante de
um lugar de controvérsias, pois podemos dizer: "Olha, temos razão de fazer
antropologia física, pois agora isso já está unificado". E, ao mesmo tempo: "Olha,
temos uma rica antropologia social — digamos assim — dos genes, porque a genética
é assunto das mais variadas controvérsias". Isso é normal, pois não há uma única
maneira de um corpo existir no mundo. Os geneticistas não sabem o que fazem. É que
o problema do gene é complicado. Um gene é múltiplo e os seus modos de ação são
múltiplos. Não há um só discurso sobre o gene que possa unificar a genética.
A questão de vocês é muito interessante e a minha resposta a essa questão é: eis
porque é preciso uma antropologia da ciência. É preciso conseguir compreender as
duas coisas: o discurso unificador triunfalista dos geneticistas — quando estes dizem
que "o genoma é, finalmente, o fim da diferença cultural, porque temos agora um só
gene para tudo", e o seu contrário, ou seja, a idéia de que o gene não explica tudo:
fazemos genômica, agora temos o Genoma, e nos damos conta de que não é isso que
explica tudo, é preciso olhar para as proteínas etc. O objetivo da antropologia não é
opor o discurso oficial ao discurso oficioso, mas estudar os dois. E explicar por que o
primeiro permite uma parte do segundo ao mesmo tempo em que impede o seu
desenvolvimento. Hoje o desenvolvimento da genética está paralisado por um discurso
que não corresponde, de modo algum, àquilo que o ser deve fazer, presa como está à
estranha ontologia do antigo gene codificante e informante, algo como a imitação de
um livro, algo que se assemelha à linguagem.
Você fala da crise da representação política como parte da crise da modernidade. Em
que sentido você pode dizer que a democracia — ao mesmo tempo o melhor e o pior
sistema político, para retomar a frase de Churchill que você mencionou em uma
conferência recente — deve ser estendida às coisas?
A política sempre foi, de fato, uma política das coisas. A questão foi sempre construir
cidades, definir fronteiras e paisagens. Foi a filosofia política que inventou, em meados
do século XVII, uma teoria da representação unicamente do mundo social humano, ao
colocar a economia e as ciências do outro lado. Isso significa que, do ponto de vista da
atividade que chamamos política, sempre se tratou de questões — issues, como dizem
os ingleses —, que são preocupações não simplesmente materiais, mas preocupações
em relação a bens e coisas. A melhor demonstração disso é um afresco muito
conhecido de Lorenzetti, em Siena, Do bom e do mau governo. A diferença entre o
bom e o mau governo é que no mau governo há coisas que são destruídas, ao passo
que no bom governo as coisas são coerentes. Não fui eu quem inventou a política das
coisas (a democracia das coisas, sim). É a filosofia política que a esqueceu e que
durante alguns séculos definiu a política como um problema de representação dos
humanos, de tomadas de posição dos humanos, mas não como uma cosmopolítica.
Agora que jamais fomos modernos, com o problema que expliquei há pouco, começa a
ficar claro por que o senhor Lula tem de se ocupar do aquecimento do globo, do milho
híbrido, da pobreza, da habitação, da crise do abastecimento de água etc. É evidente
por quê.
Podemos dizer que o problema da ecologia esteve sempre no centro da política?
Sempre esteve no centro da política, mas nem sempre no centro da filosofia política.
Agora o problema é que a filosofia política deve absorver de novo as coisas que
estavam antes nas mãos exclusivas dos experts científicos — os genes de que
acabamos de falar são um ótimo exemplo disso —, e que agora migram para o centro
da atenção comum. E aí, a democracia das coisas é uma outra história. É o
"parlamento das coisas". Este é o problema da exposição Making Things Public
["Tornar as coisas públicas"], que estou preparando em Karlsruhe, na Alemanha.
Retomando, portanto, a questão de vocês: não se trata apenas da representação dos
centros da vida política em torno da eleição e da autoridade, mas a representação
também no sentido bem conhecido "dos instrumentos que representam as coisas de
que falamos". Assim, a questão da democracia atual não é apenas saber se nós
votamos ou não, se estamos ou não autorizados pelas pessoas que nos elegeram, o
que é a primeira parte da representação, mas também a de saber como, quando
falamos do milho transgênico, essa coisa de que falamos é representada, desta vez no
interior do recinto. Por isso, a "democracia das coisas" quer dizer, justamente, o duplo
interesse pelos dois sistemas de representação: representação dos humanos que falam
das coisas, e representação das coisas de que os humanos falam, em seus recintos.
Um caso típico de mau exemplo de representação é o do Mr. Collin Powell quando diz à
ONU: "Olha, eu tenho a prova de que há armas de destruição em massa, e posso exibilas na tela". E ele nos mostra péssimas imagens falsificadas etc. Há uma carência de
representação. Não estou dizendo que Bush não é autorizado, ele foi eleito. Mas o que
ele faz não é representativo. A democracia das coisas é transportar de um modo
confiável as coisas de que falamos e, por outro lado, estar autorizado para falar delas
por meio de um procedimento social. Trata-se de uma questão extremamente simples,
mas que a filosofia política não abordou, pois ela fez uma separação completa entre,
de um lado, as coisas que são representadas pelos cientistas, mas fora do
procedimento político, e a representação dos humanos. Mas no meio disso tudo havia a
retórica, que era justamente uma forma de comunicação e manipulação, uma espécie
de relações públicas, e não o trabalho público sobre as provas incompletas. A retórica
jamais foi — a não ser entre os gregos, certamente — pensada como sendo o meio
essencial de reconduzir as coisas aos recintos ocupados por aqueles que falam delas.
Assim, essa questão toca de fato no problema da invenção de uma retórica política.
É porque a retórica é uma técnica...
Sim, mas que foi muito importante durante vinte e quatro séculos e que desapareceu
completamente no fim do século XIX. Desapareceu, pois a ciência não poderia ser,
supostamente, uma retórica. Mas é claro que é necessário que ela seja uma. É
necessário ser capaz de dramatizar, verificar, encontrar, expressar, convencer, ser
compreensível por um grande número de pessoas. E isso corresponde exatamente às
armas e às grandezas da retórica clássica.
Parece que o que nos falta, hoje em dia, não é a retórica em si mesma, mas
justamente uma espécie de "rigor retórico"...
Podemos falar de rigor retórico, vocês têm razão. Infelizmente, opomos retórica e
rigor. É bela essa expressão de vocês... Vejam só, por exemplo, Collin Powell em um
episódio muito interessante em que ele foi obrigado a dizer: "These are not obsessions,
my friends, these are facts". Ele foi obrigado a dizer isso perante o Conselho de
Segurança da ONU. Evidentemente, não se tratava de fatos indiscutíveis. Ele bem
sabia. Se ele tivesse seguido o rigor retórico, ele talvez pudesse ter dito: "Eu não sei o
que se passa de fato, eu possuo provas muito pouco claras. Mas elas são importantes
demais para que deixemos de agir imediatamente". Aqui sim teríamos uma retórica
rigorosa. Ele poderia, talvez, nesse caso, ter convencido alguém, mas a oposição entre
fatos e retórica ("These are not obsessions, my friends, these are facts") torna
impossível o rigor retórico. O que eu quero fazer nessa exposição é justamente dizer
que há um duplo fenômeno de representação: representação do lado das coisas, e
representação do lado das pessoas, e que é precisamente isso o que chamo de
democracia.
Você disse, no seminário de Philippe Descola, em novembro de 2003, que é preciso
que o Ocidente mude o seu contraste com os outros para que ele possa, enfim, fazer
uma oferta de paz. Os antropólogos teriam, assim, um papel central nessa missão, e
isso implica a definição da antropologia como diplomacia. Você poderia falar um pouco
mais desse papel que o antropólogo deve assumir?
Já falamos um pouco disso. A diferença é que o diplomata não possui princípio superior
comum, ele não conta com um árbitro indiscutível acima dele próprio para definir as
posições e os papéis, porque senão não haveria guerra e não haveria conversações de
paz, tampouco necessidade de diplomatas. A diplomacia é a busca dessas condições
comuns em ambos os lados. Assim, esta é a grande diferença entre o antropólogo
como diplomata e o antropólogo como erudito [savant]: o antropólogo savant reúne
em seu escritório, no Collège de France, o conjunto de culturas que são convocadas,
de certa maneira, sem dramas — senão o drama do conhecimento — e ele as compara
umas com as outras reunindo-as num quadro, ao passo que o antropólogo diplomata
não dispõe de um lugar particular para expor sua oferta de paz, ele pode ser
considerado a qualquer momento como um traidor, pois não possui um princípio
superior comum a partir do qual poderia arbitrar as diferentes posições. Ele não sabe o
que é aceitável para as pessoas que o enviam, as pessoas de sua própria cultura, e
tampouco o que é aceitável para os outros. Então há uma grande diferença entre o
antropólogo savant e o antropólogo diplomata. Mas este é um tema de debate com
meus eminentes colegas.
Para além de um problema antropológico, a diplomacia seria também uma solução
para o problema — ocidental, moderno — da globalização?
Os modernos serão simplesmente obrigados a pensar assim, porque eles não são mais
os donos do mundo. Essa é a diferença. Antes, eles não precisavam ser diplomatas.
Antes, como disse Sloterdijk, todo mundo achava formidável a globalização, quando
nós éramos os únicos a globalizar. Do século XVII ao século XX, pensávamos que a
globalização era ótima. Era o mundo, era a naturalização, era a modernização. Agora,
todo o mundo globaliza. Os Kayapó globalizam, pois participam do mercado mundial
com seus produtos... O problema é que os europeus agora são obrigados a serem
polidos, pois eles não são mais os donos do mundo, e têm sorte de não mais o serem.
Eles podem retomar as questões da antropologia clássica e concluir: "Agora não
estamos mais na situação de antropólogos savants convocando o mundo todo
simplesmente porque temos o poder indiscutível de fazê-lo em nome da Natureza";
pois entramos em uma tarefa diplomática arriscada, a de dizer aos outros, aos
brasileiros, por exemplo: "Eis o que nós, franceses ou europeus, pensamos que
devemos defender como nossa definição de existência, e se vocês nos tirarem isso,
vocês brasileiros, nós morreremos". Isso é, portanto, muito interessante. Assim, o
diplomata é uma figura que me interessa demais, pois acredito que ele seja uma figura
maldita. O diplomata é o traidor. Ele é uma figura mais forte e mais antiga que a figura
do savant. Havia diplomatas bem antes de haver savants. O diplomata é aquele que se
engaja em questões sem saber ao certo em que coisas crer antes de iniciada a
discussão. Assim, ele é obrigado a trabalhar de ambos os lados, tanto o daqueles para
quem ele trabalha, como o daqueles a quem ele se endereça. Em uma antropologia
diplomática, somos obrigados a nos engajar entre a química, os índios etc.
O diplomata chega no final de uma guerra que esgotou a todos. Assim, é preciso
haver, antes de tudo, uma declaração de guerra: primeiro a guerra, depois o
esgotamento; por fim, a diplomacia. O diplomata não aparece no começo, mas no fim.
Se não há guerra e partes dispostas a negociar, não há diplomatas. Estamos em uma
situação de guerra.
Mas o que exatamente fazer no fim da guerra?
Na maior parte das frentes, a guerra ainda não começou. Não houve declaração de
guerra. Este é um ponto muito importante, é o que eu chamo de "guerras
pedagógicas". Na maior parte dos casos, não há ainda guerra, pois os modernos não
faziam guerra, faziam pedagogia. Assim, quando eles dizem "saber racional" e "saber
irracional", não se trata de guerra, mas de pedagogia. E aos irracionais dizem: "Não é
sua culpa, não estamos em guerra contra vocês, nós gostamos muito de vocês, mas
vocês são irracionais e nós somos racionais". Isso não é uma situação de guerra, e por
quê? Porque supõe-se que haja um princípio superior comum que define essas duas
posições, racional e irracional. Não está em discussão o que seja o "racional" e o
"irracional". Ao passo que quando se diz: "para que haja guerra, é preciso haver
declaração de guerra", e nada de árbitros, ou de princípio superior comum. É preciso
dizer que a modernização desapareceu, que o mononaturalismo desapareceu, e assim
por diante. Isso nos coloca muitas condições. Por isso, não apenas não estamos no fim
da guerra, mas não chegamos sequer, em muitos casos, à declaração de guerra. Para
a maior parte das pessoas, não estamos nem mesmo em guerra, estamos no
desenvolvimento de técnicas que fazemos convergir para o mesmo mercado mundial.
O diplomata é de fato a figura que chega depois que as pessoas já estão esgotadas
pela guerra, que as conversações já começaram, e que as pessoas se perguntam: "no
fundo, no que acreditar?". E então o diplomata refaz seu trabalho de redefinição de
valores e diz: "Penso que nós acreditamos nisso. E agora eu me volto aos meus, e lhes
digo: 'Nós acreditamos nisso. Você está de acordo que nós aceitemos isso para não
retomar a guerra?'" E aí as pessoas podem dizer: "De modo algum. Esse diplomata é
um traidor! Fomos vendidos pelo diplomata por um pedaço de pão." Eu fiz essa
experiência. Fui aos cientistas europeus e lhes disse: "Não se defende a racionalidade.
O que se deve defender são os híbridos etc. Vocês estão de acordo?" Eles não estavam
mesmo de acordo! De fato, podemos fracassar nas relações diplomáticas. Mas a
diplomacia é algo muito interessante.
Nesse domínio, o que podemos pensar dos conflitos atuais entre os países ocidentais e
os países islâmicos?
De qual guerra estamos falando? Trata-se de uma guerra dos modernos contra o
arcaísmo? Não, evidentemente não. Trata-se de uma guerra entre dois modernismos,
dois fundamentalismos. No mais, há uma série de assuntos sobre os quais os
antropólogos não têm nada a dizer. Aqui eles deviam aprender com os islamólogos, e
há alguns excelentes. O que é certo é que não estamos diante de um conflito da
modernização contra o religioso, mas de um modernismo extremo, que é um
fundamentalismo, e que se assemelha muito ao nosso modernismo. Ficamos surpresos
com essa constatação, pois o modernismo era ótimo quando éramos nós que o
praticávamos, ou seja, quando era indiscutível, direto, quando não havia mediação. O
fundamentalismo é algo muito interessante. Ele é um modernismo. Mas nós, os
modernos — nós jamais fomos modernos! —, nós sempre fizemos o contrário. Assim,
quando vemos os verdadeiros modernistas diante de nós, ficamos horrorizados! Não
porque eles tenham barba e vistam djellabas, mas porque esta é a imagem que nós
mesmos demos ao mundo! Isso é extraordinário. É como um retorno. Sempre vimos a
natureza e a ciência de modo indiscutível, construímos laboratórios etc. Mas vendemos
o modernismo aos outros, aos praticantes. Este é o paradoxo. Agora, os outros dizem:
"Mas nós também somos modernos". "Ah bom! Mas então moderno significa o quê?"
"Significa que as coisas são indiscutíveis, que não há mediação, não há história. E isso
é ser modernista!" Recuo horrorizado dos europeus, que exclamam: "Não, não é isso,
não pode ser isso!". O fundamentalismo é o modernismo amputado de seus híbridos,
que agora se volta contra os modernos e os aterroriza — com razão.
Notas
1 No original, "des choses qui ont pris chose en opposition à l'objet". Latour usa o
conceito de chose no duplo sentido arcaico de res ou ding, isto é, de coisa-causa
(causa jurídica ou política) "que remete [...] a um assunto levantado em uma
assembléia, na qual se trava discussão que exige um julgamento passado em
comum..." (Politiques de la nature, p. 351) [N.E.].
2 Office de Recherche Scientifique des Territoires d'Outre-Mer, atual IRD — Institut de
Recherche pour le Développement [N.E.].
3 É possível que tenha havido aqui um lapso, e que Latour estivesse querendo dizer
"Assim, a antropologia continua o debate entre natureza e cultura" [N.E.].
4 Entenda-se, a matriz ou a condição humana, o modo de nossa espécie habitar o real
— a "velha matriz antropológica", como a chama Latour em Jamais fomos modernos
[N.E.].
5 Sinólogo e filósofo francês contemporâneo, autor de importantes trabalhos sobre
diversos aspectos e figuras do pensamento chinês. Ver o balanço de sua obra
recentemente publicado em Penser d'un Dehors: la Chine (F. Jullien e T. Marchaisse,
Paris: Seuil, 2001) [N.E.].
6 Ver P. Sonigo e I. Stengers, L'Évolution. Paris: Edp Sciences, 2003 [N.E.].
7 Ver E. Fox Keller e L.L. Winship, The Century of the Gene. Cambridge, MT: Harvard
University Press, 2002 [N.E.]
Tradução de Renato Sztutman
MANA 10(2):397-414, 2004
ENTREVISTA
POR UMA ANTROPOLOGIA DO CENTRO
Bruno Latour
Esta entrevista foi realizada em Paris, em
fevereiro de 2004, no gabinete de Bruno
Latour na École Nationale Supérieure des
Mines, por Renato Sztutman e Stelio
Marras. A École des Mines oferece, tradicionalmente, cursos em geofísica, engenharia de materiais e energia, robótica,
matemática, economia industrial, mecânica,
reatores. Ali, Latour ensina sociologia, no
quadro da formação oferecida pelo
“Centre de sociologie de l’innovation”, mas
parece preferir não ser tomado por um
sociólogo. Sua formação é em filosofia,
embora ele não se diga filósofo.
Epistemólogo seria, ainda talvez, uma designação mais justa. Se bem que ele não
recusaria de todo o rótulo de historiador
das ciências. Ele próprio se define como um
“sujeito híbrido”. Visto como um antropólogo, Latour seria um antropólogo da modernidade — mais especificamente, um
antropólogo da ciência ou da natureza.
Como ciência humana das coisas, esta
antropologia da natureza não adere, contudo, seja ao realismo das ciências naturais,
seja ao construtivismo das humanidades.
Latour situa sua perspectiva nem de um
lado, nem de outro, mas no meio — no
centro, precisamente onde ocorre seu objeto de estudo por excelência, os híbridos ou
matters of concern, isto é, as coisas ao
mesmo tempo naturais e domesticadas, os
quase-sujeitos e quase-objetos dotados
simultaneamente de objetividade e paixão.
E é também no centro do Ocidente e de
seus coletivos modernos que se processa a
produção e proliferação desses híbridos, em
paralelo à prática, tipicamente moderna,
de sua purificação. É por isso que os laboratórios de alta tecnologia, por exemplo,
são lugares privilegiados de investigação
etnográfica para uma antropologia das
ciências, coração de uma antropologia da
modernidade. Metodologicamente, trata-se
de seguir as coisas através das redes em
que elas se transportam, descrevê-las em
seus enredos — é preciso estudá-las não a
partir dos pólos da natureza ou da
sociedade, com suas respectivas visadas
críticas sobre o pólo oposto, e sim simetricamente, entre um e outro.
Por meio de uma dezena de livros e de
centenas de artigos e ensaios, as idéias de
Latour vão se estendendo, também em
rede, pelos continentes. Seu livro-manifesto
Jamais fomos modernos — ensaio de
antropologia simétrica (publicado na
França em 1991, no Brasil em 1994), foi
traduzido em 18 línguas. Ao desmontar ali
a ilusão moderna de que é possível isolar o
domínio da natureza (o inato) do domínio
da política (a ação humana), Latour
reconectou a modernidade a todas as
demais naturezas-culturas do globo, delineando propostas para uma possível convivência intraplanetária. Quase como um
profetismo às avessas, o novo mundo para
onde Latour aponta é idêntico ao mundo
tal qual ele sempre foi, mas que nunca os
modernos, antes, pudemos notar.
398
ENTREVISTA
Sociologia da crítica, antropologia da
ciência, science studies... Qual o melhor modo de se referir ao seu campo
de pesquisa? Seria essa aparente indefinição um sintoma da urgência de
uma redefinição dos instrumentos capazes de iluminar os mecanismos da
modernidade?
Em termos de “disciplina”, o que eu
faço não existe. Meu trabalho se situa
ao lado da história das ciências, da nova história das ciências — a área que
mais atrai gente hoje no mundo universitário —, daquilo que costumamos
chamar de science studies, expressão
que não tem correspondente direto em
francês, e que é a tradução em inglês
da palavra grega “epistemologia”.
Sempre colaborei com os antropólogos,
e de vez em quando gosto de me definir como um antropólogo das ciências.
Esse rótulo agora é menos útil, graças
ao trabalho de Philippe Descola, que
vem desenvolvendo a escola da “antropologia da natureza” (este é o nome
de seu curso no Collège de France), e
eu fico muito contente em fazer parte
dela. Mas ao mesmo tempo, aqui [na
École des Mines], eu ensino sociologia.
Minha formação é unicamente em filosofia, meus diplomas são em filosofia.
Assim, os rótulos não são fáceis de estabelecer. Por outro lado, se definirmos
pelo objeto, o único objeto que estudo
é o que chamei, de início, de “objetos
híbridos”, e que chamo agora de matters of concern, em oposição aos matters of fact. É o que interessa também
ao pessoal dos science studies, os antropólogos da ciência, os historiadores
da ciência, que convergem para este
objeto que tem características novas e
que podemos definir como — segundo
o antigo sentido desses termos —
things em inglês, choses em francês:
coisas, ou seja, seres que têm necessi-
dade de uma representação, no duplo
sentido da palavra, como tentei precisar no livro Politiques de la Nature
(2000). Assim, para responder à questão, em termos de rótulo, não disponho
de uma definição precisa para oferecer. No entanto, em termos de objeto,
penso que meu objeto é o estudo dos
matters of concern, a invenção de um
certo empirismo — um segundo empirismo, digamos, que não tem a ver simplesmente com os objetos, no sentido
tradicional do empirismo, mas com os
matters of concern, com as coisas que
constituem causas, em oposição aos
objetos1. Eu gosto dos antropólogos,
gosto dos sociólogos (um pouco menos,
talvez!), gosto dos filósofos (um pouco
menos ainda!), e gosto muito dos
science studies, este é o meu domínio,
que, em parte, eu mesmo criei, juntamente com amigos, e o domínio de
pertença é sempre importante. É nele
que encontro os colegas mais queridos.
Você utiliza a antropologia clássica para criar instrumentos metodológicos
que permitam uma nova abordagem
da ciência moderna. Isso implica, segundo você, a constituição de uma antropologia simétrica. Em que sentido a
empresa de uma antropologia da modernidade pode contribuir para renovar a antropologia geral?
Comecei pela utilização bastante clássica da antropologia definida como etnografia, como método etnográfico. Se
pensarmos na formação clássica em
antropologia tal como se fazia há mais
ou menos trinta anos, veremos que não
havia muitas formas de aplicá-la ao estudo das atividades científicas do centro. Em troca, o método etnográfico era
utilizável. E assim alguns autores, como Mike Lynch, na Califórnia, Karin
Knorr, também na Califórnia, Sharon
ENTREVISTA
Traweek (uma verdadeira antropóloga
entre os sociólogos) e eu mesmo, sempre na Califórnia, por acaso e sem nos
conhecermos, utilizamos os métodos
etnográficos. E foi apenas depois que
trouxemos o problema para a antropologia geral que nos defrontamos rapidamente — ou rapidamente para mim
— com a questão “Natureza/Cultura”,
mononaturalismo e multiculturalismo.
Nessa época, na Califórnia, você já
possuía alguma formação em antropologia?
Sim, porque eu já havia passado dois
anos na África pela ORSTOM2, onde
tinha bons colegas, como Marc Augé.
Você fez o serviço militar na África,
não é?
Sim. Fiz o meu primeiro trabalho de
campo lá, sobre a formação de trabalhadores de médio escalão em fábricas
na Costa do Marfim. Eu já era, então,
um sujeito híbrido, uma vez que estava
na Costa do Marfim, mas estudava um
assunto relativo à modernidade. Aplicávamos o método etnográfico, mas
não abordávamos as grandes questões
da antropologia. Estas encontramos
depois, quando começamos a fazer estudos de campo, e aí nos demos conta
de que os antropólogos não compreendiam nada do que fazíamos, pois eram
obcecados pela distinção “Natureza/Cultura”, uma natureza e várias
culturas. Foi nesse momento que conheci Philippe Descola e Marshall
Sahlins e, em seguida, Eduardo Viveiros de Castro. Com eles, as minhas discussões começaram a se aproximar
realmente da antropologia. Foi então
que publiquei Nous n’avons jamais été
modernes (1991), que foi um momento-chave para mim, quando entrei em
contato com os antropólogos, que começavam a dizer haver ali algo de interessante para eles, pois, até então,
não se haviam aplicado métodos etnográficos à distinção “Natureza-Cultura”. Penso que, desse ponto de vista,
prestei um serviço aos antropólogos.
Mas será que isso abalou a antropologia como um todo? Não. Porque, de
início, nada abala a antropologia e as
disciplinas acadêmicas em geral, e
também porque as ciências continuam
a interessar apenas a pouquíssimas
pessoas. Assim, afora Descola e Viveiros de Castro, um pouco Sahlins, o impacto da antropologia das ciências como a que faço sobre a antropologia geral é, creio, nulo. Por outro lado, há
pessoas como Paul Rabinow, toda uma
série de antropólogos pós-modernos,
que mantêm laços mais fecundos entre
os science studies e a antropologia.
Mas isso permanece sempre meio marginal na antropologia, como vocês sabem muito bem, pois são antropólogos.
Por que a influência dos science studies se fez sentir mais nos Estados Unidos, e tão pouco na França?
Na França, isso não teve absolutamente
qualquer influência, salvo no curso de
Descola, ou na Inglaterra, um pouco por
Marilyn Strathern, que estabeleceu conexões muito produtivas entre os science studies e a antropologia. Na Alemanha, tenho a impressão de que não houve grande influência. Assim, a antropologia continua o debate entre ciência e
cultura3. Sobretudo, isso não teve qualquer influência no lugar onde justamente teria de ter tido, ou seja, nas relações entre a antropologia física e a
antropologia cultural. Era lá que estava
— e ainda está — o futuro, o impacto futuro dos recursos intelectuais mobilizados pelos science studies. E esse traba-
399
400
ENTREVISTA
lho ainda nem sequer começou, apesar
de ser interessantíssimo. As coisas não
caminham rápido na vida intelectual.
Qual é, para você, a diferença mais significativa entre a (nova) antropologia
das ciências e a assim chamada filosofia das ciências?
Aqui, o contraste é total, entre a epistemologia (ou filosofia da ciência) e os
science studies. Há ainda um terceiro
personagem, que é a história das ciências, hoje em dia muito desenvolvido
na França e muito interessante. Há
muitas coisas agora. Assim, há Ian
Hacking, que é, aliás, um colega de
Descola no Collège de France, um caso típico dessa hibridização entre filosofia, história e sociologia das ciências.
Mas ele não é francês, é canadense…
Durante muito tempo, a única maneira
de se pensar a ciência na França era a
epistemologia. Mas isso mudou muito,
pois há Hacking no Collège de France;
há, ao redor de Dominique Pestre, historiadores da ciência numerosos e de
ótima qualidade, de nível internacional. Assim, a situação agora é bem
mais rica. Há muitos bons trabalhos do
que podemos chamar de science studies na França, sobre a França, e feitos
por franceses. A ligação com a antropologia, creio, permanece débil, pois
seria preciso que os antropólogos se interessassem, justamente, pelo centro.
Há poucos antropólogos que fazem isso, e quando o fazem, é da maneira
mais superficial possível.
Poderíamos dizer que esses antropólogos que trabalham com o tema da modernidade não se interessam senão pela “periferia” da cultura ocidental?
Sim, é isso, a periferia do centro! E não
o centro do centro! Ou tampouco a pe-
riferia, aliás. Agora não sabemos muito
bem onde é o centro e onde é a periferia. Os antropólogos não se interessam
pelas multinacionais, eles não se interessam pela indústria, pelas técnicas.
Mas não posso lhes falar sobre a antropologia na França. Sobre esse assunto,
seria melhor vocês entrevistarem Descola, pois eu não freqüento os antropólogos — só freqüento os melhores! Eu
não freqüento todos os outros; não estou habilitado a responder a essa questão. Mas o ponto é que, de fato, meu
projeto vem mudar a antropologia em
geral. Se deslocarmos o debate de conceitos como “mononaturalismo” e
“multiculturalismo” para novos conceitos, faremos a antropologia mudar.
Quando Viveiros de Castro inventa sua
história de “multinaturalismo”, ele
chuta o pau da barraca. Isso é certo.
Assim, depois disso, a antropologia deve se refazer. Mas quais são aqueles
que têm consciência desse problema,
além das três pessoas já mencionadas?
Você apresenta o projeto, a Constituição Moderna, como algo fadado ao fracasso. Quais são os signos deste destino trágico, uma vez que a ciência parece continuar ocupando um lugar de
centralidade na produção de nossas
verdades? Se é assim, por que não podemos mais ser modernos? Nós jamais
fomos modernos, ou fomos, uma vez,
mas agora deixamos de sê-lo? Retrospectivamente, de acordo com sua teoria, nós já não éramos, antes, modernos. Mas éramos mais modernos que
hoje? Somos menos modernos que há
trinta anos?
Sim, isso é certo. Não tenho provas,
pois todos os signos podem ser reinterpretados dentro de uma lógica de desenvolvimento modernista. Eu não
possuo uma só prova — o que me preo-
ENTREVISTA
cupa muito, aliás — de que a história e
a flecha do tempo modernistas não sejam verdadeiras. Se formos habermasianos, a lógica do desenvolvimento
dos últimos cinqüenta anos pode ser
perfeitamente compreendida como o
avanço da modernidade, da “hipermodernidade”, como disseram alguns,
com o pequeno problema da pós-modernidade, entretanto, que é um sintoma bastante forte. Então, o que eu faço
é simplesmente oferecer uma outra interpretação, dizendo: se olharmos as
coisas de um modo diferente, é possível que o que está acabando seja uma
modernidade que jamais existiu de fato: jamais fomos modernos. É paradoxal. Mas, ali onde eu possuo as provas
que os outros não possuem, é porque,
digamos, mais uma vez, graças à história da ciência, graças aos science studies, nós nos demos conta, finalmente,
de que o único disparador e as únicas
provas de que os modernistas dispõem
para fazer o seu quadro de desenvolvimento do Homem modernista — da
Renascença até hoje — são as ciências.
É Galileu, é Newton, Pasteur, Einstein
etc. Ora, é justamente isso que, juntamente com os historiadores da ciência,
meus amigos, pudemos revisar de algum modo. Porque agora temos a história de Galileu, a história de Newton,
a história de Pasteur, a história de
Einstein. A cada vez, em lugar de encontrar uma separação entre objetividade e subjetividade, encontramos o
contrário. Foi isso que contei na minha
pequena conferência no Collège de
France, no quadro do seminário de
Descola. Para nós, que somos historiadores da ciência, no sentido dos science studies, as provas de que jamais fomos modernos são mais fortes, pois
dispomos justamente dos exemplos
das ciências, que nós revisamos. Por isso a idéia de uma Grande Narrativa
modernista parece hoje em dia bem
menos crível. Mas não é propriamente
um destino trágico não ser moderno. O
que seria trágico seria o fato de sermos
mesmo modernos. Este sim seria um
destino trágico. Aliás, os modernistas
já choraram todas as lágrimas disponíveis para explicar que ser moderno era
terrível, era desencantar-se etc. Então
o fato de jamais termos sido modernos
não é absolutamente uma tragédia. É
justamente o contrário! Os europeus
jamais abandonaram a matriz antropológica ordinária4. Agora temos a prova
disso, pois Descola está mostrando que
o modernismo é um dos quatro casos
de identificação com a natureza: o naturalismo, ao lado do analogismo, do
totemismo e do animismo. É um caso
digno de interesse, mas é uma variante entre outras. Não é mais o horizonte
para o qual evolui o resto do mundo.
Isso coloca evidentemente problemas
políticos enormes, que Descola não resolve. Descola tem muitas qualidades,
mas sua política é completamente clássica.
Mas há algo realmente inédito, historicamente falando, no que dizem e fazem os modernos...
Sim, eles são originais. O naturalismo é
muito original. Eles são interessantes.
O modernismo é uma particularidade
antropológica interessante. Certamente — não o nego. E podemos mesmo ir
mais longe. Essa particularidade explica muito de seu dinamismo. É porque
estivemos constantemente a imaginar
a purificação que pudemos operar a hibridização. Essa hipótese, que formulei
sem a menor prova em 1991 em Jamais
fomos modernos, eu diria que se acha
hoje, no fim das contas, razoavelmente
confirmada. Aliás, devo agradecer por
isso, em parte, aos trabalhos dos antropólogos. É graças ao fato de o modernismo não ser uma realidade, mas uma
401
402
ENTREVISTA
interpretação da realidade que tem um
efeito muito importante sobre esta, que
podemos agora fazer uma antropologia
do dinamismo dos modernos. É precisamente porque eles estão constantemente a trabalhar com a idéia de purificação que puderam produzir esses
hibridismos, que os outros — diríamos
hoje, os analogistas ou os multinaturalistas — se proíbem. Eu falei disso algumas vezes com Sahlins e com Viveiros de Castro, e creio que essa não é
uma hipótese absurda, ainda que continue sem poder prová-la. O dinamismo dos modernos é ter feito constantemente outra coisa que aquela que pretendiam fazer. A comparação com a
China é muito interessante, com os
chineses conforme imaginados e reconstruídos por François Jullien5, pois
lá vemos muito bem a diferença de um
pensamento que procura, ao contrário,
ficar o mais próximo possível da prática. É muito interessante, mas nós, do
lado ocidental, não compreendemos
esse pensamento, pois ele nos parece
banal. Ora, essa banalidade é, segundo Jullien, justamente a força e o interesse desse pensamento, que se recusa
a dramatizar suas preocupações.
Então, eu não possuo signos, possuo índices que reinterpreto sob outra
ótica. Mas se vocês me perguntam
qual é a prova que eu tenho de jamais
termos sido modernos... bem, eu não
tenho provas! Todos os meus amigos
pensam que minha hipótese não é verdadeira, que a modernização avança;
mesmo aqui [no CSI] — vocês podem
perguntar a meus colegas — ninguém
acredita na minha hipótese. Todos
pensam que a modernização continua;
muitos crêem que nós nos tornamos
pós-modernos. É de se espantar, pois
esse livro que eu escrevi em três semanas foi publicado em dezoito línguas! É
uma hipótese que interessou a muita
gente, mas que eu não consigo de maneira nenhuma provar.
Para voltar a Philippe Descola, ele fala
de uma ontologia naturalista. Você fala
de uma constituição moderna que
oculta ou encobre, digamos, um lado
não-moderno e que poderia ser chamado, para continuar com os termos de
Descola, de animismo, totemismo ou
analogismo. Que acontece, então, em
sua própria reflexão, com essa noção
de ontologia?
Essa é uma questão difícil... Não sei.
Os naturalistas são realmente naturalistas? Sim e não. Na perspectiva de
Descola, o naturalismo define um certo
modo de identificação. Ora, penso que
isso não é certo no que diz respeito aos
modernos, pois define apenas o lado
de sua empresa que corresponde à representação oficial que eles têm de si
mesmos, e da qual têm necessidade
para construir os recintos [enceintes]
dos matters of fact. Mas ao mesmo
tempo, no interior desse recinto, que é,
grosso modo, seu laboratório, eles vivem de uma maneira bastante diferente. Por exemplo, os átomos que, em
uma ontologia naturalista, são supostamente tão exteriores a nós, exibirão, no
laboratório, um monte de outras ontologias — no plural —, uma porção de
estados ontológicos que contradizem
flagrantemente a visão pedagógica e
epistemológica oficial. Essa contradição não é entre o velado e o revelado,
mas entre o recinto e o que ele permite. Não é a mesma coisa. É porque os
modernos estão protegidos das conseqüências de sua hibridização que eles
se permitem tais coisas.
A questão diz respeito ao recinto. É
exatamente como se nós tivéssemos
uma central nuclear e, para fazer essa
central nuclear, fosse necessário cons-
ENTREVISTA
truir recintos sólidos para proteger o
que se passa no núcleo do reator, separando-o muito bem do exterior. Que é,
então, necessário estudar? Os recintos?
O núcleo do reator? O exterior? Tudo,
provavelmente. Se nos interessarmos
pelo recinto, diremos que os modernos
possuem uma ontologia naturalista —
é isso o que diz Descola —, mas se nos
interessarmos pelo que se faz dentro
dos recintos, veremos algo muito diferente. Isso não quer dizer que eles sejam animistas — os modernos não podem ser de modo algum animistas, totemistas ou analogistas. Bem, analogistas talvez seja mais provável, pois
herdamos muito do analogismo... Vêse isso muito bem, aliás, no belo livro
de Foucault, As palavras e as coisas.
Herdamos muitos aspectos do analogismo. O problema é que não sabemos
como se passou do analogismo ao naturalismo, da “prosa do mundo”, como
diz Foucault, à Natureza modernista.
O fato é que há pouca antropologia do
modernismo. Temos muito menos estudos, curiosamente, sobre as nossas ontologias que sobre a ontologia dos
Achuar, por exemplo. Então não temos
respostas a essas questões. Pessoas como Descola e Viveiros de Castro costumam dizer: “estudo os outros e não
nós, e por isso não considero os naturalistas modernos por aquilo que eles fazem realmente, mas apenas por aquilo
que eles dizem oficialmente sobre si
mesmos”. E assim, o paradoxo é que
sabemos menos sobre as ontologias
mobilizadas pelos biólogos, pelos técnicos de computação, pelos empresários, que sobre aquelas mobilizadas
pelas práticas de caça achuar. Porque
pensamos que os brancos, os habitantes do centro, realmente possuem uma
ontologia naturalista. Isso é uma verdade tão superficial que acaba por se
tornar completamente falsa. (Os brasi-
leiros são interessantes porque eles jamais acreditaram, no final das contas,
nessa história de purificação. Eles possuem uma visão que difere daquela do
modernismo dos franceses.)
Então, direi, para retomar os termos da questão de vocês, que não se
trata aqui de uma ontologia pura e
simples, mas de uma ontologia que
ainda não conhecemos, em virtude da
falta de estudos. Mas quando estamos
diante de alguns bons trabalhos — como, por exemplo, o belíssimo livro de
Hans Jorg Rheinberger sobre os seres
biológicos em um laboratório contemporâneo —, vemos que a ontologia naturalista de Descola e Viveiros de Castro não parece descrever muito bem o
que se passa nesse laboratório. Coisas
estranhas acontecem com os seres biológicos. Isso não quer dizer que os biólogos sejam animistas, isso significa
que acontecem coisas que a criação do
recinto modernista permite. Quando se
está no recinto modernista, é possível
fazer experiências sobre as ontologias
que não se pode fazer quando se está
no terreno do animismo. É essa a diferença crucial, é essa a particularidade
do naturalismo. Mas aqui há uma
questão técnica que tomaria muito o
nosso tempo.
Tomemos a questão anterior sob um
prisma diferente. Os modernos detêm
uma certa constituição, que lhes permite encobrir o que se passa realmente dentro de seus recintos. Entre os prémodernos, ao contrário, poderíamos dizer que tudo se passa de uma maneira
diferente, que eles são mais transparentes e que jamais se enganam. Ou
seja: o que eles dizem, eles fazem. O
“engano” seria um atributo dos modernos. Podemos dizer que os modernos
encerram uma contradição mais séria
que os demais? Se isso é verdade, eles
403
404
ENTREVISTA
se tornariam realmente diferentes dos
outros, situando-se em uma posição
realmente assimétrica.
É muito interessante essa questão. Eu
e Viveiros de Castro já discutimos muito sobre esse ponto. Não é absurdo dizer que a particularidade dos modernos é estar em maior contradição consigo mesmos que os demais coletivos.
O caso dos chineses é, nesse sentido,
extraordinário; tomemos mais uma vez
os chineses de Jullien, que descreve
efetivamente as suas práticas. Mas na
nossa perspectiva, a dos modernos,
criadores de recintos no interior dos
quais se faz algo diferente, o objetivo
da sua filosofia [dos chineses] não é
descrever as suas práticas, mas criar
condições para que isso que eles sabem na prática possa ser levado às últimas conseqüências, com energias
consideráveis, pois os pressupostos e
conseqüências das conexões são mantidos em desconhecimento. Costumase concluir do fato de “jamais termos
sido modernos” o fato de que os modernos teriam se enganado. Não é essa
a questão — sou geralmente mal compreendido nesse ponto. Mais uma vez:
quando se está numa central nuclear,
nunca se está dentro, mas fora; ninguém vai querer entrar, pois dentro tudo irradia, tudo queima, e é porque se
está fora e que há um recinto de contenção que se pode, no interior, fazer
coisas com energias formidáveis, incomensuráveis, com o que se passa no
exterior... É preciso levar em conta as
energias das experiências modernas.
Se, a cada vez que começamos a estabelecer os protocolos dessas experiências nós nos dissermos: “isso tem influência sobre a sociedade, sobre o
cosmos, sobre os ancestrais, sobre os
cultos” etc. se, a todo momento, não tirarmos os olhos do fato social total da
nossa própria cultura, seremos obrigados a tomar graves precauções, teremos de tomar muito cuidado. E com isso, viveríamos em uma atmosfera de
desaceleração.
A questão de vocês é muito astuciosa. Não se trata de dizer: “todos os outros fazem o que dizem, e nós, modernos, temos a particularidade de mentir,
nós mentimos!”. Superficialmente, isso
é verdade. Mas é preciso fazer as duas
coisas ao mesmo tempo, senão não poderemos nos permitir liberar energias.
Essa é a grande astúcia dos modernos:
ter uma constituição que possui dois ramos. O primeiro permite alegar:
“quando você faz isso, você pode misturar o que bem quiser, e as conseqüências não vão existir”. O segundo,
por sua vez, constata justamente que
essas conseqüências existem. “Ah, sim,
destruímos a floresta amazônica, transformamos completamente as grandes
planícies norte-americanas. Uau, isso é
estranho, como isso pôde acontecer?”
Não se pode negar que haja para os
modernos um contraste excessivo entre
o que eles dizem e o que fazem. É isso
que explica sua surpresa total diante
das conseqüências inesperadas de suas
ações. Eles dizem que são emancipados, mas ao mesmo tempo: “ah, é estranho... hoje estamos novamente reconectados à atmosfera, ao ar que respiramos. Como isso aconteceu? Isso
aconteceu porque tivemos uma influência tão grande que acabou alterando o próprio clima”. Nós dizemos,
finalmente: “Olhem só, estamos realmente reconectados!”. Pois é, estamos
reconectados. Os outros sabiam. Isso
não causa espanto aos outros. E aqui há
uma verdadeira diferença. Os outros
nos dizem: “Welcome back!”. Nós lhes
perguntamos: “Vocês não são emancipados?”. E eles respondem: “Não! Nós
sabíamos. Nós, os outros, sabíamos um
ENTREVISTA
pouquinho das coisas”. A húbris moderna, que foi estudada por todos os
modernistas — esse é o grande tema da
crítica. Há qualquer coisa de verdadeiro nesse tema da húbris. De qualquer
modo, se todas as questões de vocês forem tão difíceis como esta, eu não poderei mais responder...
Então, se a constituição moderna é oficial, mas não oficiosa, podemos voltar
a falar em uma ontologia de base — e
por que não dizer universal? — ligada
às práticas de “tradução” ou “hibridização”, essas que tornam impossíveis
todos os esforços de purificação? Você
defende a idéia de que todos os coletivos são híbridos. É isso que tornaria
possível a simetrização e a comparação
entre os modernos e os outros?
A questão do universal não me parece
apropriada. Não é um modo ideal para
se falar do mundo. O problema é: será
que podemos viver no mesmo planeta,
sabendo que temos definições completamente diferentes sobre o planeta, sobre o que é viver e o que é estar junto?
E, nesse ponto, a comparação deixa de
ser intelectual, para ser uma comparação que podemos chamar, com Isabelle Stengers, de cosmopolítica, mas não
no sentido de Ulrich Beck ou de Kant.
Talvez fosse necessário falar, como Peter Sloterdijk, em domo ou envelope.
Qual o domo no interior do qual se faz
a comparação? Esta é, em si, uma
questão importantíssima. A solução
clássica dos antropólogos é dizer que
nós sabemos o que é esse domo, ele é
o conhecimento, a natureza, a natureza humana, essa mansão da modernização para onde se encaminham as
culturas, sob uma forma geralmente
triste — “tristes trópicos”, eis a fórmula que resume todo um passado. Elas
entram na mansão, nós as honramos,
elas se modernizam e se dissolvem em
todos sentidos. O imaginário da antropologia é uma estátua cuja encarnação
foi Lévi-Strauss.
Ora, a situação atual é completamente diferente, pois não há mais o
domo da natureza, e menos ainda o tema do desaparecimento das culturas,
pois há a formação de novas culturas
completamente bizarras, híbridas, à
maneira de Appadurai, feitas de mercado mundial, de marketing, de arcaísmo, de folclore etc. E a assembléia que
permitiria essa conexão não existe. Por
isso, a situação se torna realmente interessante, pois agora a comparação
deixa de ser “somos todos de diferentes culturas, sobre o pano de fundo de
uma mesma natureza”, para ser “o que
nos espera?”. E assim essas questões
vão ficando cada vez mais interessantes. É isso que eu queria dizer sobre o
tema da nova forma de auto-apresentação dos europeus. Os europeus se representam e se apresentam novamente aos outros, de modo agora polido,
dizendo: “não sabemos em que mundo
estamos”. Tomemos a famosa disputa
de Valladolid. Valladolid versava sobre
os índios. E, como lembram LéviStrauss e Viveiros de Castro, será que
os brancos estavam de acordo com
eles? Antes, a questão era simples, era
a do universal local, tal a controvérsia
de Valladolid. Mas... e se dissermos:
“qual é a diplomacia necessária para
que haja um mundo comum entre esses que dizem ‘Em Valladolid, experimentam-se almas; em Porto Rico, experimentam-se corpos’”? Não há mais
mundo comum a abrigar estes dois extremos. De fato, e estamos mesmo assim engajados ora em uns, ora em outros, obrigados a estar em guerra para
poder fazer a paz. E assim as coisas
vão ficando interessantes.
405
406
ENTREVISTA
Retomemos, antes de prosseguir, a sua
noção de “hibridização”...
Hibridização não é um bom termo. Se
o empreguei, foi simplesmente para
testá-lo. “Híbrido” é já todo um mundo
da genética. Usei o termo “híbrido”
para começar a discussão, ele descreve
bem o fato de que quando você fala em
garrafas de água mineral, por exemplo, você vai encontrar a legislação, os
problemas de poluição e a água vai se
pôr a diferir, a se complicar, deixando
de estar situada como um matter of
fact. Só que hoje eu não utilizaria mais
o termo híbrido, pois, a rigor, só há híbridos, em toda parte. Se assim fosse
não poderíamos mais fazer a distinção
entre animismo, totemismo etc.. Mas
nós produzimos um tipo de híbrido que
é muito interessante: o ato da hibridização é negado em seus recintos. Se o
recinto exibe matters of fact, seu interior é codificado. Essa é a nossa invenção. É uma coisa engraçada. E nós, não
nós antropólogos, mas nós que fazemos a cosmopolítica, nós dizemos que
a tarefa da política é abrir o recinto e
mostrar o que ele é e o que permite, ou
seja, os matters of concern. Essa oposição está um pouco em toda parte: sobre a guerra no Iraque, por exemplo,
diremos: “esta vai ser rápida, vai dar
tudo certo, nós controlamos tudo”. Mas
tudo dá errado, como vamos sair dessa,
estamos enrascados... Nós vivemos
neste momento uma oposição particularmente dramática. Temos as provas
absolutas de que há armas de destruição em massa, e então, de repente, damo-nos conta de que não as temos, estávamos enganados. Essa oposição está por toda parte. Fatos indiscutíveis
são substituídos por fatos discutíveis.
Como definir essa noção de cosmopolítica?
Há muitas definições, mas eu prefiro
aquela de Isabelle Stengers. Ou seja, a
de que a “política” são os humanos, e
que o “cosmos” são as coisas: nenhum
dos dois sozinho é o bastante. A palavra “cosmopolítica” é uma palavra que
permite dizer que se fizermos a política apenas entre humanos, vamos acabar nos fechando em uma esfera exígua demais, feita de interesses de boa
vontade. Se tivermos apenas cosmos,
iremos nos encerrar sozinhos na velha
idéia dos naturalistas, que definem a
priori um mundo comum que os outros
devem compartilhar. A cosmopolítica
permite impedir que os dois se fechem:
o cosmos está lá para impedir que a
política se feche, e a política, para impedir que o cosmos se feche. O cosmos
não é mononaturalizado, ele é a expressão de uma política. Acredito que
podemos dizer hoje que temos uma
prova para esse fenômeno, e esta é
muito difícil de ser negada. O número
de fatos, que aparece ainda sob a forma modernista de matters of fact, diminuiu muito em relação aos fatos que
aparecem agora sob a forma de matters of concern. Nós não podemos ainda quantificar a mudança, mas há uma
grande mudança. Podemos também
interpretar isso alegando que, não, é
simplesmente o modernismo que tenta
avançar, mas esse tipo de interpretação acaba parecendo com os epiciclos
ptolomaicos. Enfim, não se deve acrescentar epiciclos a epiciclos. Não é um
modo honesto de pensar.
Tomemos, como exemplo, o caso das
descobertas sobre o genoma humano.
Fala-se muito, nos termos de Viveiros
de Castro, em “multinaturalismo”, ou
seja, múltiplas naturezas. Ora, as descobertas recentes sobre a biotecnologia genômica insistem sobre uma base
biológica certamente universal, que
ENTREVISTA
nos reenvia forçosamente ao mononaturalismo. O que é encoberto nesse
processo? Ou, dito de outro modo: não
teria a antiga constituição moderna encontrado, ali, a sua realização?
Este é o gênero importante de questão,
pois estamos aqui no cruzamento entre
antropologia física e antropologia cultural, social. Esse cruzamento deverá
ser, no futuro, o cerne da antropologia.
Mas reflexões como essas não foram
praticamente realizadas. Mas há um
modo típico de responder à questão de
vocês. Podemos, e há gente que o faz,
saudar a genômica como o grande
evento dos últimos vinte anos. Podemos efetivamente repetir a narrativa
do modernismo com a biologia no centro. Ao mesmo tempo, entretanto, verifica-se uma proliferação de definições
do gene, das influências dos genes,
que reduziu a nada a universalidade
do discurso biológico. Este é tipicamente um problema modernista. Todo
mundo tem o mesmo genoma, estamos
todos finalmente unificados sob o teto
da mansão da genética. Sim, mas, simultaneamente, as definições do gene,
das influências do gene que serviam
para unificar essa mansão, explodiram
em uma multiplicidade de definições.
Por exemplo, muita gente tem síndrome de mongolismo, mas não manifesta
o mongolismo. Pierre Sonigo, que é um
grande biólogo francês e que escreveu,
no ano passado, um livro apaixonante
sobre o gene, oferece uma definição
completamente oposta6. Ele diz não, o
gene não é algo que transporta as informações, mas algo que come. Já não
é a mesma coisa. Todas as conseqüências que você pode tirar de um e de outro para a unificação do comportamento são diferentes. Evelyn Fox Keller
publicou, no ano passado, The century
of the gene, onde argumenta que o dis-
curso sobre a ação do gene é uma pequena fração, agora, do que se passa
na genética7. Há aqui gente que estuda as questões relativas às doenças
que são devidas a um gene apenas, e
mesmo assim observamos diferenças
enormes. Sem falar do fato de que agora um gene é uma empresa, são patentes, é um jogo geopolítico enorme como vemos com o caso dos transgênicos. É por isso que a relação entre a antropologia física e a antropologia cultural tornou-se tão interessante de um
ponto de vista político. Estamos diante
de um lugar de controvérsias, pois podemos dizer: “Olha, temos razão de fazer antropologia física, pois agora isso
já está unificado”. E, ao mesmo tempo:
“Olha, temos uma rica antropologia
social — digamos assim — dos genes,
porque a genética é assunto das mais
variadas controvérsias”. Isso é normal,
pois não há uma única maneira de um
corpo existir no mundo. Os geneticistas não sabem o que fazem. É que o
problema do gene é complicado. Um
gene é múltiplo e os seus modos de
ação são múltiplos. Não há um só discurso sobre o gene que possa unificar a
genética.
A questão de vocês é muito interessante e a minha resposta a essa questão é: eis porque é preciso uma antropologia da ciência. É preciso conseguir
compreender as duas coisas: o discurso
unificador triunfalista dos geneticistas
— quando estes dizem que “o genoma
é, finalmente, o fim da diferença cultural, porque temos agora um só gene
para tudo”, e o seu contrário, ou seja, a
idéia de que o gene não explica tudo:
fazemos genômica, agora temos o Genoma, e nos damos conta de que não é
isso que explica tudo, é preciso olhar
para as proteínas etc. O objetivo da antropologia não é opor o discurso oficial
ao discurso oficioso, mas estudar os
407
408
ENTREVISTA
dois. E explicar por que o primeiro permite uma parte do segundo ao mesmo
tempo em que impede o seu desenvolvimento. Hoje o desenvolvimento da
genética está paralisado por um discurso que não corresponde, de modo
algum, àquilo que o ser deve fazer,
presa como está à estranha ontologia
do antigo gene codificante e informante, algo como a imitação de um livro,
algo que se assemelha à linguagem.
Você fala da crise da representação política como parte da crise da modernidade. Em que sentido você pode dizer
que a democracia — ao mesmo tempo
o melhor e o pior sistema político, para
retomar a frase de Churchill que você
mencionou em uma conferência recente — deve ser estendida às coisas?
A política sempre foi, de fato, uma política das coisas. A questão foi sempre
construir cidades, definir fronteiras e
paisagens. Foi a filosofia política que
inventou, em meados do século XVII,
uma teoria da representação unicamente do mundo social humano, ao colocar a economia e as ciências do outro
lado. Isso significa que, do ponto de
vista da atividade que chamamos política, sempre se tratou de questões — issues, como dizem os ingleses —, que
são preocupações não simplesmente
materiais, mas preocupações em relação a bens e coisas. A melhor demonstração disso é um afresco muito conhecido de Lorenzetti, em Siena, Do bom e
do mau governo. A diferença entre o
bom e o mau governo é que no mau governo há coisas que são destruídas, ao
passo que no bom governo as coisas
são coerentes. Não fui eu quem inventou a política das coisas (a democracia
das coisas, sim). É a filosofia política
que a esqueceu e que durante alguns
séculos definiu a política como um pro-
blema de representação dos humanos,
de tomadas de posição dos humanos,
mas não como uma cosmopolítica. Agora que jamais fomos modernos, com o
problema que expliquei há pouco, começa a ficar claro por que o senhor Lula tem de se ocupar do aquecimento do
globo, do milho híbrido, da pobreza, da
habitação, da crise do abastecimento
de água etc. É evidente por quê.
Podemos dizer que o problema da ecologia esteve sempre no centro da política?
Sempre esteve no centro da política,
mas nem sempre no centro da filosofia
política. Agora o problema é que a filosofia política deve absorver de novo as
coisas que estavam antes nas mãos exclusivas dos experts científicos — os
genes de que acabamos de falar são
um ótimo exemplo disso —, e que agora migram para o centro da atenção comum. E aí, a democracia das coisas é
uma outra história. É o “parlamento
das coisas”. Este é o problema da exposição Making Things Public [“Tornar
as coisas públicas”], que estou preparando em Karlsruhe, na Alemanha. Retomando, portanto, a questão de vocês:
não se trata apenas da representação
dos centros da vida política em torno
da eleição e da autoridade, mas a representação também no sentido bem
conhecido “dos instrumentos que representam as coisas de que falamos”.
Assim, a questão da democracia atual
não é apenas saber se nós votamos ou
não, se estamos ou não autorizados pelas pessoas que nos elegeram, o que é
a primeira parte da representação, mas
também a de saber como, quando falamos do milho transgênico, essa coisa
de que falamos é representada, desta
vez no interior do recinto. Por isso, a
“democracia das coisas” quer dizer,
ENTREVISTA
justamente, o duplo interesse pelos
dois sistemas de representação: representação dos humanos que falam das
coisas, e representação das coisas de
que os humanos falam, em seus recintos. Um caso típico de mau exemplo de
representação é o do Mr. Collin Powell
quando diz à ONU: “Olha, eu tenho a
prova de que há armas de destruição
em massa, e posso exibi-las na tela”. E
ele nos mostra péssimas imagens falsificadas etc. Há uma carência de representação. Não estou dizendo que Bush
não é autorizado, ele foi eleito. Mas o
que ele faz não é representativo. A democracia das coisas é transportar de
um modo confiável as coisas de que falamos e, por outro lado, estar autorizado para falar delas por meio de um
procedimento social. Trata-se de uma
questão extremamente simples, mas
que a filosofia política não abordou,
pois ela fez uma separação completa
entre, de um lado, as coisas que são representadas pelos cientistas, mas fora
do procedimento político, e a representação dos humanos. Mas no meio disso
tudo havia a retórica, que era justamente uma forma de comunicação e
manipulação, uma espécie de relações
públicas, e não o trabalho público sobre as provas incompletas. A retórica
jamais foi — a não ser entre os gregos,
certamente — pensada como sendo o
meio essencial de reconduzir as coisas
aos recintos ocupados por aqueles que
falam delas. Assim, essa questão toca
de fato no problema da invenção de
uma retórica política.
É porque a retórica é uma técnica...
Sim, mas que foi muito importante durante vinte e quatro séculos e que desapareceu completamente no fim do
século XIX. Desapareceu, pois a ciência não poderia ser, supostamente, uma
retórica. Mas é claro que é necessário
que ela seja uma. É necessário ser capaz de dramatizar, verificar, encontrar,
expressar, convencer, ser compreensível por um grande número de pessoas.
E isso corresponde exatamente às armas e às grandezas da retórica clássica.
Parece que o que nos falta, hoje em
dia, não é a retórica em si mesma, mas
justamente uma espécie de “rigor retórico”...
Podemos falar de rigor retórico, vocês
têm razão. Infelizmente, opomos retórica e rigor. É bela essa expressão de vocês... Vejam só, por exemplo, Collin Powell em um episódio muito interessante
em que ele foi obrigado a dizer: “These
are not obsessions, my friends, these
are facts”. Ele foi obrigado a dizer isso
perante o Conselho de Segurança da
ONU. Evidentemente, não se tratava de
fatos indiscutíveis. Ele bem sabia. Se
ele tivesse seguido o rigor retórico, ele
talvez pudesse ter dito: “Eu não sei o
que se passa de fato, eu possuo provas
muito pouco claras. Mas elas são importantes demais para que deixemos de
agir imediatamente”. Aqui sim teríamos uma retórica rigorosa. Ele poderia,
talvez, nesse caso, ter convencido alguém, mas a oposição entre fatos e retórica (“These are not obsessions, my
friends, these are facts”) torna impossível o rigor retórico. O que eu quero fazer nessa exposição é justamente dizer
que há um duplo fenômeno de representação: representação do lado das
coisas, e representação do lado das pessoas, e que é precisamente isso o que
chamo de democracia.
Você disse, no seminário de Philippe
Descola, em novembro de 2003, que é
preciso que o Ocidente mude o seu
contraste com os outros para que ele
409
410
ENTREVISTA
possa, enfim, fazer uma oferta de paz.
Os antropólogos teriam, assim, um papel central nessa missão, e isso implica
a definição da antropologia como diplomacia. Você poderia falar um pouco
mais desse papel que o antropólogo
deve assumir?
Já falamos um pouco disso. A diferença
é que o diplomata não possui princípio
superior comum, ele não conta com um
árbitro indiscutível acima dele próprio
para definir as posições e os papéis,
porque senão não haveria guerra e não
haveria conversações de paz, tampouco necessidade de diplomatas. A diplomacia é a busca dessas condições comuns em ambos os lados. Assim, esta é
a grande diferença entre o antropólogo
como diplomata e o antropólogo como
erudito [savant]: o antropólogo savant
reúne em seu escritório, no Collège de
France, o conjunto de culturas que são
convocadas, de certa maneira, sem
dramas — senão o drama do conhecimento — e ele as compara umas com as
outras reunindo-as num quadro, ao
passo que o antropólogo diplomata não
dispõe de um lugar particular para expor sua oferta de paz, ele pode ser considerado a qualquer momento como
um traidor, pois não possui um princípio superior comum a partir do qual poderia arbitrar as diferentes posições.
Ele não sabe o que é aceitável para as
pessoas que o enviam, as pessoas de
sua própria cultura, e tampouco o que é
aceitável para os outros. Então há uma
grande diferença entre o antropólogo
savant e o antropólogo diplomata. Mas
este é um tema de debate com meus
eminentes colegas.
Para além de um problema antropológico, a diplomacia seria também uma
solução para o problema — ocidental,
moderno — da globalização?
Os modernos serão simplesmente obrigados a pensar assim, porque eles não
são mais os donos do mundo. Essa é a
diferença. Antes, eles não precisavam
ser diplomatas. Antes, como disse Sloterdijk, todo mundo achava formidável
a globalização, quando nós éramos os
únicos a globalizar. Do século XVII ao
século XX, pensávamos que a globalização era ótima. Era o mundo, era a
naturalização, era a modernização.
Agora, todo o mundo globaliza. Os Kayapó globalizam, pois participam do
mercado mundial com seus produtos…
O problema é que os europeus agora
são obrigados a serem polidos, pois
eles não são mais os donos do mundo,
e têm sorte de não mais o serem. Eles
podem retomar as questões da antropologia clássica e concluir: “Agora não
estamos mais na situação de antropólogos savants convocando o mundo todo simplesmente porque temos o poder indiscutível de fazê-lo em nome da
Natureza”; pois entramos em uma tarefa diplomática arriscada, a de dizer
aos outros, aos brasileiros, por exemplo: “Eis o que nós, franceses ou europeus, pensamos que devemos defender como nossa definição de existência, e se vocês nos tirarem isso, vocês
brasileiros, nós morreremos”. Isso é,
portanto, muito interessante. Assim, o
diplomata é uma figura que me interessa demais, pois acredito que ele seja uma figura maldita. O diplomata é o
traidor. Ele é uma figura mais forte e
mais antiga que a figura do savant.
Havia diplomatas bem antes de haver
savants. O diplomata é aquele que se
engaja em questões sem saber ao certo em que coisas crer antes de iniciada
a discussão. Assim, ele é obrigado a
trabalhar de ambos os lados, tanto o
daqueles para quem ele trabalha, como o daqueles a quem ele se endereça.
Em uma antropologia diplomática, so-
ENTREVISTA
mos obrigados a nos engajar entre a
química, os índios etc.
O diplomata chega no final de uma
guerra que esgotou a todos. Assim, é
preciso haver, antes de tudo, uma declaração de guerra: primeiro a guerra,
depois o esgotamento; por fim, a diplomacia. O diplomata não aparece no começo, mas no fim. Se não há guerra e
partes dispostas a negociar, não há diplomatas. Estamos em uma situação de
guerra.
Mas o que exatamente fazer no fim da
guerra?
Na maior parte das frentes, a guerra
ainda não começou. Não houve declaração de guerra. Este é um ponto muito importante, é o que eu chamo de
“guerras pedagógicas”. Na maior parte dos casos, não há ainda guerra, pois
os modernos não faziam guerra, faziam
pedagogia. Assim, quando eles dizem
“saber racional” e “saber irracional”,
não se trata de guerra, mas de pedagogia. E aos irracionais dizem: “Não é
sua culpa, não estamos em guerra contra vocês, nós gostamos muito de vocês, mas vocês são irracionais e nós somos racionais”. Isso não é uma situação de guerra, e por quê? Porque supõe-se que haja um princípio superior
comum que define essas duas posições, racional e irracional. Não está em
discussão o que seja o “racional” e o
“irracional”. Ao passo que quando se
diz: “para que haja guerra, é preciso
haver declaração de guerra”, e nada
de árbitros, ou de princípio superior
comum. É preciso dizer que a modernização desapareceu, que o mononaturalismo desapareceu, e assim por diante. Isso nos coloca muitas condições.
Por isso, não apenas não estamos no
fim da guerra, mas não chegamos sequer, em muitos casos, à declaração de
guerra. Para a maior parte das pessoas,
não estamos nem mesmo em guerra,
estamos no desenvolvimento de técnicas que fazemos convergir para o mesmo mercado mundial. O diplomata é
de fato a figura que chega depois que
as pessoas já estão esgotadas pela
guerra, que as conversações já começaram, e que as pessoas se perguntam:
“no fundo, no que acreditar?”. E então
o diplomata refaz seu trabalho de redefinição de valores e diz: “Penso que
nós acreditamos nisso. E agora eu me
volto aos meus, e lhes digo: ‘Nós acreditamos nisso. Você está de acordo que
nós aceitemos isso para não retomar a
guerra?’” E aí as pessoas podem dizer:
“De modo algum. Esse diplomata é um
traidor! Fomos vendidos pelo diplomata por um pedaço de pão.” Eu fiz essa
experiência. Fui aos cientistas europeus e lhes disse: “Não se defende a
racionalidade. O que se deve defender
são os híbridos etc. Vocês estão de
acordo?” Eles não estavam mesmo de
acordo! De fato, podemos fracassar nas
relações diplomáticas. Mas a diplomacia é algo muito interessante.
Nesse domínio, o que podemos pensar
dos conflitos atuais entre os países ocidentais e os países islâmicos?
De qual guerra estamos falando? Trata-se de uma guerra dos modernos
contra o arcaísmo? Não, evidentemente não. Trata-se de uma guerra entre
dois modernismos, dois fundamentalismos. No mais, há uma série de assuntos sobre os quais os antropólogos não
têm nada a dizer. Aqui eles deviam
aprender com os islamólogos, e há alguns excelentes. O que é certo é que
não estamos diante de um conflito da
modernização contra o religioso, mas
de um modernismo extremo, que é um
fundamentalismo, e que se assemelha
411
412
ENTREVISTA
muito ao nosso modernismo. Ficamos
surpresos com essa constatação, pois o
modernismo era ótimo quando éramos
nós que o praticávamos, ou seja, quando era indiscutível, direto, quando não
havia mediação. O fundamentalismo é
algo muito interessante. Ele é um modernismo. Mas nós, os modernos — nós
jamais fomos modernos! —, nós sempre fizemos o contrário. Assim, quando
vemos os verdadeiros modernistas
diante de nós, ficamos horrorizados!
Não porque eles tenham barba e vistam djellabas, mas porque esta é a
imagem que nós mesmos demos ao
mundo! Isso é extraordinário. É como
um retorno. Sempre vimos a natureza e
a ciência de modo indiscutível, construímos laboratórios etc. Mas vendemos o modernismo aos outros, aos praticantes. Este é o paradoxo. Agora, os
outros dizem: “Mas nós também somos
modernos”. “Ah bom! Mas então moderno significa o quê?” “Significa que
as coisas são indiscutíveis, que não há
mediação, não há história. E isso é ser
modernista!” Recuo horrorizado dos
europeus, que exclamam: “Não, não é
isso, não pode ser isso!”. O fundamentalismo é o modernismo amputado de
seus híbridos, que agora se volta contra os modernos e os aterroriza — com
razão.
Tradução de Renato Sztutman
ENTREVISTA
Notas
No original, “des choses qui ont pris chose en opposition à l’objet”. Latour
usa o conceito de chose no duplo sentido arcaico de res ou ding, isto é, de coisacausa (causa jurídica ou política) “que remete […] a um assunto levantado em uma
assembléia, na qual se trava discussão que exige um julgamento passado em comum…” (Politiques de la nature, p. 351) [N.E.].
1
2 Office de Recherche Scientifique des Territoires d’Outre-Mer, atual IRD —
Institut de Recherche pour le Développement [N.E.].
É possível que tenha havido aqui um lapso, e que Latour estivesse querendo dizer “Assim, a antropologia continua o debate entre natureza e cultura” [N.E.].
3
4 Entenda-se, a matriz ou a condição humana, o modo de nossa espécie habitar o real — a “velha matriz antropológica”, como a chama Latour em Jamais fomos modernos [N.E.].
Sinólogo e filósofo francês contemporâneo, autor de importantes trabalhos
sobre diversos aspectos e figuras do pensamento chinês. Ver o balanço de sua obra
recentemente publicado em Penser d’un Dehors: la Chine (F. Jullien e T. Marchaisse, Paris: Seuil, 2001) [N.E.].
5
6
Ver P. Sonigo e I. Stengers, L’Évolution. Paris: Edp Sciences, 2003 [N.E.].
Ver E. Fox Keller e L.L. Winship, The Century of the Gene. Cambridge, MT:
Harvard University Press, 2002 [N.E.].
7
413
Mana
Print ISSN 0104-9313
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
→
RESENHAS
BORGES, Antonádia. 2004. Tempo de Brasília: etnografando lugares-eventos
da política. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 194 pp.
Julieta Quirós
Mestranda, PPGAS/MN/UFRJ
Tempo de Brasília: etnografando lugares-eventos da política pode, talvez, a princípio,
chamar a atenção do leitor pelo fato de transcorrer no terreno do inclassificado.
Antonádia Borges poderia apresentar seu trabalho como uma etnografia sobre
"política", sobre "políticas públicas", sobre "políticas de moradia", sobre "clientelismo".
Afortunadamente, contudo, nada disso acontece. A autora recusa, mais de uma vez, a
introdução de rótulos distantes da realidade etnográfica que descreve, a saber, a vida
— ou melhor, o modo de vida — dos moradores do Recanto das Emas, um
assentamento urbano localizado a 32 km de Brasília.
Com apurada observação sobre o que ali parece ser relevante, o trabalho de Borges
consegue interrogar — no sentido mais radical do termo — esse mundo social, sem
reprimi-lo em problemas teóricos ou categorias conceituais predeterminadas. Apesar
de estar orientada por um interesse em algo pensado como "político", o ponto de
partida da autora parece ser intencionalmente mais indefinido: como transcorre a vida
das pessoas nesse lugar? A partir daí, a política irrompe em espaços inesperados.
Criado apenas há uma década, o empoeirado Recanto das Emas está marcado por uma
preocupação com o lugar para morar. E é essa inquietude que, cotidianamente, vincula
os moradores à política no seu sentido nativo, isto é, ao Estado, ao governo, à
burocracia, aos políticos.
Ao descentrar seu trabalho etnográfico em relação a qualquer instância eleitoral, a
autora consegue revelar que a política não constitui uma exterioridade que irrompe
momentaneamente na vida local; e, portanto, que as eleições não constituem contexto
etnográfico privilegiado para falar sobre política. Presumindo que a política é
inseparável do que poderíamos chamar de "o resto" — da vida social —, Tempo de
Brasília não tenta apenas estabelecer uma relação entre ambos os termos, mas
também mostrar que, no Recanto das Emas, a política está no "resto", ou, nas
palavras de Borges, que a vida do Recanto das Emas é uma "vida política" (:49).
Em Tempo de Brasília, o olhar se dirige a um cotidiano no qual o político se imiscui.
Essa vida é retratada ao longo de cinco capítulos etnográficos que recorrem a uma
série de categorias nativas que, segundo a autora, estruturam a experiência dos
moradores do Recanto das Emas: a invasão, o asfalto, o lote e, por fim, o tempo de
Brasília. Longe de constituir um mero repertório representacional ou visão de mundo,
essas categorias são tratadas como idéias em ato. Ao apelar para a noção de lugarevento para se referir a esses "lugares ou objetos que se manifestam como ações"
(:11), a autora procura transcender uma perspectiva meramente semântica; aproximase, ao contrário, de uma pragmática que restitui os modos segundo os quais as idéias
são vividas e acionadas em contextos específicos.
Graças a um trabalho etnográfico que combina, de maneira perspicaz, diferentes
esferas de intimidade cultural, a autora consegue mostrar como, dentro de um mesmo
espaço, a política pode adquirir uma pluralidade de formas. O capítulo I talvez seja
paradigmático a esse respeito. Por um lado, a política irrompe de forma aberta e
impiedosa através da invasão: ocupar certos espaços como meio de reivindicação e
pedido de lotes ao Estado aparece como lugar-evento constitutivo da vida do Recanto
das Emas. No caso apresentado pela autora, trata-se de um acampamento montado na
sede da administração regional da cidade, onde surgem conflitos com a polícia e com
os funcionários públicos, assim como enfrentamentos partidários. Paralelamente, a
política surge de forma mais domesticada: a entrega de lotes é uma prática instituída e
institucionalizada, em um programa de governo orientado para o assentamento urbano
da população. Nesse esquema, as mesmas pessoas que invadem ou que alguma vez
invadiram fazem parte da lista dos que, cumprindo uma série de requisitos, ingressam
nas filas dos circuitos administrativos e da espera burocrática.
Desse modo, além dos acampamentos, no Recanto das Emas existem outros signos
que falam da vida política: o número dos processos burocráticos que cada pessoa
carrega consigo, o andamento das inscrições, e também a linguagem das siglas: os
moradores do Recanto das Emas são hábeis conhecedores do idioma de siglas dos
diversos organismos da burocracia, vinculados ao planejamento territorial, com os
quais mantêm contato diário. Um último signo: as fórmulas com que o governo
classifica a população a fim de avaliar quem é merecedor desse dom precioso que é o
lote. Um conjunto de requisitos produz a fórmula, cada fórmula produz uma série e a
série, uma identidade, a qual é expressa, por fim, em números.
As evidências apresentadas por Borges revelam como essas fórmulas estatais induzem
a comportamentos concretos, ao serem tomadas pela própria população como um
conjunto de qualidades de referência: ser casado ou solteiro; ter ou não ter filhos;
trabalhar ou não trabalhar. Entretanto, o principal requisito para poder participar da
inscrição nos programas de distribuição de lotes é possuir o título eleitoral do Distrito
Federal, o que implica contar com (e poder provar) um mínimo de cinco anos de
residência na capital — ou, em termos nativos, ter (e poder provar) tempo de Brasília.
Assim, milhares de pessoas circulam de casa em casa, de cidade satélite em cidade
satélite, de barraco em barraco, ocupando espaços, sendo abrigadas por parentes ou
conhecidos — literalmente, fazendo tempo —, para cumprir a exigência que lhes
permitirá, por fim, encaminhar oficialmente sua demanda por um lote ao Estado. E
então, "as madrugadas nas filas, o cadastramento, a atualização periódica do cadastro,
o conhecimento gradual das variáveis que "pesam" na fórmula que calcula a pontuação
do candidato, a adequação entre os dados de que se dispõe e aqueles que devem ser
apresentados ao governo, a procura de documentos que registrem a veracidade do que
é declarado, a angustiante espera pela contemplação, intercalada por frustradas
espiadelas no Diário Oficial e nos jornais, enfim, o nome na lista — a emoção
inenarrável dessa experiência —, a ocupação do lote, a construção de um barraco e,
mais uma vez, a espera pela escritura" (:157).
Se levarmos em conta o fato de que as pessoas que um dia acampam e ocupam terras
são as mesmas que outro dia ingressam nos circuitos burocráticos como destinatários
"legais", o cenário do Recanto das Emas sugere uma espécie de variação contínua que,
felizmente, não é tratada por Borges como contradição, nem tampouco aniquilada em
uma realidade coerente e unívoca, absolutamente fictícia. A análise da autora sugere
que, mais que opções contraditórias, invadir e inscrever-se em programas
governamentais são alternativas conexas, situacionalmente acionadas. "O Barraco" e
"O Lote" talvez sejam os capítulos que melhor analisam esse espaço flutuante. Neles,
em que se apresenta a trajetória de vida de quatro mulheres, assim como o estudo dos
arquivos da polícia local, esses lugares-eventos são retratados como categorias vividas
e acionadas de forma plural: o lote não é simplesmente o lote; é o lote invadido,
negociado, adjudicado, escriturado, emprestado, ocupado, roubado, alugado, vendido.
Nesse sentido, pode-se dizer que Tempo de Brasília escreve uma história. O presente
etnográfico de Borges adquire uma notável profundidade diacrônica, pois o que hoje é
quadra ontem foi invasão, o que é asfalto foi terra vermelha, o que é casa foi barraco.
No entanto, cabe destacar que, longe de constituir uma história linear, dirigida a algum
modo de vida consumado, parece tratar-se, precisamente, de uma história de
variações contínuas: as pessoas vão e vêm, passam da ilegalidade à legalidade, e viceversa.
A diversidade de formas de habitar é, então, uma diversidade de formas de vivenciar o
Estado, de experimentar a política. Uns pedem com o corpo; outros, por meio das
listas, ou aos líderes locais; e outros ainda dão porque têm um emprego na política.
Pedidos que são efetivos graças a uma lógica para a qual Borges chama a atenção: "A
política no Recanto das Emas apresenta-se como a frágil administração de bens
construídos a um só tempo como abundantes e escassos" (:48). O lote é um recurso
que o Estado dá, mas que não dá para todos. Sobre a base dos bens disponíveis e, ao
mesmo tempo, insuficientes, políticos e moradores se vinculam, jogando o jogo da
política, do qual poderíamos dizer que opera não tanto a partir da exclusão quanto de
uma inclusão diferencial sempre cheia de esperanças.
Ao lado do lote, o asfalto faz parte desses bens escassos e abundantes. A observação e
análise de uma série de atos governamentais, associados à inauguração de obras de
pavimentação, torna possível compreender o asfalto mais como necessidade criada e
imposta pelos governantes locais do que como demanda da própria população. A
produção de políticas públicas, assim, não parece envolver apenas uma invenção do
destinatário, mas também a da própria demanda. Com isso, dá-se a conversão do
arbitrário em necessário: o asfalto aparece não só como um bem desejado e
vantajoso, mas sobretudo como um bem imprescindível.
Desse modo, Borges revela como aquilo que não porta o rótulo de "político" é
politizado. No contexto do Recanto das Emas, o asfalto torna-se assunto político. Em
primeiro lugar, ao se constituir como objeto de troca que circula entre o governo e a
população. Em segundo, ao ser dotado de sentidos díspares de acordo com as facções
políticas locais. O conflito político entre os partidos se expressa no asfalto, e o
posicionamento dos moradores perante as obras enuncia lealdades partidárias.
Defender o asfalto, participar dos atos de inauguração — ou não fazê-lo — é posicionarse de um lado ou de outro da luta política local.
Ao explorar as trocas entre a população e os políticos fora do momento eleitoral, a
análise de Borges permite observar que essa relação transcende a mera transação votofavor. Em Tempo de Brasília, o voto é instância exclusiva da política, nem a troca
política se reduz ao voto. Ao contrário, trata-se de um processo ampliado e cotidiano
de construção das relações de poder, de uma troca contínua, seriada e parcelada. As
obras públicas, argumenta Borges, devem ser algo sempre inacabado, pois a dívida é
necessária para a continuidade da relação. Assim, enquanto em um lugar lotes estão
sendo distribuídos, em outro, obras de asfaltamento estão sendo iniciadas; se em uma
localidade obras de saneamento estão sendo providenciadas, em outra, invasores
estão sendo erradicados ou realocados. Nesse circuito, o tempo de Brasília irrompe
como lugar-evento que contém todos os demais: a invasão, o barraco e o lote
compõem uma espécie de limbo pelo qual todos têm de passar durante mais ou menos
cinco anos até poderem ingressar nas listas estatais. O tempo de Brasília é, então, o
começo de uma territorialização que, em teoria e do ponto de vista do governo,
culmina no lote e se reafirma no asfalto. "Em teoria", porque à medida que
territorializa, o tempo de Brasília gera suas próprias linhas de fuga: incita a migração,
ativa o nomadismo e a instabilidade habitacional de todos os seus potenciais
beneficiários. O trabalho de Borges permite perceber que as próprias fórmulas do
Estado acabam gerando o inesperado, produzindo um modo de vida que se afirma a si
mesmo, e isso apesar de tudo.
É sugestivo, nesse sentido, que Tempo de Brasília seja capaz de nos falar de uma
forma de experimentar o Estado prescindindo de clichês do tipo
"resistência/hegemonia". Ao contrário, apresenta ao leitor um mundo social díspar e
heterogêneo, onde é possível ver como o Estado captura e, ao mesmo tempo, o que as
pessoas conseguem fazer com essa sujeição. Novamente, uma recusa em enquadrar a
evidência etnográfica em esquemas inadequados prova que, ao lado da preocupação
nativa com o lugar para morar, Tempo de Brasília está baseado em uma preocupação
da própria autora com o lugar como entidade etnográfica com relevância própria.
Falando sobre si mesmo, o Recanto das Emas é capaz de falar sobre algo mais. Tempo
de Brasília transcende o microscópico, sem precisar apelar para grandes
representações ou idéias pomposas, e sem comprar, a priori, nenhum mito sobre "a
cultura política brasileira". Etnografia localmente situada que, não obstante, nos
permite pensar questões fundamentais sobre o Estado e a democracia, bem como
repensar a "grande política".
MANA 10(2):415-438, 2004
RESENHAS
BORGES, Antonádia. 2004. Tempo de
Brasília: etnografando lugares-eventos
da política. Rio de Janeiro: Relume
Dumará. 194 pp.
Julieta Quirós
Mestranda, PPGAS/MN/UFRJ
Tempo de Brasília: etnografando lugares-eventos da política pode, talvez, a
princípio, chamar a atenção do leitor
pelo fato de transcorrer no terreno do
inclassificado. Antonádia Borges poderia apresentar seu trabalho como uma
etnografia sobre “política”, sobre “políticas públicas”, sobre “políticas de
moradia”, sobre “clientelismo”. Afortunadamente, contudo, nada disso
acontece. A autora recusa, mais de
uma vez, a introdução de rótulos distantes da realidade etnográfica que
descreve, a saber, a vida — ou melhor,
o modo de vida — dos moradores do
Recanto das Emas, um assentamento
urbano localizado a 32 km de Brasília.
Com apurada observação sobre o
que ali parece ser relevante, o trabalho
de Borges consegue interrogar — no
sentido mais radical do termo — esse
mundo social, sem reprimi-lo em problemas teóricos ou categorias conceituais predeterminadas. Apesar de estar
orientada por um interesse em algo
pensado como “político”, o ponto de
partida da autora parece ser intencionalmente mais indefinido: como trans-
corre a vida das pessoas nesse lugar? A
partir daí, a política irrompe em espaços inesperados. Criado apenas há uma
década, o empoeirado Recanto das
Emas está marcado por uma preocupação com o lugar para morar. E é essa
inquietude que, cotidianamente, vincula os moradores à política no seu sentido nativo, isto é, ao Estado, ao governo, à burocracia, aos políticos.
Ao descentrar seu trabalho etnográfico em relação a qualquer instância eleitoral, a autora consegue revelar
que a política não constitui uma exterioridade que irrompe momentaneamente na vida local; e, portanto, que as
eleições não constituem contexto etnográfico privilegiado para falar sobre
política. Presumindo que a política é inseparável do que poderíamos chamar
de “o resto” — da vida social —, Tempo de Brasília não tenta apenas estabelecer uma relação entre ambos os termos, mas também mostrar que, no Recanto das Emas, a política está no “resto”, ou, nas palavras de Borges, que a
vida do Recanto das Emas é uma “vida
política” (:49).
Em Tempo de Brasília, o olhar se dirige a um cotidiano no qual o político
se imiscui. Essa vida é retratada ao longo de cinco capítulos etnográficos que
recorrem a uma série de categorias nativas que, segundo a autora, estruturam a experiência dos moradores do
Recanto das Emas: a invasão, o asfalto,
o lote e, por fim, o tempo de Brasília.
416
RESENHAS
Longe de constituir um mero repertório
representacional ou visão de mundo,
essas categorias são tratadas como
idéias em ato. Ao apelar para a noção
de lugar-evento para se referir a esses
“lugares ou objetos que se manifestam
como ações” (:11), a autora procura
transcender uma perspectiva meramente semântica; aproxima-se, ao contrário, de uma pragmática que restitui
os modos segundo os quais as idéias
são vividas e acionadas em contextos
específicos.
Graças a um trabalho etnográfico
que combina, de maneira perspicaz, diferentes esferas de intimidade cultural,
a autora consegue mostrar como, dentro de um mesmo espaço, a política pode adquirir uma pluralidade de formas.
O capítulo I talvez seja paradigmático
a esse respeito. Por um lado, a política
irrompe de forma aberta e impiedosa
através da invasão: ocupar certos espaços como meio de reivindicação e pedido de lotes ao Estado aparece como lugar-evento constitutivo da vida do Recanto das Emas. No caso apresentado
pela autora, trata-se de um acampamento montado na sede da administração regional da cidade, onde surgem
conflitos com a polícia e com os funcionários públicos, assim como enfrentamentos partidários. Paralelamente, a
política surge de forma mais domesticada: a entrega de lotes é uma prática
instituída e institucionalizada, em um
programa de governo orientado para o
assentamento urbano da população.
Nesse esquema, as mesmas pessoas
que invadem ou que alguma vez invadiram fazem parte da lista dos que,
cumprindo uma série de requisitos, ingressam nas filas dos circuitos administrativos e da espera burocrática.
Desse modo, além dos acampamentos, no Recanto das Emas existem outros signos que falam da vida política: o
número dos processos burocráticos que
cada pessoa carrega consigo, o andamento das inscrições, e também a linguagem das siglas: os moradores do
Recanto das Emas são hábeis conhecedores do idioma de siglas dos diversos
organismos da burocracia, vinculados
ao planejamento territorial, com os
quais mantêm contato diário. Um último signo: as fórmulas com que o governo classifica a população a fim de avaliar quem é merecedor desse dom precioso que é o lote. Um conjunto de requisitos produz a fórmula, cada fórmula produz uma série e a série, uma
identidade, a qual é expressa, por fim,
em números.
As evidências apresentadas por
Borges revelam como essas fórmulas
estatais induzem a comportamentos
concretos, ao serem tomadas pela própria população como um conjunto de
qualidades de referência: ser casado ou
solteiro; ter ou não ter filhos; trabalhar
ou não trabalhar. Entretanto, o principal requisito para poder participar da
inscrição nos programas de distribuição de lotes é possuir o título eleitoral
do Distrito Federal, o que implica contar com (e poder provar) um mínimo de
cinco anos de residência na capital —
ou, em termos nativos, ter (e poder provar) tempo de Brasília. Assim, milhares
de pessoas circulam de casa em casa,
de cidade satélite em cidade satélite,
de barraco em barraco, ocupando espaços, sendo abrigadas por parentes ou
conhecidos — literalmente, fazendo
tempo —, para cumprir a exigência que
lhes permitirá, por fim, encaminhar oficialmente sua demanda por um lote ao
Estado. E então, “as madrugadas nas
filas, o cadastramento, a atualização
periódica do cadastro, o conhecimento
gradual das variáveis que “pesam” na
fórmula que calcula a pontuação do
candidato, a adequação entre os dados
RESENHAS
de que se dispõe e aqueles que devem
ser apresentados ao governo, a procura
de documentos que registrem a veracidade do que é declarado, a angustiante
espera pela contemplação, intercalada
por frustradas espiadelas no Diário Oficial e nos jornais, enfim, o nome na lista — a emoção inenarrável dessa experiência —, a ocupação do lote, a construção de um barraco e, mais uma vez,
a espera pela escritura” (:157).
Se levarmos em conta o fato de que
as pessoas que um dia acampam e ocupam terras são as mesmas que outro
dia ingressam nos circuitos burocráticos como destinatários “legais”, o cenário do Recanto das Emas sugere uma
espécie de variação contínua que, felizmente, não é tratada por Borges como contradição, nem tampouco aniquilada em uma realidade coerente e unívoca, absolutamente fictícia. A análise
da autora sugere que, mais que opções
contraditórias, invadir e inscrever-se
em programas governamentais são alternativas conexas, situacionalmente
acionadas. “O Barraco” e “O Lote” talvez sejam os capítulos que melhor analisam esse espaço flutuante. Neles, em
que se apresenta a trajetória de vida de
quatro mulheres, assim como o estudo
dos arquivos da polícia local, esses lugares-eventos são retratados como categorias vividas e acionadas de forma
plural: o lote não é simplesmente o lote; é o lote invadido, negociado, adjudicado, escriturado, emprestado, ocupado, roubado, alugado, vendido.
Nesse sentido, pode-se dizer que
Tempo de Brasília escreve uma história. O presente etnográfico de Borges
adquire uma notável profundidade diacrônica, pois o que hoje é quadra ontem foi invasão, o que é asfalto foi terra
vermelha, o que é casa foi barraco. No
entanto, cabe destacar que, longe de
constituir uma história linear, dirigida a
algum modo de vida consumado, parece tratar-se, precisamente, de uma história de variações contínuas: as pessoas
vão e vêm, passam da ilegalidade à legalidade, e vice-versa.
A diversidade de formas de habitar
é, então, uma diversidade de formas de
vivenciar o Estado, de experimentar a
política. Uns pedem com o corpo; outros, por meio das listas, ou aos líderes
locais; e outros ainda dão porque têm
um emprego na política. Pedidos que
são efetivos graças a uma lógica para a
qual Borges chama a atenção: “A política no Recanto das Emas apresenta-se
como a frágil administração de bens
construídos a um só tempo como abundantes e escassos” (:48). O lote é um
recurso que o Estado dá, mas que não
dá para todos. Sobre a base dos bens
disponíveis e, ao mesmo tempo, insuficientes, políticos e moradores se vinculam, jogando o jogo da política, do qual
poderíamos dizer que opera não tanto
a partir da exclusão quanto de uma inclusão diferencial sempre cheia de esperanças.
Ao lado do lote, o asfalto faz parte
desses bens escassos e abundantes. A
observação e análise de uma série de
atos governamentais, associados à
inauguração de obras de pavimentação, torna possível compreender o asfalto mais como necessidade criada e
imposta pelos governantes locais do
que como demanda da própria população. A produção de políticas públicas,
assim, não parece envolver apenas uma
invenção do destinatário, mas também
a da própria demanda. Com isso, dá-se
a conversão do arbitrário em necessário: o asfalto aparece não só como um
bem desejado e vantajoso, mas sobretudo como um bem imprescindível.
Desse modo, Borges revela como
aquilo que não porta o rótulo de “político” é politizado. No contexto do Re-
417
418
RESENHAS
canto das Emas, o asfalto torna-se assunto político. Em primeiro lugar, ao se
constituir como objeto de troca que circula entre o governo e a população. Em
segundo, ao ser dotado de sentidos díspares de acordo com as facções políticas locais. O conflito político entre os
partidos se expressa no asfalto, e o posicionamento dos moradores perante as
obras enuncia lealdades partidárias.
Defender o asfalto, participar dos atos
de inauguração — ou não fazê-lo — é
posicionar-se de um lado ou de outro
da luta política local.
Ao explorar as trocas entre a população e os políticos fora do momento
eleitoral, a análise de Borges permite
observar que essa relação transcende a
mera transação voto-favor. Em Tempo
de Brasília, o voto é instância exclusiva
da política, nem a troca política se reduz ao voto. Ao contrário, trata-se de
um processo ampliado e cotidiano de
construção das relações de poder, de
uma troca contínua, seriada e parcelada. As obras públicas, argumenta Borges, devem ser algo sempre inacabado,
pois a dívida é necessária para a continuidade da relação. Assim, enquanto
em um lugar lotes estão sendo distribuídos, em outro, obras de asfaltamento estão sendo iniciadas; se em uma localidade obras de saneamento estão
sendo providenciadas, em outra, invasores estão sendo erradicados ou realocados. Nesse circuito, o tempo de Brasília irrompe como lugar-evento que
contém todos os demais: a invasão, o
barraco e o lote compõem uma espécie
de limbo pelo qual todos têm de passar
durante mais ou menos cinco anos até
poderem ingressar nas listas estatais. O
tempo de Brasília é, então, o começo de
uma territorialização que, em teoria e
do ponto de vista do governo, culmina
no lote e se reafirma no asfalto. “Em
teoria”, porque à medida que territo-
rializa, o tempo de Brasília gera suas
próprias linhas de fuga: incita a migração, ativa o nomadismo e a instabilidade habitacional de todos os seus potenciais beneficiários. O trabalho de Borges permite perceber que as próprias
fórmulas do Estado acabam gerando o
inesperado, produzindo um modo de
vida que se afirma a si mesmo, e isso
apesar de tudo.
É sugestivo, nesse sentido, que
Tempo de Brasília seja capaz de nos falar de uma forma de experimentar o
Estado prescindindo de clichês do tipo
“resistência/hegemonia”. Ao contrário,
apresenta ao leitor um mundo social
díspar e heterogêneo, onde é possível
ver como o Estado captura e, ao mesmo
tempo, o que as pessoas conseguem fazer com essa sujeição. Novamente,
uma recusa em enquadrar a evidência
etnográfica em esquemas inadequados
prova que, ao lado da preocupação nativa com o lugar para morar, Tempo de
Brasília está baseado em uma preocupação da própria autora com o lugar
como entidade etnográfica com relevância própria. Falando sobre si mesmo, o Recanto das Emas é capaz de falar sobre algo mais. Tempo de Brasília
transcende o microscópico, sem precisar apelar para grandes representações
ou idéias pomposas, e sem comprar, a
priori, nenhum mito sobre “a cultura
política brasileira”. Etnografia localmente situada que, não obstante, nos
permite pensar questões fundamentais
sobre o Estado e a democracia, bem como repensar a “grande política”.
Mana
Print ISSN 0104-9313
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
→
RESENHAS
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela e ALMEIDA, Mauro Barbosa de (orgs.). 2002.
Enciclopédia da Floresta: o Alto Juruá: práticas e conhecimentos das
populações. São Paulo: Cia. das Letras. 735 pp.
William Balée
Tulane University
Este volume nos oferece múltiplas visões de uma importante região da floresta
amazônica — de sua diversificada biota, de sua história recente e das pessoas que a
habitam, com sua própria compreensão localizada desses fenômenos. Ele registra, de
um lado, o esforço intelectual dos praticantes da ciência e, de outro, dos detentores de
um conhecimento, tradicional, com respeito a uma única floresta e duas
epistemologias, por meio das quais o leitor aprende sobre a mesma floresta. Mas os
autores fizeram um esforço admirável para desconstruir o divisor implícito entre
compreensão intercultural e interepistemológica. Com efeito, diversos autores, com
formações intelectuais divergentes e histórias pessoais distintas, reuniram-se para
compor um produto saliente, singular, de seu conhecimento combinado sobre uma
região particular da Amazônia que se destaca por uma pluralidade de critérios
culturais, legais e naturais. Trata-se, de fato, e em parte por estas razões, de uma
contribuição ímpar.
O livro divide-se em sete seções: introdução; descrição da região, habitantes e história
recente; ciclos sazonais e calendáricos dos povos indígenas da área; atividades
agrícolas e extrativistas, incluindo o uso do alucinógeno Banisteriopsis sp. (chamado de
"cipó") pelos seringueiros; modelos indígenas e tradicionais de classificação da flora e
fauna da região; dicionários de animais e plantas que combinam o saber local e o
científico; e apêndices, que incluem um glossário, um indíce e biografias sinópticas dos
autores e de seus principais consultores.
É possível evocar várias tentativas de apresentar uma cobertura temática —
arqueológica, etnográfica, geográfica, botânica — de regiões específicas da Amazônia,
como o Alto Amazonas, o rio Amazonas em si mesmo, o Baixo Amazonas e o estuário,
em particular a ilha de Marajó, o Brasil Central e a bacia do rio Negro, entre outras.
Trabalhos recentes sobre reservas da biosfera e entidades similares na Amazônia não
brasileira, especialmente no Peru e no Equador (como Manu: The Biodiversity of
Southeastern Peru; La Biodiversidad del Sureste del Perú, organizado por Wilson e
Sandoval, 1996), realizaram uma cobertura consideravelmente detalhada da biota e
paisagens locais, enfatizando aspectos como o endemismo, a alta diversidade de
espécies e a conseqüente necessidade de conservação dessas áreas. O Smithsonian
Atlas of the Amazon (2003) trata dos maiores rios da bacia amazônica, incluindo o
próprio Amazonas, ao passo que a bela monografia de Nigel Smith, Amazon Sweet Sea
(2002), situa o estuário em um quadro de referência panorâmico. Esses são, em geral,
trabalhos analiticamente minuciosos, detalhadamente ilustrados, sobre uma ampla
gama de fenômenos, embora pelo menos parte da riqueza cultural e lingüística
verificada em todas essas paisagens tenda a ser encontrada apenas em volumes
separados, escritos por pesquisadores com formação etnográfica. Em contraste, a
Enciclopédia da Floresta apresenta o saber local lado a lado com o exame sistemático e
científico da história cultural e natural da bacia do alto Juruá. Trata-se de um estudo
interdisciplinar e intercultural de uma paisagem específica, da biota dessa paisagem e
de seus habitantes humanos em particular.
Minha leitura desse livro é colorida por uma certa nostalgia. Em setembro e outubro de
1984, como pesquisador do New York Botanical Garden, acompanhei uma equipe de
botânicos e biólogos liderados pelo Dr. David Campbell (agora em Grinnell College,
Iowa) e por C. A. Cid Moreira, do INPA (Manaus), ao alto rio Moa, um tributário do
Juruá, onde realizamos um inventário de três hectares de floresta de terra firme. Foi
então que aprendi, com Campbell e os outros participantes, as técnicas envolvidas no
inventário de árvores da floresta tropical amazônica — uma experiência a que eu
recorreria, anos mais tarde, para realizar inventários similares entre povos indígenas
da Amazônia oriental e alhures. Essa equipe de pesquisa e a flora que descreveu
acham-se mencionadas na segunda seção do livro. A Enciclopédia evoca para mim
aquele tempo e lugar, especialmente em sua descrição das pessoas (índios das famílias
Katukina ou Pano, seringueiros de origem nordestina, seringalistas); a flora e fauna
são também bastante similares às do Moa, como indicam os autores dos capítulos
sobre florística. Com certeza, desde 1984, muitas coisas mudaram na região do Alto
Juruá, sobretudo com o estabelecimento das reservas extrativistas e a maior
articulação interétnica entre índios, seringueiros e outros. Uma história momentosa
desenvolveu-se nos últimos quinze anos, e ela é bem captada neste volume.
Os editores chamam-lhe uma "enciclopédia", mas a designação, se entendida em um
sentido convencional, literário, poderia ser questionada, uma vez que o livro não arrola
em ordem alfabética exaustiva itens de interesse tópico. A Enciclopédia exclui, por
decisão editorial, bibliografias e mesmo sugestões de leitura, embora referências
ocasionais à literatura relevante possam ser encontradas, dependendo do autor do
verbete. Os editores informam que "notas bibliográficas, exceto em raros casos, foram
suprimidas" (:30), mas não dizem o porquê. Seria para criar uma impressão de
paridade entre os capítulos escritos por cientistas (todos acostumados a citar
referências em trabalhos submetidos a avaliação por pares) e aqueles compostos por
seringueiros e índios, não treinados em semelhante tradição? Embora o livro contenha
efetivamente um índice temático muito útil, é difícil lê-lo tematicamente, e captar
assim sua mensagem sobre a unidade e diversidade dos tipos de saber existentes
sobre a área em questão.
O livro tem elementos de atlas, de dicionário e, sim, de enciclopédia, todos ao mesmo
tempo; também exibe traços de um relatório coletivo de pesquisa. Parcialmente por
essa razão, vejo-o como uma obra de referência única. Não é feito para ser lido de
uma vez, embora, para que se apreenda seu ponto, deva sê-lo do início ao fim (várias
vezes), e não seletivamente, aos pedaços, como se leriam talvez os verbetes de uma
enciclopédia convencional. Há um efeito cumulativo na maneira como se desdobram os
capítulos (ou "verbetes") em cada seção. A estratégia parece ser a de apresentar o
conhecimento em termos de uma ordem baseada no tipo de autoria, começando com
artigos escritos segundo tradição acadêmica ocidental, para então passar a textos
radicados em outra tradição de conhecimento, tradicional ou indígena, mais
enigmática, talvez mesmo exótica. Ironicamente, isso resulta também em uma ordem
de seções e capítulos algo evolucionista, pois os autores que abrem as descrições
substantivas da floresta não são antropólogos, mas especialistas em botânica,
entomologia e outras ciências naturais. O livro reparte-se, assim, em duas metades
conceituais: uma divisão inicial contendo muitos materiais de ciência natural, e uma
outra contendo materiais etnobiológicos (tradicionais, indígenas ou êmicos). As duas
seções são articuladas por meio de descrições etnográficas e etno-históricas dos povos
da região.
O livro focaliza os recursos naturais, isto é, a biota, embora, nas seções centrais, traga
também descrições significativas dos atores humanos ao longo do tempo, alguns dos
quais, aliás, estão entre os co-autores da Enciclopédia. O ritmo do volume pode ser
percebido à medida que avançamos na leitura, partindo dos estudos sistemáticos da
flora e fauna, das origens e da caracterização da floresta, para chegarmos aos estudos
sobre os grupos indígenas da região: os Kaxinawá (de língua pano), os Ashaninka (de
língua aruak) e os Katukina (de língua isolada), e sobre os seringueiros. Os autores
dessas seções etnológicas prestam uma atenção progressivamente maior às
concepções nativas e tradicionais de uma flora e uma fauna singulares.
De fato, há muito mais questões envolvidas aqui do que a simples classificação da
biota da área por sistemas ocidentais ou científicos, de um lado, e sistemas indígenas
ou tradicionais, de outro. A segunda seção, por exemplo, trata da diversidade biológica
do alto Juruá tal como apreendida pela botânica e a entomologia sistemáticas,
trazendo análises detalhadas de alguns tipos de espécies indicadoras (plantas e
borboletas) observadas nos habitats específicos da região. Esta seção enfatiza a
grande diversidade e a suposta natureza prístina das florestas do alto Juruá. Os
autores desses capítulos não discutem a possibilidade de que qualquer fator humano
possa ter estado envolvido na formação dessas florestas. Quanto a isso, cabe apenas
lamentar que os editores não tenham incluído nenhuma análise arqueológica para
testar tal suposição, pois é bem possível que algumas dessas florestas primárias
sejam, de fato, antigas roças indígenas.
As pranchas fotográficas coloridas de anfíbios, borboletas, libélulas e lavadeiras,
juntamente com as numerosas fotografias em preto e branco de plantas, seres
humanos e outros organismos, conferem ao livro uma grande riqueza visual. As
pranchas com as "borboletas indicadoras de capoeira e de floresta secundária", ou
aquelas sobre "os anfíbios", são particularmente encantadoras. O leitor é também
brindado com soberbas aquarelas de pássaros feitas por um artista ashaninka, Moisés
Piyãko; elas mostram a vida tal como observada em seu habitat por alguém que o
conhece bem. Há ainda numerosos outros desenhos, de peixes e outros organismos,
feitos por artistas nativos (como as ilustrações nas páginas 543-575). Conforme
implícito no título da quinta seção, "Como classificar o mundo", os sistemas nativos de
classificação revelam-se ao mesmo tempo práticos para seus próprios propósitos e
fundamentalmente diferentes dos esquemas da tradição científica. Como mostra o
capítulo de Laure Emperaire, "Entre paus, palheiras e cipós", o dialeto do português
usado pelos seringueiros não contém nenhum termo singular que englobe o mundo das
plantas (o "reino" vegetal). Notadamente, a palavra "planta" refere-se apenas a
"plantas cultivadas" (:389). Eu observei uma dicotomia implícita algo semelhante entre
plantas tradicionalmente cultivadas e plantas não domesticadas, na etnobotânica dos
Ka'apor da Amazônia oriental, o que parece sugerir um padrão mais generalizado na
região. Os demais membros do reino vegetal são divididos, para os seringueiros, em
paus, pauzinhos, matos, matinhos, cipós, jitiranas, ramas, palheiras, capins e vários
outros termos e conceitos baseados, essencialmente, em traços morfológicos. Estes
pareceriam corresponder ao que se refere na literatura como "formas de vida" [life
forms] e "genéricos isolados" [unaffiliated generics], embora Emperaire evite encaixar
o sistema classificatório dos seringueiros em um esquema mais geral de biologia folk.
A classificação que Emperaire nos revela é tanto de base utilitária quanto de inspiração
intelectualista, uma vez que plantas que não são úteis estão incluídas e nomeadas.
Talvez esse resultado possa ser generalizado para outras sociedades da região.
O capítulo seguinte, bem mais breve, sobre a classificação animal dos seringueiros,
escrito por Mauro Barbosa de Almeida e outros, sugere uma combinação similar de
uma inspiração utilitária e outra intelectualista, como se, nas concepções tradicionais,
estes pontos de partida não fossem diferentes ou conflitivos. Os animais são
subsumidos em categorias morfológicas como "bichos de pêlo" (basicamente,
mamíferos), "bichos de pena" e seres "das águas" — nesta classificação, morfologia e
habitat se sobrepõem parcialmente. As classificações zoológicas dos Kaxinawá,
Katukina e Ashaninka são apresentadas em seguida, sugerindo similaridades entre os
sistemas. A esse material seguem-se os dicionários, começando por um longo capítulo
sobre os "bichos de pêlo", que lista os mamíferos pelo nome em português, da anta ao
tatu. É incluída na descrição de cada animal uma quantidade considerável de
informações derivadas das várias culturas envolvidas no estudo. Sucedem-se então
capítulos similares sobre os "bichos de pena" e os peixes. A apresentação substantiva
do saber local sobre o ambiente conclui-se com capítulos separados sobre cobras,
anfíbios e abelhas sem ferrão (as meliponídeas nativas, em contraposição às Apidae,
abelhas italianas e africanizadas). Por fim, há um dicionário de vegetais, e o livro se
encerra com breves biografias dos autores e daqueles que com eles trabalharam na
produção do volume.
Em minha opinião, a Enciclopédia contém, como guia de referência completo para o
alto Juruá, duas omissões principais. Primeiro, as teorias ali apresentadas sobre a
diversidade florística da região são válidas, mas as recentes críticas a elas foram
ignoradas. Os autores que tratam do tema usam o modelo do refúgio, sem mencionar
outros modelos rivais, como a biogeografia de vicariância e a ecologia histórica. A
segunda omissão, já mencionada, refere-se à ausência de qualquer informação
arqueológica. Os editores não fornecem nenhuma pista de como um estudo da préhistória poderia ser útil para a compreensão do passado na região. Nesse livro, a
história mais antiga começa com a história oral indígena, que permanece não datada;
é a chegada dos seringueiros do Ceará e arredores, a partir dos anos 1850, que parece
inaugurar um passado documentado para a região.
À parte essas omissões, só posso recomendar esse importante volume como um guia
tremendamente útil da biota e população da área em pauta, como um exemplo
admirável da colaboração entre cientistas, regionais e nativos e como uma
apresentação belamente ilustrada de uma parte da floresta tropical amazônica
brasileira. Ele interessará não apenas aos amazonistas de várias especialidades, mas
também aos antropólogos, geógrafos e ecólogos tropicais de modo geral. Está claro
que ele servirá de instrumento pedagógico nas comunidades de alguns de seus coautores, a saber, entre os colaboradores indígenas e regionais do Alto Juruá, que
poderão empregá-lo como uma referência para assegurar a continuidade do
conhecimento cultural da população local. Todo amazonista deveria ter um exemplar
em sua estante, e as bibliotecas especializadas em América Latina e América do Sul,
em todo o mundo, deveriam igualmente adquirir esta Enciclopédia.
RESENHAS
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela e ALMEIDA, Mauro Barbosa de (orgs.).
2002. Enciclopédia da Floresta: o Alto
Juruá: práticas e conhecimentos das
populações. São Paulo: Cia. das Letras. 735 pp.
William Balée
Tulane University
Este volume nos oferece múltiplas visões de uma importante região da floresta amazônica — de sua diversificada
biota, de sua história recente e das pessoas que a habitam, com sua própria
compreensão localizada desses fenômenos. Ele registra, de um lado, o esforço
intelectual dos praticantes da ciência e,
de outro, dos detentores de um conhecimento, tradicional, com respeito a uma
única floresta æ duas epistemologias,
por meio das quais o leitor aprende sobre a mesma floresta. Mas os autores fizeram um esforço admirável para desconstruir o divisor implícito entre compreensão intercultural e interepistemológica. Com efeito, diversos autores,
com formações intelectuais divergentes
e histórias pessoais distintas, reuniramse para compor um produto saliente,
singular, de seu conhecimento combinado sobre uma região particular da Amazônia que se destaca por uma pluralidade de critérios culturais, legais e naturais. Trata-se, de fato, e em parte por estas razões, de uma contribuição ímpar.
O livro divide-se em sete seções: introdução; descrição da região, habitantes e história recente; ciclos sazonais e
calendáricos dos povos indígenas da
área; atividades agrícolas e extrativistas, incluindo o uso do alucinógeno Banisteriopsis sp. (chamado de “cipó”)
pelos seringueiros; modelos indígenas
e tradicionais de classificação da flora
e fauna da região; dicionários de ani-
mais e plantas que combinam o saber
local e o científico; e apêndices, que incluem um glossário, um indíce e biografias sinópticas dos autores e de seus
principais consultores.
É possível evocar várias tentativas
de apresentar uma cobertura temática
— arqueológica, etnográfica, geográfica, botânica — de regiões específicas
da Amazônia, como o Alto Amazonas, o
rio Amazonas em si mesmo, o Baixo
Amazonas e o estuário, em particular a
ilha de Marajó, o Brasil Central e a bacia do rio Negro, entre outras. Trabalhos recentes sobre reservas da biosfera
e entidades similares na Amazônia não
brasileira, especialmente no Peru e no
Equador (como Manu: The Biodiversity
of Southeastern Peru; La Biodiversidad
del Sureste del Perú, organizado por
Wilson e Sandoval, 1996), realizaram
uma cobertura consideravelmente detalhada da biota e paisagens locais, enfatizando aspectos como o endemismo,
a alta diversidade de espécies e a conseqüente necessidade de conservação
dessas áreas. O Smithsonian Atlas of
the Amazon (2003) trata dos maiores
rios da bacia amazônica, incluindo o
próprio Amazonas, ao passo que a bela
monografia de Nigel Smith, Amazon
Sweet Sea (2002), situa o estuário em
um quadro de referência panorâmico.
Esses são, em geral, trabalhos analiticamente minuciosos, detalhadamente
ilustrados, sobre uma ampla gama de
fenômenos, embora pelo menos parte
da riqueza cultural e lingüística verificada em todas essas paisagens tenda a
ser encontrada apenas em volumes separados, escritos por pesquisadores
com formação etnográfica. Em contraste, a Enciclopédia da Floresta apresenta
o saber local lado a lado com o exame
sistemático e científico da história cultural e natural da bacia do alto Juruá.
Trata-se de um estudo interdisciplinar e
419
420
RESENHAS
intercultural de uma paisagem específica, da biota dessa paisagem e de seus
habitantes humanos em particular.
Minha leitura desse livro é colorida
por uma certa nostalgia. Em setembro e
outubro de 1984, como pesquisador do
New York Botanical Garden, acompanhei uma equipe de botânicos e biólogos liderados pelo Dr. David Campbell
(agora em Grinnell College, Iowa) e por
C. A. Cid Moreira, do INPA (Manaus),
ao alto rio Moa, um tributário do Juruá,
onde realizamos um inventário de três
hectares de floresta de terra firme. Foi
então que aprendi, com Campbell e os
outros participantes, as técnicas envolvidas no inventário de árvores da floresta tropical amazônica — uma experiência a que eu recorreria, anos mais tarde,
para realizar inventários similares entre
povos indígenas da Amazônia oriental e
alhures. Essa equipe de pesquisa e a
flora que descreveu acham-se mencionadas na segunda seção do livro. A Enciclopédia evoca para mim aquele tempo e lugar, especialmente em sua descrição das pessoas (índios das famílias
Katukina ou Pano, seringueiros de origem nordestina, seringalistas); a flora e
fauna são também bastante similares às
do Moa, como indicam os autores dos
capítulos sobre florística. Com certeza,
desde 1984, muitas coisas mudaram na
região do Alto Juruá, sobretudo com o
estabelecimento das reservas extrativistas e a maior articulação interétnica entre índios, seringueiros e outros. Uma
história momentosa desenvolveu-se nos
últimos quinze anos, e ela é bem captada neste volume.
Os editores chamam-lhe uma “enciclopédia”, mas a designação, se entendida em um sentido convencional,
literário, poderia ser questionada, uma
vez que o livro não arrola em ordem alfabética exaustiva itens de interesse tópico. A Enciclopédia exclui, por deci-
são editorial, bibliografias e mesmo sugestões de leitura, embora referências
ocasionais à literatura relevante possam ser encontradas, dependendo do
autor do verbete. Os editores informam
que “notas bibliográficas, exceto em
raros casos, foram suprimidas” (:30),
mas não dizem o porquê. Seria para
criar uma impressão de paridade entre
os capítulos escritos por cientistas (todos acostumados a citar referências em
trabalhos submetidos a avaliação por
pares) e aqueles compostos por seringueiros e índios, não treinados em semelhante tradição? Embora o livro contenha efetivamente um índice temático
muito útil, é difícil lê-lo tematicamente,
e captar assim sua mensagem sobre a
unidade e diversidade dos tipos de saber existentes sobre a área em questão.
O livro tem elementos de atlas, de
dicionário e, sim, de enciclopédia, todos ao mesmo tempo; também exibe
traços de um relatório coletivo de pesquisa. Parcialmente por essa razão, vejo-o como uma obra de referência única. Não é feito para ser lido de uma
vez, embora, para que se apreenda seu
ponto, deva sê-lo do início ao fim (várias vezes), e não seletivamente, aos
pedaços, como se leriam talvez os verbetes de uma enciclopédia convencional. Há um efeito cumulativo na maneira como se desdobram os capítulos
(ou “verbetes”) em cada seção. A estratégia parece ser a de apresentar o
conhecimento em termos de uma ordem baseada no tipo de autoria, começando com artigos escritos segundo tradição acadêmica ocidental, para então
passar a textos radicados em outra tradição de conhecimento, tradicional ou
indígena, mais enigmática, talvez mesmo exótica. Ironicamente, isso resulta
também em uma ordem de seções e capítulos algo evolucionista, pois os autores que abrem as descrições substanti-
RESENHAS
vas da floresta não são antropólogos,
mas especialistas em botânica, entomologia e outras ciências naturais. O livro reparte-se, assim, em duas metades
conceituais: uma divisão inicial contendo muitos materiais de ciência natural,
e uma outra contendo materiais etnobiológicos (tradicionais, indígenas ou
êmicos). As duas seções são articuladas
por meio de descrições etnográficas e
etno-históricas dos povos da região.
O livro focaliza os recursos naturais,
isto é, a biota, embora, nas seções centrais, traga também descrições significativas dos atores humanos ao longo do
tempo, alguns dos quais, aliás, estão
entre os co-autores da Enciclopédia. O
ritmo do volume pode ser percebido à
medida que avançamos na leitura, partindo dos estudos sistemáticos da flora
e fauna, das origens e da caracterização da floresta, para chegarmos aos estudos sobre os grupos indígenas da região: os Kaxinawá (de língua pano), os
Ashaninka (de língua aruak) e os Katukina (de língua isolada), e sobre os seringueiros. Os autores dessas seções etnológicas prestam uma atenção progressivamente maior às concepções
nativas e tradicionais de uma flora e
uma fauna singulares.
De fato, há muito mais questões envolvidas aqui do que a simples classificação da biota da área por sistemas ocidentais ou científicos, de um lado, e sistemas indígenas ou tradicionais, de outro. A segunda seção, por exemplo, trata da diversidade biológica do alto Juruá tal como apreendida pela botânica
e a entomologia sistemáticas, trazendo
análises detalhadas de alguns tipos de
espécies indicadoras (plantas e borboletas) observadas nos habitats específicos da região. Esta seção enfatiza a
grande diversidade e a suposta natureza prístina das florestas do alto Juruá.
Os autores desses capítulos não discu-
tem a possibilidade de que qualquer
fator humano possa ter estado envolvido na formação dessas florestas. Quanto a isso, cabe apenas lamentar que os
editores não tenham incluído nenhuma
análise arqueológica para testar tal suposição, pois é bem possível que algumas dessas florestas primárias sejam,
de fato, antigas roças indígenas.
As pranchas fotográficas coloridas
de anfíbios, borboletas, libélulas e lavadeiras, juntamente com as numerosas fotografias em preto e branco de
plantas, seres humanos e outros organismos, conferem ao livro uma grande
riqueza visual. As pranchas com as
“borboletas indicadoras de capoeira e
de floresta secundária”, ou aquelas sobre “os anfíbios”, são particularmente
encantadoras. O leitor é também brindado com soberbas aquarelas de pássaros feitas por um artista ashaninka,
Moisés Piyãko; elas mostram a vida tal
como observada em seu habitat por alguém que o conhece bem. Há ainda
numerosos outros desenhos, de peixes
e outros organismos, feitos por artistas
nativos (como as ilustrações nas páginas 543-575). Conforme implícito no título da quinta seção, “Como classificar
o mundo”, os sistemas nativos de classificação revelam-se ao mesmo tempo
práticos para seus próprios propósitos e
fundamentalmente diferentes dos esquemas da tradição científica. Como
mostra o capítulo de Laure Emperaire,
“Entre paus, palheiras e cipós”, o dialeto do português usado pelos seringueiros não contém nenhum termo singular que englobe o mundo das plantas (o “reino” vegetal). Notadamente, a
palavra “planta” refere-se apenas a
“plantas cultivadas” (:389). Eu observei uma dicotomia implícita algo semelhante entre plantas tradicionalmente
cultivadas e plantas não domesticadas,
na etnobotânica dos Ka’apor da Ama-
421
422
RESENHAS
zônia oriental, o que parece sugerir um
padrão mais generalizado na região.
Os demais membros do reino vegetal
são divididos, para os seringueiros, em
paus, pauzinhos, matos, matinhos, cipós, jitiranas, ramas, palheiras, capins
e vários outros termos e conceitos baseados, essencialmente, em traços morfológicos. Estes pareceriam corresponder ao que se refere na literatura como
“formas de vida” [life forms] e “genéricos isolados” [unaffiliated generics],
embora Emperaire evite encaixar o sistema classificatório dos seringueiros
em um esquema mais geral de biologia
folk. A classificação que Emperaire nos
revela é tanto de base utilitária quanto
de inspiração intelectualista, uma vez
que plantas que não são úteis estão incluídas e nomeadas. Talvez esse resultado possa ser generalizado para outras
sociedades da região.
O capítulo seguinte, bem mais breve, sobre a classificação animal dos seringueiros, escrito por Mauro Barbosa
de Almeida e outros, sugere uma combinação similar de uma inspiração utilitária e outra intelectualista, como se,
nas concepções tradicionais, estes pontos de partida não fossem diferentes ou
conflitivos. Os animais são subsumidos
em categorias morfológicas como “bichos de pêlo” (basicamente, mamíferos), “bichos de pena” e seres “das
águas” — nesta classificação, morfologia e habitat se sobrepõem parcialmente. As classificações zoológicas dos
Kaxinawá, Katukina e Ashaninka são
apresentadas em seguida, sugerindo
similaridades entre os sistemas. A esse
material seguem-se os dicionários, começando por um longo capítulo sobre
os “bichos de pêlo”, que lista os mamíferos pelo nome em português, da anta
ao tatu. É incluída na descrição de cada
animal uma quantidade considerável
de informações derivadas das várias
culturas envolvidas no estudo. Sucedem-se então capítulos similares sobre
os “bichos de pena” e os peixes. A
apresentação substantiva do saber local
sobre o ambiente conclui-se com capítulos separados sobre cobras, anfíbios e
abelhas sem ferrão (as meliponídeas
nativas, em contraposição às Apidae,
abelhas italianas e africanizadas). Por
fim, há um dicionário de vegetais, e o
livro se encerra com breves biografias
dos autores e daqueles que com eles
trabalharam na produção do volume.
Em minha opinião, a Enciclopédia
contém, como guia de referência completo para o alto Juruá, duas omissões
principais. Primeiro, as teorias ali apresentadas sobre a diversidade florística
da região são válidas, mas as recentes
críticas a elas foram ignoradas. Os autores que tratam do tema usam o modelo do refúgio, sem mencionar outros
modelos rivais, como a biogeografia de
vicariância e a ecologia histórica. A segunda omissão, já mencionada, referese à ausência de qualquer informação
arqueológica. Os editores não fornecem nenhuma pista de como um estudo da pré-história poderia ser útil para
a compreensão do passado na região.
Nesse livro, a história mais antiga começa com a história oral indígena, que
permanece não datada; é a chegada
dos seringueiros do Ceará e arredores,
a partir dos anos 1850, que parece
inaugurar um passado documentado
para a região.
À parte essas omissões, só posso recomendar esse importante volume como um guia tremendamente útil da
biota e população da área em pauta,
como um exemplo admirável da colaboração entre cientistas, regionais e
nativos e como uma apresentação belamente ilustrada de uma parte da floresta tropical amazônica brasileira. Ele
interessará não apenas aos amazonis-
RESENHAS
tas de várias especialidades, mas também aos antropólogos, geógrafos e ecólogos tropicais de modo geral. Está claro que ele servirá de instrumento pedagógico nas comunidades de alguns de
seus co-autores, a saber, entre os colaboradores indígenas e regionais do Alto Juruá, que poderão empregá-lo como uma referência para assegurar a
continuidade do conhecimento cultural
da população local. Todo amazonista
deveria ter um exemplar em sua estante, e as bibliotecas especializadas em
América Latina e América do Sul, em
todo o mundo, deveriam igualmente
adquirir esta Enciclopédia.
GARNELO, Luiza. 2003. Poder, hierarquia e reciprocidade: saúde e harmonia entre os Baniwa do Alto Rio Negro. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz
(Coleção Saúde dos Povos Indígenas).
257 pp.
José Antonio Kelly
CAICET (Centro de Investigación y Control
de Enfermedades Tropicales, Simón Bolívar)
A fórmula “Outros, perigosos mas necessários”, condensa, na literatura antropológica sobre a Amazônia, a necessidade sociológica dos afins e a necessidade político-ritual de outros humanos e não-humanos para a constituição
ameríndia do “local” (parentesco e comunidade). Ela subsume a natureza
ambígua da alteridade que, com sua
combinação de poder destrutivo e creativo, precisa ser cuidadosamente domesticada para que seja possível beneficiar-se de sua criatividade – reprodução simbólica e material de pessoas e
grupos – sem desencadear os perigos
do poder excessivo que conduzem à
desumanização da sociedade, reme-
tendo-a de volta ao caos pré-cultural
primordial que os personagens míticos
lograram arduamente suprimir.
O estudo de Garnelo é uma demonstração clara de que tal proposição, nascida na investigação de sociedades ameríndias em seus “contextos
tradicionais”, é não só útil como necessária para a análise do envolvimento
dos índios com o Estado. Dessa perspectiva, o livro deve ser saudado por
apresentar uma discussão detalhada da
cosmologia e organização social dos
Baniwa como ponto de partida para a
compreensão do complexo conjunto de
relações (envolvendo aviadores, missionários católicos e protestantes, instituições estatais e organizações indígenas supralocais) em que se viram historicamente enredados, oferencendo assim uma análise da etnopolítica baniwa firmemente enraizada nas teorias
amazônicas da alteridade e do poder
político æ uma adição necessária aos
estudos da etnopolítica ameríndia, os
quais, muito frequentemente, obscurecem a relevância das formas culturais e
sociais particulares que moldam as atividades e conceitos indígenas.
Talvez a principal estratégia analítica da autora seja a superposição dos
contextos baniwa e estatais, explorando os efeitos mútuos das formas sociais
e culturais baniwa e das formas estatais
ou globais umas sobre as outras. Nessa
migração de pessoas, objetos e idéias,
Garnelo põe em relevo o equilíbrio entre continuidade e mudança, bem como
as difíceis experiências dos líderes de
aldeia, de base e regionais, enquanto
mediadores que procuram articular as
lógicas divergentes oriundas dos mundos dos Baniwa e dos brancos. Reconhecendo a força histórica do colonialismo e a persistência dos valores globalizados no Rio Negro, a autora enfatiza a forte indigenização das novas prá-
423
Mana
Print ISSN 0104-9313
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
→
RESENHAS
GARNELO, Luiza. 2003. Poder, hierarquia e reciprocidade: saúde e harmonia
entre os Baniwa do Alto Rio Negro. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz (Coleção
Saúde dos Povos Indígenas). 257 pp.
José Antonio Kelly
CAICET (Centro de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales, Simón Bolívar)
A fórmula "Outros, perigosos mas necessários", condensa, na literatura antropológica
sobre a Amazônia, a necessidade sociológica dos afins e a necessidade político-ritual
de outros humanos e não-humanos para a constituição ameríndia do "local"
(parentesco e comunidade). Ela subsume a natureza ambígua da alteridade que, com
sua combinação de poder destrutivo e creativo, precisa ser cuidadosamente
domesticada para que seja possível beneficiar-se de sua criatividade – reprodução
simbólica e material de pessoas e grupos – sem desencadear os perigos do poder
excessivo que conduzem à desumanização da sociedade, remetendo-a de volta ao caos
pré-cultural primordial que os personagens míticos lograram arduamente suprimir.
O estudo de Garnelo é uma demonstração clara de que tal proposição, nascida na
investigação de sociedades ameríndias em seus "contextos tradicionais", é não só útil
como necessária para a análise do envolvimento dos índios com o Estado. Dessa
perspectiva, o livro deve ser saudado por apresentar uma discussão detalhada da
cosmologia e organização social dos Baniwa como ponto de partida para a
compreensão do complexo conjunto de relações (envolvendo aviadores, missionários
católicos e protestantes, instituições estatais e organizações indígenas supra-locais)
em que se viram historicamente enredados, oferencendo assim uma análise da
etnopolítica baniwa firmemente enraizada nas teorias amazônicas da alteridade e do
poder político e uma adição necessária aos estudos da etnopolítica ameríndia, os quais,
muito frequentemente, obscurecem a relevância das formas culturais e sociais
particulares que moldam as atividades e conceitos indígenas.
Talvez a principal estratégia analítica da autora seja a superposição dos contextos
baniwa e estatais, explorando os efeitos mútuos das formas sociais e culturais baniwa
e das formas estatais ou globais umas sobre as outras. Nessa migração de pessoas,
objetos e idéias, Garnelo põe em relevo o equilíbrio entre continuidade e mudança,
bem como as difíceis experiências dos líderes de aldeia, de base e regionais, enquanto
mediadores que procuram articular as lógicas divergentes oriundas dos mundos dos
Baniwa e dos brancos. Reconhecendo a força histórica do colonialismo e a persistência
dos valores globalizados no Rio Negro, a autora enfatiza a forte indigenização das
novas práticas e instituições. Formas sociais correntes são vistas como resultado
histórico da interação de forças internas e externas, descartando-se as imagens seja
de um Estado hegemônico esmagador, seja de uma sociedade hermeticamente
fechada. Esse tipo de análise, retratada nos escritos recentes de Sahlins sobre o
conceito de cultura, realiza uma fusão feliz entre posições gerais no debate
antropológico e uma teoria especificamente ameríndia: a mencionada pregnância do
exterior.
O livro consiste também em uma bem-vinda contribuição aos estudos de antropologia
médica na Amazônia, explorando as implicações de diferentes políticas e moralidades
(a técnico-administrativa, ou a estatal e a indígena, ou a do parentesco) presentes na
operação do sistema de saúde entre os Baniwa, chamando a atenção para questões
que ultrapassam o domínio médico (geralmente privilegiado na literatura devotada à
articulação dos sistemas médicos indígenas e ocidentais).
O trabalho de Garnelo insere-se em uma antropologia política das relações
interétnicas, com uma ênfase específica na saúde e doença — uma escolha que não é
fortuita. A representação da doença entre os Baniwa é constitutiva de relações de
poder entre gêneros e entre gerações. Trata-se de uma forma distribuída de poder
político implicada em um esforço constante para manter afastados os perigos do
comportamento descontrolado, assegurando assim a reprodução de um modo de vida
humano. A doença sempre envolve um agente oculto, um afim insatisfeito, um espírito
yoopinai, uma liderança rival invejosa. Da mesma maneira, a doença atinge aqueles
que desviam-se das normas estritas de comportamento moral e das práticas corporais
como dieta, respeito a tabus alimentares, higiene corporal — isto é, atinge sobretudo
os homens jovens, que ainda não internalizaram totalmente a moralidade (masculina)
baniwa, e as mulheres, a quem não se credita a capacidade de temperar seus
impulsos. Essas convenções baniwa também operam nos novos contextos da
etnopolítica, onde o poder político capilar baniwa (com os homens mais velhos na
posição privilegiada) se aplica aos jovens líderes inter-étnicos, regulando sua
performance perante os brancos.
O livro divide-se em três partes, expandindo progressivamente a análise das relações
em direção às esferas externas do espaço social baniwa.
A primeira parte descreve o caráter social das relações com a natureza e o panteão
espiritual. As relações com essas pessoas não-humanas, conceitualizadas
prototipicamente como afins agressivos, são responsáveis por uma série de doenças
contemporâneas, perpetuando as diferentes formas de reciprocidade negativa
existentes nos tempos míticos entre Nhiãpirikoli e seus irmãos ("nós" mítico), de um
lado, e outras espécies-povos agressivos (Outros míticos), de outro. Garnelo prossegue
descrendo o conjunto de doenças possíveis a priori, seus sintomas associados e
contextos sociais (fala ruim, morte por vingança, inveja, impulsos descontrolados etc).
Essa parte encerra-se com exemplos de narrativas de doenças e trajetórias
terapêuticas — as realidades a posteriori conectando cada evento patológico a um
conflito social. O exemplo mais notável é o de um bem sucedido líder de organização
indígena que sofre de males físicos e psicológicos constantes. Seu longo caminho
terapêutico levou-o de tratamentos fitoterápicos a rezadores e xamãs, passando pelo
posto do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) e por uma bateria de exames em
Manaus. Concluiu-se que ele fora vítima de feitiçaria manhene devido a uma série de
conflitos entre fratrias. O episódio revela como a excessiva individuação nas
organizações indígenas é contrariada por forças que negam tal diferenciação em prol
da manutenção do todo social. Essa é uma das contradições intrínsecas que o livro
desnuda entre a lógica do Estado — partilhada pelas organizações indígenas em busca
de recursos — e aquela da sociedade baniwa — à qual essas mesmas organizações
devem também conformar-se para poderem se legitimar.
A segunda e terceira parte do livro ampliam o escopo da análise para o plano da vida
inter-aldeã, e das relações com as organizações indígenas de base e regionais.
Inúmeros aspectos explorados por Garnelo revelam a continuidade das convenções
culturais e sociais baniwa tal como se articulam às convenções dos brancos, estatais
ou globalizadas, e são assim transformadas. Em termos gerais: se, no passado, os
jovens estavam na linha de frente das relações guerreiras com inimigos, dirigidas pelos
anciãos, hoje eles servem a estes últimos liderando as batalhas com papel e caneta
contra o Estado (:121). Em termos da estética da política, a convenção baniwa incide
fortemente sobre o caráter da liderança de aldeia ou nas organizações indígenas, sua
legitimidade e discurso. Por exemplo, as relações entre os líderes de aldeia e suas
comunidades são replicadas naquelas existentes entre os primeiros e os líderes de
organização indígena: ambas exibem os ideais da reciprocidade de parentesco, em
termos dos quais legitimação e apoio políticos são trocados por bens e serviços. Os
atributos ideais das lideranças das organizações são também aqueles que epitomizam
a moralidade (masculina) baniwa: auto-controle, pensamento firme, habilidade de
elevar a moral comunitária, fala persuasiva, talentos de mediação etc. Além disso,
Garnelo argumenta que a necessidade de estabelecer representantes gerais dos
Baniwa revitalizou as hierarquias inter-sib e de senioridade, pois estas tornaram-se
critérios de seleção de líderes. Os sibs tradicionalmente considerados como "cabeças",
capazes de guiar a comunidade, são mais favorecidos na constituição das diretorias
das organizações e, no interior deles, os irmãos mais velhos são os mais
frequentemente escolhidos.
O outro lado desta moeda são os múltiplos pontos em que é necessário buscar ajustar
as diferentes lógicas, baniwa e estatal. As organizações indígenas precisam, por
exemplo, equilibrar a lógica das instituições democráticas, segundo a qual todos são
iguais perante o Estado, com a lógica do parentesco, nos termos da qual os
consanguíneos esperam um tratamento preferencial. O resultado são formas políticas
ecléticas, como diretorias periodicamente eleitas mas às quais apenas os sibs
hierarquicamente superiores têm acesso.
Nessa mesma direção, Garnelo sugere que a lógica territorial, imposta pelo Estado, de
organizações indígenas supra-locais — em busca de maior influência política — tem
seus limites. Grandes organizações que atravessam divisões entre fratrias ou religiões
(católicos/protestantes), são menos coesas e efetivas que as organizações menores,
que mantêm-se no interior dessas fronteiras. Da mesma maneira, as identidades panrio-negrinas ou pan-indígenas, que circulam nas organizações regionais ou nacionais
na forma de discursos para fora, dirigidos ao Estado, não são realmente concebíveis no
plano da aldeia, onde os marcadores identitários relevantes são sibs
(consanguinidade), fratrias (afins) e povos vizinhos.
Conflitos similares entre convenções aparecem na operação do DSEI, onde os recursos
disponíveis para as atividades sanitárias são alocados segundo critérios
epidemiológicos e logísticos. Da perspectiva das aldeias, remédios, radios, combustível
e motores deveriam ser distribuídos segundo o parentesco e de acordo com a
reciprocidade devida entre líderes e seguidores. Dessa maneira, recursos sanitários
penetram a vida aldeã como capital político.
O último tema importante discutido é a história e o presente do movimento indígena
do Rio Negro. Inicialmente caracterizado pela atuação de alguns líderes carismáticos
politicamente militantes, mas com pouca penetração nas comunidades, o perfil agora é
o de múltiplas organizações indígenas menores voltadas para a geração de projetos e
compostas por líderes de perfil mais técnico-administrativo. Essas organizações
passaram de grupos de pressão a substitutos do Estado na provisão de serviços. O
acordo recente entre a FOIRN e a FUNASA é exemplar. Essa passagem da militância
política à provisão de serviços é ainda muito recente para que se possa julgar seus
resultados, mas Garnelo oferece disso uma discussão sugestiva, mostrando como o
movimento de recuo do Estado, transferindo responsabilidades ao "terceiro setor",
incluindo ONGs e organizações indígenas, coloca estas últimas na posição ambígua de
organizações simultaneamente "militantes" e "profissionais" (:194), encurraladas entre
as exigências das fontes de financiamento e as demandas dos receptores dos serviços
(as comunidades). Por outro lado, a parceria amplia a capacidade de resposta da
FOIRN às demandas que permanecem sendo seus problemas cotidianos (saúde,
educação, bens, empregos). Provê também uma oportunidade de combater o estigma
dominante da suposta incapacidade política e intelectual dos índios, subjacente a seu
status histórico de tutelados.
Encerro com alguns comentários inspirados por minha própria experiência de campo
com o sistema de saúde voltado para os Yanomami da Venezuela. Há muitas
ressonâncias entre essas duas situações onde, como diz Garnelo, a "economia do dom"
encontra a "economia da mercadoria" (:109); onde os recursos sanitários são "fatos
sociais totais" incorporados à vida indígena como parte de um projeto diferente
daquele sugerido pelos critérios da saúde pública. Desse ponto de vista, a análise de
Garnelo poderia ser enriquecida com uma inspeção mais detalhada das perspectivas e
reações dos não-Baniwa (médicos indígenas e brancos, enfermeiras, planejadores,
outros trabalhadores da saúde), e do peso dessas visões na definição das relações em
pauta. Similarmente, o foco nas relações de poder poderia ser complementado por
uma discussão mais profunda do significado, no pensamento baniwa, das relações com
os brancos e outros índios, isto é, uma discussão da geografia social nativa e de sua
relevância (ou não) na constituição das idéias de "progresso", "civilização" e "tradição",
estreitamente relacionadas às noções de identidade que podem influenciar atitudes e
valores associados com os bens e serviços dos brancos (saúde e educação em
particular). Isso posto, não posso terminar sem louvar a bem-sucedida descrição de
Garnelo da criatividade baniwa na sua articulação com a modernidade, um
engajamento com os múltiplos contextos da vida amazônica contemporânea que
poucos livros revelam.
RESENHAS
tas de várias especialidades, mas também aos antropólogos, geógrafos e ecólogos tropicais de modo geral. Está claro que ele servirá de instrumento pedagógico nas comunidades de alguns de
seus co-autores, a saber, entre os colaboradores indígenas e regionais do Alto Juruá, que poderão empregá-lo como uma referência para assegurar a
continuidade do conhecimento cultural
da população local. Todo amazonista
deveria ter um exemplar em sua estante, e as bibliotecas especializadas em
América Latina e América do Sul, em
todo o mundo, deveriam igualmente
adquirir esta Enciclopédia.
GARNELO, Luiza. 2003. Poder, hierarquia e reciprocidade: saúde e harmonia entre os Baniwa do Alto Rio Negro. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz
(Coleção Saúde dos Povos Indígenas).
257 pp.
José Antonio Kelly
CAICET (Centro de Investigación y Control
de Enfermedades Tropicales, Simón Bolívar)
A fórmula “Outros, perigosos mas necessários”, condensa, na literatura antropológica sobre a Amazônia, a necessidade sociológica dos afins e a necessidade político-ritual de outros humanos e não-humanos para a constituição
ameríndia do “local” (parentesco e comunidade). Ela subsume a natureza
ambígua da alteridade que, com sua
combinação de poder destrutivo e creativo, precisa ser cuidadosamente domesticada para que seja possível beneficiar-se de sua criatividade – reprodução simbólica e material de pessoas e
grupos – sem desencadear os perigos
do poder excessivo que conduzem à
desumanização da sociedade, reme-
tendo-a de volta ao caos pré-cultural
primordial que os personagens míticos
lograram arduamente suprimir.
O estudo de Garnelo é uma demonstração clara de que tal proposição, nascida na investigação de sociedades ameríndias em seus “contextos
tradicionais”, é não só útil como necessária para a análise do envolvimento
dos índios com o Estado. Dessa perspectiva, o livro deve ser saudado por
apresentar uma discussão detalhada da
cosmologia e organização social dos
Baniwa como ponto de partida para a
compreensão do complexo conjunto de
relações (envolvendo aviadores, missionários católicos e protestantes, instituições estatais e organizações indígenas supralocais) em que se viram historicamente enredados, oferencendo assim uma análise da etnopolítica baniwa firmemente enraizada nas teorias
amazônicas da alteridade e do poder
político æ uma adição necessária aos
estudos da etnopolítica ameríndia, os
quais, muito frequentemente, obscurecem a relevância das formas culturais e
sociais particulares que moldam as atividades e conceitos indígenas.
Talvez a principal estratégia analítica da autora seja a superposição dos
contextos baniwa e estatais, explorando os efeitos mútuos das formas sociais
e culturais baniwa e das formas estatais
ou globais umas sobre as outras. Nessa
migração de pessoas, objetos e idéias,
Garnelo põe em relevo o equilíbrio entre continuidade e mudança, bem como
as difíceis experiências dos líderes de
aldeia, de base e regionais, enquanto
mediadores que procuram articular as
lógicas divergentes oriundas dos mundos dos Baniwa e dos brancos. Reconhecendo a força histórica do colonialismo e a persistência dos valores globalizados no Rio Negro, a autora enfatiza a forte indigenização das novas prá-
423
424
RESENHAS
ticas e instituições. Formas sociais correntes são vistas como resultado histórico da interação de forças internas e externas, descartando-se as imagens seja
de um Estado hegemônico esmagador,
seja de uma sociedade hermeticamente
fechada. Esse tipo de análise, retratada
nos escritos recentes de Sahlins sobre o
conceito de cultura, realiza uma fusão
feliz entre posições gerais no debate
antropológico e uma teoria especificamente ameríndia: a mencionada pregnância do exterior.
O livro consiste também em uma
bem-vinda contribuição aos estudos de
antropologia médica na Amazônia, explorando as implicações de diferentes
políticas e moralidades (a técnico-administrativa, ou a estatal e a indígena,
ou a do parentesco) presentes na operação do sistema de saúde entre os Baniwa, chamando a atenção para questões que ultrapassam o domínio médico (geralmente privilegiado na literatura devotada à articulação dos sistemas
médicos indígenas e ocidentais).
O trabalho de Garnelo insere-se em
uma antropologia política das relações
interétnicas, com uma ênfase específica
na saúde e doença — uma escolha que
não é fortuita. A representação da
doença entre os Baniwa é constitutiva
de relações de poder entre gêneros e
entre gerações. Trata-se de uma forma
distribuída de poder político implicada
em um esforço constante para manter
afastados os perigos do comportamento
descontrolado, assegurando assim a reprodução de um modo de vida humano.
A doença sempre envolve um agente
oculto, um afim insatisfeito, um espírito
yoopinai, uma liderança rival invejosa.
Da mesma maneira, a doença atinge
aqueles que desviam-se das normas estritas de comportamento moral e das
práticas corporais como dieta, respeito
a tabus alimentares, higiene corporal —
isto é, atinge sobretudo os homens jovens, que ainda não internalizaram totalmente a moralidade (masculina) baniwa, e as mulheres, a quem não se credita a capacidade de temperar seus impulsos. Essas convenções baniwa também operam nos novos contextos da etnopolítica, onde o poder político capilar
baniwa (com os homens mais velhos na
posição privilegiada) se aplica aos jovens líderes inter-étnicos, regulando
sua performance perante os brancos.
O livro divide-se em três partes, expandindo progressivamente a análise
das relações em direção às esferas externas do espaço social baniwa.
A primeira parte descreve o caráter
social das relações com a natureza e o
panteão espiritual. As relações com essas pessoas não-humanas, conceitualizadas prototipicamente como afins
agressivos, são responsáveis por uma
série de doenças contemporâneas, perpetuando as diferentes formas de reciprocidade negativa existentes nos tempos míticos entre Nhiãpirikoli e seus irmãos (“nós” mítico), de um lado, e outras espécies-povos agressivos (Outros
míticos), de outro. Garnelo prossegue
descrendo o conjunto de doenças possíveis a priori, seus sintomas associados e
contextos sociais (fala ruim, morte por
vingança, inveja, impulsos descontrolados etc). Essa parte encerra-se com
exemplos de narrativas de doenças e
trajetórias terapêuticas — as realidades
a posteriori conectando cada evento patológico a um conflito social. O exemplo
mais notável é o de um bem sucedido
líder de organização indígena que sofre
de males físicos e psicológicos constantes. Seu longo caminho terapêutico levou-o de tratamentos fitoterápicos a rezadores e xamãs, passando pelo posto
do Distrito Sanitário Especial Indígena
(DSEI) e por uma bateria de exames em
Manaus. Concluiu-se que ele fora víti-
RESENHAS
ma de feitiçaria manhene devido a uma
série de conflitos entre fratrias. O episódio revela como a excessiva individuação nas organizações indígenas é
contrariada por forças que negam tal
diferenciação em prol da manutenção
do todo social. Essa é uma das contradições intrínsecas que o livro desnuda entre a lógica do Estado — partilhada pelas organizações indígenas em busca
de recursos — e aquela da sociedade
baniwa — à qual essas mesmas organizações devem também conformar-se
para poderem se legitimar.
A segunda e a terceira partes do livro ampliam o escopo da análise para o
plano da vida inter-aldeã, e das relações com as organizações indígenas de
base e regionais. Inúmeros aspectos
explorados por Garnelo revelam a continuidade das convenções culturais e
sociais baniwa tal como se articulam às
convenções dos brancos, estatais ou
globalizadas, e são assim transformadas. Em termos gerais: se, no passado,
os jovens estavam na linha de frente
das relações guerreiras com inimigos,
dirigidas pelos anciãos, hoje eles servem a estes últimos liderando as batalhas com papel e caneta contra o Estado (:121). Em termos da estética da política, a convenção baniwa incide fortemente sobre o caráter da liderança de
aldeia ou nas organizações indígenas,
sua legitimidade e discurso. Por exemplo, as relações entre os líderes de aldeia e suas comunidades são replicadas naquelas existentes entre os primeiros e os líderes de organização indígena: ambas exibem os ideais da reciprocidade de parentesco, em termos
dos quais legitimação e apoio políticos
são trocados por bens e serviços. Os
atributos ideais das lideranças das organizações são também aqueles que
epitomizam a moralidade (masculina)
baniwa: auto-controle, pensamento fir-
me, habilidade de elevar a moral comunitária, fala persuasiva, talentos de
mediação etc. Além disso, Garnelo argumenta que a necessidade de estabelecer representantes gerais dos Baniwa
revitalizou as hierarquias inter-sib e de
senioridade, pois estas tornaram-se critérios de seleção de líderes. Os sibs tradicionalmente considerados como “cabeças”, capazes de guiar a comunidade, são mais favorecidos na constituição das diretorias das organizações e,
no interior deles, os irmãos mais velhos
são os mais frequentemente escolhidos.
O outro lado desta moeda são os
múltiplos pontos em que é necessário
buscar ajustar as diferentes lógicas, baniwa e estatal. As organizações indígenas precisam, por exemplo, equilibrar a
lógica das instituições democráticas, segundo a qual todos são iguais perante o
Estado, com a lógica do parentesco, nos
termos da qual os consanguíneos esperam um tratamento preferencial. O resultado são formas políticas ecléticas,
como diretorias periodicamente eleitas
mas às quais apenas os sibs hierarquicamente superiores têm acesso.
Nessa mesma direção, Garnelo sugere que a lógica territorial, imposta pelo Estado, de organizações indígenas
supralocais — em busca de maior influência política — tem seus limites.
Grandes organizações que atravessam
divisões entre fratrias ou religiões (católicos/protestantes), são menos coesas e
efetivas que as organizações menores,
que mantêm-se no interior dessas fronteiras. Da mesma maneira, as identidades pan-rio-negrinas ou pan-indígenas,
que circulam nas organizações regionais ou nacionais na forma de discursos
para fora, dirigidos ao Estado, não são
realmente concebíveis no plano da aldeia, onde os marcadores identitários
relevantes são sibs (consangüinidade),
fratrias (afins) e povos vizinhos.
425
426
RESENHAS
Conflitos similares entre convenções
aparecem na operação do DSEI, onde os
recursos disponíveis para as atividades
sanitárias são alocados segundo critérios epidemiológicos e logísticos. Da
perspectiva das aldeias, remédios, radios, combustível e motores deveriam
ser distribuídos segundo o parentesco e
de acordo com a reciprocidade devida
entre líderes e seguidores. Dessa maneira, recursos sanitários penetram a vida aldeã como capital político.
O último tema importante discutido
é a história e o presente do movimento
indígena do Rio Negro. Inicialmente
caracterizado pela atuação de alguns
líderes carismáticos politicamente militantes, mas com pouca penetração nas
comunidades, o perfil agora é o de múltiplas organizações indígenas menores
voltadas para a geração de projetos e
compostas por líderes de perfil mais
técnico-administrativo. Essas organizações passaram de grupos de pressão a
substitutos do Estado na provisão de
serviços. O acordo recente entre a
FOIRN e a FUNASA é exemplar. Essa
passagem da militância política à provisão de serviços é ainda muito recente
para que se possa julgar seus resultados, mas Garnelo oferece disso uma
discussão sugestiva, mostrando como o
movimento de recuo do Estado, transferindo responsabilidades ao “terceiro
setor”, incluindo ONGs e organizações
indígenas, coloca estas últimas na posição ambígua de organizações simultaneamente “militantes” e “profissionais” (:194), encurraladas entre as exigências das fontes de financiamento e
as demandas dos receptores dos serviços (as comunidades). Por outro lado, a
parceria amplia a capacidade de resposta da FOIRN às demandas que permanecem sendo seus problemas cotidianos (saúde, educação, bens, empregos). Provê também uma oportunidade
de combater o estigma dominante da
suposta incapacidade política e intelectual dos índios, subjacente a seu status
histórico de tutelados.
Encerro com alguns comentários
inspirados por minha própria experiência de campo com o sistema de saúde
voltado para os Yanomami da Venezuela. Há muitas ressonâncias entre essas
duas situações onde, como diz Garnelo,
a “economia do dom” encontra a “economia da mercadoria” (:109); onde os
recursos sanitários são “fatos sociais totais” incorporados à vida indígena como parte de um projeto diferente daquele sugerido pelos critérios da saúde
pública. Desse ponto de vista, a análise
de Garnelo poderia ser enriquecida com
uma inspeção mais detalhada das perspectivas e reações dos não-Baniwa (médicos indígenas e brancos, enfermeiras,
planejadores, outros trabalhadores da
saúde), e do peso dessas visões na definição das relações em pauta. Similarmente, o foco nas relações de poder poderia ser complementado por uma discussão mais profunda do significado, no
pensamento baniwa, das relações com
os brancos e outros índios, isto é, uma
discussão da geografia social nativa e
de sua relevância (ou não) na constituição das idéias de “progresso”, “civilização” e “tradição”, estreitamente relacionadas às noções de identidade que
podem influenciar atitudes e valores associados com os bens e serviços dos
brancos (saúde e educação em particular). Isso posto, não posso terminar sem
louvar a bem-sucedida descrição de
Garnelo da criatividade baniwa na sua
articulação com a modernidade, um engajamento com os múltiplos contextos
da vida amazônica contemporânea que
poucos livros revelam.
Mana
Print ISSN 0104-9313
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
→
RESENHAS
KUPER, Adam. 2002. Cultura, a visão dos antropólogos. Bauru, SP: EDUSC.
Roberta Bivar C. Campos
PPGA /UFPE
A EDUSC mais uma vez oferece aos leitores de língua portuguesa uma publicação
relativamente recente no cenário internacional: Culture: the anthropologist's account.
Em português, o mais recente livro de Adam Kuper publicado no Brasil tem como título
Cultura, a visão dos antropólogos. Adam Kuper é nosso conhecido não tanto por seus
trabalhos etnográficos baseados em pesquisa de campo na África e na Jamaica, mas
por conta de seus trabalhos sobre a antropologia britânica, mais especificamente, pelo
seu livro Antropólogos e antropologia (originalmente publicado em 1973). Tal qual este
último, Cultura, a visão dos antropólogos é uma história crítica da produção
antropológica, e não dispensa ironias. Em verdade, trata-se de um desdobramento do
último capítulo do primeiro livro onde já estão colocadas suas idéias sobre o
desenvolvimento recente da antropologia a partir de 1970, quando os antropólogos,
em face do processo de descolonização, se viram forçados a repensar a natureza de
seu objeto de estudo. Se o primeiro livro é obra de sua juventude e tem por objeto de
análise a antropologia britânica, em especial os antropólogos de orientação estrutural e
cultural-funcionalista, o segundo, obra da maturidade do autor, trata da antropologia
americana, em especial de David Schneider, Clifford Geertz e Marshall Sahlins,
herdeiros intelectuais, segundo Kuper, de Talcott Parsons.
O livro está organizado em torno do desenvolvimento e usos da idéia de cultura,
particularmente na antropologia norte-americana. A primeira parte contém dois bons
capítulos dedicados à genealogia do conceito de cultura. No primeiro, passamos pelos
intelectuais franceses, alemães e ingleses, como é de praxe em toda genealogia do
conceito. O segundo, mais original, fornece-nos o desdobramento mais recente do
conceito via a tradição parsoniana que influenciou vários antropólogos. A segunda
parte, dedicada ao que Kuper chama de experimentos, elege Clifford Geertz, David
Schneider e Marshall Sahlins como os herdeiros de Talcott Parsons, e a cada um
desses teóricos dedica um capítulo (capítulos 3, 4 e 5) onde descreve suas carreiras,
idéias e contribuições no contexto intelectual e institucional em que trabalharam. Essa
parte oferece ao leitor um certo desconforto. Ao contrário dos capítulos dedicados a
Geertz e Sahlins, em que Kuper nos oferece uma análise crítica séria e por vezes até
minuciosa da trajetória intelectual desses teóricos, aquele consagrado a David
Schneider parece ter sido escrito às pressas, para dizer o mínimo. Seu conteúdo é
desrespeitoso à pessoa de David Schneider. Kuper decepciona e infelizmente não nos
oferece uma análise crítica das idéias de Schneider, mas uma biografia com
comentários psicanalíticos de profundidade questionável, fazendo sugestões sobre a
personalidade de Schneider que não vejo como possam contribuir para a compreensão
do impacto de suas idéias nos estudos sobre parentesco, que Kuper faz questão de
omitir.
A introdução e os capítulos 6 e 7 estão organicamente ligados e situam Cultura, a
visão dos antropólogos em um debate maior sobre os limites e impasses que a teoria
antropológica enfrenta na atualidade, e que tem como foco a crítica ao conceito de
"cultura". Tal crítica tem como alvo as vertentes teóricas que privilegiam a função
cognitiva, mental e representacional da cultura. Kuper, em particular, parece mais
preocupado com a banalização e vulgarização do conceito, e culpa em grande medida
os estudos culturais e o multiculturalismo por tal efeito perverso. A cultura por estar
em toda parte teria perdido seu potencial analítico e explicativo. Ao mesmo tempo, o
próprio potencial liberal que se pensa existir no conceito de cultura, em especial se
comparado ao conceito de raça, não é mais garantido, podendo o conceito, inclusive,
servir para oprimir e subjugar. A cultura tal qual a raça, por mecanismos distintos, fixa
a diferença. Kuper, na verdade, é fiel à tradição britânica, privilegiando as relações
sociais, o jogo de interesses econômicos e políticos. O forte sociologismo de Adam
Kuper o faz "jogar fora a criança (cultura) junto com a água do banho". Ao final da
leitura não temos uma simples genealogia do conceito, com suas aventuras
acadêmicas e transformações, mas um ataque consciente ao movimento pós-moderno
em favor de uma antropologia sociológica, comparativa.
RESENHAS
KUPER, Adam. 2002. Cultura, a visão
dos antropólogos. Bauru, SP: EDUSC.
Roberta Bivar C. Campos
PPGA /UFPE
A EDUSC mais uma vez oferece aos leitores de língua portuguesa uma publicação relativamente recente no cenário
internacional: Culture: the anthropologist’s account. Em português, o mais recente livro de Adam Kuper publicado
no Brasil tem como título Cultura, a visão dos antropólogos. Adam Kuper é
nosso conhecido não tanto por seus trabalhos etnográficos baseados em pesquisa de campo na África e na Jamaica,
mas por conta de seus trabalhos sobre a
antropologia britânica, mais especificamente, pelo seu livro Antropólogos e antropologia (originalmente publicado em
1973). Tal qual este último, Cultura, a visão dos antropólogos é uma história crítica da produção antropológica, e não
dispensa ironias. Em verdade, trata-se
de um desdobramento do último capítulo do primeiro livro onde já estão colocadas suas idéias sobre o desenvolvimento recente da antropologia a partir
de 1970, quando os antropólogos, em
face do processo de descolonização, se
viram forçados a repensar a natureza
de seu objeto de estudo. Se o primeiro
livro é obra de sua juventude e tem por
objeto de análise a antropologia britânica, em especial os antropólogos de
orientação estrutural e cultural-funcionalista, o segundo, obra da maturidade
do autor, trata da antropologia americana, em especial de David Schneider,
Clifford Geertz e Marshall Sahlins, herdeiros intelectuais, segundo Kuper, de
Talcott Parsons.
O livro está organizado em torno do
desenvolvimento e dos usos da idéia
de cultura, particularmente na antro-
pologia norte-americana. A primeira
parte contém dois bons capítulos dedicados à genealogia do conceito de cultura. No primeiro, passamos pelos intelectuais franceses, alemães e ingleses,
como é de praxe em toda genealogia
do conceito. O segundo, mais original,
fornece-nos o desdobramento mais recente do conceito via a tradição parsoniana que influenciou vários antropólogos. A segunda parte, dedicada ao
que Kuper chama de experimentos, elege Clifford Geertz, David Schneider e
Marshall Sahlins como os herdeiros de
Talcott Parsons, e a cada um desses teóricos dedica um capítulo (capítulos 3, 4
e 5) onde descreve suas carreiras, idéias
e contribuições no contexto intelectual
e institucional em que trabalharam. Essa parte oferece ao leitor um certo desconforto. Ao contrário dos capítulos dedicados a Geertz e Sahlins, em que Kuper nos oferece uma análise crítica séria e por vezes até minuciosa da trajetória intelectual desses teóricos, aquele
consagrado a David Schneider parece
ter sido escrito às pressas, para dizer o
mínimo. Seu conteúdo é desrespeitoso
à pessoa de David Schneider. Kuper
decepciona e infelizmente não nos oferece uma análise crítica das idéias de
Schneider, mas uma biografia com comentários psicanalíticos de profundidade questionável, fazendo sugestões
sobre a personalidade de Schneider
que não vejo como possam contribuir
para a compreensão do impacto de
suas idéias nos estudos sobre parentesco, que Kuper faz questão de omitir.
A introdução e os capítulos 6 e 7 estão organicamente ligados e situam
Cultura, a visão dos antropólogos em
um debate maior sobre os limites e impasses que a teoria antropológica enfrenta na atualidade, e que tem como
foco a crítica ao conceito de “cultura”.
Tal crítica tem como alvo as vertentes
427
428
RESENHAS
teóricas que privilegiam a função cognitiva, mental e representacional da
cultura. Kuper, em particular, parece
mais preocupado com a banalização e
vulgarização do conceito, e culpa em
grande medida os estudos culturais e o
multiculturalismo por tal efeito perverso. A cultura por estar em toda parte teria perdido seu potencial analítico e explicativo. Ao mesmo tempo, o próprio
potencial liberal que se pensa existir no
conceito de cultura, em especial se
comparado ao conceito de raça, não é
mais garantido, podendo o conceito, inclusive, servir para oprimir e subjugar.
A cultura tal qual a raça, por mecanismos distintos, fixa a diferença. Kuper,
na verdade, é fiel à tradição britânica,
privilegiando as relações sociais, o jogo
de interesses econômicos e políticos. O
forte sociologismo de Adam Kuper o
faz “jogar fora a criança (cultura) junto
com a água do banho”. Ao final da leitura não temos uma simples genealogia do conceito, com suas aventuras
acadêmicas e transformações, mas um
ataque consciente ao movimento pósmoderno em favor de uma antropologia sociológica, comparativa.
MARQUES, Ana Cláudia. 2002. Intrigas e questões: vingança de família e
tramas sociais no sertão de Pernambuco. Rio de Janeiro: Relume-Dumará.
352 pp.
Christine de Alencar Chaves
UFPR
Originalmente uma tese de doutorado
defendida no PPGAS/MN/UFRJ, o livro de Ana Cláudia Marques apresenta um tratamento inovador do fenômeno das “brigas de família” no sertão
nordestino. Contrariando a perspectiva
usual que as entende sob a ótica bipolar do conflito entre familismo e ordem
pública, como remanescente arcaico do
poder privado em face da suposta fragilidade do poder do Estado, Marques
expõe ao leitor um complexo painel
formado por fluxos de relações de diferentes ordens — familiar, política, jurídica, moral — que se sobrepõem, colaboram, opõem. Seguindo com segurança o tema épico sertanejo — e objeto clássico do nosso pensamento social
— das lutas de família, o livro oferece
uma compreensão abrangente dos
meios de produção e reprodução de um
universo social localizado que, no entanto, se articula com a sociedade nacional e a operacionalização de suas
modernas instituições.
A pesquisa realizada no sertão de
Pernambuco resultou em uma etnografia minuciosa, traçada através da intricada trama de diferentes episódios, das
sutis mas significativas variações de interpretação dos atos e motivações expostas nas narrativas, das ambigüidades expressas em intervenções inusitadas de agentes estatais e no modo de
apropriação do conflito pelos poderes
do Estado — resultante do recurso que
os próprios intervenientes locais fazem
do seu aparato jurídico-administrativo.
Assim, a autora faz uma opção inequívoca pelo deslindamento do fenômeno
das “brigas de família” por meio da lógica dos atores, o que lhe permite revelar a dinâmica de funcionamento dos
conflitos e, resultado apenas aparentemente paradoxal, iluminar as interconexões com a sociedade abrangente
permanentemente em jogo na constituição de comunidades locais.
O texto expõe as complexidades do
tema e a labilidade das categorias por
via de uma sucessão de casos paradigmáticos que, no intrincamento concreto
dos atos e significados, vão paulatina-
Mana
Print ISSN 0104-9313
Mana vol.10 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2004
→
RESENHAS
MARQUES, Ana Cláudia. 2002. Intrigas e questões: vingança de família e
tramas sociais no sertão de Pernambuco. Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 352
pp.
Christine de Alencar Chaves
UFPR
Originalmente uma tese de doutorado defendida no PPGAS/MN/UFRJ, o livro de Ana
Cláudia Marques apresenta um tratamento inovador do fenômeno das "brigas de
família" no sertão nordestino. Contrariando a perspectiva usual que as entende sob a
ótica bipolar do conflito entre familismo e ordem pública, como remanescente arcaico
do poder privado em face da suposta fragilidade do poder do Estado, Marques expõe
ao leitor um complexo painel formado por fluxos de relações de diferentes ordens —
familiar, política, jurídica, moral — que se sobrepõem, colaboram, opõem. Seguindo
com segurança o tema épico sertanejo — e objeto clássico do nosso pensamento social
— das lutas de família, o livro oferece uma compreensão abrangente dos meios de
produção e reprodução de um universo social localizado que, no entanto, se articula
com a sociedade nacional e a operacionalização de suas modernas instituições.
A pesquisa realizada no sertão de Pernambuco resultou em uma etnografia minuciosa,
traçada através da intricada trama de diferentes episódios, das sutis mas significativas
variações de interpretação dos atos e motivações expostas nas narrativas, das
ambigüidades expressas em intervenções inusitadas de agentes estatais e no modo de
apropriação do conflito pelos poderes do Estado — resultante do recurso que os
próprios intervenientes locais fazem do seu aparato jurídico-administrativo. Assim, a
autora faz uma opção inequívoca pelo deslindamento do fenômeno das "brigas de
família" por meio da lógica dos atores, o que lhe permite revelar a dinâmica de
funcionamento dos conflitos e, resultado apenas aparentemente paradoxal, iluminar as
interconexões com a sociedade abrangente permanentemente em jogo na constituição
de comunidades locais.
O texto expõe as complexidades do tema e a labilidade das categorias por via de uma
sucessão de casos paradigmáticos que, no intrincamento concreto dos atos e
significados, vão paulatinamente apresentando aspectos novos das "brigas de família".
Como não poderia deixar de ser, a etnografia é acompanhada do domínio da literatura
antropológica clássica e recente, trazida para iluminar os narrativas e os eventos com
os quais a autora apresenta o seu tema, assim como para esclarecer as opções
interpretativas com que ela vai construindo o texto. Neste aspecto, duas
particularidades merecem destaque: o rico e nuançado tratamento conferido ao
conflito como categoria analítica, chave interpretativa das "brigas de família", e o
cuidado com que, recortando-as como objeto de pesquisa, evita sua naturalização.
Trata-se de duplo resultado de um movimento único: reconhecer o conflito como
constitutivo da sociedade, em sua capacidade de gerar e desintegrar vínculos e
fronteiras sociais, permite à autora ressaltar os processos de constituição e
desarticulação de grupos, inclusive os grupos familiares. Ao enfocar diferentes
episódios de brigas de família no sertão, Marques pôde acompanhar as fissões mas
também o estabelecimento e recomposição dos nexos de solidariedade familiar,
realçando seu caráter contingente e circunstancial.
Antes de avançar nesta que é uma das contribuições fundamentais do trabalho,
convém elucidar o significado atribuído às duas categorias que intitulam o livro.
"Intrigas" e "questões" são categorias nativas até certo ponto intercambiáveis na
designação de desentendimentos acerbos que implicam na extrapolação dos limites da
agressão física, resultando em um estado de relações permanentemente tenso. Não
apenas indivíduos são implicados em tais relações antagônicas, elas mobilizam
coletividades cuja insígnia principal é representada pelo nome de família, sobreposto
pela remissão a determinado território ou localidade. Para efeito analítico, a autora
amplia, porém, pequenas diferenças de ênfase nos sentidos que as categorias nativas
portam para ressaltar aspectos ou momentos específicos desse estado de relação
conflitivo entre as coletividades envolvidas. A "questão" corresponderia à fase do
conflito em que as vinganças se sucedem, as ameaças são ativas e o antagonismo
recrudesce; a "intriga" enunciaria a relação nascida do conflito, sendo tendencialmente
eterna porquanto a "possibilidade de retaliação e da paz a alimenta".
Os dois primeiros capítulos do livro são dedicados a expor e esclarecer os traços
fundamentais de caracterização do fenômeno. Uma dessas tarefas é sem dúvida a
elucidação das condições que o propiciam e terminam por configurar uma de suas
regularidades mais surpreendentes. Para Marques, as "intrigas" e as "questões" são
meios de estabelecer distinção entre parceiros tendencialmente iguais. Segundo a
autora, uma das condições para que o conflito se efetive e perdure, enquanto questão,
é a equivalência, social e moral, dos antagonistas. A tensão entre cumplicidade e
antagonismo normalmente implicada na relação entre próximos é a ambiência na qual
as ações de vingança nas "brigas de família" surgem. Uma das muitas qualidades do
texto está em apresentá-las como um campo de forças marcado pela produção da
diferença entre iguais, da alteridade por intermédio do conflito, mostrando como nessa
luta para manter-se igual e ao mesmo tempo diferente, as próprias famílias se
constituem e reconfiguram. Por fim, as questões sertanejas inauguram uma disputa
entre iguais para estabelecer, de algum modo, uma supremacia sobre o oponente —
no limite expressa pelo desterro. Os casos exemplares trazidos pelo livro confirmam
essa constatação, sendo os capítulos organizados de modo a mostrar o crescendo de
envergadura e implicações sociais e políticas que os conflitos vão assumindo com a
elevação da escala social das famílias implicadas. Com um texto cuidadosamente
elaborado e minucioso na apresentação das múltiplas faces das "intrigas" e "questões",
o livro deixa, porém, o leitor curioso quanto às articulações entre superiores e
inferiores sociais que elas possivelmente propiciam, em um universo social de outra
parte caracterizado pela "hierarquia sem segregação".
Ao realçar os processos de fissão e recomposição dos grupos nas "brigas de família",
Marques revela como o parentesco se constitui também pelo conflito. Além do
parentesco, as questões parecem supor e dinamizar alinhamentos de diferentes
ordens, sejam elas relações de vizinhança, amizade, vínculo político e, quiçá, de
dependência. O livro mostra que elas criam solidariedades e o seu oposto. Mas
também se pode inferir dos dados apresentados que se as questões são operatórias
tanto no plano das famílias quanto do território, reconfigurando-os localmente, o
desterro que elas suscitam são um outro modo de reconstituição desse universo social
para além das fronteiras da localidade. É, por outro lado, digno de nota que, enquanto
as "brigas de família" forjam alteridades — muitas vezes expulsando-as — pela criação
de uma supremacia entre equivalentes sociais e morais, mais de uma etnografia
mostra as festividades sertanejas reforçando diferenças de status justamente por
congregarem inferiores e superiores sociais e, assim, constituírem um plano comum
que ritualiza sua igualdade ou equivalência moral.
Buscando o sentido social das brigas de família, Marques reconhece nos conflitos
disputas em torno dos "termos da relação entre as partes", que são, em última
instância, definidos por avaliação pública no interior de uma comunidade moral.
Embora não haja uma delimitação exclusiva de temas nos capítulos do livro, pode-se
dizer que no terceiro deles se delineiam os contornos dessa comunidade moral
formada por relações que se fazem e refazem no contexto de reputações em
negociação. As brigas de família colocam em jogo a força, o poder, o prestígio das
coletividades e, inextricavelmente a elas ligados, de indivíduos que se singularizam
pela "fama". O sentido dos atos, assim como a natureza e pertinência das causas que
motivam os agentes entram em confronto perante um público que acompanha,
ativamente, o desenrolar dos acontecimentos. Atuando como testemunha e árbitro, o
público participa do processo de negociação de valores ativado pelo conflito — decisões
e ações são exibidas, mediadas e pautadas pela opinião. Assim, o livro mostra como as
brigas de família são necessariamente públicas e envolvem redes sociais as mais
diversas, criando um tenso campo de negociação em que as reputações e os próprios
valores são objeto de disputa. Ao mesmo tempo que orientadores das ações e
decisões, os valores comungados são objeto de negociação. Assim, o conflito põe em
jogo a delimitação das qualidades aceitáveis e as condições em que o são; a definição
das regras de conduta e o significado dos atos. Ele coloca em negociação o significado
social da violência.
Aqui é importante observar que o reconhecimento desse estatuto constitutivo do
conflito, que (re)define atores, identidades, reputações, fronteiras e valores sociais,
assim como a identificação das múltiplas dimensões do público que ele ativa são traços
comuns a diversos trabalhos publicados na coleção Antropologia da Política. A partir de
um projeto comum que valoriza os recortes etnográficos da política, contrariando
perspectivas normatizadoras, algumas das etnografias da coleção têm revelado
elementos recorrentes que parecem atestar o estatuto próprio dos conflitos e a
natureza multifacetada do público que ele cria. Além disso, sem incorrerem em visões
reducionistas sobre equilíbrio ou ruptura, continuidade ou desagregação, próprias das
abordagens funcionalistas, elas têm apontado o conflito como instrumento
metodológico fundamental de compreensão da sociedade.
Exatamente por não isolar o conflito do campo social de que faz parte, Intrigas e
questões permite reconhecer os mecanismos pelos quais ele é condição de produção e
reprodução da sociedade. No quarto capítulo especial ênfase é dada justamente em
mostrar como as brigas de família dinamizam fluxos de relações: desarticulam
vínculos, constituem grupos — entrelaçando indivíduos ligados por consangüinidade,
casamento, vizinhança ou amizade — e atravessam fronteiras institucionais. Marques
demonstra que, apesar de a solidariedade familiar ser indispensável para a existência
do sistema de vingança, as brigas de família são importantes para a compreensão das
relações familiares elas mesmas, ou seja, dos processos de desintegração e agregação
de seus segmentos. Vemos que as insígnias representadas pelos nomes de família nem
sempre representam grupos que operam como tais nas relações sociais. Se razões de
prestígio, proximidade, adesão podem implicar a preferência por dado sobrenome, a
pertença reconhecida a certa família não necessariamente requer que se lhe envergue
verdadeiramente o nome. As entidades sociais que são as famílias sertanejas são
provisórias, ambíguas, relativas. As fronteiras grupais estão sempre em definição e as
pertenças sociais jamais são definitivas.
Como no anterior, no quinto e último capítulo a autora detém-se na descrição e análise
de brigas de grandes famílias, aqui salientando como o isolamento de domínios sociais
como o familiar e o político, o doméstico e o público perde sentido. Tais domínios são
simples resultado de
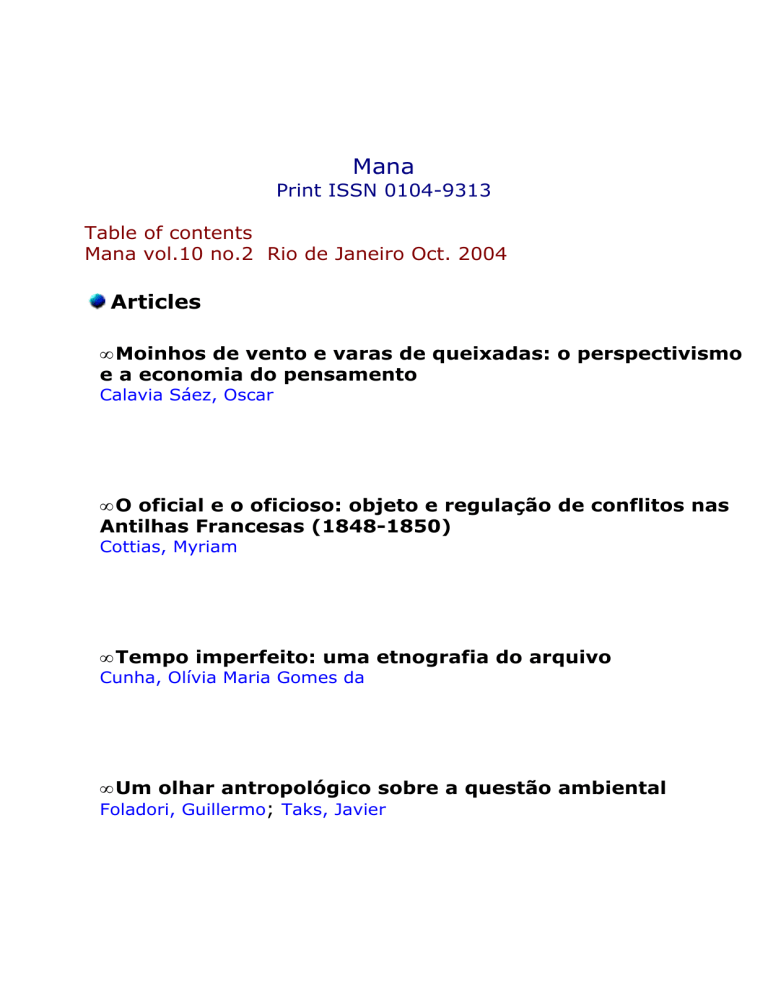




![Prova Discursiva [2ª Chamada] - Administração [para o público]](http://s1.studylibpt.com/store/data/002404746_1-5800314de091640fb66d887c62bc62e6-300x300.png)




