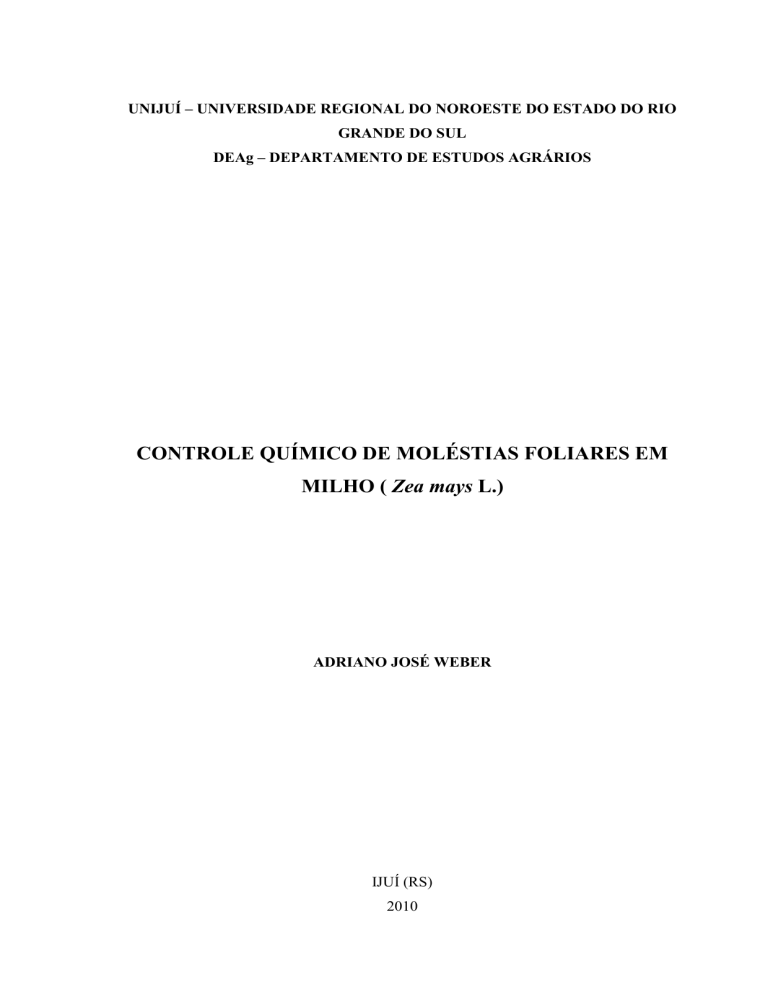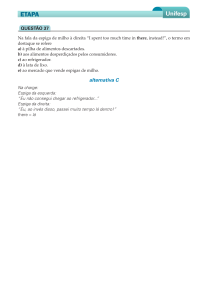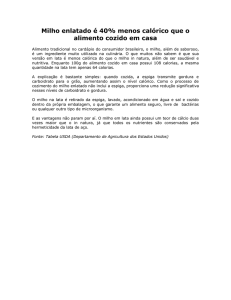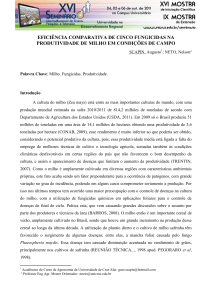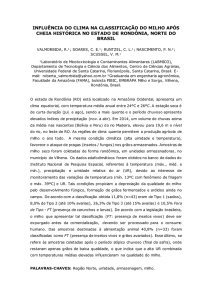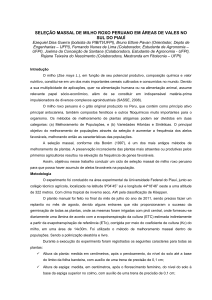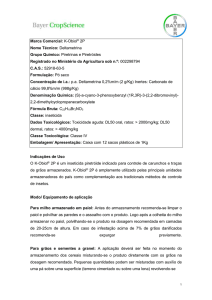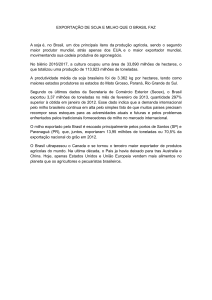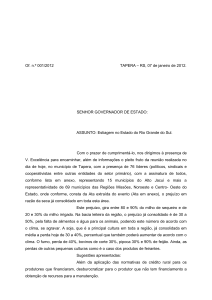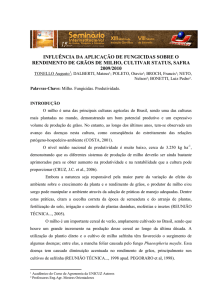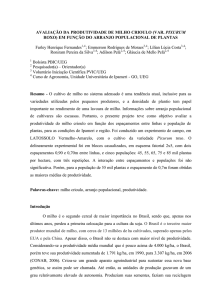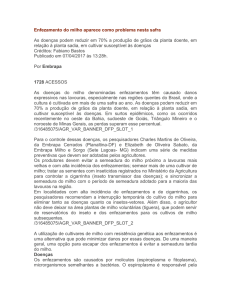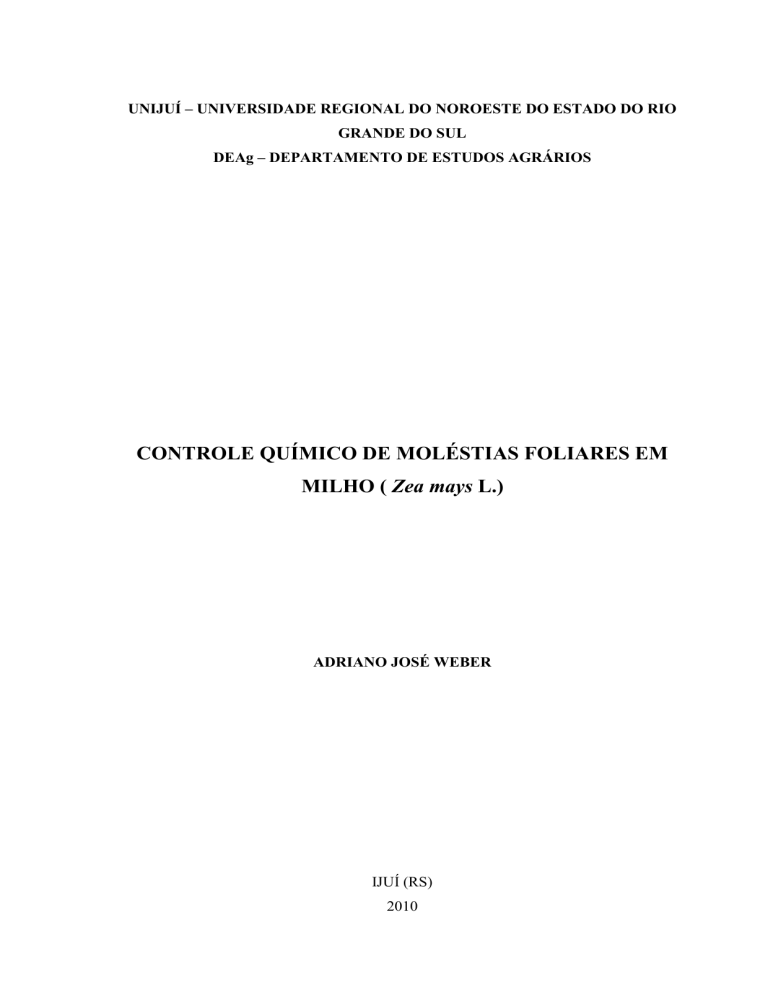
0
UNIJUÍ – UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
DEAg – DEPARTAMENTO DE ESTUDOS AGRÁRIOS
CONTROLE QUÍMICO DE MOLÉSTIAS FOLIARES EM
MILHO ( Zea mays L.)
ADRIANO JOSÉ WEBER
IJUÍ (RS)
2010
1
ADRIANO JOSÉ WEBER
CONTROLE QUÍMICO DE MOLÉSTIAS FOLIARES EM
MILHO ( Zea mays L.)
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como um dos requisitos para a obtenção do
título de Engenheiro Agrônomo, Curso de
Agronomia do Departamento de Estudos
Agrários da Universidade Regional do
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.
Orientador: Prof. MSc. Luiz Volney Mattos Viau
IJUÍ (RS)
2010
2
TERMO DE APROVAÇÃO
ADRIANO JOSÉ WEBER
CONTROLE QUÍMICO DE MOLÉSTIAS FOLIARES EM MILHO ( Zea mays L.)
Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Agronomia da Universidade Regional do
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, defendido perante a banca abaixo subscrita.
Ijuí, 03 de agosto de 2010.
______________________________________
Prof. MSc. Luiz Volney Mattos Viau
DEAg/UNIJUÍ – Orientador
______________________________________
Eng. Agr: Cesár Oneide Sartori
DEAg/UNIJUÍ
3
Dedico
a
toda
minha
família,
principalmente meus pais, José e Olinda e
minha namorada Adriane, pelo respeito,
estímulo e confiança.
4
AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente a Deus, por ter me concedido todas as oportunidades que
muitos não tiveram.
Ao Professor MSc. Luiz Volney Mattos Viau, pelas horas de atenção e excelente
orientação.
Ao Professor Dr. José Antônio Gonzalez da Silva, pelo auxílio com a análise
estatística.
Aos Colegas e amigos, Almir Vorpagel, Fabiano Martins, Emerson E. Antônio,
Eduardo Fronza, Pablo de Freitas, Maílson Batista, Diego Martins, Uilian Wünder, Rodrigo
Baldissera e Adair J. da Silva, pela auxílio na condução do experimento.
Aos Colegas Diego Matte e Eduardo Fronza, que doaram as sementes utilizadas.
Aos funcionários do IRDeR/DEAg/UNIJUI, em especial ao César O. Sartori, pela
prontidão e auxílio.
A todos aqueles que, embora não citados aqui, sabem que contribuíram em alguma
etapa de minha vida.
5
CONTROLE QUÍMICO DE MOLÉSTIAS FOLIARES EM MILHO ( Zea mays L.)
ADRIANO JOSÉ WEBER
Orientador: Prof. MSc. Luiz Volney Mattos Viau.
RESUMO
O controle químico de moléstias da parte aérea do milho foi avaliado em experimento
conduzido no Instituto Regional de Desenvolvimento Rural (IRDeR/DEAg/UNIJUI), na
localidade de Augusto Pestana - RS. Foram avaliados os fungicidas a base de Tebuconazol e
mistura Epoxiconazol + Piraclostrobina, sendo usados como genótipos reagentes os híbridos
P30F53, AG 9045 e AS 1550, em delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro
repetições, em parcelas constituídas de cinco fileiras de cinco metros de comprimento
espaçadas de 0,6 metros, numa população correspondente a 65.000 plantas por hectare. O
plantio foi realizado em 03 de outubro de 2009, de forma manual com equipamento
denominado “saraquá”. A aplicação dos fungicidas foi nos estádios fenológicos V9 e
Pendoamento (VT), usando o produto comercial Rival (1,0 L ha-1) e Opera (0,75 L ha-1),
numa vazão de 250 L ha-1, com pulverizador costal. As determinações foram das variáveis,
rendimento de grãos e componentes do rendimento, bem como da severidade de doenças. Os
resultados de produtividade não foram influenciados pelo controle químico de moléstias.
Entretanto, os fungicidas aplicados reduziram a severidade de moléstias, evidenciando
interação genótipo x fungicidas.
Palavras Chave: milho, moléstias, severidade, controle químico, fungicidas, produção de
grãos.
6
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 9
1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................... 11
1.1 A Cultura do Milho: Aspectos Gerais............................................................................11
1.2 Moléstias que Afetam o Milho ......................................................................................12
1.2.1 Moléstias Foliares ..................................................................................................13
1.2.1.1 Mancha de Feosféria ou Mancha Branca .......................................................13
1.2.1.2 Ferrugem comum ...........................................................................................14
1.2.1.3 Ferrugem polysora..........................................................................................15
1.2.1.4 Helmintosporiose Comum..............................................................................15
1.2.1.5 Cercosporiose .................................................................................................16
1.3 Métodos de Controle de Moléstias ................................................................................17
1.4 Resistência Genética de Moléstias.................................................................................18
1.5 Aplicação de Fungicidas no Controle de Moléstias.......................................................19
1.6 Perdas de Rendimento por Moléstias.............................................................................20
1.7 Controle Químico de Moléstias na Cultura do Milho: Aspectos a Serem Considerados
na Tomada de Decisão sobre Aplicação ..............................................................................21
2 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................ 23
2.1 Local, Clima e Solo .......................................................................................................23
2.2 Semeadura e Manejo do Experimento ...........................................................................24
2.3 Delineamento Experimental e Tratamentos...................................................................24
2.4 Características dos Híbridos Utilizados.........................................................................25
2.5 Características dos Fungicidas Utilizados .....................................................................26
2.6 Determinações Realizadas .............................................................................................26
2.7 Análise Estatística..........................................................................................................28
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 29
CONCLUSÕES....................................................................................................................... 39
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 40
ANEXOS ................................................................................................................................. 44
7
LISTA DE TABELAS
Tabela 01: Dados obtidos da análise de solo da área experimental. IRDeR . Augusto Pestana –
RS, 2009. ..................................................................................................................................24
Tabela 02: Características Agronômicas dos híbridos utilizados no experimento...................25
Tabela 03: Comportamento dos híbridos de milho utilizados no experimento em relação às
principais moléstias. .................................................................................................................26
Tabela 04: Fungicidas Utilizados .............................................................................................26
Tabela 05: Resumo da análise de variância, média geral e coeficiente de variação das
variáveis: Número de Plantas da Parcela Inicial (NPPI); Incidência de Moléstias (IM);
Severidade de Moléstias da Folha da Espiga (SMFE); Severidade de Moléstias Acima da
Espiga (SMAE); Severidade de Moléstias Abaixo da Espiga (SMABE) e Percentagem de
Espigas com Sintomas de Podridão (POE). .............................................................................30
Tabela 06: Resumo da análise de variância, média geral e coeficiente de variação das
variáveis: Índice de Colheita (IC); Peso de Espiga da Parcela (PEP); Número de Plantas da
Parcela Final (NPPF); Número de Espigas da Parcela (NEP); Índice de Espiga (IE); Estatura
de Plantas (EST) e Altura de Inserção da Espiga (AIE)...........................................................30
Tabela 07: Resumo da análise de variância, média geral e coeficiente de variação das
variáveis: Número de Fileiras por Espiga (NFE); Número de Grãos por Fileira (NGF); Massa
Média de Grão (MMG); Rendimento de Grãos (RG) e Rendimento de Grãos Estimado
(RGE). ......................................................................................................................................31
Tabela 08: Teste de Médias para as Variáveis, Número de Plantas da Parcela Inicial (NPPI);
Incidência de Moléstias (IM) e Percentagem de Espigas com Sintomas de Podridão (POE)..32
Tabela 09: Teste de Médias para as Variáveis, Estatura de Plantas (EST); Altura de Inserção
da Espiga (AIE) e Índice de Colheita. ......................................................................................32
Tabela 10: Teste de Médias para as Variáveis, Número de Plantas da Parcela Final (NPPF);
Número de Espigas da Parcela (NEP) e índice de Espiga (IE). ...............................................34
Tabela 11: Teste de Médias para as Variáveis, Número de Fileiras por Espiga (NFE); Número
de Grãos por Fileira (NGF) e Massa Média de Grão (MMG)..................................................34
8
Tabela 12: Teste de Médias para as Variáveis, Peso de Espigas da Parcela (PEP); Rendimento
de Grãos (RG) e Rendimento de Grãos Estimado (RGE). .......................................................36
Tabela 13: Teste de Médias para as Variáveis, Severidade de Moléstias da Folha da Espiga
(SMFE); Severidade de Moléstias Acima da Espiga (SMAE) e Severida de Moléstias Abaixo
da Espiga (SMAE)....................................................................................................................36
9
INTRODUÇÃO
O milho (Zea mays L.) é uma das culturas mais importantes à agricultura brasileira.
Insumo para a produção de múltiplos produtos. Apresenta características agronômicas
importantes, como a elevada produção de grãos e o uso desta cultura como alternativa de
rotação e sucessão de culturas.
Dentre os fatores que causam redução da produtividade de milho estão as moléstias, e
entre elas as foliares.
As moléstias foliares mais importantes podem ser descritas como sendo a mancha
foliar provocada por Phaeosphaeria maydis, as ferrugens provocadas por Puccinia sorghi,
Puccinia polysora, a helmintosporiose provocada por Exserohilum turcicum e a cercosporiose
provocada por Cercospora zea-maydis e Cercospora sorghi.
O surgimento de híbridos mais produtivos, com diferentes níveis de resistência às
moléstias, o uso inadequado de produtos, os sistemas de cultivo onde não se realiza rotações
de cultura são alguns fatores que podem estar ligados com o aumento da incidência dos
patógenos neste cereal.
Nos últimos anos, é dada grande ênfase ao uso de fungicidas para o controle das
moléstias foliares do milho, sendo esta prática anteriormente utilizada apenas em campos para
a produção de sementes e alguns cultivos especiais como o milho pipoca, provocado muitas
discussões em função da instabilidade na obtenção de resultados sobre o rendimento de grãos,
onde não há repetibilidade e sobre sua viabilidade econômica.
Barros (2007) estudou a aplicação foliar de fungicidas químicos na cultura do milho
safrinha, e observou que não houve incremento de produtividade em função da aplicação de
Piraclostrobina + Epoxiconazole e de Azoxystrobin + Ciproconazole, quando aplicados por
ocasião do pré-pendoamento da cultura do milho.
10
Entretanto, Swartz e Marchioro (2009), observaram que, o uso da mistura
Piraclostrobina + Epoxiconazole foi eficiente na redução da severidade de doenças, e o
rendimento de grãos foi significativamente maior do que a testemunha.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação dos fungicidas Tebuconazol
e a mistura de Piraclostrobina + Epoxiconazole no controle de moléstias e no rendimento de
grãos em diferentes genótipos de milho em função da instabilidade de resultados apresentados
pela literatura.
11
1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1.1 A Cultura do Milho: Aspectos Gerais
O milho tem origem mexicana e os registros da cultura datam de há 7.300 anos. Seu
nome tem origem caribenha e significa “sustento da vida”. Alimentação básica de várias
civilizações importantes ao longo dos séculos, os Olmecas, Maias, Astecas e Incas
reverenciavam o cereal na arte e religião. Grande parte de suas atividades diárias eram ligadas
ao seu cultivo, o milho já era cultivado na América há pelo menos 4.000 anos (WIKIPÉDIA,
2009).
O milho pertence à classe Liliopsida, sendo da família Poaceae, tendo como gênero
Zea e seu nome científico é Zea mays L..
Segundo Pinazza (1993) o milho é um dos principais insumos na cadeia produtiva
animal, em especial na suinocultura, avicultura e na bovinocultura de leite, estando presente
tanto na forma “in natura”, como na forma de farelo, ração ou silagem. Na alimentação
humana o milho pode ser consumido “in natura” como milho verde ou na forma de
subprodutos industrializados.
Conforme Fancelli (2000) o milho (Zea mays L.) é considerado uma das principais
espécies utilizadas no mundo, visto que anualmente são cultivados cerca de 140 milhões de
hectares, contribuindo para a produção de 610 milhões de toneladas de grãos.
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, com uma produção de 58,7
milhões de toneladas numa área de 14,7 milhões de hectares, apresentando um rendimento
médio de 3.972 kg/ha (CONAB, 2009).
A produção de milho, no Brasil tem-se caracterizado pela divisão da produção em
duas épocas de plantio. Os plantios de verão, ou primeira safra, são realizados na época
tradicional, durante o período chuvoso, que varia entre fins de agosto, na região Sul, até os
12
meses de outubro/novembro, no Sudeste e Centro-Oeste (no Nordeste, esse período ocorre no
início do ano). Mais recentemente, tem aumentado a produção obtida na safrinha, ou segunda
safra. A safrinha refere-se ao milho de sequeiro, plantado extemporaneamente, em fevereiro
ou março, quase sempre depois da soja precoce, predominantemente na região Centro-Oeste e
nos estados do Paraná e São Paulo (EMBRAPA, 2008).
Atualmente, a área plantada não é suficiente para atender as demandas do mercado
interno, gerando problemas de abastecimento para a indústria nacional. A solução para esse
problema passa pela expansão da área plantada e pelo aumento da produtividade das áreas
atualmente cultivadas.
1.2 Moléstias que Afetam o Milho
Durante a germinação a semente pode ser atacada por fungos de solo ou por aqueles
associados à semente. Como resultado pode haver o apodrecimento da semente e a morte da
plântula, com isso ocorre um estande de plantas desuniforme REIS et al., (2004). Dentre os
patógenos associados à semente o mais comum encontrado é o Fusarium verticillioides. Por
outro lado, os patógenos de solo mais comuns são os dos gêneros Fusarium, Pythium,
Rhizoctonia e Trichoderma.
Os danos causados por patógenos que parasitam o sistema radicular nas plantas de
milho podem passar despercebidos. Porém, nos casos severos, os sintomas manifestam-se nos
órgãos aéreos, como a conseqüência da interferência nos processos de absorção de água e
nutrientes. Os danos causados pelos agentes causais das podridões de semente, morte de
plântulas e podridões radiculares ainda não foram especificamente quantificados (REIS et al,
2004).
As podridões de colmo estão na maioria das vezes associadas a podridões radiculares,
à quebra do colmo com acamamento e a morte de plantas (SHURTLEFF1, 1992; REIS &
CASA2, 1996; WHITE3, 1999 apud REIS et al., 2004, p. 57).
Segundo Fernandes et al (2002), as principais podridões do colmo na cultura do milho
podem ocorrer antes do fase de enchimento dos grãos, em plantas jovens e vigorosas, ou após
a maturação fisiológica dos grãos, em plantas senescentes. As podridões do colmo geralmente
1
SHURTLEFF, M. C. Compendium of corn diseases. Americam Phytopathological Society. 1992. 105 p.
REIS, E. M. & CASA, R. T. Manual de identificação e de controle de doenças do milho. Passo Fundo. Aldeia
Norte Editora, 1996. 80 p.
3
WHITE, D. G. Compendium of corn diseases. Third Edition. The American Phytopathological Society. APS
Press. 1999. 78 p.
2
13
se iniciam pelas raízes, passando para os entrenós inferiores e, posteriormente para os
entrenós superiores ou diretamente pelo colmo, através de ferimentos. Estresses durante a fase
de enchimento de grãos predispõem as plantas às podridões.
Outro grupo de moléstias são aquelas associadas à podridões da espiga. De acordo
com Reis et al., (2004), estas podridões nas espigas ocorrem em todas as regiões onde o milho
é cultivado e como regra, os fungos agentes causais das podridões do colmo, são também
responsáveis pelas podridões da espiga.
Entre as moléstias que causam danos à cultura do milho, estão as foliares que
geralmente são causadas por fungos.
“A importância de cada uma dessas doenças é variável de ano para ano e de região
para região, mas não é possível afirmar que alguma delas seja de maior importância em
relação às demais” (Casela et al., 2006, p. 1) .
1.2.1 Moléstias Foliares
Os danos associados com as manchas foliares são decorrentes do mau
funcionamento e da destruição dos tecidos fotossintéticos, devido ao aumento do
número e da área de lesões, que podem determinar a necrose de toda a folha. A
necrose e a morte prematura das folhas limita a interceptação da radiação solar e
translocação de fotossintatos ao desenvolvimento de grãos. (REIS et al 2004, p. 20).
1.2.1.1 Mancha de Feosféria ou Mancha Branca
a) Ocorrência e importância
A mancha foliar de feosféria vem se constituindo numa das mais importantes
moléstias na cultura do milho (COSTA, 2001; REIS 2004). Atualmente, encontra-se
distribuída em todas as regiões de cultivo do país.
De acordo com Fernandes & Oliveira4 (1997) apud Costa (2001, p. 13), em genótipos
susceptíveis a mancha causada por Phaeosphaeria maydis pode reduzir a produção de grãos
em cerca de 60%.
b) Sintomatologia
As lesões, inicialmente são pequenas, cloróticas, tornando-se maiores, com até 2 cm,
são arredondadas o oblongas, com cor esbranquiçada e bordos escuros. (PEREIRA et al.,
4
FERNANDES, F.T; OLIVEIRA, E. Principais doenças na cultura do milho. Sete Lagoas : Embrapa, CNPMS,
1997. 80 p. (Embrapa. CNPMS. Circular Técnica, 26).
14
2005). As lesões são facilmente confundidas com as injurias de herbicidas do grupo químico
paraquat. (PEREIRA et al., 2005; REIS et al., 2004).
c) Etiologia
Segundo Pereira et al., (2005); Reis et al., (2004) a mancha de feosféria é causada pelo
fungo Ascomiceto Phaeosphaeria maydis. O inoculo primário provavelmente se origina dos
restos culturais, uma vez que nenhum hospedeiro secundário foi identificado até o momento.
A disseminação do patógeno ocorre pelo vento e por respingos de chuva.
1.2.1.2 Ferrugem comum
a) Ocorrência e importância
Entre as ferrugens do milho esta é a mais comum e menos severa, devido
provavelmente a ser uma moléstia antiga e disseminada no país, sua importância se dá
principalmente na região sul do país. Em cultivares susceptíveis, a severidade é elevada no
final do ciclo da cultura. (PEREIRA et al., 2005; REIS et al., 2004).
b) Sintomatologia
De acordo com Reis et al (2004), a moléstia caracteriza-se pela presença de pústulas
geralmente alongadas, de coloração marrom, principalmente nas folhas, nas duas faces, em
discretas faixas transversais.
c) Etiologia
É causada pelo fungo Puccinia sorghi. É um patógeno biotrófico, macrocíclico e
heteróico.
Os uredósporos são arredondados, binucleados, cor marrom-ferruginosa. Os
teliósporos são de cor marrom-escura, bicelulados, com leve constrição no septo. São ligados
à pedicelos, cujo comprimento é de uma a duas vezes o comprimento do teliósporo. (ALVES
& DEL PONTE 2007).
15
1.2.1.3 Ferrugem polysora
a) Ocorrência e importância
Segundo Alves & Del Ponte (2007) a ferrugem polisora é encontrada em áreas
tropicais e subtropicais onde é considerada a mais destrutiva ferrugem que ataca o milho.
Danos na produção de mais de 50% já foram relatados em híbridos suscetíveis. No Brasil, tem
maior importância na região central. A expansão da cultura para regiões historicamente não
cultivadas com milho tem aumentado sua importância. A monocultura de milho tem resultado
no aumento do inóculo para os cultivos mais tardios, tornando-se problemático.
b) Sintomatologia
As pústulas são pequenas e circulares a elípticas de coloração amarela a dourada
inicialmente observadas nas folhas baixeiras. Em fases mais avançadas da doença surgem
pústulas marrom-escuras (teliósporos). (ALVES & DEL PONTE 2007). Pode ser observada
em qualquer estádio de desenvolvimento da planta.
Pode ser confundido com a ferrugem comum, mas com uso de microscópio pode ser
identificada sem problemas.
c) Etiologia
O agente é o fungo Basidiomiceto, Puccinia polysora Underv, um parasita biotrófico.
Seus uredósporos são amarelo-dourados, com forma elipsoidal a ovóide, medindo de
20 a 29 por 29 a 40 µm, equinulados, com 4 a 5 poros equatoriais. Os teliósporos são
de coloração marrom-castanha, elipsóides ou oblongos, com duas extremidades
arredondadas. Mais de 11 raças desta patógeno já foram descritas nos últimos anos
no Brasil. (ALVES & DEL PONTE 2007).
1.2.1.4 Helmintosporiose Comum
a) Ocorrência e importância
Tem surgido em nosso país, esporadicamente em áreas aonde a temperatura e a
umidade são mais elevadas. (KAMIKOGA et al.5, 1991 apud REIS et al., 2004, p. 22).
5
KAMIKOGA, A.T.M., SALGADO, C.L. & BALMER, E. Reactions of differente populatoins of popcorn (Zea
mays) to Helminthosporium turcicum. Summa Phytopathologica 17:100-104. 1991.
16
“O prejuízo econômico causado pela doença depende da severidade e do estádio de
desenvolvimento da cultura na época da infecção. Ataque severo antes do embonecamento é
altamente danoso”. (PEREIRA et al., 2005, p. 480).
b) Sintomatologia
Segundo Aves & Del Ponte (2007), sintomas típicos nas folhas surgem inicialmente
nas folhas basais, na forma de lesões elípticas de coloração palha, 2,5 a 15 cm, com bordos
bem definidos, que se tornam escuras devido à frutificação do patógeno. Devido ao
coalescimento destas lesões, as folha adquirem um aspecto de queima.
c) Etiologia
O fungo pertence a Classe dos Deuteromicetos, e sua espécie é Exserohilum turcicum.
Os conídios são fusiformes, obclavados a fusiformes ou cilíndricos, retos ou ligeiramente
curvos, verde cinza a olivácio (REIS et al., 2004).
1.2.1.5 Cercosporiose
a) Ocorrência e importância
De acordo com Pereira et al. (2005), foi relatada no Brasil, pela primeira vez no ano de
1953. Nas safras 200 e 2001, a moléstia se manifestou com grande severidade. Desde então se
coloca como uma das mais importantes moléstias da cultura do milho.
b) Sintomatologia
Inicialmente os sintomas são observados na fase de floração, nas folhas baixeiras. O
patógeno coloniza o limbo foliar, podendo provocar extensas áreas necrotróficas. As lesões
são delimitadas pelas nervuras, de formato linear-retangular e são de coloração verde-oliva.
(PEREIRA et al., 2005).
c) Etiologia
Segundo Pereira et al. (2005), esta moléstia é causada tanto por Cercospora zeamaydis ou por Cercospora sorghi, sendo que ambas ocorrem no Brasil, porém Cercospora
zea-maydis apresenta-se como de maior importância por ser mais agressiva.
17
“Temperaturas ótimas ao desenvolvimento da doença ocorrem entre 22 e 30C°.
Longos períodos de elevada umidade relativa do ar mas sem formação de água livre na
superfície foliar favorecem a infecção”. (PEREIRA et al., 2005, p. 482).
1.3 Métodos de Controle de Moléstias
Segundo Fancelli & Dourado Neto (2000), o conjunto de medidas que objetivem a
redução do inoculo dos principais agentes causais de moléstias consiste no método preventivo
ou erradicante dos efeitos maléficos causados pela moléstia.
O método fundamentado na resistência genética é uma das formas mais eficientes e
econômicas do controle de moléstias de plantas. Entretanto devido ao grande número de raças
e as peculiaridades dos agentes causais, tornam-se restritos apenas a alguns patógenos.
(FANCELLI & DOURADO NETO 2000).
Outro método que pode ser utilizado para o controle de algumas moléstias é a prática
da rotação de culturas.
Segundo Reis et al., (2004), o principal efeito da rotação de culturas está envolvido
com a fase de sobrevivência do patógeno. Portanto, “os princípios de controle de doenças
envolvidos pela rotação de culturas baseiam-se na supressão do hospedeiro (substrato
nutricional) e no desenvolvimento da supressividade do solo”. (REIS et al., 2004).
O sistema de produção adotado interfere na incidência de moléstias na cultura, sendo
que várias são as práticas culturais que podem ser adotadas no manejo das moléstias, dentre
elas estão, a profundidade de semeadura, escolha de híbridos e épocas de plantio, manejo da
irrigação, manejo da adubação, entre outras práticas. Devido ao seu efeito no crescimento, na
morfologia e na anatomia, e também na composição química da planta, os nutrientes minerais,
ou seja, o manejo de adubação, podem aumentar ou diminuir a resistência das plantas às
pragas e às doenças. (YAMADA, 2004).
O uso de sementes sadias é sem dúvida um aspecto muito importante que devemos
levar em consideração se objetivarmos ter sucesso nas lavouras de produção.
“O tratamento de sementes de milho com fungicidas têm como objetivos controlar
e/ou erradicar fungos associados à semente, proteger a semente na germinação e/ou a plântula
contra o ataque de fungos de solo e garantir a germinação e o vigor em condições adversas de
18
semeadura” (LASCA6, 1986; PEREIRA7, 1991; CASA et al.8, 1995; REIS et al.9, 1995;
PINTO10, 1998; apud REIS et al., 2004, p. 112).
Outro método de controle de moléstias é o controle químico e, segundo Fancelli &
Dourado Neto (2000), este método deve ser implementado após a implementação das medidas
preventivas relacionadas ao patógeno e à espécie da planta. O uso integrado dos métodos de
controle apresenta os melhores resultados.
1.4 Resistência Genética de Moléstias
O método mais fácil, seguro e econômico de controle às doenças é através da
resistência varietal, a qual, quando conseguida, reduz a aplicação de outros meios de combate
que encarecem a produção. Os híbridos, em geral, apresentam grau variável no
comportamento frente a maioria das doenças, embora não existindo híbrido ou variedade
resistente a todas as doenças. (LUZ, 1999).
As diferentes bases genéticas dos híbridos atuais fazem com que existam diversos
comportamentos dos mesmos em relação ao complexo de doenças, sendo que cada
material apresenta um complexo de enfermidades peculiar. Um determinado híbrido
pode estar restrito em determinados locais ou épocas de semeadura pela sua
suscetibilidade a um ou mais patógenos. A suscetibilidade de um híbrido a uma
determinada enfermidade, aliada a um ambiente favorável, pode representar grande
potencial de dano à cultura. (SILVA & SCHIPANSKI,2007,p. 6).
A resistência dos híbridos às moléstias pode estar associada a diferentes mecanismos,
que as plantas utilizam para que os patógenos não possam causar danos a sua estrutura.
Dentre estes mecanismos podem ser citados a produção de compostos químicos, como os
metabólitos secundários; resistência física das estruturas das plantas e ao controle e morte de
células na região afetada, para que os danos não se espalhem no restante da planta.
6
LASCA, C. C. Tratamento de sementes. In: Simpósio Brasileiro de patologia de Sementes, 2, 1986, Campinas,
SP. Produção de sementes sadias; inspeção de campo e tratamento de sementes. Campinas, SP: Fundação
Cargill, 1986. P. 93-99.
7
PEREIRA, O. A. P. Tratamento de sementes de milho, no Brasil. In: Menten, J.O.M. Patógenos em sementes:
Detecção, danos e controle químico. ESALQ/FEALQ, Piracicaba, 1991. P. 271 – 299.
8
CASA, R.T., REIS, E.M., MEDEIROS, C.A. & MOURA, F.B. Efeito do tratamento de sementes de milho com
fungicidas, na proteção de fungos de solo, no Rio Grande do Sul. Fitopatologia Brasileira 20: 633-638. 1995.
9
REIS, A. C., REIS, E. M., CASA, R.T. & FORCELINI, C. A. Erradicação de fungos patogênicos associados a
sementes de milho e proteção contra Pythium sp. Presente no solo pelo tratamento com fungicidas. Fitopatologia
Brasileira 20:585-590. 1995.
10
PINTO, N. F. J. de A. Patologia de sementes de milho. Sete Lagoas: EMBRAPA- CNPMS, 1998. 44p.
(EMBRAPA-CNPMS, Circular Técnica, 29.)
19
1.5 Aplicação de Fungicidas no Controle de Moléstias
“Fungicidas são substâncias químicas de origem natural ou sintética que, aplicadas às
plantas, protegem-nas da penetração e/ou do posterior desenvolvimento de fungos
patogênicos em seus tecidos”. (REIS et al., 2007, p.13).
As aplicações de fungicidas poderão apresentar caráter, curativo, preventivo ou
erradicante.
Segundo Reis et al. (2004) o uso de fungicidas deve ser feito nas condições em que a
doença alvo do controle químico está causando perdas significativas que justifiquem o custo
de controle.
Entre os fungicidas utilizados para o controle de moléstias foliares no milho, estão os
de grupo químicos, triazóis, estrubiliurinas, bem como as misturas dos mesmos.
No tocante à resistência dos patógenos à fungicidas, vários estudos apontam que o uso
indiscriminado de princípio ativos, sem a devida rotação de fungicidas, o excesso de
aplicações e ainda o uso de subdoses dos compostos, favorecem para que os agentes
patógenos adquiram resistência a moléculas de fungicidas.
A aplicação de fungicidas no controle de algumas moléstias está restrita em função da
suscetibilidade do híbrido, e das condições de ambiente e do tipo de sistema de cultivo
predominante na lavoura ou região. (REIS et al., 2004).
Experimentos conduzidos por Pinto (1999), utilizando mancozeb sobre a mancha
foliar do milho de Phaeosphaeria maydis resultou em um aumento de 63,1% na produção de
grãos em relação à testemunha sem fungicida.
De acordo com Brandão et al. (2003), quando a ferrugem ocorre em plantas jovens, o
controle com fungicidas pode ser obtido se realizado logo no aparecimento das primeiras
pústulas. Por outro lado quando a ferrugem ocorrer no final do ciclo da cultura a perda de
produção não é significativa, sendo desnecessário o emprego de fungicidas.
Em aplicação de fungicida piraclostrobina + epoxiconazol no estádio de prépendoamento obteve-se aumento de produtividade de 23,56% em relação à testemunha sem
aplicação. (TRENTIN, 2007).
O uso da mistura de estrubilurina e triazol em relação a testemunha sem uso de
fungicidas em trabalho realizado por Campos & Trento (2007), no estado do Paraná
representou um incremento em produção variando de 122 kg ha-1 a 1800 kg ha-1, entre
diferentes híbridos testados.
20
Resultados de pesquisa, no Brasil e no exterior, têm confirmado os efeitos positivos da
aplicação de fungicidas na redução de perdas na produtividade ocasionadas pelo ataque de
doenças, porém existem ainda resultados contraditórios sobre o emprego desta tecnologia,
podendo estes resultados, ser associados aos diferentes tipos de tecnologia empregada e a
diferentes condições climáticos.
1.6 Perdas de Rendimento por Moléstias
Na região sul do Brasil merece destaque pelos danos causados e redução de
produtividade, doenças relacionadas com a germinação e estabelecimento, podridões de
colmo e espiga e doenças foliares. (REIS et al., 2004).
Em relação às moléstias foliares é destacado que as perdas são ocasionadas devido a
redução da área foliar da cultura e ao aumento do número e da área das lesões que podem
levar até a necrose de toda a folha, ocasionando assim perdas de rendimento por limitação da
capacidade de interceptação da radiação solar e translocação de fotossintatos. (REIS et al.,
2004).
De acordo com Pataky11, (1992) apud Reis et al., (2004), a folha da espiga e as folhas
imediatamente acima e abaixo da espiga podem representar 33 a 40% da área total da planta.
Reduções de radiação incidente de 50% perto do florescimento pode provocar redução de 40
– 50% no rendimento final de grãos. (REIS et al., 2004).
Segundo Fancelli12 (1988) apud Reis et al., (2004), “uma destruição de 25% da área
foliar do milho em sua porção terminal, próximo ao florescimento, pode reduzir 32% a
produção”.
De acordo com Casela et al., (2006), perdas com cercosporiose, podem chegar em até
80%, em relação às ferrugens já foram relatados danos em relação ao rendimento de atá 44%.
Em relação a helmintosporiose, foram relatadas no Brasil perdas em até 50%.
11
PATAKY, J. K. Relationships between yield of sweet corn and northern leaf blight caused by Exserohilum
turcicum. Phytopathology 53: 1100-375. 1992.
12
FANCELLI, A. L. Influência do desfolhamento no desempenho de plantas e de sementes de milho (Zea mays
L.). Piarcicaba. ESALQ/USP. 172p. 1988 (TESE DE DOUTOURADO).
21
1.7 Controle Químico de Moléstias na Cultura do Milho: Aspectos a Serem
Considerados na Tomada de Decisão sobre Aplicação
Dentre os fatores que têm contribuído para a baixa produtividade da cultura do milho
no Brasil, as moléstias são consideradas, atualmente, um dos mais importantes (PEREIRA et
al., 2005).
Tradicionalmente, o manejo de moléstias do milho era realizado através da resistência
genética associada aos manejos culturais. Entretanto, nos últimos anos, principalmente a partir
de 2000, grande ênfase tem sido dada ao controle de doenças através da aplicação de
fungicidas. Sendo que esta prática estava restrita a campos de produção de sementes e de
milho doce, porém nos últimos anos tem-se observado um aumento do uso de fungicidas em
lavouras comerciais de grãos. (COSTA & COTA, 2009).
Há muitos relatos de produtores, cooperativas e pesquisadores que tem confirmado
que o uso de fungicidas contribui para a redução de perdas causadas pelas moléstias no milho.
Entretanto, outro aspecto de extrema importância a ser considerado é a significativa
instabilidade na obtenção dos aumentos de produtividade pela utilização de fungicidas, ou
seja, não havendo repetibilidade de resultados quando alguns fatores de produção são
alterados, levantando assim dúvidas sobre a real necessidade de emprego desta tecnologia.
(COSTA & COTA, 2009).
De acordo com Costa & Cota (2009), alguns fatores devem ser observados no
processo de tomada de decisão sobre a aplicação de fungicidas para o controle de moléstias no
milho. Sendo eles:
Histórico de doenças em nível regional e da propriedade, sendo que o histórico de
doenças é a base para todo sistema de manejo integrado das mesmas, podendo assim saber o
potencial das perdas de produção, melhor uso da cultivar e para a definição de todo o conjunto
de estratégias que serão adotadas para o manejo de moléstias.
Aplicação de fungicidas x resistência genética dos cultivares, pois, não se recomenda
a aplicação de fungicidas para cultivares que apresentam resistência às moléstias
predominantes na região.
Aplicação de fungicidas x produtividade: o uso de fungicidas não aumenta a
produtividade, apenas contribui para que não ocorram perdas de rendimento ocasionadas
pelas moléstias, sendo que o componente de rendimento afetado pelas moléstias foliares após
o pendoamento é o peso de grãos.
22
Aplicação de fungicidas x ocorrência de moléstias: para garantir uma maior eficiência
das aplicações, é fundamental a realização do monitoramento da lavoura na fase de prépendoamento, antes da aplicação do fungicida.
Época de aplicação de fungicidas na cultura do milho: a época ideal para a realização
das aplicações de fungicidas na cultura do milho depende de um monitoramento da lavoura,
que deve ser iniciado ainda na fase vegetativa.
Disponibilidade de equipamentos para pulverização: outro fator limitante em
aplicações em estádios mais avançados da cultura é a altura do equipamento de aplicação,
sendo que o uso de aeronaves tem sido empregado com freqüência.
O uso de fungicidas em lavouras comerciais deve estar embasado por critérios
técnicos, visando a se obter uma maior eficiência no controle de moléstias e menores efeitos
prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. (COSTA & COTA, 2009).
23
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Local, Clima e Solo
O experimento foi conduzido no Instituto Regional de Desenvolvimento Rural
(IRDeR), pertencente ao Departamento de Estudos Agrários (DEAg) da Universidade
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), no ano agrícola de 20092010. Localizado no município de Augusto Pestana (RS), o qual possui posição geográfica
28° 26’ 30 26” de latitude a sul e 54° 00' 58' 31 de longitude W apresentando altitude
aproximada de 280 m.
O clima da região, segundo a classificação de Köppen é cfa, subtropical úmido, com
verão quente sem estiagem típica e prolongada, com uma média anual de precipitação
pluviométrica equivalente a 1600 mm.
O solo pertence à unidade de mapeamento Santo Ângelo e é classificado como um
Latossolo Vermelho Distroférico Típico originário do basalto da formação da Serra Geral,
caracteriza-se por apresentar perfil profundo de coloração vermelha escura, textura argilosa
com predominância de argila tipo 1:1 e óxi-hidróxidos de ferro e alumínio.
A área onde o experimento foi conduzido apresenta um sistema de semeadura direta
na palha consolidado a cinco anos. O solo apresenta boa estrutura e drenagem, sendo a cultura
antecessora a aveia preta, que foi utilizada para silagem.
A fertilidade do solo foi verificada por meio de análise química, realizada no
Laboratório de Análise de Solo da UNIJUI. Na Tabela 01 são visualizados os dados referentes
à análise dos parâmetros químicos do solo.
24
Tabela 01: Dados obtidos da análise de solo da área experimental. IRDeR . Augusto Pestana –
RS, 2009.
AMOSTRA Argila (%)
pH
Índice SMP
P
K
(mg/dm³)
1
57
6,1
6,3
26,8
136
Matéria
Alumínio
Ca
Mg
H+Al
CTCpH 7,0
Orgânica
(%)
(cmolc/dm3)
2,5
0,0
7,5
2,8
3,1
13,7
Sat. CTCPh Sat CTCefetiva
Cu
Zn
Mn
S
Na
CTCefetiva
por alumínio
7,0 por bases
cmolc/dm3
(%)
mg/dm³
10,6
77,5
0,0
6,7
1,4
9,3
0,5
NR
2.2 Semeadura e Manejo do Experimento
A área experimental foi dessecada, sendo realizado cerca de 20 dias antes da
semeadura, com a aplicação do herbicida glifosato 480 g/l na dose de 2 litros ha-1.
As sementes foram tratadas com o inseticida comercial Furazin® 310 FS de princípio
ativo carbofurano 31%, para o controle das pragas de solo do milho.
A parcela experimental foi constituída de 5 fileiras de 5 metros de comprimento, com
espaçamento entre linhas de 0,6 m, sendo considerada parcela útil as 3 fileiras centrais.
Os sulcos para plantio, bem como a adubação foram feitas com plantadeira mecânica,
sendo realizada um dia antes do plantio. A semeadura foi realizada no dia 03 de outubro de
2009, sendo feita manualmente, com uso de saraquá, utilizando-se 3 sementes a cada 24
centímetros lineares, sendo que após as plantas terem 10 cm de estatura foi realizado o raleio
para obter uma planta por cova.
A adubação foi realizada com a fórmula 5-20-20, na dose de 450 kg ha-1 no momento
do plantio, e complementada com 300 kg ha-1 de nitrogênio na forma de uréia, realizada em
duas aplicações, no estádio fenológico V4 e V7, nos dias 07/11/2009 e 21/11/2009.
Foi realizado controle químico da lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), no dia
09/11/2009, com aplicação do inseticida comercial Lannate® BR (Metomil - 215 g/L).
O controle de plantas invasoras foi realizado com capina manual.
2.3 Delineamento Experimental e Tratamentos
O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com quatro repetições. Os
tratamentos são os seguintes:
25
T1: cultivar P30F53 – testemunha;
T2: cultivar P30F53 – com fungicida Tebuconazole (RIVAL - 1,0 L p.c. ha-1);
T3: cultivar P30F53 – com fungicida Epoxiconazol + Piraclostrobina (OPERA – 0,75
L p.c. ha-1);
T4: cultivar AG 9045 – testemunha;
T5: cultivar AG 9045 - com fungicida Tebuconazole (RIVAL - 1,0 L p.c. ha-1);
T6: cultivar AG 9045 - com fungicida Epoxiconazol + Piraclostrobina (OPERA – 0,75
L p.c. ha-1);
T7: cultivar AS1550 - testemunha;
T8: cultivar AS1550 – com fungicida Tebuconazole (RIVAL - 1,0 L p.c. ha-1);
T9: cultivar AS1550 – com fungicida Epoxiconazol + Piraclostrobina (OPERA – 0,75
L p.c. ha-1).
A aplicação dos fungicidas ocorreu em duas épocas, a primeira no estádio fenológico
(V9) e a segunda no Pendoamento nos dias 03/12/09 e 22/12/2009, respectivamente. As
aplicações foram feitas com uso de pulverizador costal manual, com três bicos do tipo leque
110º-SF-01, com uma vazão de 250 L ha-1. As aplicações foram realizadas por volta das 9
horas da manhã, sendo que no momento apresentava umidade relativa do ar (URA) em torno
de 85% e as temperaturas eram amenas, em torno de 20 – 25 ºC.
2.4 Características dos Híbridos Utilizados
Tabela 02: Características Agronômicas dos híbridos utilizados no experimento.
Cultivar
P30F53
AG9045
AS1550
Simples
Simples
Simples
Tipo
Precoce
Super precoce
Super precoce
Ciclo
Normal
Cedo – Normal
Normal
Época de Plantio
Alaranjado
Amarelo alaranjado
Avermelhado
Cor do grão
65 – 70 mil
60 – 65 mil
Densidade (Plantas/ha) 55 – 72 mil
Semiduro
Semidentado
Semi duro
Textura do grão
Resistência
Baixa
Alta
Alta
Acamamento
Alto
Alto
Alto
Nível Tecnologia
SUL, SE, CO e
BA, TO, PI,
MA, PE, AL,CE, MS,DF,GO,MG,SP,PR,RS,SC Sul
Região de adaptação
SE, PA, RO, RR,
AC
Pioneer
(DU PONT DO Sementes Agroceres
Agroeste
Empresa
BRASIL S.A)
Fonte: Adaptado Cruz e Pereira Filho (Embrapa Milho e Sorgo - 2009).
26
Tabela 03: Comportamento dos híbridos de milho utilizados no experimento em relação às
principais moléstias.
Moléstia/Cultivar
P30F53
AG9045
AS1550
S
T
Fusariose
MS
AT
MS
P. sorghi
MS
SI
Physopella zeae
S
T
S
P. polysora
MS
T
T
Phaeosphaeria
S
SI
Enfezamento
MR
AT
MT
H. turcicum
MS
MT
H. maydis
MS
BT
MT
Cercospora
MR
T
T
Doenças colmo
Sanidade
grãos
MR
T
T
(POE)
Legenda: AT - Altamente tolerante; T – Tolerante; MT - Medianamente tolerante; BT - Baixa tolerância;
MR - Medianamente resistente; MS - Medianamente suceptível; S - Suceptível; SI - Sem informação; POE
– Podridão de Espiga.
Fonte: Adaptado Cruz e Pereira Filho (Embrapa Milho e Sorgo - 2009).
2.5 Características dos Fungicidas Utilizados
Tabela 04: Fungicidas Utilizados
Fungicida
Opera
EPOXICONAZOL - 50 g/L
(5,0%
m/v)
+
Príncipio Ativo
PIRACLOSTROBINA - 133
g/L (13,3% m/v)
Triazol + estrobilurina
Grupo Químico
Suspo/ Emulsão
Formulação
II - Altamente Tóxico
Classe Toxicológica
Fonte: BASF The Chemical Company e AGRIPEC (2009).
Rival
TEBUCONAZOLE –
g/Lt (20 m/v)
200
Triazol
Concentrado Emulsionável
III – Medianamente Tóxico
2.6 Determinações Realizadas
Foram analisadas dezoito características entre os diferentes tratamentos adotados no
experimento, sendo as seguintes:
•
NPPI: Número de Plantas por Parcela Inicial. Determinada pela contagem de
plantas antes da aplicação dos fungicidas.
•
IM: Incidência de Moléstias (%). Leitura realizada em V9, no momento da
primeira aplicação de fungicida.
•
SMFE: Severidade de Moléstias na Folha da Espiga. Notas de um a dez,
sendo: 1 = 0 – 10%; 2 = 11 – 20%; 3 = 21 – 30%; 4 = 31 – 40 %; 5 = 41 – 50%; 6 = 51 –
27
60%; 7 = 61 – 70%; 8 = 71 – 80%; 9 = 81 – 90% e 10 = 91 – 100%. Realizada na maturação
fisiológica, no dia 01/02/2009.
•
SMAE: Severidade de Moléstias Acima da Espiga. Leitura da intensidade de
moléstias nas folhas acima da espiga, utilizando a escala de notas de um a dez, sendo: 1 = 0 –
10%; 2 = 11 – 20%; 3 = 21 – 30%; 4 = 31 – 40 %; 5 = 41 – 50%; 6 = 51 – 60%; 7 = 61 –
70%; 8 = 71 – 80%; 9 = 81 – 90% e 10 = 91 – 100%. Realizada na maturação fisiológica do
grão, no dia 01/02/2009.
•
SMABE: Severidade de Moléstias Abaixo da Espiga. Leitura da intensidade
de moléstias na parte basal tendo como limite a espiga, utilizando a escala de notas de um a
dez, sendo: 1 = 0 – 10%; 2 = 11 – 20%; 3 = 21 – 30%; 4 = 31 – 40 %; 5 = 41 – 50%; 6 = 51 –
60%; 7 = 61 – 70%; 8 = 71 – 80%; 9 = 81 – 90% e 10 = 91 – 100%. Realizada no estádio
fenológico de maturação fisiológica, no dia 01/02/2009.
•
IC: Índice de Colheita, (%). Determinado em percentagem pela relação entre
a produção de grãos e o rendimento biológico aparente.
IC % = Produção de Grãos x 100
RBA
Sendo, RBA = Peso da planta inteira.
•
PEP: Peso de Espiga da Parcela: Peso total das espigas (kg), sem palha, da
parcela colhida.
•
NPPF: Número de Plantas da Parcela Final: Determinação do número final de
plantas da área útil de cada parcela, realizada no momento da colheita.
•
NEP: Número de Espigas da Parcela. Determinada pela contagem final do
número de espigas em cada parcela.
•
IE: Índice de Espiga. Obtido pela relação entre número de plantas e de
espigas.
•
POE: Percentagem de Espigas com Sintomas de Podridão.
•
EST: Estatura de Plantas. Determinada pela medição (m) entre a base da
planta até o início do pendão. Determinada em três plantas.
•
AIE: Altura de Inserção da Espiga: Determinada pela medição(m) entre a
base da planta até a inserção da espiga em três plantas em cada parcela.
•
NFE: Número de Fileiras por Espiga: Determinado pela contagem do número
de fileira de grãos em cada espiga, considerando uma amostra de cinco espigas.
28
•
NGF: Número de Grãos por Fileira. Determinada por contagem do número de
grãos por fileira em cinco plantas por parcela.
•
MMG: Massa Média de Grãos. Determinação da massa de 1000 grãos e
considerado a massa de um grão.
•
RG: Rendimento de Grãos. Obtido pela pesagem dos grãos (kg) em cada
tratamento, corrigido para 13% de umidade e transformado em kg ha-1.
•
RGE: Rendimento de Grãos Estimado. Rendimento de grãos estimado para
uma população de 65.000 plantas por hectare considerando o número de plantas da parcela e o
rendimento de grãos da parcela.
2.7 Análise Estatística
Os dados foram submetidos à analise de variância para determinar o efeito dos
tratamentos empregados. O teste F foi empregado para determinar a significância entre os
tratamentos ao nível de 5% de probabilidade. As diferenças entre médias foram identificadas
pelo Teste de Tukey a 5% de significância.
29
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos pela análise de variância, através do quadrado médio permitiram
verificar que houve variação para os caracteres estudados. Para genótipos, houve diferença
significativa ao nível de 5% de probabilidade para as variáveis, Severidade de Moléstias na
Folha da Espiga (SMFE); Severidade de Moléstias Acima da Espiga (SMAE); Severidade de
Moléstias Abaixo da Espiga (SMABE); Podridão de Espiga (POE); Índice de Colheita (IC);
Peso de Espiga da Parcela (PEP); Número de Espiga da Parcela (NEP); Índice de Espiga (IE);
Estatura de Planta (EST); Altura de Inserção de Espiga (AIE); Número de Fileiras por Espiga
(NFE) e Massa Média de Grão (MMG). Por outro lado, as variáveis, Número de Plantas da
Parcela Inicial (NPPI); Incidência de Moléstias (IM); Número de Plantas por Parcela Final
(NPPF); Número de Grãos por Fileira (NGF); Rendimento de Grãos (RG) e Rendimento de
Grãos Estimado (RGE) não apresentaram variação estatisticamente significativa. (Tabelas 05,
06 e 07).
Entre fungicidas houve diferença significativa para, Severidade de Moléstias na Folha
da Espiga (SMFE); Severidade de Moléstias Acima da Espiga (SMAE) e Severidade de
Moléstias Abaixo da Espiga (SMABE). Entretanto, não houve diferença significativa para as
variáveis, Número de Plantas da Parcela Inicial (NPPI); Incidência de Moléstias (IM);
Podridão de Espiga (POE); Índice de Colheita (IC); Peso de Espiga da Parcela (PEP); Número
de Plantas por Parcela Final (NPPF); Número de Espigas da Parcela (NEP); Índice de Espiga
(IE); Estatura de Planta (EST); Altura de Inserção de Espiga (AIE); Número de Fileiras por
Espiga (NFE); Número de Grãos por Fileira (NGF); Massa Média de Grão (MMG);
Rendimento de Grãos (RG) e Rendimento de Grãos Estimado (RGE). (Tabelas 05, 06 e 07).
Considerando a interação entre genótipos e fungicidas o quadrado médio indicou
variação para as características, Severidade de Moléstias na Folha da Espiga (SMFE);
Severidade de Moléstias Acima da Espiga (SMAE) e Severidade de Moléstias Abaixo da
30
Espiga (SMABE), não evidenciando diferenças para Número de Plantas da Parcela Inicial
(NPPI); Incidência de Moléstias (IM); Podridão de Espiga (POE); Índice de Colheita (IC);
Peso de Espiga da Parcela (PEP); Número de Plantas por Parcela Final (NPPF); Número de
Espigas da Parcela (NEP); Índice de Espiga (IE); Estatura de Planta (EST); Altura de Inserção
de Espiga (AIE); Número de Fileiras por Espiga (NFE); Número de Grãos por Fileira (NGF);
Massa Média de Grão (MMG); Rendimento de Grãos (RG) e Rendimento de Grãos Estimado
(RGE) ao nível de 5% de significância, conforme evidenciado nas Tabelas 05, 06 e 07.
Tabela 05: Resumo da análise de variância, média geral e coeficiente de variação das
variáveis: Número de Plantas da Parcela Inicial (NPPI); Incidência de Moléstias (IM);
Severidade de Moléstias da Folha da Espiga (SMFE); Severidade de Moléstias Acima da
Espiga (SMAE); Severidade de Moléstias Abaixo da Espiga (SMABE) e Percentagem de
Espigas com Sintomas de Podridão (POE).
QM
Fonte de Variação
GL NPPI
IM
SMFE SMAE SMABE POE
ns
ns
52,02
24,25* 5,06*
28,80*
1330,58*
2
9,69
Genótipo
ns
ns
2
13,03
50,38
14,26* 6,97*
8,15*
66,08 ns
Fungicida
4
5,44 ns
88,24 ns 3,43*
1,35*
2,51*
5,79 ns
Genótipo*Fungicida
3
6,10 ns
430,28* 1,57 ns 0,34 ns 2,80 ns
20,07 ns
Bloco
24 6,98
59,11
1,84
0,43
1,85
34,80
Erro
35 Total
53,97
42,34
3,82
2,64
5,16
25,00
Média Geral
4,89
18,16
36,01
24,78
26,39
23,60
CV%
* = Significativo a 5% de probabilidade de erro;
ns = não significativo a 5% de probabilidade de erro.
Tabela 06: Resumo da análise de variância, média geral e coeficiente de variação das
variáveis: Índice de Colheita (IC); Peso de Espiga da Parcela (PEP); Número de Plantas da
Parcela Final (NPPF); Número de Espigas da Parcela (NEP); Índice de Espiga (IE); Estatura
de Plantas (EST) e Altura de Inserção da Espiga (AIE).
QM
Fonte de Variação
GL
2
Genótipo
2
Fungicida
Genótipo*Fungicida 4
3
Bloco
24
Erro
35
Total
Média Geral
CV%
-
IC
263,91*
7,56 ns
10,00 ns
2,82 ns
4,73
PEP
7,22*
0,53 ns
0,20 ns
1,02 ns
0,56
NPPF
18,86 ns
6,78 ns
2,36 ns
1,21 ns
6,28
NEP
103,69*
0,36 ns
6,24 ns
4,07 ns
11,68
IE
0,6454*
0,0022 ns
0,0017 ns
0,0007 ns
0,0015
EST
0,2322*
0,0009 ns
0,0043 ns
0,0019 ns
0,0038
AIE
0,1670*
0,0002 ns
0,0068 ns
0,0022 ns
0,0035
-
-
-
-
-
-
-
48,38
4,50
11,93 52,97
6,29 4,73
53,11
6,43
1,0036
3,8751
1,7675
3,4972
0,9556
6,2041
* = Significativo a 5% de probabilidade de erro;
ns = não significativo a 5% de probabilidade de erro.
31
Tabela 07: Resumo da análise de variância, média geral e coeficiente de variação das
variáveis: Número de Fileiras por Espiga (NFE); Número de Grãos por Fileira (NGF); Massa
Média de Grão (MMG); Rendimento de Grãos (RG) e Rendimento de Grãos Estimado
(RGE).
QM
Fonte de Variação GL
NFE
NGF
MMG
RG
RGE
ns
ns
2
33,01* 13,69
0,0091* 1406674,5
421705,447 ns
Genótipo
508316,548 ns
2
0,09 ns 4,56 ns 0,0002 ns 144867,9 ns
Fungicida
0,73 ns 0,25 ns 0,0001 ns 243331,9 ns
84208,786 ns
Genótipo*Fungicida 4
3
0,12 ns 1,50 ns 0,0006 ns 1367424,5 ns 625577,715*
Bloco
24
0,28
2,95
0,0003
486155,8
204221,842
Erro
35
Total
15,20
35,92
0,3307
10691,4
11859,470
Média Geral
3,47
4,78
4,9032
6,5
3,811
CV%
* = Significativo a 5% de probabilidade de erro;
ns = não significativo a 5% de probabilidade de erro.
De acordo com o teste de médias de tratamentos, não houve diferença tanto para
genótipos como para fungicida para os caracteres NPPI, IM, NPPF, NGF, RG e RGE.
(Tabelas 08, 10, 11 e 12)
A avaliação da incidência de POE coloca o híbrido P30F53 como o mais susceptível
em relação aos demais. Percebe-se também não haver efeito do tratamento químico sobre esta
variável. (Tabela 08).
Para a variável EST não houve diferença estatística entre os tratamentos com
fungicidas, sendo que, o genótipo AS 1550 apresentou a menor estatura de plantas quando
comparado com os híbridos P30F53 e AG 9045. (Tabela 09).
A aplicação de fungicida não influiu na AIE, por outro lado a menor AIE foi
observada no genótipo AS 1550 e as maiores médias para o referido caráter nos híbridos
P30F53 e AG 9045. Os dados evidenciam haver uma correlação entre EST e AIE. (Tabela
09).
Em relação ao caráter IC, se verificou que o tratamento com fungicida não ocasionou
diferenças estatísticas. O híbrido P30F53 foi o que apresentou menor IC em relação aos
demais genótipos. (Tabela 09).
Tabela 08: Teste de Médias para as Variáveis, Número de Plantas da Parcela Inicial (NPPI); Incidência de Moléstias (IM) e
Percentagem de Espigas com Sintomas de Podridão (POE).
NPPI
IM
POE
GEN
ÓTIP
RIVAL
OPERA
RIVAL
OPERA
RIVAL
OPERA
TEST
TEST
TEST
O
P30F5
54,5 aA
55,3 aA
55,3 aA
42,8 aA
41,5 aA
38,1 aA
37,3 aA
37,0 aA
34,3 aA
3
AG
53,0 aA
54,5 aA
53,3 aA
39,9 aA
39,9 aA
44,9 aA
24,8 abA 23,3 bA
21,8 abA
9045
AS
53,0 aA
55,8 aA
51,3 aA
49,5 aA
47,3 aA
37,3 aA
18,0 bA
16,5 bA
11,3 bA
1550
Médias seguidas por letras distintas maiúsculas na linha e minúsculas, na coluna não diferem entre si a 5% de significância
pelo teste de Tukey.
Tabela 09: Teste de Médias para as Variáveis, Estatura de Plantas (EST); Altura de Inserção da Espiga (AIE) e Índice de
Colheita.
EST
IC
OPERA
TEST
RIVAL
OPERA
TEST
RIVAL
OPERA
1,84 aA
1,06 aA
1,07 aA
1,02 aA
43,6 bA
41,9 cA
44,2 bA
1,84 aA
1,00 aA
0,95 bA
1,03 aA
53,5 aA
53,8 aA
49,9 aA
1,59 bA
0,82 bA
0,85 bA
0,80 bA
50,6 aA
49,2 bA
48,7 aA
maiúsculas na linha e minúsculas, na coluna não diferem entre si a 5% de significância
32
GEN
ÓTIP
TEST
RIVAL
O
P30F5
1,88 a A
1,91 aA
3
AG
1,81 a A
1,79 bA
9045
AS
1,63 b A
1,62 cA
1550
Médias seguidas por letras distintas
pelo teste de Tukey.
AIE
33
Para a variável NEP não se constatou diferença entre os tratamentos com fungicidas,
sendo que, o genótipo AG 9045 apresentou o maior número de espigas comparado com as
outras cultivares em estudo. (Tabela 10).
Em relação ao IE a cultivar AG 9045 apresentou maior prolificidade em relação aos
demais híbridos. Também não se observa efeito de fungicidas sobre o caráter estudado.
(Tabela 10).
A aplicação de fungicida não influenciou a variável NFE, entretanto o maior número
de fileiras por espiga foi evidenciado no híbrido AS 1550. (Tabela 11).
A variável MMG, não foi influenciada pela aplicação de fungicidas. Por outro lado, o
híbrido AG 9045 foi o que evidenciou a maior média para o caráter, conforme pode ser
verificado na tabela 11.
Tabela 10: Teste de Médias para as Variáveis, Número de Plantas da Parcela Final (NPPF); Número de Espigas da Parcela
(NEP) e índice de Espiga (IE).
NPPF
GENÓ
TIPO
TEST
P30F53 54,3 aA
NEP
IE
RIVAL
OPERA
TEST
RIVAL
OPERA
TEST
RIVAL
OPERA
54,5 aA
54,5 aA
52,3 aA
50,5 aA
51,0 bA
0,96 bA
0,92 b A
0,94 bA
AG
52,0 aA
53,0 aA
51,5 aA
55,8 aA
56,3 aA
57,5 aA
1,07 aA
1,06 a A 1,12 aA
9045
AS
53,8 aA
50,8 aA
52,8 aA
50,3 bA
0,98 b A 0,99 bA
52,5 aA
51,8 aA
0,99 bA
1550
Médias seguidas por letras distintas maiúsculas na linha e minúsculas, na coluna não diferem entre si a 5% de significância
pelo teste de Tukey.
Tabela 11: Teste de Médias para as Variáveis, Número de Fileiras por Espiga (NFE); Número de Grãos por Fileira (NGF) e
Massa Média de Grão (MMG).
NFE
GENÓ
TIPO
TEST
P30F53 15,4 aA
NGF
MMG
RIVAL
OPERA
TEST
RIVAL
OPERA
TEST
RIVAL
15,4 bA
15,8 aA
37,8 aA
36,7 aA
36,9 aA
0,332 abA 0,339 aA
OPERA
0,342 aA
34
AG
13,8 bA
13,5 cA
12,9 bA
35,5 aA
34,4 aA
35,3 aA
0,349 aA 0,351 aA 0,363 aA
9045
AS
16,3 aA
17,0 aA
16,7 aA
36,4 aA
34,9 aA
35,7 aA
0,298 bA 0,304 bA 0,299 bA
1550
Médias seguidas por letras distintas maiúsculas na linha e minúsculas, na coluna não diferem entre si a 5% de significância
pelo teste de Tukey.
35
Em relação à PEP, o genótipo AG 9045 se mostrou inferior aos demais. Percebe-se
também não haver diferença estatística entre os tratamentos com fungicidas para esta variável.
(Tabela 12).
A análise da interação entre fungicida x genótipo para a variável SMFE revelou
eficiência para fungicida na cultivar P30F53, sendo que os tratamentos com Rival e Opera
apresentaram as menores médias de Severidade de Moléstias da Folha da Espiga. A avaliação
da característica SMAE (Severidade de Moléstias Acima da Espiga) revelou interação
significativa, onde podemos observar nos genótipos AG9045 e As1550. Podemos também
observar que o tratamento com Opera foi eficiente para o controle de moléstias nas folhas
localizadas abaixo da espiga (SMABE), conforme Tabela 13.
Tabela 12: Teste de Médias para as Variáveis, Peso de Espigas da Parcela (PEP); Rendimento de Grãos (RG) e Rendimento de Grãos
Estimado (RGE).
PEP
RG
RGE
GENÓ
TIPO
TEST
RIVAL
OPERA
TEST
P30F53
12,48 aA
12,27 aA
13,15 aA
10997,5 aA 10757,8 aA 11483,9 aA
RIVAL
OPERA
TEST
RIVAL
OPERA
11867,4 aA 12008,8 aA 12327,9 aA
AG
11,16 aA
11,00 aA 11,13 bA
10488,4 aA 10348,6 aA 10462,5 aA
11792,9 aA 11433,4 aA 11888,8 aA
9045
AS
11,98 aA 12,21 abA
12,02 aA
10653,6 aA 10610,3 aA 10419,7 aA
11873,4 aA 11542,4 aA 12000,4 aA
1550
Médias seguidas por letras distintas maiúsculas na linha e minúsculas, na coluna não diferem entre si a 5% de significância pelo teste
de Tukey.
Tabela 13: Teste de Médias para as Variáveis, Severidade de Moléstias da Folha da Espiga (SMFE); Severidade de Moléstias Acima
da Espiga (SMAE) e Severida de Moléstias Abaixo da Espiga (SMAE).
SMFE
SMAE
SMABE
GENÓ
TIPO
TEST
RIVAL
OPERA
TEST
RIVAL
OPERA
TEST
RIVAL
OPERA
P30F53
5,0 aA
3,1 bAB
2,6 aB
3,7abA
2,3 abA
3,1 aA
4,7 bA
3,8 bA
3,6 aA
36
AG
2,4 bA
3,4 abA
1,8 aA
2,6 bA
1,8 bAB
1,3 bB
4,8 bA
4,8 bA
4,2 aA
9045
AS
6,8 aA
5,9 aA
3,4 aA
4,3 aA
3,0 aAB
1,8 abB
8,2 aA
7,6 aA
5,0 aB
1550
Médias seguidas por letras distintas maiúsculas na linha e minúsculas, na coluna não diferem entre si a 5% de significância pelo teste
de Tukey.
37
A aplicação de fungicidas em lavouras de milho e em trabalhos experimentais ainda é
assunto de muitas discussões em função da instabilidade na obtenção de resultados sobre o
rendimento de grãos, onde não se tem obtido repetibilidade e sobre sua viabilidade econômica
(CARVALHO, 2010; COSTA & COTA, 2009).
Em experimento realizado na Universidade de Passo Fundo – UPF, no Município de
Coxilha-RS, avaliando a aplicação do fungicida Opera, para controle de moléstias no híbrido
P30F53 observou-se, média de grãos de 9.935 kg/ha para a Testemunha, enquanto que no
tratamento com fungicida o rendimento de grãos foi 9.980 kg/ha. No mesmo trabalho usando
o híbrido P32R21, a testemunha produziu 6.930 kg/ha e com fungicida 9.072 kg/ha conforme
Costa & Boller13 (2009), apud Reis (2009).
Jardine e Laca-Buendía (2009), ao testar vários princípios ativos de fungicidas, entre
eles, Rival (Tebuconazol) e Opera (Epoxiconazol + Piraclostrobina), usando o híbrido DKLB
455 não verificou diferença estatística no rendimento de grãos em comparação a testemunha.
Mesma tendência foi observada por Barros (2008), avaliando o uso de Opera e Priori-extra em
33 híbridos de milho não encontrando diferença significativa entre as médias de tratamento.
Swartz & Marchioro (2009), em experimento com o fungicida Opera, em diferentes
estádios de aplicação verificou que o mesmo contribuiu para redução de perdas de rendimento
em relação à testemunha. Campos & Trento (2007), em avaliação de diferentes híbridos de
milho, sob fungicidas do grupo químico dos triazóis e estrubilurinas verificaram que estes
fungicidas foram eficientes no controle da Ferrugem Comum do milho, havendo assim
ganhos em produtividade em comparação à testemunha.
Esses resultados contraditórios levam a inferir que as respostas ao fungicida são
dependentes de genótipos. Brugnera et al. (2006), encontrou que, entre os quarenta e um
híbridos avaliados, somente cinco híbridos não apresentaram resposta significativa quanto ao
uso de fungicidas quando comparado à testemunha, indicando que existem diferenças no
comportamento dos cultivares em relação ao uso de fungicidas. Também, Brito et al.14 (2007)
apud Swartz & Marchioro (2009), testando a mesma mistura (fungicida) piraclostrobina +
epoxiconazol em diferentes tratamentos não obteve resultados significativos de produtividade
com híbridos resistentes e moderadamente resistentes, por outro lado, a produtividade dos
13
COSTA, D. I. da; Eficiência e qualidade de aplicações de fungicidas, por vias terrestre e aérea, no
controle de doenças foliares e no rendimento de grãos de soja e milho. Tese (Doutorado em Agronomia),
2009.
14
BRITO, A.H.; PINHO, R.G..V.; POZZA, E.A.; PEREIRA, J.L.A.R.; FILHO,E.M.F. Efeito da cercosporiose
no rendimento de hibridos comerciais de milho. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.32, n.6, p.472-479, 2007.
38
híbridos suscetíveis foi 13,02% superior aquela em que os mesmos não receberam aplicação
de fungicidas, isso demonstra a eficiência do fungicida no controle de moléstias.
Logo, podemos concluir conforme trabalho de Brandão et al., (2003) que ocorre uma
resposta diferenciada dos híbridos conforme a sua resistência. A recomendação de fungicidas
para o controle de doenças deverá ser realizada em função do nível de resistência do genótipo,
tanto para redução do impacto da moléstia quanto para uma resposta de aumento na
produtividade.
Os resultados obtidos na interação das variáveis SMFE, SMAE e SMABE, vêm de
encontro com os encontrados por vários autores. Indicando que o fungicida reduz a severidade
de moléstias (PINTO et al., 2004; CAMPOS & TRENTO 2007).
39
CONCLUSÕES
1.
O controle químico com fungicidas (Tebuconazol – Rival e Epoxiconazol +
Piraclostrobina - Opera) não proporcionou aumento na produtividade e nos componentes de
rendimento de grãos do milho.
2.
Os fungicidas aplicados proporcionaram uma redução na severidade de
moléstias.
3.
O genótipo é fator importante a ser considerado na decisão sobre a realização
da aplicação de fungicida.
40
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, R.C.; DEL PONTE, E.M.; Ferrugem comum do milho. In: DEL PONTE, E.M. (Ed.)
Fitopatologia.net - herbário virtual. Departamento de Fitossanidade. Agronomia, UFRGS.
Disponível em: < http://www6.ufrgs.br/agronomia/fitossan/fitopatologia/ficha.php?id=32 >
Acesso em: 30 out 2009.
ALVES, R.C.; DEL PONTE, E.M.; Ferrugem polisora do milho. In: DEL PONTE, E.M. (Ed.)
Fitopatologia.net - herbário virtual. Departamento de Fitossanidade. Agronomia, UFRGS.
Disponível em: < http://www6.ufrgs.br/agronomia/fitossan/fitopatologia/ficha.php?id=129 >
Acesso em: 30 out 2009.
ALVES, R.C.; DEL PONTE, E.M.; Helmintosporiose do milho. In: DEL PONTE, E.M. (Ed.)
Fitopatologia.net - herbário virtual. Departamento de Fitossanidade. Agronomia, UFRGS.
Disponível em: < http://www6.ufrgs.br/agronomia/fitossan/fitopatologia/ficha.php?id=299 >
Acesso em: 30/10/2009.
BARROS, R. Aplicação foliar de fungicidas químicos na cultura do milho safrinha. In:
Tecnologia e Produção: Milho Safrinha e Culturas de Inverno. Fundação MS: Maracaju,
2008.
p.71-77.
Disponível
em:
<http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:gqdfEWhMVjcJ:www.fundacaoms.org.br/req
uest.php%3F48+Aplica%C3%A7%C3%A3o+foliar+de+fungicidas+qu%C3%ADmicos+na+
cultura+do+milho+safrinha.&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESjYnAWhac_0gmuq9f4vTOj3rLyplWrRcyBkBgl9hjwX7ix7JDmdyhL4bAtiy2DoPc61Hs3mkqBbc0tHd35Sf3OyIYP2aTOSw7Dmtj2blooocYZTa3foDtntwPTDNBEvT8
tQPr&sig=AHIEtbSbNXXqkQKiVj2_z07PKKqFRtPHIg>. Acesso em: 03/04/2010.
BASF The Chemical Company; Opera®. Disponível em:
< http://agro.basf.com.br/UI/Produtos.aspx?CodProduto=42 >. Acesso em: 02/11/2009.
BAYERCROPSCIENCE; Folicur 200 EC®. Disponível em: <http://www.bayercropscience.
com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/DetalheDoProduto.fss?Produto
=75>. Acesso em: 02/11/2009.
BRANDÃO, A. M. et al. Fungicidas e épocas de aplicação no controle da ferrugem comum
(Puccinia sorghi Schew) em diferentes híbridos de milho. Biosci. J.; Uberlândia; v.19, n.1,
p.43-52, Jan./Abr. 2003.
41
BRUGNERA, A. et al.; Competição de híbridos de milho na região oeste da bahia safra
2005/2006. Fundação Bahia - Fundação de apoio à pesquisa e desenvolvimento do oeste
baiano; 2006, 10 p.
CAMPOS, A. L. de; TRENTO, S. M. Efeito do uso de mistura fungicida (triazol +
estrobirulina) no controle da ferrugem comum (Puccinia sorghi schw.) na cultura do
milho
safrinha
(Zea
mays
L.).
2007,
13
p.
Disponível
em:
<http://www.fag.edu.br/tcc/2007/Agronomia/efeito_do_uso_de_mistura_fungicida_no_contro
lc_da_ferrugem_comum_na_cultura_do_milho_safrinha.pdf>. Acesso em: 03/04/2010.
CARVALHO, D. de O.; Milho – Com equilíbrio. Revista Cultivar – Grandes Culturas.
Pelotas – RS, Ano XII, nº - 133, 2010.
CASELLA, C. R.; FERREIRA, A. da S.; PINTO, N. F. J. de A.; Doenças na Cultura do
Milho. Circular técnica 83; 1. ed., Sete Lagoas, MG.; EMBRAPA CNPMS, 2006, 14 p.
Disponível
em:
<http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/publica/2006/circular/
Circ_83.pdf >. Acesso em 23/10/2009.
CONAB; Milho total (1ª e 2ª safra) – Brasil. Disponível em:
<
http://www.conab.gov.br/conabweb/download/ safra/MilhoTotalSerieHist.xls >. Acesso em
27/10/2009.
COSTA, F. M. P. da; Severidade de Phaeosfaeria maydis e rendimento de grãos de milho
(Zea mays L.) em diferentes ambientes e doses de nitrogênio. Dissertação (Mestrado) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz; Piracicaba, 2001, 99 p. Disponível em: <
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11136/tde-02072002-115459/ >. Acesso em:
18/10/2009.
COSTA, R. V. da; COTA, L. V.; Controle químico de doenças na cultura do milho:
aspectos a serem considerados na tomada de decisão sobre aplicação. Circular técnica
125; 1. Ed., Sete Lagoas, MG.; EMBRAPA CNPMS, 2009, 11 p. Disponível em:
<http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/publica/2009/circular/Circ_125.pdf>.
Acesso
em: 03/04/2010.
EMBRAPA; Cultivo do milho. EMBRAPA-CNPMS, 2008. Disponível em: <
http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/milho/economia.htm >. Acesso em: 25/10/2009.
EMBRAPA; Características agronômicas das cultivares de milho disponíveis no
mercado na safra 2009/10. EMBRAPA-CNPMS, 2009.
Disponível em: < http://www.cnpms.embrapa.br/milho/cultivares/TABELA1.html >. Acesso
em: 02/11/2009.
EMBRAPA; Comportamento das cultivares de milho disponíveis no mercado brasileiro
na safra 2009/10 em relação às principais doenças. EMBRAPA-CNPMS, 2009.
Disponível em: < http://www.cnpms.embrapa.br/milho/cultivares/TABELA2.html >. Acesso
em: 02/11/2009.
FANCELLI, A. L. Fisiologia, nutrição e adubação de milho para alto rendimento. Anais;
Departamento de Produção Vegetal ESALQ/USP; Piracicaba – SP; 2000, 9 p. Disponível em:
<http://www.ppippic.org/ppiweb/pbrazil.nsf/926048f0196c9d4285256983005c64de/7ac8778
42
64218d46983256c70005790fc/$FILE/Anais%20Antonio%20Luiz%20Fancelli.doc>. Acesso
em: 20/10/2009.
FANCELLI, A. L.; DOURADO NETO, D.; Produção de milho. Guaíba, Agropecuária,
2000. 360 p.
FERNANDES, F. T. et al.; Cultivo do milho: podridões do colmo e das raízes.
Comunicado técnico 60; 1. ed., Sete Lagoas, MG.; EMBRAPA CNPMS, 2002, 5 p.
Disponível
em:
<http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/publica/2002/comunicado/
Com_60.pdf >. Acesso em 23/10/2009.
JARDINE, D. F.; LACA-BUENDÍA, J. P.; Eficiência de fungicidas no controle de doenças
foliares na cultura do milho. FAZU em Revista, Uberaba, n. 6, p. 11-52, 2009. Disponível
em: < http://www.fazu.br/Imagens/publicacoes/documentos/FazuRevista2009.pdf>. Acesso
em: 03/04/2010.
LUZ, W. C. da; Controle das doenças fúngicas da parte aérea de milho. Comunicado
técnico Online 40; Passo Fundo, RS.; EMBRAPA CNPT, 1999, 1 p. Disponível em: <
http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/p_co40.htm>. Acesso em: 03/04/2010.
PEREIRA. O. A. P.; CARVALHO. R. V. de; CAMARGO. L. E. A. Doenças do Milho. In:
KIMATI, H. et al.( Eds). Manual de fitopatologia: doenças de plantas cultivadas. 4. ed.
São Paulo: Agronômica Ceres, 2005. Vol.2. cap. 55, p. 477 – 488.
PINAZZA, L. A. Perspectiva da cultura do milho e do sorgo no Brasil. In: BÜLL, L. T.;
CANTARELLA, H. (Eds.). Cultura do milho: fatores que afetam a produtividade.
Piracicaba: POTAFOS, p. 1 – 10, 1993.
PINTO, N. F. J. A. Eficiência de doses e intervalos de aplicações de fungicidas no controle da
mancha foliar do milho provocada por Phaeosphaeria maydis Rane, Payak & Renfro.
Ciências e Agrotecnologia, Lavras, v. 23, n. 4, p. 1006 - 1009, 1999.
PINTO, N. F. J. DE A.; ANGELIS, B. DE; HABE, M. H. Avaliação da eficiência de
fungicidas no controle da cercosporiose (Cercospora zeae-maydis) na cultura do milho.
Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.3, n.1, p.139-145, 2004.
REIS, E. M.; Critérios Indicadores do momento para aplicação de fungicidas visando ao
controle de doenças em soja e trigo. Aldeia Norte Editora; Passo Fundo; 2009, 148 p.
REIS, E. M.; CASA, R. T.; BRESOLIN, A. C. R.; Manual de diagnose e controle de
doenças no milho. 2. ed. rev. atual. Lages; Graphel, 2004, 144 p.
REIS, E. M.; FORCELINI, C. A.; REIS, A. C.; Manual de fungicidas: guia para o controle
químico de doenças de plantas. 5. ed., rev. e ampl., Passo Fundo. Universidade de Passo
Fundo, 2007. 153 p.
SWARTZ, E.; MARCHIORO, V. S.; Controle de doenças com fungicida em milho safrinha.
Cultivando o Saber. Cascavel, v.2, n.1, p.38-45, 2009. Disponível em:
<http://www.fag.edu.br/graduacao/agronomia/csvolume2/05.pdf>. Acesso em: 03/04/2010.
43
SILVA, O. C; SCHIPANSKI, C. A; VEIGA, J. Obstáculo à produção. Caderno técnico:
Doenças. Circula encartado na revista Cultivar Grandes Culturas, n.94, p.3-10, 2007.
TRENTIN, F.; Efeito do uso de fungicida na produtividade do milho. Monografia
(Graduação) - Faculdade Assis Gurgacz; Cascavel, 2007. 25 p. Disponível em:
<http://www.fag.edu.br/tcc/2007/Agronomia/efeito_do_uso_de_fungicida_na_produtividade_
do_milho.pdf>. Acesso em: 03/04/2010.
WIKIPEDIA; História do milho. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Milho#
Hist.C3.B3ria >. Acesso em 27/10/2009.
YAMADA, T.; Resistência de plantas às pragas e doenças: pode ser afetada pelo manejo da
cultura? Informações Agronômicas. Piracicaba: POTAFOS, nº 108, p. 1 – 7, 2004.
44
ANEXOS
45
ANEXO 1
Dados de precipitação pluviométrica (mm) referente ao período de Outubro de 2009 a Março
de 2010. IRDeR, Augusto Pestana – RS.
Precipitação (mm)
------------------2009------------------------------------2010----------------Dias/Mês
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
5,6
0
0
0
0
0
1
0
0
15,6
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
0
1,8
0
13,6
0
0
4
0
0
0
38,2
0
0
5
79,7
0
15,2
29,0
0,5
0
6
0
85,4
0
0
43,8
0
7
0
0
0
1,0
21,8
0
8
0
0
13,2
24,4
0
0
9
0
51,6
10,6
42,6
0
0
10
0
0
0
0
0
0
11
0
0
22,8
0
0
0
12
0
33,6
0
0
0
8,2
13
0
78,0
0
0
70,6
0
14
0
24,4
0
0
7,8
0
15
0
0
0
42,0
38,2
0
16
0
0
0
0
0
0
17
0
25,4
0
0
0
0
18
0
3,2
0
45,3
0
8,6
19
0
19,5
7,8
0
0
8,4
20
0
19,8
0
0
0
0
21
0
47,8
0,6
0
30,2
45,4
22
0
11,2
8,5
0
61,0
1,4
23
41,6
0
2,4
9,5
0
0
24
0
8,2
87,8
9,8
0
0
25
0
0
3,4
0
0
0
26
0
0
0
0
2,8
0
27
0
31,0
0
6,2
1,0
0
28
0
0
0
0
0
0
29
0
30,6
30,0
0
0
0
30
0
0
0
1,4
0
0
31
Total Acum. 126,9
471,5
217,9
262,9
277,7
72,0
Média Hist. 157
153,2
126,5
144,4
146,8
115,3
46
ANEXO 2
Dados de temperaturas máximas e mínimas (°C) referentes ao período de Outubro de 2009 a
Março de 2010. IRDeR, Augusto Pestana – RS.
Temperatura (°C)
------------------------2010-------------------------------------------2009-------------------- ---Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Dias Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.
8,6 19,2 15,4 35,2 16,4 32,0 15,8 30,4 20,0 33,4 15,4 30,0
1
7,2 21,2 16,0 36,8 18,4 29,2 19,6 33,4 23,0 35,4 15,8 30,2
2
7,0 24,8 21,0 29,0 15,6 28,2 19,6 34,0 22,0 36,8 18,0 30,8
3
11,0 32,9 19,0 32,2 15,2 27,1 22,6 30,8 23,4 35,4 18,4 32,0
4
20,8 33,2 20,6 35,0 12,8 31,8 20,8 31,8 21,4 37,4 17,0 31,8
5
15,0 26,6 21,2 31,5 11,2 31,0 18,2 26,2 23,6 35,8 14,0 30,8
6
14,2 20,0 20,0 31,0 18,6 26,8 19,0 27,9 22,0 36,9 13,4 28,2
7
11,6 20,4 14,6 24,4 17,0 30,0 18,0 33,0 17,0 24,8 15,4 29,0
8
7,8 25,2 12,8 31,2 16,2 30,8 20,2 25,8 17,0 31,0 16,2 29,0
9
11,2 28,6 16,9 24,0 17,2 32,0 19,0 27,8 15,0 31,8 15,2 30,0
10
15,4 27,0 15,0 27,6 21,1 29,1 20,4 32,4 20,4 33,0 16,0 32,2
11
11,8 23,2 17,8 30,8 16,2 23,0 22,0 30,0 19,8 34,0 13,0 30,0
12
5,2 25,6 19,6 25,0 9,4
26,0 19,2 25,6 20,6 33,0 14,0 28,0
13
9,4 26,2 18,2 24,6 11,4 29,8 14,3 29,7 21,0 33,4 15,4 26,8
14
14,2 19,7 16,4 22,2 14,6 32,2 15,2 31,6 20,2 28,2 16,2 27,6
15
10,8 19,0 16,4 30,4 14,0 34,6 18,7 30,2 20,0 28,0 11,6 28,4
16
10,4 24,8 15,0 33,4 19,2 29,8 18,6 33,8 18,6 29,2
32,6
17
14,2 24,4 13,8 27,8 17,0 33,0 20,1 31,5 18,6 32,0 12,6 33,0
18
13,1 30,9 19,2 36,0 21,8 34,2 21,8 26,7
31,8 19,0 19
11,0, 27,5 20,2 25,4 21,2 32,6 17,1 28,2 20,2 32,0 18,0 20
9,0 30,0 17,4 30,0 20,8 31,8 14,5 27,8 22,6 32,8 17,8 31,0
21
11,2 31,0 17,4 23,4 21,6 33,6 17,4 30,1 22,0 32,2 16,8 25,4
22
12,6 32,2 16,0 24,8 20,6 32,8 14,0 31,2 20,8 24,8 18,4 25,4
23
11,6 24,0 15,2 28,6 21,8 33,4 17,2 32,4 18,0 25,8 20,0 26,4
24
13,4 26,0 20,2 28,2 20,4 33,4 19,0 29,4 12,2 23,6 16,2 25,0
25
15,6 25,2 19,4 33,2 19,8 33,8 17,4 31,0 11,2 27,6 16,0 31,0
26
8,4 29,2 20,4 34,6 21,2 33,8 11,6 30,8 15,4 29,4 20,4 31,0
27
14,6 31,6 19,6 29,3 18,6 34,4 19,2 30,6 17,0 29,6 18,2 30,0
28
17,0 33,8 18,0 33,6 17,0 31,8
17,2 31,0
29
20,2 35,2 17,4 28,8 17,8 31,0 16,4 33,4
15,4 30,6
30
16,2 36,0 18,2 29,8 20,6 33,4
14,8 33,0
31
Média 11,7 26,7 17,6 29,6 17,5 31,1 18,2 30,4 18,7 30,3 16,2 29,7
47
ANEXO 3
Dados de umidade relativa do ar referente ao período
2009. IRDeR, Augusto Pestana – RS.
UMIDADE RELATIVA
Out
Nov
Dias
9 hrs 15 hrs 21 hrs 9 hrs 15 hrs
90
48
87
46
15
1
75
36
12
2
88
20
80
68
90
3
88
40
52
25
4
72
35
71
54
83
5
72
32
71
90
6
90
90
81
90
92
7
91
80
90
92
63
8
90
60
89
85
30
9
81
68
91
10
58
55
90
54
11
57
70
62
90
43
12
77
13
72
90
91
13
79
91
90
91
14
92
91
91
91
15
73
90
90
48
16
84
70
40
17
76
51
83
91
18
55
47
19
92
94
20
60
58
90
66
21
90
31
90
95
22
24
54
95
23
90
90
90
96
95
24
91
60
83
95
85
25
67
90
35
26
80
38
27
83
93
92
28
90
35
29
53
12
45
91
47
30
42
9
38
31
de Outubro de 2009 a Dezembro de
21 hrs
53
37
90
90
88
Dez
9 hrs
90
90
82
67
84
75
84
91
91
91
82
69
90
90
92
90
96
93
95
90
80
83
74
88
75
90
77
48
58
83
88
83
64
92
90
92
87
92
90
90
90
15 hrs
33
90
30
21 hrs
82
91
42
90
75
48
84
91
83
79
90
92
82
60
20
20
13
22
55
43
38
61
60
50
46
58
47
49
20
87
78
27
78
52
48
84
77
83
90
90
90
80
90
84
90
75
43
72
90
45
48
ANEXO 4
Dados de umidade relativa do ar referente ao período
IRDeR, Augusto Pestana – RS.
UMIDADE RELATIVA
Jan
Fev
Dias
9 hrs 15 hrs 21 hrs 9 hrs 15 hrs
74
52
84
79,3
55
1
90
42
62
75
42
2
90
73
90
60
25
3
90,7
92
88
55
70
4
92
93
90
71,6
33
5
93
92
94
81
42
6
93
90
83,7
93
50,2
7
90
55
96
82,6
88,6
8
92
92
90
85
26
9
94
93
91
92
80
10
85
56,2
85
91
80
11
85
85
90
91
50
12
84,2
80,3
90
90
47
13
87,4
43,1
71,4
91
91
14
74,6
56,2
75,6
92
93
15
72,6
75,4
86,5
94
72
16
84,6
70,2
86,2
100
17
88
68,8
75
96
60
18
87,6
85,7
87,3
19
81,8
60,2
81,6
90
68
20
80,5
55,3
84,2
90
68
21
75,5
60,3
85,6
92
85
22
88
60
92
93
93
23
94
46
85
93
91
24
82
68
84
68
39
25
83,7
47
85
90
46
26
83,7
52,4
75
90
60
27
82,9
49
92
92
40
28
91
49
85
29
87
45
85
30
90
59
91
31
de Janeiro de 2010 a Março de 2010.
21 hrs
71
70
60
90
87
90
90
88,8
78
88
90
84
75
91
85
91
95
88
84
90
89
91
95
80
81
87
96
80
Mar
9 hrs
75
65
90
90
90
90
90
90
91
90
92
91
91
75
90
91
93
91
92
92
93
92
92
82
92
90
90
91
15 hrs
40
33
50
51
27
35
57
50
38
25
90
82
75
12
35
33
45
48
56
91
91
92
74
51
60
50
45
34
15
21 hrs
87
84
85
84
82
80
89
74
80
80
85
90
90
74
75
90
88
90
92
90
83
92
85
79
71
69