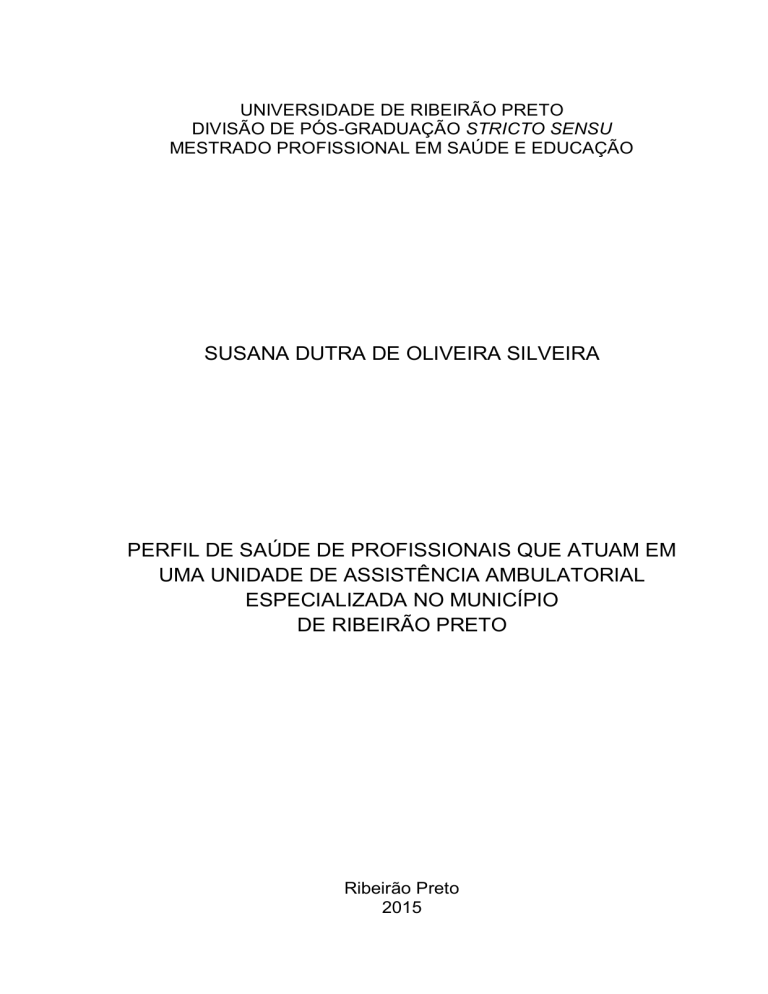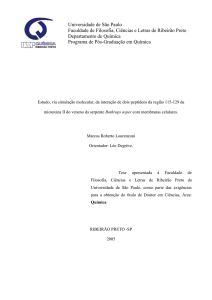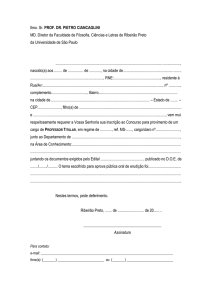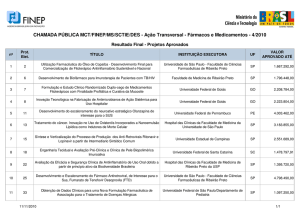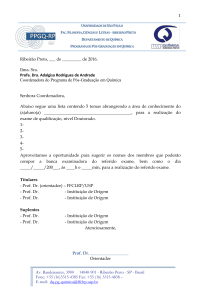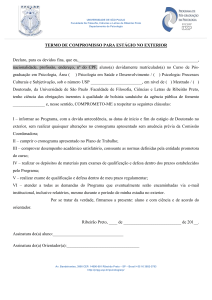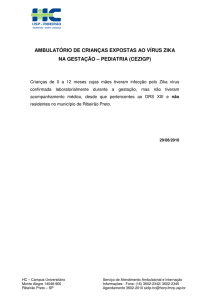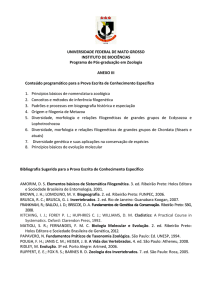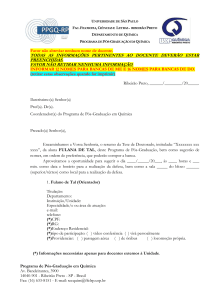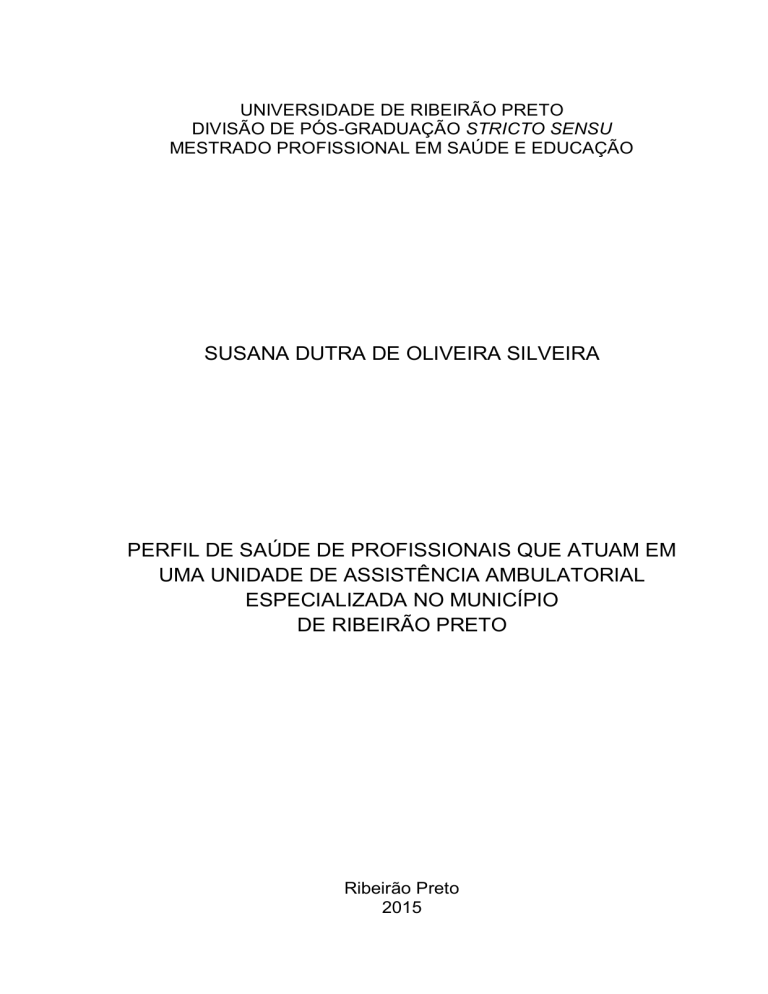
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE E EDUCAÇÃO
SUSANA DUTRA DE OLIVEIRA SILVEIRA
PERFIL DE SAÚDE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM
UMA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PRETO
Ribeirão Preto
2015
SUSANA DUTRA DE OLIVEIRA SILVEIRA
PERFIL DE SAÚDE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM
UMA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PRETO
Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Saúde e
Educação da Universidade de Ribeirão
Preto para obtenção do título de Mestre
em Saúde e Educação
Orientadora: Profª Drª Silvia Sidnéia da
Silva
Ribeirão Preto
2015
Ficha catalográfica preparada pelo Centro de Processamento Técnico
da Biblioteca Central da UNAERP
- Universidade de Ribeirão Preto -
S587p
Silveira, Susana Dutra de Oliveira, 1960Perfil de saúde de profissionais que atuam em uma Unidade
de Assistência Ambulatorial Especializada no Município de
Ribeirão Preto / Susana Dutra de Oliveira Silveira. - - Ribeirão
Preto, 2015.
152 f.: il.
Orientadora: Profª Drª Silvia Sidnéia Silva.
Dissertação (mestrado) – Universidade de Ribeirão Preto,
UNAERP, Saúde e Educação. Ribeirão Preto, 2015.
1. Saúde do trabalhador. 2. Sistema Único de Saúde (SUS).
3. Doenças crônicas não transmissíveis. I. Título.
CDD 610
DEDICATÓRIA
A meu pai,
José Eduardo Dutra de Oliveira,
que nasceu num ambiente de estudo e pesquisa,
cresceu, se formou, trabalhou, se aposentou e continua
trabalhando, vivendo e respirando a carreira acadêmica, e achando
que este é o melhor caminho para mudar o mundo.
AGRADECIMENTOS
Uma dissertação de mestrado é um processo colaborativo e foram muitas as
pessoas que contribuíram para que eu desse início e persistisse nessa longa
caminhada. Dentre elas, agradeço humildemente:
a Deus, pelo dom de minha vida, pela minha família, pelas oportunidades que tenho
tido, cercada de muito amor e de carinho.
à minha orientadora, Professora Doutora Silvia, por sua paciência, compreensão,
incentivo, rigor, técnica, seu conhecimento e saber científico que partilhou comigo.
Ela acreditou em mim, acreditou que eu poderia dar conta deste projeto e todo o
tempo estimulou meu crescimento.
ao Prof. Dr. Edilson, por sua participação em minha Qualificação e Dissertação de
Mestrado. Sua disponibilidade, atenção, avaliação, pela leitura, questionamentos e
correções, pela análise estatística e elaboração dos cálculos para definição do
tamanho amostra.
ao Prof. Dr. Marco Antonio de Moraes, por aceitar meu convite para compor as
Bancas Examinadoras de Qualificação e Dissertação de Mestrado, e sua valiosa
contribuição, questionamentos, posicionamentos, sempre de forma a incentivar a
busca de novas conquistas.
à minha amiga Maria Cristina Aielo Francelin, por seu carinho, por sua ajuda com
seu conhecimento e contribuições nesta área, por nossas longas conversas e
discussões durante este projeto.
aos meus colegas do NGA-59, pelo companheirismo e solidariedade durante este
projeto do qual os funcionários foram objeto de estudo. Vocês sempre foram motivo
de minha preocupação e cuidado.
à Luciana Rigotto Parada Redigolo, Ana Lúcia Tostes e Carlos Eduardo de Oliveira,
meus amigos inseparáveis de estudo e trabalho. Amei estar com vocês no curso,
nos momentos de descontração e alegria. Nossa amizade cresceu e se fortificou,
nosso trabalho melhorou e com certeza já está trazendo melhores frutos. Deus nos
colocou neste caminho, juntos!
a meus pais, Maria Helena e José Eduardo, pela dedicação, incentivo, presença
sempre constante de carinho e amor. Quase tudo que sou, aprendi e continuo
aprendendo com o exemplo de vocês!
aos meus filhos Luciana e Ricardo, por partilharem comigo cada passo conquistado.
ao meu marido Helio, sempre companheiro, nas alegrias e também nas dificuldades.
Seu amor, carinho, sua paciência e compreensão das horas de ausência para
concluir mais este projeto, foram decisivas para a realização do meu trabalho.
a todos que direta ou indiretamente contribuíram para realização deste projeto.
Educação
"As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor.
Aprendemos palavras para melhorar os olhos.
Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vêem...
O ato de ver não é coisa natural.
Precisa ser aprendido!"
Rubem Alves
RESUMO
SILVEIRA, S. D. O. Perfil de Saúde de Profissionais que atuam em uma Unidade de
Assistência Especializada no Município de Ribeirão Preto-SP. 152p. Dissertação
(Mestrado Profissional em Saúde e Educação), Universidade de Ribeirão Preto,
Ribeirão Preto-SP, 2015.
O conceito de saúde deve ser entendido como algo presente e refletido na qualidade
de vida das pessoas. A saúde como direito universal e dever do Estado tem
estabelecidas as diretrizes políticas nacionais para a área de saúde do trabalhador,
considerando os riscos ambientais e organizacionais, aos quais estão expostos.
Trata-se de um estudo exploratório, quantitativo, que teve como objetivo investigar o
perfil de saúde de profissionais que atuam em uma unidade de assistência
especializada de Ribeirão Preto/SP. Foi utilizado o referencial teórico de “Campo de
Saúde” de Lalonde, que analisa os elementos da biologia humana, meio ambiente,
estilo de vida e organização dos serviços de saúde na ocorrência de doenças. A
amostra foi composta 114 profissionais, e prevaleceu o sexo feminino com 28,95%,
sujeitos na faixa etária de 50 a 60 anos, para ambos os sexos; vínculo municipal de
77,19%, com tempo de trabalho entre 20 e 30 anos. Em relação ao índice de massa
corpórea 39,47% têm obesidade, com predominância nos homens, porém a Massa
Gorda apresentou-se moderada e excessiva em 66,67% dos casos, em ambos os
sexos, no exame de bioimpedância. Quanto à pressão arterial, a maioria de homens
(28,94%) possui hipertensão. O nível de instrução predominante, em ambos os
sexos, foi o superior completo, sendo 35,09% médico(a)s, 64,04% cumprindo
jornada de trabalho de 6 a 12 horas, 46,49% sujeitos apontando renda familiar
prevalente de 10 salários mínimos. A maioria é casada (64,04%) e 36,84% possuem
dois filhos. Com relação às causas para ocorrência das doenças, em geral, 45,67%
não realizam exercícios físicos e 41,23% relataram dieta incorreta, o estresse foi
referido por 56,14% no trabalho e 22,81% em situação doméstica; além de
alterações do sono em 26,32% trabalhadores; 76,32% são não fumantes e 17,54%
ex-fumantes; 56,14% não consomem bebidas alcoólicas; 79,82% têm vida sexual
ativa e 50,7% das mulheres estão na menopausa. Considerando o acesso ao
serviço de saúde, 47,37% utilizam para prevenção e 63,16% fazem uso contínuo de
medicações. Relativo ao aspecto preventivo, no último ano, 84,21 % foram ao
dentista; 66,2% mulheres e 60% dos homens estiveram no ginecologista e
urologista, respectivamente. Na avaliação vacinal apenas 16,67% tinham vacinas
registradas. Os trabalhadores da Unidade onde ocorreu a pesquisa conhecem os
riscos de saúde, demonstrados na prática do cuidado cotidiano prestado ao usuário,
entretanto, estas informações não se transformam em ações preventivas para seu
cuidado pessoal.
Descritores: Perfil Saúde. Saúde do Trabalhador. Doenças Crônicas Não
Transmissíveis. Sistema Único de Saúde.
ABSTRACT
SILVEIRA, S. D. O. S. Professional Health Profile working at a Specialized
Outpatient Care Unit in Ribeirão Preto-SP. 152p. Dissertation (Professional Master's
in Health and Education), University of Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2015.
The concept of health must be understood as something present and reflected in the
quality of life. Health as a universal right and duty of the State has established
national policy guidelines for the health of the worker, considering the environmental
and organizational risks to which they are exposed.This is an exploratory,
quantitative study, which aimed to investigate the health profile of professionals who
work in a specialized outpatient care unit of Ribeirão Preto/SP. The theoretical
framework of "Health Field" of Lalonde, which analyzes the elements of human
biology, environment, lifestyle and organization of health services in the occurrence
of diseases, was used. The sample comprised 114 professionals, and that females
prevailed with 28.95%; age range was from 50 to 60 years, for both sexes. 77.19%,
had Municipal bond with working period between 20 to 30 years. In BMI's profile,
39.47% have obesity, predominantly in men; but in bioimpedance analiysis, the Fat
Mass was moderate and excessive with 66.67% of cases in both sexes. As for blood
pressure, most men (28.94%) have hypertension.The level of education prevalent in
both sexes, was a college degree, with 35.09% of Physicians, 64.04% working 6 to
12 hours, and 46.49% pointing prevalent family income of 10 minimum wages. Most
are married (64.04%) and 36.84% have two children. The causes for the occurrence
of the disease claimed was the lack of physical exercises for 45.67%, and 41.23%
related incorrect diet, stress at work was reported by 56.14% and 22.81% in
domestic situations, as well as sleep disorders in 26.32%. 76.32% are non-smokers
and 17.54% ex-smokers; 56.14% are not alcohol consumers; 79.82% are sexually
active and 50.7% of women are in menopause. Whereas access to health services,
47.37% use for prevention and 63.16% are in continuous use of medication. On the
preventive aspect, last year, 84.21% went to the dentist; 66.2% of women and 60%
of men were at the gynecologist and urologist, respectively. In vaccine avaliation only
16.67% had registered vaccines. Workers in this unit know the health risks,
demonstrated in the practice of daily care provided to the users, however; this
knowledge does not turn into preventive actions for personal care.
Descriptors: Profile Health. Occupational Health. Chronic Noncommunicable
Diseases. Public Health System.
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Mortalidade de residentes em Ribeirão Preto/SP, segundo capítulos
da CID-10 e Distrito de Saúde de residência, 2011. Ribeirão Preto,
2011............................................................................................................................23
Tabela 2 – Percentual de mortalidade prematura (<70 anos) de residentes em
Ribeirão Preto - SP, segundo o conjunto das quatro principais doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT) e Distritos de Saúde de residência,
2011............................................................................................................................24
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Legislação relacionada à saúde e saúde do trabalhador................ 66
Quadro 2 – Documentos legais relacionados à saúde do trabalhador..............67
Quadro 3 – Distribuição de trabalhadores do NGA-59, segundo sexo e faixa
etária .........................................................................................................................84
Quadro 4 – Distribuição de trabalhadores do NGA-59, segundo sexo e IMC.....86
Quadro 5 – Distribuição de trabalhadores do NGA-59, segundo sexo e PA .....87
Quadro 6 – Distribuição de trabalhadores do NGA-59, segundo sexo e
resultado
de
massa
gorda,
obtido
a
partir
do
exame
de
bioimpedância..........................................................................................................88
Quadro 7 – Distribuição de trabalhadores do NGA-59, segundo sexo e
resultado do percentual de água corporal na massa magra, obtido a partir do
exame de bioimpedância.........................................................................................90
Quadro 8 – Distribuição de trabalhadores do NGA-59, segundo IMC e resultado
do percentual de água corporal na massa magra, obtido a partir do exame de
bioimpedância..........................................................................................................91
Quadro 9 – Distribuição de trabalhadores do NGA-59, segundo sexo e nível de
instrução...................................................................................................................96
Quadro 10 – Distribuição de trabalhadores do NGA-59, segundo a
Classificação de Atividade Física e Exercício Físico.........................................103
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Mortalidade de residentes em Ribeirão Preto/SP, segundo o
conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e
faixa etária <e> de 70 anos, 2002 a 2011................................................................24
Gráfico 2 – Distribuição da história Clínica de doenças nos trabalhadores do
NGA-59......................................................................................................................94
Gráfico 3 – Distribuição das causas para ocorrência das DCNT nos
trabalhadores do NGA-59 .......................................................................................99
LISTA DE SIGLAS E SÍMBOLOS
ABESO – Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome
Metabólica
ABN – Academia Brasileira de Neurologia
ABO – Associação Brasileira de Odontologia
ABRAN – Associação Brasileira de Nutrologia
ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva
ADAM – Androgen Deficience Aging Male – Deficiência Androgênica no
Envelhecimento Masculino
ANENT – Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho
ACS – Agente Comunitário de Saúde
APS – Atenção Primária à Saúde
AT – Acidente de Trabalho
AVC – Acidente Vascular Cerebral
AVCI – Anos de Vida Corrigidos pela Incapacidade
BTN – Bônus de Tesouro Nacional
CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho
CELAFISC – Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano
do Sul
CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
CETRED – Centro de Treinamento e Desenvolvimento
CDC – Código de Defesa do Consumidor
CGSAT – Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador
CID-10 – Código Internacional de Doenças
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
CNDSS – Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde
CNS – Conferência Nacional de Saúde
COREn/SP – Conselho Regional de Enfermagem / São Paulo
CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito
CTB – Código de Trânsito Brasileiro
DAC – Doença Arterial Coronariana
DALY – Disability-Adjusted Life-Years – Anos de Vida Corrigidos pela Incapacidade
DataSUS – Departamento de Informática do SUS
DCNT – Doenças Crônicas Não Transmissíveis
DI – Declaração de Instalações
DM-2 – Diabetes Mellitus Tipo 2
DMST – Divisão de Medicina e Segurança no Trabalho
DSS – Determinantes Sociais da Saúde
DRT – Doença Relacionada ao Trabalho
EPI – Equipamento de Proteção Individual
ESF – Estratégia Saúde da Família
FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
FMRP/USP – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo
FUNDAP – Fundação de Desenvolvimento Administrativo
HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica
HDL – High Density Lipoproteins – Proteína de Baixa Densidade (“bom colesterol”)
HC – Hospital das Clínicas
HC-UE – Hospital das Clínicas-Unidade de Emergência
HE – Hospital Estadual de Ribeirão Preto
HeaLY – Healthy Life-Year - Índice que combina anos de vida perdidos pela
morbidade com os que são atribuídos à mortalidade prematura
IAM – Infarto Agudo do Miocárdio
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IMC – Índice de Massa Corporal
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
IPAQ – International Phyisical Activity Questinonnaire
IPM – Instituto de Previdência dos Municipiários
LER/DORT – Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho
Mater – Fundação Maternidade Sinhá Junqueira
MS – Ministério da Saúde
MS/GM – Ministério da Saúde/ Gabinete do Ministro
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
NAF – Nível de Atividade Física
NGA-59 – Núcleo de Gestão Assistencial 59
NOAS – Norma Operacional da Assistência à Saúde
NR – Normas Regulamentadoras
NRR – Normas Regulamentadoras Rurais
OMS – Organização Mundial da Saúde
ONU – Organização das Nações Unidas
OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde
PA – Pressão Arterial
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde
PMRP – Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
PNaPS – Política Nacional de Promoção da Saúde
PNCT – Programa Nacional de Controle de Tabagismo
PNS – Pesquisa Nacional de Saúde
PNST – Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora
PNSST – Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
QALY – Quality-Adjusted Life-Years – Índice que é a soma do produto de anos de
vida e a qualidade de vida em cada um destes anos
QV – Qualidade de Vida
RAS – Rede de Atenção à Saúde
RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
RENAST – Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador
RJU – Regime Jurídico Único
SASSOM – Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários de Ribeirão Preto
SAT – Seguro Acidente de Trabalho
SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho
SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica
SINAN – Sistema de Informação de Agravo de Notificação
SBEM – Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
SBC – Sociedade Brasileira de Cardiologia
SBH – Sociedade Brasileira de Hipertensão
SCR – Vacina Tríplice Viral (Sarampo-Caxumba-Rubéola) ou MMR - Measles,
Mumps and Rubella)
SM – Salário Mínimo
SOGESP – Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo
SPD – Sociedade Portuguesa de Diabetes
STF – Supremo Tribunal Federal
SUS – Sistema Único de Saúde
TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TRH – Terapia de Reposição Hormonal
UBDS – Unidade Básica Distrital de Saúde
UBS – Unidade Básica de Saúde
UECE – Universidade Estadual do Ceará
UFC – Universidade Federal do Ceará
UFIR – Unidade Fiscal de Referência
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais
UNAERP – Universidade de Ribeirão Preto
Unimed – Cooperativa de Médicos de Ribeirão Preto
USDA – National Nutrient Database – Banco de Dados Nacional de Nutrientes dos
Estados Unidos
USF – Unidades de Saúde da Família
VA – Vigilância em Saúde Ambiental
VE – Vigilância Epidemiológica
VISAT – Vigilância em Saúde do Trabalhador
VS – Vigilância Sanitária
WHI – Women's Health Initiative Investigators - Grupo de Investigação e Pesquisa
sobre a Saúde da Mulher
WHO – World Health Organization – Organização Mundial da Saúde
% – Percentual
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO......................................................................................................17
1 INTRODUÇÃO....................................................................................................19
1.1 JUSTIFICATIVA......................................................................................27
1.2 HIPÓTESE..............................................................................................27
1.3 OBJETIVO GERAL.................................................................................28
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...................................................................28
2 REFERENCIAL TEÓRICO..................................................................................29
2.1 MODELO DE “CAMPO DE SAÚDE” LALONDE.....................................29
3 REVISÃO DA LITERATURA...............................................................................32
3.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS...................................32
3.2 FATORES DE RISCO PARA A OCORRÊNCIA DE DCNT.....................35
3.2.1 Doença Arterial Coronariana........................................................36
3.2.2 Diabetes.......................................................................................37
3.2.3 Obesidade....................................................................................38
3.2.4 Tabagismo...................................................................................39
3.2.5 Alcoolismo....................................................................................39
3.2.6 Atividade Física e Sedentarismo..................................................40
3.3 QUALIDADE DE VIDA E A OCORRÊNCIA DE DCNT...........................42
3.4 PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS EM
TRABALHADORES.......................................................................................44
3.5
O
PAPEL
ACOMPANHAMENTO
DA
DO
INSTITUIÇÃO
PROCESSO
EMPREGADORA
DE
SAÚDE
NO
DOS
TRABALHADORES.......................................................................................47
3.5.1 Responsabilidades legais do Empregador com Relação ao
Trabalhador...........................................................................................63
3.5.2 Responsabilidades Legais do Trabalhador com a Instituição
Empregadora........................................................................................74
4 CASUÍSTICA E MÉTODO..................................................................................77
4.1 NATUREZA DO ESTUDO.......................................................................77
4.2 LOCAL DO ESTUDO...............................................................................77
4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA....................................................................80
4.4 COLETA DOS DADOS............................................................................80
4.4.1 Instrumento de Coleta de Dados.................................................81
4.4.2 Procedimento de Coleta de Dados..............................................81
4.5 ANÁLISE DOS DADOS...........................................................................82
4.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA.....................................................82
4.7
CRITÉRIOS
DE
SUSPENSÃO
OU
ENCERRAMENTO
DA
PESQUISA....................................................................................................83
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO..........................................................................84
5.1 DADOS RELACIONADOS À BIOLOGIA DO INDIVÍDUO.......................85
5.1.1 Lalonde........................................................................................85
5.1.1.1 Dados Antropométricos....................................................85
5.1.2 Exames de Bioimpedância...........................................................88
5.1.3 História Clínica do trabalhador.....................................................92
5.2 DADOS DO MEIO AMBIENTE................................................................95
5.2.1 Formação e Atividade Profissional...............................................95
5.2.2 Renda e Estrutura Familiar..........................................................97
5.3 DADOS RELACIONADOS AO ESTILO DE VIDA...................................98
5.4
DADOS
RELACIONADOS
AO
ACESSO/ATENDIMENTO
DA
SAÚDE........................................................................................................106
6 CONCLUSÃO...................................................................................................111
REFERÊNCIAS....................................................................................................116
APÊNDICE I.........................................................................................................134
APÊNDICE II........................................................................................................135
APÊNDICE III.......................................................................................................136
APÊNCICE IV......................................................................................................137
APÊNCICE V...... ................................................................................................138
APÊNCICE VI.. ...................................................................................................139
ANEXO A.............................................................................................................140
ANEXO B.............................................................................................................144
ANEXO C.............................................................................................................145
ANEXO D.............................................................................................................146
ANEXO E.............................................................................................................147
ANEXO F.............................................................................................................149
ANEXO G.............................................................................................................151
APRESENTAÇÃO
Formei-me em 1981 e logo fui trabalhar no Hospital das Clínicas em São
Paulo. Atuei nos ambulatórios de Diabetes Infanto-Juvenil, Artrite Reumatóide
Infantil e Central de Imunização do Instituto da Criança.
Em 1985 fiz especialização em Enfermagem do Trabalho pela Escola Paulista
de Medicina - Departamento de Enfermagem/SP, conforme Portaria 3214/78 do
Ministério do Trabalho e registro de especialista no COREn/SP.
Participei em 1986, da fundação da Associação Nacional de Enfermagem do
Trabalho (ANENT), em São Paulo, compondo a diretoria executiva nos biênios 86/88
e 88/90, presidente em 90/92 e representante de Minas Gerais, no biênio 94/96, na
cidade de Belo Horizonte.
De 1988 a 1994 trabalhei como Chefe do Serviço de Enfermagem do
Trabalho do Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)
da Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, atendendo um universo de
22 mil funcionários.
Atuei como supervisora no Programa de Aprimoramento Profissional Especialização em Nutrição do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - HCFMRPUSP, Fundação do
Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP, de 2002 a 2009.
Em junho de 2004, após aprovação no concurso público municipal nº 002/01
fui chamada para assumir a vaga de enfermeira no Pronto Atendimento da UBDS
Vila Virgínia, plantão noturno. Por processo seletivo interno em 2005, assumi a
função de Enfermeira do Trabalho no Ambulatório de Saúde do Trabalhador na
UBDS Castelo Branco e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST),
no período de 2006 a 2011. No final do ano de 2011 assumi a função de Enfermeira
do Setor de Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia, Cirurgia Vascular, Alergia e
Imunologia e Cirurgia Ambulatorial no Ambulatório de Especialidades NGA-59.
No ano de 2013, com a implantação do Plano de Carreiras, Cargos e Salários
na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto surgiu o desafio e também o interesse em
buscar o mestrado profissional, procurando uma forma de conciliar os estudos e a
interface do trabalho, de modo um pouco menos acadêmico e mais operacional,
vindo a contribuir positivamente com o ambiente onde exerço minha profissão.
Sempre me interessei pela Saúde do Trabalhador, mesmo estando em outras
áreas de trabalho. E hoje, meu tema de estudo, foi a avaliação dos profissionais da
Unidade que cuidam da saúde dos pacientes, com qualidade e capacidade, mas que
nem sempre têm os mesmos cuidados com sua própria saúde. Sugere-se, com esse
estudo, estimular esses trabalhadores a agirem em benefício próprio, visando à
prevenção e/ou retardamento da ocorrência de doenças crônicas degenerativas e
seus agravos e, consequentemente, à fruição de uma velhice/ vida futura/
senioridade mais ativa e saudável.
19
1 INTRODUÇÃO
Em 1946, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1946, p. 1) definiu saúde
como “o completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de
doenças ou agravos”, e ainda reconhece a saúde como um dos direitos
fundamentais de todo ser humano, independente de sua condição social e
econômica, crença religiosa ou política, afirmando a importância de uma política
sanitária.
Nesse cenário, a qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua
posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores em que vive, e em
relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, segundo ressalta a
OMS (1995).
O conceito de saúde deve ser entendido como algo presente e refletido na
qualidade de vida das pessoas. Portanto, a discussão e a compreensão da saúde
passam pela afirmação da cidadania plena e pela aplicabilidade dos direitos
fundamentais. No Brasil, os dispositivos garantidores dos direitos sociais, como o
direito à Saúde, estão previstos na Constituição Federativa do Brasil de 1988
(BRASIL, 1988).
A saúde, portanto, como direito universal e dever do Estado é uma conquista
do cidadão brasileiro, regulamentada na Lei Orgânica da Saúde. O direito à saúde,
desta forma, é bastante abrangente e está presente em diferentes legislações
infraconstitucionais, abarcando também a saúde do trabalhador (VON ATZINGEN,
2010).
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), nos últimos anos, embora tenha
avançado significativamente no sentido de garantir o acesso do cidadão às ações de
atenção à saúde, somente a partir de 2002 conseguiu estabelecer as diretrizes
políticas nacionais para a área de saúde do trabalhador.
A atenção à Saúde do Trabalhador é uma política pública, que vem sendo
discutida desde a reforma constitucional de 1988, que definiu os direitos de
cidadania, saúde e trabalho, em um momento político de transição democrática, ao
confirmar que cabe ao Estado a responsabilidade de garantir condições dignas de
saúde para os trabalhadores e para o povo, em geral. Em 1990, o Brasil promulgou
a Lei Orgânica de Saúde, nº 8.080, que se constituiu como referência do Sistema
20
Único de Saúde (SUS) e fruto das lutas por uma reforma sanitária que tiveram como
marcos a VIII Conferência Nacional de Saúde e a I Conferência Nacional de Saúde
do Trabalhador.
A Lei nº 8.080 contempla decisivamente a questão saúde do trabalhador em
seu artigo 6º, conceituando-a como (BRASIL, 1990): “... um conjunto de atividades
que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária,
à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação
e reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das
condições de trabalho”.
A vigilância da Saúde do Trabalhador necessita dar atenção às mudanças
nos processos de saúde/doença e na atuação da saúde pública para poder dar
respostas efetivas aos problemas colocados para os trabalhadores, problemas de
ordem complexa e de difícil resolução, mediante ações curativas e preventivas.
Sendo assim, as ações de saúde devem ater-se à identificação de riscos, danos,
necessidades, condições de vida e de trabalho que, em última instância, determinam
as formas de adoecer e morrer dos grupos populacionais (BRASIL, 1998; BRASIL,
2001).
Os riscos ambientais e organizacionais aos quais estão expostos os
trabalhadores devem, pois, ser considerados. Assim, as ações pela saúde do
trabalhador devem constar da agenda de atenção à saúde do adulto e do idoso,
ampliando a assistência já ofertada aos trabalhadores, na medida em que se passa
a olhá-los como sujeitos a um adoecimento específico, que exige estratégias também específicas - de promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL,
1998; BRASIL, 2001).
As Normas Regulamentadoras (NR), relativas à segurança e medicina do
trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas, públicas e pelos
órgãos públicos da administração direta e indireta, além dos Poderes Legislativo e
Judiciário que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) (BRASIL, 2008).
Atualmente, a prestação de assistência médica ao trabalhador municipal tem
sido feita pelo plano de saúde coletivo da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo. Deste Serviço de Assistência à Saúde dos Munícipes de
Ribeirão Preto - SASSOM espera-se um olhar diferenciado para o grupo de
trabalhadores para os quais presta assistência à saúde. É importante considerar a
21
saúde e a doença como processos dinâmicos, articulados com os modos de
desenvolvimento produtivo da humanidade, em determinado momento histórico.
Segundo Malta et al. (2006), a mudança do perfil epidemiológico no país, com
predominância das doenças não transmissíveis, é uma consequência da
urbanização, de melhorias nos cuidados com a saúde, da mudança nos estilos de
vida e da globalização. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são de
etiologia multifatorial e compartilham vários fatores de riscos modificáveis como o
tabagismo, a inatividade física, a alimentação inadequada, a obesidade, a
dislipidemia e o consumo de álcool. A maior parte dessas doenças não constitui um
resultado inevitável de uma sociedade moderna, trata-se de um mal que pode ser
prevenido, geralmente a um custo menor do que o das intervenções curativoassistenciais (MALTA et al., 2006).
O compartilhamento de fatores de risco, somado à urgência em deter o
crescimento das DCNT no país, justificam a adoção de estratégias integradas e
sustentáveis de vigilância e monitoramento desses fatores, além da adoção de
medidas de promoção à saúde, prevenção e controle dessas doenças, desde que
suas ações sejam assentadas sobre seus principais fatores de risco modificáveis.
Experiências bem-sucedidas de intervenções de Saúde Pública com reversão e/ou
mudanças positivas nas tendências de mortalidade por doenças cardiovasculares,
em diversos países, mostram que a vigilância de DCNT e ações integradas são
aspectos cruciais para o desenvolvimento de estratégias efetivas de promoção da
saúde para a população em geral.
No município de Ribeirão Preto existem alguns serviços disponíveis para
enfrentar a epidemia DCNT e seus fatores de risco, porém não conseguem,
entretanto, atender à demanda e suas complicações geram um custo elevado para o
sistema de saúde. As doenças crônicas são onerosas para o SUS e se não
prevenidas e gerenciadas adequadamente, precisam de uma assistência médica de
custos sempre crescentes, em razão da permanente e necessária incorporação
tecnológica.
Segundo dados de mortalidade de residentes no município de Ribeirão Preto,
no ano de 2011 ocorreram 3834 casos de óbitos em residentes, sendo que destes,
35 constaram como não especificados, por não ser possível localizar o endereço.
Assim, foram analisados 3799 casos de óbitos e suas causas nas Tabelas 1 e 2
(RIBEIRÃO PRETO, 2012).
22
Na Tabela 1 encontram-se distribuídos os dados de mortalidade no município
de
Ribeirão
Preto/SP
por
causas
especificadas,
conforme
Classificação
Internacional de Doenças (CID-10) e Distritos de Saúde, de acordo com a residência
do paciente, no ano de 2011.
23
Tabela 1 – Mortalidade de residentes em Ribeirão Preto/SP, segundo capítulos da CID-10 e Distrito de Saúde por
residência, 2011. Ribeirão Preto, 2012.
Causa (CID10 CAP)
Sul
Leste
Oeste
Central
Total
36
24
38
59
31
188
II. Neoplasias (tumores)
III. Doenças sangue órgãos
hematológicos e transt imunitário
IV. Doenças endócrinas
nutricionais e metabólicas
V. Transtornos mentais e
comportamentais
114
109
177
178
193
771
2
2
2
1
2
09
16
15
30
35
42
138
6
1
3
11
10
31
VI. Doenças do sistema nervoso
IX. Doenças do aparelho
circulatório
X. Doenças do aparelho
respiratório
13
18
32
38
50
151
212
140
244
283
308
1187
61
48
77
88
105
379
XI. Doenças do aparelho digestivo
XII. Doenças da pele e tecido
subcutâneo
XIII. Doenças do sistema
osteomuscular e tecido conjuntivo
XIV. Doenças do aparelho
geniturinário
XVI. Alg afecções originadas
período perinatal
35
45
62
73
60
275
2
1
5
1
5
14
4
3
8
5
6
26
11
13
40
30
35
129
14
8
14
2
1
39
XV. Gravidez parto e puerpério
XVII. Malf cong deformid e
anomalias cromos
XVIII. Sint sinais e achad anorm
ex clín e laborat
XX. Causas externas morbidade e
mortalidade
0
0
0
15
4
19
9
3
9
5
4
30
9
3
6
8
10
36
71
45
108
87
66
377
Total
615
478
855
919
932
I. Algumas doenças infecciosas e
parasitárias
Norte
3799
Fonte: RIBEIRÃO PRETO (2012).
24
Na Tabela 2 apresenta-se a correlação entre o percentual de morte prematura
de <70 anos e as 4 principais causas de DCNT, de acordo com CID-10,
considerando os distritos de residência dos pacientes, no ano de 2011.
Tabela 2 – Percentual de mortalidade prematura (<70 anos) de residentes em
Ribeirão Preto/SP, segundo o conjunto das quatro principais DCNT e Distritos
de Saúde de residência, Ribeirão Preto, 2012.
Causa
Neoplasias
Doenças do Aparelho Circulatório
Doenças Respiratórias Crônicas
Diabetes
Total
Norte
Sul
Leste
Oeste
Central
Total
66,7
49,1
29,0
38,5
52,4
60,6
48,6
35,0
60,0
52,7
44,6
34,8
6,3
22,2
36,1
55,1
44,5
22,0
53,6
46,8
36,8
21,4
20,4
35,7
27,1
50,6
37,8
21,3
41,2
41,1
Fonte: RIBEIRÃO PRETO (2012).
No Gráfico 1 é possível visualizar dados de mortalidade de residentes do
Município de Ribeirão Preto/SP, no período de 2002 a 2011, referentes as 4
principais DCNT (Neoplasias, Doenças Aparelho Circulatório, Doenças Crônica
Aparelho Respiratório e Diabetes).
Gráfico 1 – Mortalidade de residentes em Ribeirão Preto/SP, segundo o
conjunto das quatro principais DCNT e faixa etária <e> de 70 anos, 2002 a
2011. Ribeirão Preto, 2012.
Fonte: RIBEIRÃO PRETO (2012).
25
Como se pode observar, nos dados do município de Ribeirão Preto/SP,
dentre as principais DCNT estão a diabetes mellitus e a hipertensão arterial. Estes
dados reproduzem o panorama do país que tem aproximadamente 17 milhões de
pessoas hipertensas, sendo destes, 35% indivíduos acima de 40 anos de idade
(BRASIL, 2006b).
O município de Ribeirão Preto, em 2001, aderiu ao Plano de Reorganização da
Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e ao Diabetes Mellitus, denominado
HIPERDIA que é o Sistema de Cadastramento de Acompanhamento de Hipertensos
e Diabéticos na Atenção Básica. O programa propõe identificação de usuários
assintomáticos que vai, além da queixa-conduta, acompanhar o tratamento
estabelecido, criação de vínculo entre equipe de saúde e usuário e promoção em
saúde (SOUZA; GARNELO, 2008).
A HAS é definida como aumento da pressão arterial sistólica devendo esta
ser maior ou igual a 140 mmHg e a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90
mmHg, em indivíduos não medicados. A aferição da pressão arterial é um
procedimento que antecede qualquer avaliação de saúde, podendo ser realizada por
qualquer profissional de saúde treinado, sendo usado como referência inicial para o
estabelecimento do diagnóstico da hipertensão arterial e resposta ao tratamento
proposto (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO - SBH, 2006).
A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados
e sustentados de Pressão Arterial (PA). Associa-se frequentemente a alterações
funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos
sanguíneos) e as alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de
eventos cardiovasculares fatais e não-fatais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
HIPERTENSÃO - SBC, 2010).
A HAS precede vários casos de insuficiência cardíaca, acidente vascular
cerebral e insuficiência cerebral. Ela é chamada de assassina silenciosa, pois as
pessoas portadoras de hipertensão, muitas vezes, são assintomáticas.
O National Heart, Lung and Blood Institute estimou que metade das pessoas
com hipertensão desconhecesse a sua presença, e uma vez que desenvolvida, a
pressão arterial do paciente deve ser monitorada a intervalos regulares, pois se trata
de um distúrbio presente por toda a vida (LUNA; SABRA, 2006).
26
A hipertensão arterial associa-se ao diabetes mellitus tipo-2 (DM-2), à
redução do High Density Lipoproteins (HDL) colesterol e ao aumento de triglicerídeos e, por isso, o tratamento clínico e os programas de prevenção não podem
ignorar estas associações, visto que os fatores de risco para as DCNT ocorrem de
forma conjunta e interdependente (SICHIERI et al., 2000).
Neste sentido, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2005) salienta que o
sedentarismo é um fator de risco para as DCNT. A prática regular de atividade física
tem um papel importante na prevenção destas doenças, contribuindo também para a
redução do peso, controle da ansiedade e depressão, melhora da autoestima
proporcionando bem-estar e socialização (WORLD HEALTH ORGANIZATION WHO, 2004).
Apesar de consolidada a relação entre hipertensão arterial e fatores
nutricionais, ainda não estão bem estabelecidos os mecanismos de atuação destes
sobre a elevação da pressão arterial, entretanto, são reconhecidos os efeitos que
uma dieta saudável tem sobre o controle da pressão arterial (FREITAS et al., 2001).
Entre os fatores nutricionais estudados associados à alta prevalência de hipertensão
arterial está o elevado consumo de álcool e sódio, bem como o excesso de massa
corpórea (MOLINA et al., 2003).
Inserido neste panorama, a diabetes mellitus representa também um
considerável encargo econômico para indivíduos e sociedade, especialmente
quando mal controlado, sendo a maior parte dos custos diretos de seu tratamento
relacionados a complicações que comprometem a produtividade, a qualidade de
vida e a sobrevida dos indivíduos. A progressiva ascensão das doenças crônicas no
Brasil impõe a necessidade de uma revisão das políticas públicas em saúde, bem
como a implantação de ações de saúde que incluam estratégias de redução de risco
e controle dessas doenças (PORTERO; MOTTA; CAMPINO, 2003).
O adequado controle metabólico no DM-2 é fundamental para prevenir a
ocorrência de episódios agudos de hiperglicemia ou hipoglicemia, como também
para impedir ou retardar o desenvolvimento de complicações como neuropatias,
nefropatias, obesidade, dislipidemia e doenças cardiovasculares (BURNET et al.,
2007).
Mesmo com a evolução da tecnologia, de todos os recursos disponíveis na
área médica e exames complementares para diagnósticos, a avaliação clínica é
soberana no atendimento ao paciente/cliente. A anamnese permite avaliação
27
cuidadosa do estado emocional do paciente/cliente, a caracterização da dor com
identificação do tipo de localização, fatores desencadeantes e aliviadores,
frequência, tempo de duração e ainda relações com alimentação, emoções e
esforços (RIBEIRO, 2000).
1.1 JUSTIFICATIVA
Frente ao apresentado, assinala-se que as Unidades de Saúde atendem os
pacientes segundo protocolos clínicos médicos padronizados que oferecem melhor
qualidade aos seus problemas de saúde.
Não foram encontrados dados referentes a este tipo de atendimento para os
profissionais da saúde que atuam em Unidades de Saúde do município de Ribeirão
Preto/SP. Seria possível inferir que estes profissionais, com conhecimentos mais
ampliados, deveriam ser mais zelosos e possuir um perfil de saúde diferenciado.
A pesquisadora, enfermeira da Unidade de Assistência Especializada da
Rede Pública Municipal, especialista na área de saúde do trabalhador, nutrição,
administração hospitalar e de serviços de saúde pode constatar diariamente um
descaso/desatenção dos Profissionais de Saúde com a sua própria saúde.
Diante da realidade, sugere-se estimular esses trabalhadores a agirem em
benefício próprio, visando à prevenção e/ou retardamento da ocorrência de doenças
crônicas degenerativas e seus agravos, e consequentemente, à fruição de uma
velhice/ vida futura/ senioridade mais ativa e saudável.
1.2 HIPÓTESE
Acredita-se que o profissional que atua na área da saúde ofereça assistência
de qualidade aos usuários, mas não entende ser necessário usar as mesmas
práticas com relação a sua própria saúde.
Com isto, o profissional de saúde que trabalha na Unidade de Assistência
Especializada não se submete periodicamente ao mesmo tipo de atendimento dado
aos seus pacientes e pode, com esse comportamento, estar comprometendo a sua
própria saúde, assim este estudo tem como finalidade investigar o perfil dos
trabalhadores da saúde desta Unidade.
28
1.3 OBJETIVO GERAL
Investigar o perfil de saúde dos profissionais que atuam em uma Unidade de
Assistência Ambulatorial Especializada do município de Ribeirão Preto/SP.
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Levantar dados da biologia humana dos profissionais que atuam em
uma Unidade de Assistência Ambulatorial Especializada do município
de Ribeirão Preto/SP;
2. Levantar dados sobre os aspectos relacionados ao meio ambiente que
interferem na manutenção da saúde dos profissionais que atuam em
uma Unidade de Assistência Ambulatorial Especializada do município
de Ribeirão Preto/SP;
3. Levantar dados referentes ao estilo de vida dos profissionais que
atuam em uma Unidade de Assistência Ambulatorial Especializada do
município de Ribeirão Preto/SP;
4. Identificar como ocorre o acesso aos serviços de saúde dos
profissionais que atuam em uma Unidade de Assistência Ambulatorial
Especializada do município de Ribeirão Preto/SP.
29
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 MODELO DE “CAMPO DE SAÚDE” LALONDE
Este modelo tem sua estrutura conceitual descrita por Laframboise em 1973,
mas foi desenvolvido em 1974 por Marc Lalonde, no Canadá, que publicou um
documento “Uma nova perspectiva sobre a saúde dos canadenses”, onde relatou
preocupação em relação à ausência de uma estrutura conceitual para analisar a
área da saúde. Marc Lalonde era o Ministro da Saúde daquele país, à época
(LALONDE, 1974).
O relatório tornou-se popular quando foi aplicado na Política de Saúde no
Canadá, uma vez que ocorriam mudanças no perfil epidemiológico das doenças e
havia necessidade de ampliar o modelo até então existente, enfatizando os fatores
ambientais e do hospedeiro, além do agente etiológico (DEVER, 1988; DANTAS,
1996; SIQUEIRA, 2002; SILVA, 2003).
As organizações sociais antigas foram marcadas pela fragmentação entre
trabalho intelectual e manual, principalmente na área da saúde. Os cursos de
medicina que tinham como base os conhecimentos científicos passam a valorizar as
disciplinas técnicas em detrimento das disciplinas humanas.
O relatório Lalonde foi considerado o “primeiro relatório governamental
moderno no mundo ocidental a reconhecer que a ênfase em assistência médica sob
um ponto de vista biomédico era insuficente”, e evidenciou a necessidade de olhar
além do sistema tradicional de saúde para melhorar a saúde da população (LEMCO,
1994).
Esse documento enfatizou a responsabilidade de cada indivíduo em mudar
seus comportamentos para melhorar sua saúde (MINKLER, 1989), além de propor
que intervenções da saúde pública deveriam dar ênfase aos segmentos da
população de maior risco (FROHLICH; POTVIN, 2008).
Trata-se de um referencial que analisa os problemas de saúde não só pela
ótica dos aspectos biológicos, mas estabelece o conceito de “Campo de Saúde”, que
seria constituído por quatro elementos principais compreendendo a biologia humana,
o meio ambiente, o estilo de vida e a organização dos serviços de saúde (DANTAS,
1996; SIMÃO, 2001; SIQUEIRA, 2002; SILVA, 2003). Tais elementos foram
30
estabelecidos analisando-se as causas e fatores básicos de doenças e morte no
Canadá, além do levantamento da influência destes elementos na instalação da
saúde naquele país (SIQUEIRA, 2002; SILVA, 2003).
Para Lalonde (1974), no modelo “Campo de Saúde” os problemas de saúde
da população são resultantes dos elementos já citados, que são:
A biologia humana que comporta aspectos da saúde física e mental
pertencentes ao corpo humano e à constituição orgânica do indivíduo.
Herança
genética
como
antecedentes
familiares,
processos
de
maturidade e envelhecimento e os diferentes sistemas internos do
organismo são considerados para compreendermos que o corpo humano
é complexo e que as repercussões das alterações são variadas, sérias e
podem contribuir para a morbimortalidade;
O meio ambiente que compreende todos os aspectos relacionados à
saúde externos ao corpo humano, incluindo o ambiente físico e o social.
Nestes ambientes, os indivíduos têm pouco ou nenhum controle, como na
qualidade da água, do ar, do meio ambiente, no ambiente físico e nas
mudanças ocorridas no ambiente social. Muitas vezes o indivíduo
contribui para o agravamento da situação deste meio ambiente como na
poluição do ar e das águas.
O estilo de vida que é o conjunto de decisões e hábitos de cada indivíduo,
sobre os quais possui maior ou menor controle, e que afetam a sua
saúde. Decisões e hábitos inadequados podem levar a riscos ditos
autocriados segundo Simão (2001) resultando em doenças ou mortes,
podendo-se então afirmar que o “estilo de vida” do indivíduo como o
sedentarismo, a alimentação inadequada, o tabagismo, o uso de bebidas
alcoólicas contribuiu ou causou as ocorrências.
A organização dos Serviços da Saúde é o último elemento deste
referencial e define-se como sistema de atenção à saúde consistindo na
qualidade, quantidade, administração, natureza e relação de pessoas e
recursos na oferta de cuidados à saúde. Incluem profissionais como
médicos e enfermeiros, além dos serviços de saúde públicos e privados,
ambulatoriais, farmácias, hospitais, entre outros. Os profissionais do
sistema de atenção à saúde, envolvidos com a realidade de sua clientela
31
permitem discussões, criam canais para esclarecimentos de dúvidas e
orientações,
aspectos
que
educam
ou
convidam
a
refletir
e,
consequentemente, podem levar à aquisição de estilos de vida que
possam determinar uma melhor qualidade de vida.
Visando uma interpretação holística do perfil de saúde dos profissionais
que atuam em uma Unidade de Unidade de Assistência Ambulatorial Especializada
do município de Ribeirão Preto/SP, optou-se por adotar o referencial de Campo de
Saúde (LALONDE, 1974).
32
3 REVISÃO DA LITERATURA
A avaliação do estado de saúde consiste na percepção que os indivíduos
possuem de sua própria saúde. É um indicador que engloba tanto componentes
físicos quanto emocionais dos indivíduos, além de aspectos do bem-estar e da
satisfação com a própria vida. A percepção do indivíduo sobre a saúde não
sobrevém apenas das sensações físicas de dor e desconforto, mas, sobretudo, das
consequências sociais e psicológicas da presença da enfermidade (PESQUISA
NACIONAL DE SAÚDE – PNS, 2013).
Nesta revisão de literatura serão abordados os temas que entendemos ser
pertinentes para contextualizar e subsidiar a discussão sobre a temática proposta,
considerando a articulação dos objetivos que foram traçados nesta investigação. Os
conteúdos contemplam a DCNT, fatores de risco para DCNT, qualidade de vida e a
ocorrência de DCNT, promoção de saúde e prevenção de doenças em
trabalhadores e o papel da Instituição empregadora no acompanhamento do seu
processo de saúde.
3.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
As DCNT, atualmente, são responsáveis pela maioria das doenças e mortes,
em muitos países, independentemente da condição socioeconômica.
Minayo (2000) refere que no âmbito médico desenvolveram-se vários
instrumentos de avaliação de qualidade de vida, sobre a idéia de complementar as
análises de sobrevida. Esses estudos evoluíram para integrar análises de custoutilidade, em voga na década de 1980, que ampliavam a visão restrita nos trabalhos
de custo-eficácia dos anos 70, criticados por se deterem apenas em indicadores
clínicos. Passou-se a considerar que os estudos de custo-utilidade são apropriados
quando a qualidade de vida é um resultado importante, usualmente apresentado
como custo por ano de vida ganho, ajustado pela qualidade ou Quality-Adjusted LifeYears (QALY).
Matematicamente, o QALY é calculado como a soma do produto de anos de
vida e a qualidade de vida em cada um desses anos. O estado de saúde pode ser
medido direta ou indiretamente. A cada um ano de vida em ótima saúde é atribuído
o valor 1 (um) e o valor 0 (zero) para o óbito (DASBACH; TEUTSCH, 1996).
33
O QALY posteriormente foi substituído por Disability-Adjusted Life-Years
(DALY), em português, anos de vida corrigidos pela incapacidade (AVCI). A
mudança fundamental entre um e outro é que o DALY, em lugar de buscar o valor
subjetivo atribuído pelos indivíduos a cada um dos estados de saúde, é construído a
partir da mortalidade estimada para cada doença e seu efeito incapacitante, ajustado
pela idade das vítimas e uma taxa de atualização, para calcular o valor de uma
perda futura. O conceito de incapacidade foi definido com a arbitragem exclusiva de
especialistas internacionais, segundo eles, buscando o máximo de objetividade
(BRUNET - JAILLY, 1997). Para calcular o DALY total de uma determinada condição
soma-se o número de anos perdidos por essa causa e o total de anos vividos com
incapacidades de conhecida severidade e duração.
O DALY foi utilizado no Relatório Anual do Banco Mundial de 1993,
comparando a carga de doenças nas diversas regiões do mundo e o custoefetividade de uma variedade de intervenções que lidam com esses problemas
(HINMAN, 1997). O propósito foi redirecionar os recursos das intervenções ditas de
maior custo por DALY ganho, de modo a garantir um pacote mínimo que reduza a
carga das doenças, sem aumentar os recursos da saúde.
O indicador Healthy Life-Year (HeaLY), que combina anos de vida perdidos
pela morbidade com os que são atribuídos à mortalidade prematura e pode ser
aplicado a indivíduos e a populações, foi comparado com o DALY por Hyder,
Rotland e Morrow (1998), demonstrando ser mais compreensível, mais simples e
flexível. Esses atributos, que facilitam sua utilização para tomada de decisão,
pareceram suficientes para que o recomendassem como medida da carga de
doença ou identificar grupos mais vulneráveis, ao se avaliarem o custo e os
benefícios dos programas de intervenção.
O projeto da OMS sobre a carga global de doença inclui dados desde 2000
sobre a incidência, a prevalência, a gravidade, a duração e a mortalidade de mais de
130 causas principais. Em 2005, as doenças cardiovasculares foram responsáveis
por 5,07 milhões ou 52% de todas as mortes do mundo, sendo a carga de doença
equivalente a 34 milhões de DALY. Apesar das considerações de que o status sócioeconômico não influi, existe diferença entre os países de renda baixa como os da
África onde a carga de doenças transmissíveis, condições maternas e perinatais são
maiores que as DCNT. Nos países de renda alta como Europa e América do Norte e
categorias intermediarias de renda, as DCNT sobressaem às demais causas
34
(ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE/ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE - OPAS/OMS, 2011).
De acordo com informações de Almeida e Cardona (2012), no ano de 2010, a
Organização das Nações Unidas (ONU) através da Resolução nº 265, decidiu
convocar para setembro de 2011, em Nova Iorque, uma reunião com a participação
dos chefes de Estado para discutir as DCNT. Pela terceira vez a ONU chamou uma
reunião de alto nível para discutir temas de saúde, o que representa uma janela de
oportunidade, significando um momento decisivo para engajamento dos líderes de
Estado e Governo na luta contra as DCNT, bem como para a inserção do tema das
DCNT como fundamental para o alcance das metas dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, em especial, aquelas relativas à redução da pobreza e
desigualdade (GENEAU et al., 2011).
No contexto mundial, em 2008, as DCNT foram responsáveis por 63% dos
óbitos sendo as principais causas de morte no mundo. Aproximadamente 80% das
mortes por DCNT vêm ocorrendo em países de baixa e média renda e, um terço
dessas mortes, em pessoas com idade inferior a 60 anos. A maioria destes óbitos é
por Doença Arterial Coronariana (DAC), câncer, diabetes e doenças respiratórias
crônicas. As principais causas dessas doenças incluem fatores de risco modificáveis
como o tabagismo, consumo nocivo de bebida alcoólica, inatividade física e
alimentação inadequada. O estado de saúde pode ser medido direta ou
indiretamente (BRASIL, 2011e).
No Brasil o panorama das DCNT acompanha a tendência mundial, sendo
responsável por 72% das mortes e representando 75% dos gastos com atenção à
saúde no Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 2011e). Estes dados mostram
uma mudança nas cargas de doenças, considerando que as DCNT provocam um
forte impacto na qualidade de vida dos indivíduos afetados, uma maior possibilidade
de morte prematura e os efeitos econômicos adversos para as famílias,
comunidades e sociedade em geral.
Apesar dos dados apresentados, observou-se redução nas doenças
relacionadas ao aparelho circulatório e respiratório de caráter crônico. A redução das
DCNT pode ser em parte, atribuída à expansão da atenção primária, melhoria da
assistência e redução do tabagismo nas últimas duas décadas, que passou de
34,8% (1989) para 15,1% (2010). Entretanto, as taxas de mortalidade por diabetes e
câncer aumentaram nesse mesmo período (BRASIL, 2011e).
35
3.2 FATORES DE RISCO PARA A OCORRÊNCIA DE DCNT
As DCNT são multifatoriais, se desenvolvem no decorrer da vida e são de
longa duração. Segundo estimativas da OMS, as DCNT já são consideradas um
sério problema de saúde pública, sendo responsáveis por 58,5% das mortes e
45,9% da carga de doença no mundo (WHO, 2002; SCHRAMM; OLIVEIRA; LEITE,
2004; MONTEIRO, 2005).
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) vêm aumentando no Brasil,
hoje alcançando 72% do total de óbitos (SCHMIDT; DUNCAN, 2011).
Segundo o Relatório Mundial de Saúde 2013 (WHO, 2013) há a necessidade
e exigência pública para com acesso a cuidados de boa qualidade, e isto aumenta
mais a pressão pela escolha de políticas inteligentes e oportunidades para aumentar
a eficiência. Estima que entre 20% e 40% de todos os gastos em saúde são
atualmente desperdiçados por ineficiência. Investir esses recursos de modo mais
inteligente pode ajudar os países a chegarem mais perto da cobertura universal sem
aumentar os gastos.
As “circunstâncias em que as pessoas crescem, vivem, trabalham e
envelhecem” influenciam fortemente como as pessoas vivem e morrem (WHO,
2013). A educação, habitação, alimentação e emprego influenciam a saúde. Reduzir
as desigualdades nestas áreas reduzirá as desigualdades em saúde.
Nas DCNT existe a associação de fatores complexos e multivariáveis por se
tratarem de doenças presentes no cotidiano dos indivíduos, por provocarem
alterações objetivas e subjetivas em seu dia a dia e por serem, consequentemente,
responsáveis por mudanças de comportamento (OPAS, 2004; McQUEEN, 2007).
Os principais fatores ambientais modificáveis das DCNT são os hábitos
alimentares inadequados, o sedentarismo, sobrepeso e obesidade, associados às
mudanças no estilo de vida como o consumo abusivo de álcool, a cessação do
tabagismo e o controle do estresse psicoemocional (BRASIL, 2011e).
Dentro da prevenção, o monitoramento da prevalência dos fatores de risco
para DCNT, especialmente daqueles de natureza comportamental, permitem, por
meio das evidências observadas, a implementação de ações preventivas com maior
custo-efetividade (BRASIL, 2011e).
No entanto, o padrão comportamental e os hábitos de vida estão
estreitamente relacionados com condições objetivas de oferta, demanda, consumo,
36
modismo e ainda as representações sociais da cultura e das relações sociais
estabelecidas na sociedade.
Os fatores de risco para a população brasileira estão relacionados ao baixo
nível de atividade física no lazer na população adulta (15%), baixo consumo de
frutas e hortaliças por semana (18,2%), elevado consumo de alimentos com alto teor
de gordura (34%) e consumo de refrigerantes em 5 ou mais dias por semana (28%),
contribuindo para o aumento da prevalência de excesso de peso em 48% e 14% de
obesidade, na população adulta, sem esquecer-se das crianças e adolescentes já
apresentando níveis nada satisfatórios (BRASIL, 2011e).
Entre as neoplasias, temos o câncer de mama e o de colo uterino ocupando
as primeiras posições e, por isso, é necessário incrementar a cobertura da
mamografia e do exame preventivo de colo uterino entre as mulheres de todo o país
(BRASIL, 2011e).
3.2.1 Doença Arterial Coronariana
A DAC é um tipo de doença cardíaca, e pode ser definida como condição
caracterizada por anormalidades funcionais ou estruturais das artérias coronárias, o
que causa fornecimento inadequado de sangue ao músculo cardíaco, resultando em
diminuição da oferta de oxigênio para o miocárdio (FAGUNDES, 2011).
No Brasil, a DAC é uma das principais causas de morte e internação
hospitalar, segundo dados do Departamento de Informática do SUS - DataSUS.
Além da alta prevalência, a DAC causa alta morbidade e alto custo para os sistemas
de saúde (BITTENCOURT; OLIVEIRA; GOWDAK, 2010). Segundo Cerqueira e
colaboradores (2002), a DAC é a primeira causa de óbito nas sociedades modernas.
O
principal
mecanismo
patogenético
da
DAC,
que
ocorre
em
aproximadamente 90% dos casos, é a obstrução arterial, lenta e gradual, causada
por placa aterosclerótica (depósitos gordurosos na parte interna das suas artérias).
Clinicamente, pode se apresentar de diferentes formas, dores no peito (angina), falta
de ar ou outros sintomas. Um bloqueio completo pode causar um ataque cardíaco.
Na forma crônica, a angina estável constitui a principal manifestação clínica da
doença, sendo o quadro inicial em 50% dos pacientes. Entretanto, a DAC também
pode estar presente na ausência de angina e, nestes casos, as manifestações mais
comuns compreendem a isquemia silenciosa e cardiopatia isquêmica (TRATADO
37
DE CARDIOLOGIA DA ASSOCIAÇÃO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DE
SÃO PAULO - SOCESP, 2009).
Uma fórmula de previsão na população em geral, quanto à probabilidade de
doença coronariana é calculada com base nos resultados do Estudo de
Framingham. De acordo com faixa etária, sexo, valores de pressão arterial sistólica,
valores da razão entre o colesterol total e a fração HDL, presença de tabagismo e
diagnóstico de diabetes é possível estabelecer o risco de infarto do miocárdio e
angina do peito, em dez anos. O escore de Framingham pode ser útil na
comparação de populações, mas traz pouca utilidade na prática clínica, conforme
salienta Lotufo (2008).
Dados do Estudo de Framingham sugerem que, para um sujeito adulto de 40
anos de idade, o risco de desenvolver DAC durante a vida é de 49% para homens e
32% para mulheres (BITTENCOURT; OLIVEIRA; GOWDAK, 2010).
3.2.2 Diabetes
O termo diabetes mellitus descreve uma desordem metabólica de etiologia
múltipla, caracterizada por uma hiperglicemia crônica com distúrbios no metabolismo
dos hidratos de carbono, lipídeos e proteínas, resultantes de deficiências na
secreção ou ação da insulina, ou de ambas (SOCIEDADE PORTUGUESA DE
DIABETOLOGIA – SPD, 2015). O diabetes mellitus caracteriza-se por um transtorno
metabólico causado por hiperglicemia (elevação da glicose sanguínea) resultado de
distúrbio
no
mecanismo
de
açúcares
(SOCIEDADE
BRASILEIRA
DE
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA – SBEM, 2015).
Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina,
que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta. A função principal da
insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo de forma que
ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina
ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o
que chamamos de hiperglicemia (SBEM, 2015).
O diagnóstico precoce do diabetes é importante não só para prevenção das
complicações agudas, como também para a prevenção de complicações crônicas.
A assistência médica a portadores de diabetes é feita principalmente nas
Unidades Básicas de Saúde, sendo encaminhados para a Unidade de Assistência
38
Especializada de Saúde somente os casos mais complicados e que necessitam de
um olhar mais detalhado do especialista. As medicações para o tratamento do
diabetes são disponibilizadas na rede SUS e também no Programa da Farmácia
Popular.
3.2.3 Obesidade
De acordo com a World Health Organization (WHO, 2004), a obesidade é
frequentemente definida como uma condição anormal ou excessiva de acúmulo de
gordura no tecido adiposo, regionalizado ou em todo o corpo. Pode atingir a
extensão na qual a saúde do indivíduo pode ser prejudicada, por ser um grande fator
de risco para DCNT. Em termos simples, a obesidade é uma consequência de um
desbalanço energético, onde a ingestão de energia excede o gasto energético, ao
longo de um considerável período.
A prevalência da obesidade tem crescido rapidamente e representa um dos
principais desafios de saúde pública neste início de século.
Suas complicações incluem o DM-2, a hipercolesterolemia, a hipertensão
arterial, doenças cardiovasculares, apneia do sono, problemas psicossociais,
doenças ortopédicas e diversos tipos de câncer (COUTINHO, 2014). A escalada
vertiginosa da obesidade em diferentes populações, incluindo países industrializados
e economias em transição, levanta a questão de quais fatores estariam
determinando esta epidemia. É provável que a obesidade surja como resultante de
fatores poligênicos complexos e um ambiente obesogênico (COUTINHO, 2014).
Considerando-se que o patrimônio genético da espécie humana não pode ter sofrido
mudanças importantes neste intervalo de poucas décadas, certamente os fatores
ambientais devem explicar esta epidemia.
Quando se busca a explicação para a epidemia global de obesidade,
certamente os esforços devem concentrar-se na identificação de fatores ambientais
envolvidos (GORTMAKER et al.,1993; HILL; PETERS, 1998; EPSTEIN et al., 2000).
O meio ambiente predominante em todos os países ocidentais ou com
hábitos de vida ocidentalizados caracteriza-se por oferta ilimitada de alimentos
baratos, palatáveis, práticos e de alta concentração energética. Alia-se a essa
situação o sedentarismo crescente, com a prática de atividades físicas cada vez
mais dificultadas, principalmente nas grandes cidades (HILL; PETERS, 1998).
39
Apesar
de
existirem
experiências
bem
sucedidas
de
intervenções
comunitárias visando promover hábitos alimentares mais saudáveis, principalmente
na infância, como defendem Birch e Fisher (1998), sua implementação esbarra na
forte influência que a propaganda de alimentos exerce sobre as preferências
alimentares das crianças.
3.2.4 Tabagismo
O Programa Nacional de Controle do Tabagismo – PCNT (2003) tem como
objetivo geral reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade
relacionada ao consumo de derivados do tabaco no Brasil, envolvendo dois grandes
objetivos específicos: reduzir a iniciação do tabagismo, principalmente, entre jovens
e aumentar a cessação de fumar entre os que se tornaram dependentes, além de
proteger todos dos riscos do tabagismo passivo.
O Ministério da Saúde (MS) tem como meta, para 2022, reduzir em 30% a
prevalência do tabagismo em adultos utilizando-se de ações educativas; promoção,
apoio e cessação de fumar e mobilização de medidas legislativas e econômicas para
controle do tabaco. A legislação brasileira para controle do tabaco é reconhecida por
ser uma das mais fortes do mundo, entretanto, é alvo de constantes desafios.
Em mais uma ação de prevenção surge o Decreto nº 8.262/14, que proíbe o
uso de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco em recinto coletivo fechado;
e proíbe também a propaganda dos produtos, exceto a sua exposição de venda.
(BRASIL, 2014a).
3.2.5 Alcoolismo
No Brasil, diversas estatísticas apontam que o alcoolismo afeta entre 3% e
6% da população, havendo uma prevalência de 5 homens para cada mulher
acometida pela doença (PNS, 2013; SILVA; DIAS; SILVA, 2013).
O alcoolismo é o consumo excessivo, duradouro e compulsivo de bebidas
alcoólicas, que degrada a vida pessoal, familiar, profissional e social do indivíduo.
Antes da dependência ocorre a tolerância, que é o fato de uma pessoa precisar de
doses cada vez maiores para produzir os mesmos efeitos que antes conseguia com
doses menores (PNS, 2013; SILVA; DIAS; SILVA, 2013).
40
Diz-se que uma pessoa é dependente do álcool quando ela não tem mais
forças para interromper o consumo e, se o interrompe, apresenta sintomas
desagradáveis que cedem com o retorno ao álcool. A esse fato chama-se
abstinência (SILVA; DIAS; SILVA, 2013). Em sua evolução, o alcoolismo também
leva a doenças físicas e psíquicas, algumas irreversíveis e que podem resultar em
morte (SILVA; DIAS; SILVA, 2013, PNS, 2013).
O alcoolismo gera custos muito altos para os serviços de saúde em todo o
mundo, além de outros representados pela queda de produtividade, pois os
alcoólatras têm os seus rendimentos profissionais seriamente prejudicados ou ficam
impedidos de trabalhar (SILVA; DIAS; SILVA, 2013).
A meta do MS no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das
DCNT até 2022 é de redução de 10% na prevalência do consumo abusivo de álcool
em adultos, ou seja, quatro doses ou mais em mulheres e cinco doses ou mais em
homens, nos últimos 30 dias. A Lei nº 12.760/2012, que reforça a popularmente
conhecida “Lei Seca” nº 11.705/2008 (visa coibir a condução de veículo motorizado
após o consumo de bebidas alcoólicas), e altera no Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) o valor da multa administrativa, podendo a mesma dobrar em caso de
reincidência no período de 12 meses, além de ampliar as possibilidades de provas
da infração de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa,
as quais foram disciplinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) na
Resolução nº 432 de 23 de janeiro de 2013. O país deve também avançar no marco
regulatório desse setor, especialmente na proibição da propaganda de cervejas;
além de apoiar as ações fiscalizatórias em relação à venda de bebidas alcoólicas
aos menores de 18 anos (BRASIL, 2011e).
3.2.6 Atividade Física e Sedentarismo
A prática regular de atividade física, exercício ou esportes é considerada
como fator de proteção à saúde das pessoas.
Já estão disponíveis vários instrumentos para avaliar o Nível de Atividade
Física (NAF) de determinada população. Esses métodos podem variar desde
monitores eletrônicos (como, por exemplo, os sensores de movimentos) até
levantamentos realizados através de questionários. O International Pyisical Activity
Questinonnaire (IPAQ), do Centro Coordenador do IPAQ no Brasil, Centro Estudos
41
Laboratório de Aptidão Física São Caetano do Sul (CELAFISCS), define a
Classificação do Nível de Atividade Física em indivíduos sedentários, irregularmente
ativos, ativos e muito ativo (MATSUDO et al., 2001).
Os indivíduos adultos fisicamente ativos podem ser classificados em quatro
domínios: no lazer (no tempo livre), no trabalho, no deslocamento, e no âmbito das
atividades domésticas.
O nível recomendado de atividade física no lazer (no tempo livre) é de, pelo
menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade leve ou moderada
ou de, pelo menos 75 minutos de atividade física de intensidade vigorosa (PNS,
2013).
O tempo gasto em comportamentos sedentários está fortemente relacionado
ao aumento do risco de se contrair doenças; havendo múltiplas evidências de que o
número de horas diárias que o indivíduo despende vendo televisão aumenta sua
exposição à obesidade e, consequentemente, a outras doenças (PNS, 2013).
Estes fatores de risco comportamentais ou condutas de risco constituem
metas primordiais da prevenção de enfermidades e a educação em saúde tem sido
utilizada tradicionalmente para atingir essa meta. No entanto, dentro do marco mais
amplo da promoção da saúde, os fatores de risco podem ser considerados como
respostas às condições de vida adversas e as ações devem incluir a criação de
ambientes favoráveis à saúde (OMS, 1988).
As diversas definições de determinantes sociais de saúde (DSS) expressam,
com maior ou menor nível de detalhe, o conceito atualmente generalizado de que as
condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão
relacionadas com sua situação de saúde. Para a Comissão Nacional sobre os
Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os DSS são os fatores sociais,
econômicos,
culturais,
étnico/raciais,
psicológicos
e
comportamentais
que
influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na
população (BUSS; PELLEGRINI, 2007).
Estes determinantes correspondem a um conjunto de fatores que caracteriza
as particularidades dos indivíduos e também reflete sua inserção em um tempoespaço, condicionando o processo saúde-doença na especificidade do indivíduo e
na abrangência do modo de vida coletivo.
Os determinantes sociais principais para as DCNT são as desigualdades
sociais, as diferenças no acesso aos bens e aos serviços, a baixa escolaridade, as
42
desigualdades no acesso à informação; fatores esses somados aos fatores de risco
modificáveis, como o tabagismo, consumo de bebida alcoólica, inatividade física e
alimentação inadequada, o que torna possível sua prevenção (BRASIL, 2011e).
3.3 QUALIDADE DE VIDA E A OCORRÊNCIA DE DCNT
A Qualidade de Vida (QV) foi definida pelo Grupo de Qualidade de Vida, da
Divisão de Saúde Mental da WHO, como “a percepção do indivíduo de sua posição
na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação
aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Nessa definição, é
implícito que o conceito de qualidade de vida é subjetivo e multidimensional,
incluindo elementos de avaliação positivos e negativos (WHO, 1995).
Saúde não significa apenas não estar doente, mas alcançar o estado de
satisfação e plenitude consigo próprio e com a vida (KOLOTKIN et al., 2006).
A QV relacionada à saúde é avaliada com base em dados mais objetivos e
mensuráveis, aplicados a pessoas reconhecidamente doentes do ponto de vista
físico, referindo-se ao grau de limitação associada ao desconforto que a doença e/ou
sua terapêutica acarretam (NAHAS, 2003).
Os estudos têm sugerido que a QV diminui, à medida que o número de
complicações crônicas do doente aumenta, e que a gravidade das complicações
crônicas é uma variável preditora mais forte do que o número dessas complicações.
(GLASGOW et al., 1997). A elevada prevalência de sintomas das complicações
crônicas, combinada com seu significativo impacto negativo, parecem causar uma
diminuição da QV e da utilidade destes, quer do ponto de vista individual, quer do
social (HAHL et al., 2002).
Diante da preocupação de caracterizar essa percepção do indivíduo sobre
seu estado de saúde e sua qualidade de vida, diversos estudos têm sido realizados
com esta finalidade.
Sabemos que a ocorrência de DCNT, em geral, leva à invalidez parcial ou
total do indivíduo, com graves repercussões para ele, sua família e a sociedade,
levando à diminuição da QV e ao aumento dos custos da assistência à saúde.
No Brasil, as DCNT representam parcela substancial, senão a mais
importante, dos gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema de Saúde
Suplementar. As doenças cardiovasculares, o diabetes, as neoplasias, as doenças
43
respiratórias crônicas e as musculoesqueléticas representam parcela substancial
das despesas com a assistência hospitalar (BRASIL, 2011e).
As taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias
crônicas estão diminuindo, provavelmente como resultado do controle do tabagismo
e do maior acesso à atenção primária – que necessitam ser incrementados
(BRASIL, 2011e).
A epidemia de obesidade, com consequente crescimento da prevalência de
diabetes e hipertensão, ameaça o decréscimo adicional das DCNT. Tendências
desfavoráveis na maioria dos fatores de risco mostram a necessidade de ações
adicionais de promoção e prevenção da saúde, especialmente na forma de
legislação, regulamentação e intervenções locais, e daquelas que permitem
cuidados integrais (BRASIL, 2011e).
As atividades de vigilância em saúde relacionadas às doenças e agravos não
transmissíveis são primordiais para algumas das funções essenciais de saúde
pública como a monitoração e a análise da situação de saúde além da intervenção e
o controle de riscos e danos às populações. Constituem ações relevantes para
organização e funcionamento do SUS e a sua realização de forma adequada e
contribuem para o melhor aproveitamento dos recursos destinados às ações e
serviços públicos de saúde (ROSA, 2013).
Como resposta ao desafio das DCNT, o Ministério da Saúde do Brasil tem
implementado importantes políticas de enfrentamento dessas doenças, com
destaque para a Organização da Vigilância de DCNT, cujo objetivo é conhecer a
distribuição, magnitude e tendência das doenças crônicas e agravos e seus fatores
de risco e apoiar as políticas públicas de promoção da saúde, e lançou, em agosto
de 2011, o “Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022”.
O plano, anteriormente citado, tem por meta reduzir em 2% ao ano a taxa de
mortalidade prematura causada por DCNT até 2022. Entretanto, o enfrentamento
das DCNT ainda exige esforços do setor Saúde; e de outros setores, dada sua
magnitude e complexidade de seus determinantes.
3.4
PROMOÇÃO
TRABALHADORES
DE
SAÚDE
E
PREVENCÃO
DE
DOENÇAS
EM
44
A Carta de Ottawa, resultado da I Conferência Internacional sobre Promoção
de Saúde, realizada em 1986, afirma oficialmente a constatação de que os principais
determinantes da saúde são exteriores ao sistema de tratamento. Este documento
postula a ideia da saúde como qualidade de vida resultante de complexo processo
condicionado por diversos fatores, tais como a alimentação, justiça social,
ecossistema, renda e educação. Mudar os modos de vida, de trabalho e de lazer
tem um significativo impacto sobre a saúde. Trabalho e lazer deveriam ser fontes de
saúde para as pessoas. A organização social do trabalho deveria contribuir para a
constituição de uma sociedade mais saudável. A promoção da saúde gera
condições de vida e trabalho seguras, estimulantes, satisfatórias e agradáveis.
No Brasil, a conceituação ampla de saúde assume destaque nesse mesmo
ano, tendo sido incorporada ao Relatório Final da VIII Conferência Nacional de
Saúde (CNS, 1986):
Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas
de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de
promoção, proteção e recuperação da saúde, em todos os seus
níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando ao
desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade
(BRASIL, 1986).
As ações próprias dos sistemas de saúde precisam estar articuladas, sem
dúvida, a outros setores disciplinares e de políticas governamentais responsáveis
pelos espaços físico, social e simbólico. Essa relação entre intersetorialidade e
especificidade é, não obstante, um campo problemático, pois sustenta uma tensão
entre a demarcação dos limites da competência específica das ações do campo da
saúde e a abertura exigida à integração com outras múltiplas dimensões. Promover
a vida em suas múltiplas dimensões envolve, por um lado, ações do âmbito global
de um Estado e, por outro, a singularidade e autonomia dos sujeitos (CZERESNIA,
1999).
As propostas de promoção da saúde em Leavell e Clark privilegiavam ações
educativas normativas voltadas para indivíduos, famílias e grupos (BUSS, 2003). O
ideário da medicina preventiva acabou por produzir uma redução dos aspectos
sociais do processo saúde e doença, naturalizando-os ao construir modelos
explicativos até históricos do adoecer humano (AROUCA, 1975). Sem dúvida, as
ações de promoção da saúde, apresentadas como componente da prevenção
primária, estão bem aquém da contundente compreensão da relação entre saúde e
45
sociedade expressa nos estudos de medicina social no século XIX (CZERESNIA,
2003).
A concepção de níveis de prevenção foi incorporada ao discurso da Medicina
Comunitária, no Brasil, na década de 1960 e orientou o estabelecimento de níveis de
atenção nos sistemas e serviços de saúde que vigora até hoje. Esta idéia foi
amplamente difundida durante os anos 70 e 80 juntamente com a proposta de
Atenção Primária em Saúde “saúde para todos no ano 2000”, contida na declaração
de Alma-Ata (TEIXEIRA; SOLLA, 2006). Contudo, o desenvolvimento da medicina
no Brasil manteve a predominância de uma prática individual, com enfoque curativo
dos problemas de saúde e as dicotomias teoria-prática, psíquico-orgânico indivíduosociedade (TORRES, 2002).
A incorporação de alta tecnologia elevou progressivamente os custos dos
procedimentos, conduzindo os sistemas de saúde dos países ocidentais a uma crise
estrutural. Esta crise gerou a necessidade de reformas nos sistemas de saúde. Daí,
o resgate de propostas que, na origem, tenderam a ficar subalternas.
É nesse contexto que, especialmente no Canadá, ampliou-se a ideia de
promoção da saúde (TEIXEIRA; SOLLA, 2006).
O Informe Lalonde, documento oficial do Governo do Canadá publicado em
1974, é um dos marcos desta tendência. Este documento define o conceito de
campo da saúde como constituído de quatro componentes: biologia humana, meio
ambiente, estilos de vida e organização da atenção à saúde. Esta definição está
mais ajustada ao conhecimento construído no âmbito da epidemiologia de doenças
não transmissíveis, apresenta uma orientação claramente preventiva (TERRIS,
1996) e uma referência explícita à necessidade de racionalização dos gastos com
assistência à saúde:
Até agora, quase todos os esforços feitos pela sociedade para
melhorar a saúde e a maioria dos gastos diretos em saúde
centraram-se na organização dos serviços de atenção sanitária. Sem
dúvida, quando identificamos as principais causas atuais de doença
e morte no Canadá, vemos que estão arraigadas nos outros três
elementos do conceito: biologia humana, meio ambiente e estilos de
vida. Portanto, é evidente que se gasta grandes somas no tratamento
de doenças que poderiam ser evitadas (LALONDE, 1974 apud
TERRIS, 1996, p. 39-40).
Dentro desta perspectiva, mudanças de estilo de vida ou comportamentos
relativos à alimentação, exercícios físicos, fumo, drogas, álcool, conduta sexual são
reafirmadas nas estratégias de promoção e prevenção de saúde propostas. Além
46
disso, resgata-se a compreensão do papel fundamental das condições gerais de
vida sobre a saúde.
Para estimular hábitos de vida mais saudáveis e dar assistência qualificada às
pessoas com DCNT, o MS instituiu a Rede de Atenção à Saúde para esses usuários
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A rede pretende fortalecer o cuidado
integral aos brasileiros e humanizar o atendimento, ampliando as estratégias de
promoção da saúde e de prevenção com reforço às ações de diagnóstico,
tratamento, reabilitação e redução de danos ((BRASIL, 2011a; AMERICO, 2013).
“Representa um avanço no combate ao desenvolvimento de doenças
crônicas, assegurando ao brasileiro atendimento qualificado e articulado entre todas
as unidades de atenção à saúde”.
A rede pretende funcionar com linhas de
cuidados específicas voltadas à prevenção e tratamento das DCNT, principalmente
o Diabetes, a Hipertensão Arterial, alguns tipos de cânceres, além de combater o
excesso de peso e a obesidade, incluindo o tratamento cirúrgico para a obesidade
grave. Os critérios para a implantação dessas linhas de cuidados serão definidos
pelo MS, em normativas específicas (AMERICO, 2013).
De acordo com a OMS, as doenças crônicas constituem um dos grandes
desafios de saúde pública. No ano de 2020, elas serão responsáveis por 80% da
carga de doença nos países em desenvolvimento. Atualmente, apenas 20% da
população nesses países realizam o tratamento prescrito ou aderem a terapias de
longo prazo (SILVA; DIAS; SILVA, 2013; AMERICO, 2013).
O Programa Academia da Saúde, lançado em 2011, pelo MS, é a principal
estratégia para induzir o aumento da prática da atividade física na população;
entretanto, não se restringe às práticas corporais e atividades físicas. As ações
propostas nessa perspectiva mais ampliada de saúde, devem estar culturalmente
inseridas e adaptadas aos territórios locais, incluem também práticas integrativas e
complementares, práticas artísticas, educação em saúde e alimentação saudável –
todas desenvolvidas em um espaço físico denominado de polo, construído
exclusivamente para tal fim (BRASIL, 2013).
A iniciativa prevê a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e
profissionais qualificados para a orientação de práticas corporais, atividades físicas e
lazer com o objetivo de contribuir para a promoção da saúde, alimentação saudável,
produção do cuidado e de modos de vida saudáveis da população. Atualmente, há
mais de 2,6 mil polos habilitados para a construção em todo o país e outros 155
47
projetos pré-existentes que foram adaptados e custeados pelo MS. O MS ainda tem
como meta estabelecida habilitar 4.800 polos do Programa Academia da Saúde até
o final de 2015 (AMERICO, 2013; BRASIL, 2014).
Para melhorar a dieta dos brasileiros e qualidade de vida, o MS também
firmou um acordo com a indústria alimentícia que prevê a redução gradual do teor de
sódio em 16 categorias de alimentos. A previsão é de que, até 2020, estejam fora
das prateleiras mais de 20 mil toneladas com o teor deste alimento. Se o consumo
de sódio for reduzido para a recomendação diária da OMS (menos de cinco gramas
por pessoa diariamente), os óbitos por Acidente Vascular Cerebral (AVC) podem
diminuir em 15%, e as mortes por infarto em 10%. Ainda estima-se que 1,5 milhões
de brasileiros não precisaria de medicação para hipertensão e a expectativa de vida
seria aumentada em até quatro anos (AMERICO, 2013).
A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS) revisada em
2014 aponta a necessidade de articulação com outras políticas
públicas para fortalecê-la, com o imperativo da participação social e
dos movimentos populares, em virtude da impossibilidade de que o
Setor Sanitário responda sozinho ao enfrentamento dos
determinantes e condicionantes da saúde.
Assim, objetivos, princípios, valores, diretrizes, temas transversais,
estratégias operacionais, responsabilidades e temas prioritários,
reformulados e atualizados para esta política do Estado brasileiro,
visam à equidade, à melhoria das condições e dos modos de viver e
à afirmação do direito à vida e à saúde, dialogando com as reflexões
dos movimentos no âmbito da promoção da saúde (BRASIL, 2014, p.
6).
3.5 O PAPEL DA INSTITUIÇÃO EMPREGADORA NO ACOMPANHAMENTO DO
PROCESSO DE SAÚDE DOS TRABALHADORES
A saúde do trabalhador é o campo da saúde pública que tem como objeto de
estudo e intervenção as relações-consumo e o processo saúde-doença das pessoas
e dos trabalhadores, de modo particular. Nas premissas que conformam o campo,
destaca-se a compreensão do trabalho como organizador da vida social e
determinante das condições de vida e saúde das pessoas, espaço de dominação e
resistência dos trabalhadores. A transformação dos processos produtivos, no sentido
de torná-los promotores de saúde e não de adoecimento e morte, constitui foco dos
estudos e das intervenções, além de um desafio permanente (MENDES; DIAS,
1991).
48
No cotidiano dos serviços de saúde, a contribuição do trabalho na
determinação da qualidade de vida das pessoas e dos trabalhadores, de modo
único, aparece geralmente traduzida nos efeitos negativos: os acidentes e as
doenças relacionadas ao trabalho.
O processo de reestruturação produtiva desencadeado pela globalização da
economia e dos mercados e a viabilização pelas novas tecnologias e novos meios
de comunicação acarretaram mudanças significativas no mundo do trabalho, com
repercussões sobre a natureza do trabalho, sobre o perfil dos trabalhadores, os
modos de vida e o processo saúde-doença.
Nessa direção, surgiram as terceirizações e quarteirizações, causando uma
precarização das relações de trabalho, com desregulamentação e perda de direitos
trabalhistas e sociais, a fragilização das organizações sindicais, a subcontratação de
força de trabalho, com rebaixamento dos níveis salariais e descumprimento de
regulamentos de proteção à saúde e segurança, acúmulo de funções, informalização
do trabalho. Tal contexto está associado à exclusão social e à precarização das
condições de saúde (BORGES; DRUCK, 2002).
As mudanças na organização e gestão do trabalho repercutem sobre o perfil
epidemiológico da população trabalhadora e se expressam nos acidentes de
trabalho, nas intoxicações por agrotóxicos, metais e solventes, nos quadros de
pneumopatias, nas Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), estresse, fadiga física, sofrimento psíquico
e mental. Além disso, a violência urbana e a criminalidade estendem-se aos
ambientes de trabalho, na forma de assaltos, lesões corporais e morte entre
motoristas, policiais, vigilantes, bancários, trabalhadores da saúde, agentes
penitenciários e da segurança pública, dentre outros.
Observa-se também um aumento considerável dos acidentes de trânsito em
especial com os trabalhadores na rua, motociclistas profissionais, no exercício de
suas atividades e os acidentes de trajeto, relacionados ao transporte de
trabalhadores, na ida ou volta para casa/serviço (SANTANA et al., 2009). Este
cenário reforça a complexidade e o desafio de se prover a atenção integral à saúde
dos trabalhadores.
A publicação da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho
(PNSST), pelo Decreto Presidencial nº 7.602, de 07 de novembro de 2011 (BRASIL,
2011a), representou um marco histórico na abordagem das relações trabalho-saúde
49
e doença no Brasil. Pela primeira vez, um documento oficial explicita as
responsabilidades e ações a serem desenvolvidas pelos organismos de governo
responsáveis pela proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores. Busca-se,
dessa forma, superar a fragmentação e a superposição das ações desenvolvidas
pelos setores Trabalho, Previdência Social, Saúde e Meio Ambiente por meio da
articulação das ações de governo, com participação voluntária das organizações
representativas de trabalhadores e empregadores (BRASIL, 2011a).
A PNSST tem como princípios norteadores a universalidade, a integralidade,
o diálogo social e a precedência das ações de promoção, proteção e prevenção
sobre as de assistência e reabilitação. Os objetivos propostos são a promoção da
saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes
e danos à saúde relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele (BRASIL,
2011a).
A diretriz de incluir no sistema nacional de promoção e proteção da saúde no
trabalho todos os trabalhadores brasileiros (os formalmente registrados de acordo
com as prescrições da Consolidação das Leis do Trabalho, os autônomos, os
domésticos e os informais, além de civis e militares, servidores da União, dos
Estados e dos Municípios) é inovadora.
Esse desafio é ampliado no contexto de transformações observadas no
mundo do trabalho e no modelo prevalente de desenvolvimento adotado para o país,
marcado pela precarização do trabalho e o desemprego estrutural, que reforçam a
desigualdade social (DRUCK, 2011).
Assim, a efetiva implementação da PNSST exige políticas afirmativas de
inclusão social e depende da participação dos trabalhadores, como destaca Facchini
(2006) ao analisar a versão preliminar do documento apresentado como subsídio às
discussões na 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, realizada em
2005, sob a coordenação compartilhada dos Ministérios da Saúde, do Trabalho e
Emprego e da Previdência Social.
O Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, publicado em abril de
2012, detalha os aspectos operacionais da Política visando facilitar sua
implementação (BRASIL, 2012a).
Entre as competências atribuídas ao MS, o artigo VII, letra a, explicita o
fomento da:
50
[...] atenção integral à saúde dos trabalhadores, envolvendo a
promoção de ambientes e processos de trabalho saudáveis, o
fortalecimento da vigilância de ambientes, processos e agravos
relacionados ao trabalho, a assistência integral à saúde dos
trabalhadores, incluindo a reabilitação física e psicossocial (BRASIL,
2011a).
Entre os aspectos facilitadores para que o MS desempenhe bem essa
atribuição, o princípio constitucional da universalidade de acesso ao cuidado da
saúde, presente também como um dos pilares para a organização e o
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), antecipa e contempla a
prescrição do Decreto nº 7.602/11. Diferentemente da atuação do Ministério do
Trabalho e Emprego e da Previdência Social, cujas práticas estão historicamente
vinculadas aos trabalhadores do setor formal de trabalho, o SUS nasce sob a
orientação de cuidar de todos os trabalhadores (BRASIL, 1990). A capilaridade da
rede de serviços do SUS, presente em todos os municípios brasileiros, permite
alcançar os trabalhadores, o mais próximo de onde moram e trabalham, por meio
dos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS).
Este texto discute a contribuição do SUS para a estruturação da atenção
integral à saúde dos trabalhadores prescrita na PNSST, considerando o modelo da
Rede da Atenção à Saúde e o papel ordenador e coordenador do cuidado atribuído
à APS. No texto, as expressões “Atenção Básica” e “Atenção Primária à Saúde” são
utilizadas como sinônimas, seguindo as orientações emanadas da Política Nacional
de Atenção Básica de 2011 (BRASIL, 2011b).
O conceito de atenção integral à saúde do trabalhador é polissêmico. A
Constituição Federal de 1988 define o atendimento integral como diretriz e reforça a
prioridade das atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
(BRASIL, 1988).
A00 Lei Orgânica nº 8.080 porém, estabelece como princípio, a integralidade
da assistência, abrangendo as ações necessárias, em cada caso, em todos os
níveis de atenção e, desse modo, permitindo a interpretação de que o termo se
refere a ações assistenciais resolutivas (BRASIL, 1990).
De acordo com a PNSST, as ações de promoção e proteção da saúde e a
prevenção de agravos e do adoecimento são indissociáveis da assistência, incluindo
a reabilitação em nível individual e coletivo.
Ao considerar os aspectos biológicos, sociopolíticos e culturais determinantes
do processo saúde-doença este conceito é o que mais se aproxima daquele
51
proposto pelo movimento da Saúde do Trabalhador, o qual surge em sintonia com o
processo de reorganização social e política do país, ocorrido nos anos 1970-1980,
enfatizando a contribuição do trabalho enquanto determinante das condições de vida
e saúde.
Além da atenção integra, o Movimento da Saúde do Trabalhador propunha a
ruptura com as práticas tradicionais da Saúde Ocupacional, a incorporação dos
trabalhadores como sujeitos da própria saúde e a responsabilidade da rede pública
de serviços de saúde no cuidado dos trabalhadores (MENDES; DIAS, 1991).
O desenvolvimento de ações de Saúde do Trabalhador na rede pública de
serviços de saúde no Brasil, que consideram as relações produção-consumo,
ambiente
e
saúde
como
determinantes
do
processo
saúde-doença
dos
trabalhadores, é um processo sociopolítico e técnico que se inicia no final dos anos
1970 e foi institucionalizado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela
Lei Orgânica da Saúde em 1990 (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990).
Desde então, as ações de Saúde do Trabalhador no SUS têm sido
desenvolvidas em distintas estratégias e formas de organização institucional nos três
níveis de gestão do SUS. A criação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Trabalhador (RENAST), em 2002, representou um marco importante nesse
processo, tendo os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST)
como lócus privilegiado de execução, articulação e pactuação de ações de saúde,
intra e intersetorialmente, ampliando a visibilidade da área de Saúde do Trabalhador
junto aos gestores e ao controle social (DIAS; HOEFEL, 2005).
Em 2006, o Pacto pela Saúde redefiniu a organização da atenção à saúde no
país e atribuiu à Atenção Primária à Saúde (APS) o papel de eixo organizador das
ações no SUS (BRASIL, 2006a). Posteriormente, a Portaria nº 4.279/2010
estabeleceu diretrizes para a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no
SUS, atribuindo à Atenção Primária à Saúde (APS) a função de centro de
comunicação da rede (BRASIL, 2010).
O MS vem desde 1988 buscando formular um documento que explicite a
política de atenção à saúde dos trabalhadores no âmbito do SUS (PNST-SUS). A
versão mais recente, construída sob a coordenação da área técnica de Saúde do
Trabalhador do Ministério da Saúde, a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador
(CGSAT), foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, em 2011.
52
A PNST-SUS reitera a indissociabilidade das práticas preventivas e curativas,
a necessidade, no âmbito do SUS, de uma ação transversal de caráter
transdisciplinar e interinstitucional, a necessidade de sintonia e de uma relação
dinâmica com as mudanças nos processos produtivos e a participação dos
trabalhadores enquanto sujeitos das ações de saúde. De acordo com o documento,
as estratégias definidas para a implantação da atenção integral à saúde do
trabalhador compreendem: a) a integração da Vigilância em Saúde do Trabalhador
(VISAT) com os demais componentes da Vigilância em Saúde e com a APS; b) a
análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores; c) a
estruturação da Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST); d) o
fortalecimento e a ampliação da articulação intersetorial; e) o estímulo à participação
da comunidade, dos trabalhadores e do controle social; f) o desenvolvimento e a
capacitação de recursos humanos; g) o apoio ao desenvolvimento de estudos e
pesquisas (BRASIL, 2012b).
A contribuição do SUS para a atenção integral à saúde do trabalhador cresce
em importância no contexto do processo de reestruturação produtiva e das
mudanças na natureza e nas relações do trabalho, que redefinem o perfil dos
trabalhadores e do processo saúde-doença, acarretando necessidades e desafios
que a sociedade e o aparelho estatal encontram dificuldades para responder
(NEHMY; DIAS, 2010).
Entre as características dos processos produtivos contemporâneos, o
crescimento do trabalho informal e domiciliado e o aumento da vulnerabilidade, da
desproteção social e da degradação ambiental podem ser encontrados mesmo nas
cadeias produtivas mais complexas de setores da economia considerados mais
fortes e/ou tradicionais como, por exemplo, a indústria metalúrgica, do vestuário,
calçadista, de alimentos, entre outras. Etapas ou parcelas do processo de trabalho
são desenvolvidas em pequenas unidades, por vezes no próprio domicílio do
trabalhador.
Geralmente
são
atividades
que
agregam
menos
valor
e/ou
consideradas mais “sujas”, arriscadas e perigosas para a saúde (ANTUNES, 2004;
NEHMY; DIAS, 2010).
Observa-se que o trabalho desenvolvido por microempresas ou no domicílio
torna-se praticamente invisível, permanecendo à margem da regulação trabalhista,
da inspeção, da fiscalização e da ação dos sindicatos e das organizações de
trabalhadores (VIEIRA, 2009).
53
O modelo de desenvolvimento adotado no país aproxima os campos da
Saúde do Trabalhador e da Saúde Ambiental pela compreensão de que os mesmos
processos produtivos são responsáveis pela degradação do ambiente, em particular
dos ambientes de trabalho, acarretando danos e agravos à saúde da população
geral e dos trabalhadores (RIGOTTO, 2003).
Essa ampliação da percepção e da discussão acerca dos efeitos dos
processos de produção e consumo presentes na sociedade moderna sobre a saúde
humana e o ambiente tem sido acompanhada de crescente institucionalização das
ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental nos três níveis de
gestão do SUS, expressa na presença formal, na estrutura organizacional e nos
documentos normativos do atual modelo de atenção à saúde no país (FRANCO
NETTO et al., 2006; DIAS; SILVA; ALMEIDA, 2012).
Nesse cenário, para que o SUS seja capaz de prover atenção integral à
saúde dos trabalhadores, é essencial que cada ponto de atenção do SUS e os
setores responsáveis pela Vigilância em Saúde incorporem de forma sistemática a
contribuição do trabalho enquanto determinante do processo saúde-doença das
pessoas e da qualidade ambiental.
A operacionalização da atenção integral
depende da articulação entre diversos saberes, práticas e responsabilidades, da
atuação inter e transdisciplinar e de sólida articulação intra e intersetorial.
A estratégia de organizar o SUS no modelo da Rede de Atenção à Saúde
(RAS) visa superar a fragmentação da atenção e gestão nas regiões de saúde e
assegurar, aos usuários do SUS, ações e serviços necessários à resolução de seus
problemas e necessidades de saúde, sendo definida como arranjos organizativos de
ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas
por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a
integralidade do cuidado (BRASIL, 2010; MENDES, 2010).
Nessa perspectiva, a RENAST, cuja organização é anterior à Portaria nº
4.279/2010 (BRASIL, 2010), vem buscando se adequar ao novo modelo,
particularmente, no que se refere às atribuições dos CEREST, que passam a
assumir a tarefa de matriciar ou subsidiar tecnicamente a rede SUS nas ações de
promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde
dos trabalhadores urbanos e rurais. O fortalecimento da VISAT e sua integração
com os demais componentes da Vigilância em Saúde e com a Atenção Primária à
Saúde (APS) são as principais diretrizes da PNST-SUS.
54
Entre as características da APS que justificam sua centralidade no modelo da
RAS destacam-se a presença em todos os 5.564 municípios brasileiros e a
potencialidade de organizar ações e serviços de saúde com base nas necessidades
e nos problemas de saúde da população; oferecer atenção contínua e integral por
equipe multidisciplinar e por considerar o usuário-sujeito em sua singularidade e
inserção sociocultural (BRASIL, 2010; BRASIL, 2011b). A APS deve ter capacidade
resolutiva sobre os problemas mais comuns de saúde e é considerada como
primeiro nível de atenção, a partir do qual se realiza e se coordena o cuidado em
todos os outros pontos de atenção (MENDES, 2010).
A atenção integral à saúde dos trabalhadores pode se beneficiar dessas
características da APS, que favorecem a oferta de serviços de saúde nos
municípios, facilitando o acesso dos usuários-trabalhadores e a identificação de
demandas
e
problemas
de
saúde
relacionados
às
atividades
produtivas
desenvolvidas no território e também o estabelecimento de vínculos e o
fortalecimento de relações de confiança entre a equipe de saúde e a população,
mediados pelo Agente Comunitário de Saúde - ACS. As ações de caráter
multidisciplinar, a geração de informações de saúde mais fidedignas, e o estímulo à
participação dos trabalhadores que estão organizados em formas menos
tradicionais, que não os sindicatos também fazem parte do lado positivo da proposta
(BRASIL, 2009c; SANTOS; RIGOTTO, 2011; SILVA; DIAS; SILVA, 2012).
O desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador na APS possui amplo
aparato legal e normativo, entre eles o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011
(BRASIL, 2011c), que regulamenta a Lei Orgânica de Saúde (BRASIL, 1990), a
PNST-SUS (BRASIL, 2012b), a Portaria nº 4.279/2010 (BRASIL, 2010), a Portaria nº
3.252/2009 (BRASIL, 2009a), que aprova as diretrizes para a organização da
Vigilância em Saúde, e a Portaria nº 2.728/2009 (BRASIL, 2009b), que dispõe sobre
a organização da RENAST.
É importante que, no processo de organização das ações de saúde do
trabalhador no âmbito do SUS, a centralidade da APS seja observada nesses
documentos e sejam identificados os caminhos e as diretrizes apontados para a
consolidação da atenção integral à saúde do trabalhador.
O documento da PNST-SUS orienta que as equipes da APS, de forma
articulada com as demais instâncias da rede e com o apoio das áreas técnicas de
saúde do trabalhador e dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador
55
(CEREST) (BRASIL, 2012b), devem desenvolver ações no âmbito individual e
coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores, a
prevenção de agravos relacionados ao trabalho, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação e a manutenção da saúde.
O mesmo documento prescreve que o planejamento e o desenvolvimento das
ações de saúde do trabalhador devem contemplar as especificidades dos perfis das
atividades produtivas e da população trabalhadora, considerando os problemas de
saúde deles e sua distribuição nos territórios, cabendo à APS:
[...] considerar que os territórios são espaços sócio-políticos
dinâmicos, com trabalhadores residentes e não residentes,
executando atividades produtivas e de trabalho em locais públicos e
privados, peri e intra-domiciliares (BRASIL, 2012b, p. 19).
É importante considerar que a adesão das famílias à Estratégia Saúde da
Família (ESF) considera apenas o critério domiciliar, no território. Para a Saúde do
Trabalhador, esta lógica necessita ser mudada, de modo a permitir o acesso aos
serviços de saúde de trabalhadores que não residem, mas trabalham no local e ali
passam tempo significativo de suas vidas.
A equipe deve se responsabilizar pelos usuários trabalhadores que residem e
os que trabalham no território de abrangência da unidade.
A proposta de prover atenção aos trabalhadores que não residem, mas
trabalham no território vem sendo defendida também no âmbito da APS. No estudo
de avaliação da implementação da ESF em dez grandes centros urbanos,
desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 2005, essa questão foi ressaltada
principalmente em cidades “dormitórios” das regiões metropolitanas e o relatório
recomenda a inscrição por local de trabalho ou dos usuários-trabalhadores em
Unidades de Saúde da Família (USF) próximas aos locais de trabalho (ESCOREL,
2005).
A utilização do critério de territorialização para a organização do processo de
trabalho e o planejamento das ações de saúde da APS também enseja a
operacionalização de práticas de Vigilância em Saúde no âmbito da APS, na medida
em que a equipe de saúde consegue compreender o território em sua riqueza e
complexidade e seus contextos de uso (MONKEN; BARCELLOS, 2005).
Com frequência, os fatores de risco e perigos gerados pelos processos
produtivos extrapolam os limites dos ambientes de trabalho e atingem as
comunidades moradoras no entorno das unidades de produção e mesmo locais mais
56
distantes. Neste contexto, as ações de vigilância em saúde do trabalhador devem
ser inseridas no planejamento da atuação das equipes com base no conhecimento
do perfil produtivo e dos fatores de riscos para a saúde da população, além do perfil
dos trabalhadores. Para isso, é fundamental o apoio técnico e pedagógico dos
setores da Vigilância em Saúde e do CEREST às equipes.
Nesse sentido, a Portaria nº 3.252/2009 estabelece que a integração entre a
Vigilância em Saúde e a APS é diretriz obrigatória para a construção da
integralidade do cuidado (BRASIL, 2009a).
Outra contribuição importante para o cuidado integral aos usuários
trabalhadores são as ações desenvolvidas pelos ACS. Em suas práticas cotidianas
de trabalho, eles reconhecem, por vezes de modo intuitivo, a contribuição do
trabalho no processo saúde-doença das pessoas. Além disso, conhecem os
processos produtivos instalados no território e estabelecem relações entre essas
atividades e o perfil ocupacional das famílias e a saúde das pessoas, suas queixas,
demandas e problemas que possam estar relacionadas ao trabalho. Porém, os ACS
se queixam da falta de continuidade do cuidado aos trabalhadores, ressentem-se da
falta de preparo técnico para entender e orientar sobre essas questões e das
dificuldades de interlocução com as equipes, que muitas vezes não valorizam suas
observações (SILVA; DIAS; SILVA, 2012).
Embora se reconheça as possibilidades e a relevância das contribuições da
APS para a atenção integral à saúde, é importante considerar as dificuldades
estruturais que perpassam a efetivação do papel da APS no SUS, na atualidade. A
desvalorização social traduzida na ausência de um plano de carreira gera alta
rotatividade
dos profissionais,
particularmente
dos
médicos.
Também são
significativos: a deficiência da infraestrutura refletida na precariedade da rede física,
a inadequação das condições de trabalho, o baixo índice de conectividade e
informatização, a ausência de fluxos bem definidos e eficientes de regulação, a
hegemonia das ações assistenciais, que ocupam a maior parte do tempo de trabalho
das equipes, deficiências na formação e de suporte técnico para o enfrentamento de
situações e para o desenvolvimento de ações de alta complexidade e a sobrecarga
de trabalho das equipes, entre outras.
Outra fonte importante de informação para o planejamento das ações são as
queixas dos trabalhadores que procuram a UBS em demanda espontânea. Para
qualquer ação de cuidado a esse usuário-trabalhador é essencial que o profissional
57
de saúde que o acolha investigue se suas queixas ou problemas de saúde podem
estar relacionados ao trabalho que realiza.
Nesse aspecto, é importante lembrar que os trabalhadores podem adoecer ou
morrer por causas não relacionadas ao trabalho, mas frequentemente o trabalho ou
as condições em que este é realizado são responsáveis diretamente pelo agravo ou
adoecimento, ou contribuem para torná-lo mais precoce, mais grave ou de
tratamento mais difícil. Este conjunto conforma o elenco das doenças relacionadas
ao trabalho, que no Brasil compõem a Lista Brasileira de Doenças Relacionadas ao
Trabalho (BRASIL, 1999).
Tradicionalmente, na formação médica e dos enfermeiros, pouca ou nenhuma
atenção é dada à coleta da história ocupacional, o que faz com que os profissionais,
em geral, tenham dificuldades em inseri-la em suas práticas de trabalho
(CHIAVENATTO, 2010). Entre as perguntas básicas que devem ser feitas ao
trabalhador incluem-se o que faz e como faz, que produtos e instrumentos utiliza,
em que condições executa o trabalho, há quanto tempo, em que ritmo, quais as
exigências de produtividade, entre outras (DIAS; LAUAR, 2012).
Ouvir o trabalhador falando de seu trabalho, de suas impressões e
sentimentos, de como seu corpo reage no trabalho e fora dele é a tradução prática
da recomendação feita aos médicos por Ramazzini quanto à necessidade de
perguntar a seus pacientes: “Qual é a sua profissão?” e considerar a resposta no
raciocínio clínico (RAMAZZINI, 2000).
A escuta especializada do trabalhador, valorizada na atualidade na
qualificação e humanização do cuidado, permite conhecer as tarefas mais
frequentes que ele executa, as exigências em termos de esforço físico, posturas,
gestos e movimentos, a descrição de produtos usados com respectivas quantidades
e tempo de uso, a presença ou não de cheiros e/ou interferências em atividades (por
exemplo, ruído e comunicação), o número de peças produzidas, a intensidade e as
formas de controle de ritmos de trabalho, as interações existentes com outras
tarefas, os imprevistos e os incidentes que podem aumentar as exposições, os
dados do ambiente físico, como tipo de instalação, layout, contaminação por
contiguidade, ruído, emanações, produtos intermediários, ventilação, medidas de
proteção coletivas e individuais (DIAS; LAUAR, 2012).
Em alguns casos, a investigação de uma Doença Relacionada ao Trabalho
(DRT), identificada a partir da anamnese clínico-ocupacional, pode demandar
58
informações complementares a serem buscadas, por exemplo, na bibliografia
especializada ou junto à empresa onde o paciente trabalha ou trabalhou.
Ao término da coleta da história, deve ser feito um resumo no prontuário
contendo, no mínimo: as funções desempenhadas pelo trabalhador com o respectivo
tempo de trabalho e os principais fatores de risco a que o paciente esteve exposto,
um breve inventário dos riscos ocupacionais e a possível relação com as queixas ou
os achados clínicos.
Este
procedimento
facilitará
o
raciocínio
clínico,
o
estabelecimento de nexo entre o trabalho e a doença apresentada pelo paciente e
servirão como orientação para os procedimentos propedêuticos, terapêuticos e
demais condutas a serem adotadas.
A coleta da história ocupacional é essencial para auxiliar no diagnóstico e na
definição do plano terapêutico e estabelecer a relação entre o agravo ou doença e o
trabalho; possibilitar a notificação do agravo no Sistema de Informação de Agravo de
Notificação (SINAN), quando pertinente; identificar possíveis riscos e perigos
envolvidos no trabalho do usuário, orientar o trabalhador sobre seus direitos
trabalhistas e previdenciários e sobre a gênese, a evolução e a prevenção de sua
patologia, e desencadear ações de vigilância e intervenções em ambientes de
trabalho de modo articulado com a Vigilância em Saúde.
Considerando que os problemas de saúde relacionados ao trabalho, muitas
vezes, são complexos e não podem ser resolvidos no âmbito da APS, para que esta
coordene, de fato, o cuidado integral da saúde do usuário-trabalhador é essencial
contar com o apoio dos demais pontos de atenção à saúde, de modo a garantir o
diagnóstico correto e o estabelecimento da relação do adoecimento com o trabalho a
fim de definir adequadamente o plano terapêutico. Para isso, é necessária a
estruturação do fluxo de referência e contra-referência do usuário-trabalhador, e
contar com fluxos e processos de regulação estabelecidos em linhas de cuidado,
construídas para cada um dos agravos prevalentes, orientadas pelas informações
obtidas no diagnóstico situacional e perfil das atividades produtivas presentes no
território.
O desenvolvimento de ações educativas e de promoção da saúde integra,
conceitualmente, o cotidiano das equipes da APS e são realizadas no domicílio, na
UBS e em outros espaços comunitários. Para a Saúde do Trabalhador, essas ações
têm o propósito de ampliar a compreensão sobre o papel do trabalho na produção
do processo saúde-doença e esclarecer e identificar os fatores de risco para a saúde
59
presentes no trabalho, as medidas de prevenção e controle, as obrigações dos
empregadores e os direitos assegurados ao trabalhador pelas políticas públicas.
Elas devem contribuir para o empoderamento dos trabalhadores na luta por
melhores condições de vida e de trabalho.
As ações educativas requerem o estabelecimento de uma relação de
confiança com o usuário, o vínculo que possibilita o diálogo e exige dos ACS e dos
demais profissionais o aperfeiçoamento da escuta do usuário sobre suas condições
de vida e saúde, sua percepção sobre o trabalho, bem como sobre os fatores de
riscos presentes na atividade, as repercussões sobre a saúde e as medidas de
proteção disponíveis.
A Vigilância em Saúde é, na atualidade, um dos grandes desafios para o SUS
e para a APS em particular.
Conceitualmente, a Vigilância em Saúde envolve ações de promoção,
proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde e abrange os
seguintes componentes: Vigilância Epidemiológica (VE), Vigilância Sanitária (VS),
Vigilância em Saúde Ambiental (VA), Vigilância da Saúde do Trabalhador (VISAT),
Vigilância da Situação de Saúde e Promoção da Saúde (BRASIL, 2009a).
A VISAT compreende um conjunto de ações e práticas de vigilância dos
agravos relacionados ao trabalho, intervenções sobre fatores de risco, ambientes e
processos de trabalho, o acompanhamento de indicadores para avaliação da
situação de saúde, e articulação de ações de promoção da saúde (BRASIL, 2012b).
Para que essas ações sejam efetivadas na APS, é essencial que os setores
de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, além de outros níveis técnicos
do SUS, apoiem as equipes, desenvolvendo ações compartilhadas e garantindo o
fluxo e a possibilidade das ações, como, por exemplo: a discussão de casos
considerados mais “complexos”, a elaboração conjunta de roteiros de inspeção, de
vistorias em ambientes de trabalho, a análise da situação de saúde, entre outras.
Nos fóruns de discussão da Saúde do Trabalhador, como no X Congresso da
ABRASCO (2012), realizado em Porto Alegre, foi questionada a adequação de se
denominar ações desenvolvidas pelas equipes da APS como “de vigilância em
saúde do trabalhador”, uma vez que não cumpre alguns dos pressupostos básicos
da VISAT, entre eles o envolvimento dos trabalhadores em todas as etapas do
processo e o foco na transformação das condições de trabalho geradoras de
60
doença. Entretanto, é importante reconhecer que, apesar de incompletas, muitas
dessas ações representam práticas inovadoras das equipes e possibilitam identificar
situações-problema, muitas vezes complexas e que desencadeiam ações em
articulação com as Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental e de cunho
inter-institucional, em parceria com a fiscalização do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).
A experiência e os estudos disponíveis têm mostrado que as equipes da APS
consideram os fatores determinantes da saúde presentes no meio ambiente e atuam
sobre eles, e essa experiência pode ser estendida aos ambientes de trabalho. As
intervenções sobre os determinantes, porém, com frequência requerem atuação
integrada com setores de Meio Ambiente, do Trabalho, do Ministério Público, entre
outros (VILAS BOAS; DIAS, 2008; RENAST, 2011; FERNANDES, 2012).
Outra ação importante de vigilância refere-se à investigação e à notificação ao
SINAN de agravos à saúde relacionados ao trabalho, prescrita na Portaria nº
104/2011(BRASIL, 2011d). Nesse sentido, é muito importante reverter o atual
quadro de sub-registro e dar visibilidade ao problema para que as questões de
saúde do trabalhador entrem na agenda técnica e política dos gestores e do controle
social do SUS. Alguns fatores que contribuem para a subnotificação podem ser
facilmente corrigidos, como, por exemplo, a exigência de que apenas sejam
notificados casos confirmados, com exceção das intoxicações exógenas, e de que
as notificações sejam realizadas pelos serviços da rede sentinela da RENAST.
A Ficha D (ANEXO G) utilizada pelas equipes da APS para registrar
atividades, procedimentos e notificação é fonte de informação importante para a
análise de situação de saúde dos trabalhadores. Nela, devem ser registrados
mensalmente os atendimentos específicos de acidentados no trabalho. Embora esse
registro seja importante, é preciso modificar a orientação disponível no Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB) (BRASIL, 2000) para o preenchimento do
campo, o qual define que deverão ser registrados apenas acidentes de trabalho para
o qual foi emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), que é um
instrumento da Previdência Social e se refere apenas aos acidentes ocorridos com
trabalhadores segurados pelo Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), e fere o
princípio da universalidade do SUS.
Outro instrumento importante na coleta de informações sobre as condições de
vida e saúde da população é a Ficha A (ANEXO F). No campo de doenças e/ou
61
condições referidas, recomenda-se que os ACS incluam as siglas AT (Acidente de
Trabalho) e DRT (Doença Relacionada ao Trabalho), devendo ser previamente
preparados para reconhecer usuários-trabalhadores com agravos relacionados ao
trabalho. Esses registros devem ser acompanhados e analisados pelas equipes com
o apoio de técnicos das vigilâncias.
Sintetizando, são exemplos de ações de VISAT que devem ser incorporadas
ao processo de trabalho das equipes da APS: a) mapeamento dos processos
produtivos do território e identificação dos riscos e perigos à saúde associados às
atividades, b) identificação do perfil ocupacional de trabalhadores mais vulneráveis
(desempregados, trabalho infantil, trabalho domiciliar, entre outros), c) notificação no
SINAN de agravos relacionados ao trabalho e acompanhamento da situação de
saúde dos trabalhadores para definição de ações prioritárias, d) articulação intrasetorial para a vigilância dos processos e ambientes de trabalho, e e) promoção da
saúde, com ênfase no empoderamento dos trabalhadores e orientações sobre a
prevenção de riscos e perigos (BRASIL, 2011d; SILVA; ALMEIDA, 2012).
Nas ações de vigilância de ambientes de trabalho domiciliar, busca-se
conhecer as condições presentes no ambiente de trabalho, visando corrigir, diminuir
ou eliminar as situações perigosas para a saúde dos trabalhadores e familiares, por
vezes idosos e crianças, mais vulneráveis. A colaboração e a participação dos
trabalhadores são essenciais tanto para identificação e reconhecimento dos riscos
que envolvem o desenvolvimento de seu trabalho, quanto para a definição das
medidas a serem adotadas para proteger a saúde.
Em síntese, as ações de VISAT na APS compreendem: a) suporte técnico
para a investigação dos agravos de saúde do trabalhador de notificação
compulsória, b) apoio à construção, mapeamento e análise do perfil produtivo e do
perfil de morbimortalidade da população trabalhadora, c) vigilância de ambientes de
trabalho de forma integrada com a Vigilância em Saúde e outros setores.
As ações de vigilância no âmbito da APS, em especial, a vigilância dos
ambientes de trabalho, devem contar com o apoio de outros dispositivos do SUS,
como a Vigilância Sanitária (VS), a VISAT, a Vigilância Ambiental e os CEREST.
Muitos municípios, principalmente os de menor porte, possuem apenas os setores
de Vigilância Epidemiológica (VE) e Vigilância Sanitária. Nesses casos, recomendase a ampliação do objeto de intervenção dessas vigilâncias, incluindo as condições
de trabalho e de saúde dos trabalhadores (DIAS; SILVA, 2012).
62
Assim, ao se pensar em desenvolver ou fomentar ações de Saúde do
Trabalhador na APS são necessárias mudanças nos processos de trabalho das
equipes e sólido investimento na educação permanente e no suporte técnico das
ações. Outra questão a ser enfrentada é o fortalecimento dos mecanismos de
participação dos trabalhadores, particularmente do setor informal de trabalho.
Finalizando essas reflexões sobre a importância e as possibilidades das
ações de Saúde do Trabalhador na APS, pode-se dizer que essas são possíveis e já
existem, apesar de assistemáticas e descontínuas. Para inserir as ações de
vigilância nas práticas cotidianas das equipes de saúde de Atenção Básica/ Saúde
da Família, os profissionais necessitam desenvolver habilidades, utilizar as
ferramentas de investigação, registro, análise, programação e planejamento de
modo a organizar ações previstas e de atenção à demanda espontânea a fim de
mudar a qualidade de vida das pessoas do território onde atuam (DIAS; SILVA,
2012).
Entre as dificuldades a serem superadas para sua ampliação e real
institucionalização nas práticas cotidianas das equipes, a mais urgente a ser
equacionada se refere à sobrecarga de trabalho das equipes submetidas às
exigências de produzir um conjunto de ações prescritas, às quais devem responder
para garantir o cumprimento das metas estabelecidas (CHIAVENATTO, 2010; DIAS,
2010).
Neste sentido, a consolidação do cuidado integral à saúde dos trabalhadores
na APS requer algumas ações, entre elas a incorporação, no cotidiano das equipes,
do conceito de que os processos produtivos desenvolvidos no território e as suas
relações com o ambiente e a saúde das pessoas determinam necessidades de
saúde que devem ser abordadas por meio da articulação de ações intra e
intersetoriais, de processos sólidos de educação permanente, além da adoção da
metodologia de apoio matricial das ações, conforme previsto na Portaria nº 3.252/09
(BRASIL, 2009a).
Outra questão importante refere-se à modificação do processo de trabalho
das equipes, que até o momento enfatiza o desenvolvimento de ações assistenciais
e o cumprimento de metas pré-estabelecidas. Embora, esteja previsto que a equipe
trabalhe com base nas necessidades loco regionais, identificadas a partir do
Diagnóstico Situacional, observa-se que muitas ainda estão centradas no
desenvolvimento dos programas prioritários do governo federal, a exemplo do
63
Programa Saúde da Criança. Além disso, é necessário que o ACS seja inserido de
fato na equipe, devendo ser valorizadas e utilizadas no planejamento das ações de
saúde, as informações coletadas por ele na comunidade.
A educação permanente deve possibilitar a qualificação das práticas de
cuidado, gestão e participação popular. Para a Saúde do Trabalhador, a qualificação
dessas práticas pode se dar pela inclusão da temática nos cursos pré-formatados e
pela estruturação de processos de educação permanente que partem da vivência
das equipes de saúde e dos problemas identificados que relacionam o processo
trabalho-saúde-doença (DIAS; SILVA, 2013).
Finalmente, é importante pensar no apoio matricial do trabalho das equipes
da APS. Conceitualmente, o apoio matricial consiste em arranjo organizacional e
uma metodologia de trabalho que visa oferecer suporte técnico e pedagógico em
áreas específicas (DIMENSTEIN et al., 2009). A vinculação da estratégia de apoio
matricial aos processos de educação permanente potencializa em muito o
desenvolvimento de conhecimento e habilidades de gestão do cuidado aos usuáriostrabalhadores pela APS. O apoio matricial às equipes da APS para o
desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador pode ser visto, na atualidade,
como desafio e oportunidade para a redefinição do papel dos CEREST. Porém, além
dos CEREST, são potenciais matriciadoras dessas ações, as referências técnicas
estaduais e municipais em Saúde do Trabalhador e profissionais da Vigilância em
Saúde, em especial da Vigilância em Saúde do Trabalhador.
3.5.1 Responsabilidades Legais do Empregador com Relação ao Trabalhador
O trabalho é a ferramenta que o homem utiliza para obter meios para a sua
sobrevivência, buscando atender às suas necessidades dentro da sociedade. Com a
revolução industrial, o avanço tecnológico e as intensas transformações do mundo
globalizado,
muitas
mudanças
foram
impostas
ao
homem,
afetando
significativamente as condições de vida e de trabalho da população. Estas
mudanças trouxeram muitos benefícios, mas trouxeram também, problemas à saúde
dos trabalhadores, tornando necessário estudar e analisar as condições de
segurança no trabalho e os meios de proteção à saúde ocupacional. Com isso,
surge a necessidade de implantação de uma Legislação que vise à preservação da
64
saúde do trabalhador e que lhe garanta boas condições de trabalho (BURITI; SILVA;
COSTA, 2009).
O direito à saúde, determinado pela Constituição Brasileira de 1988 em seu
artigo 196, é expresso mediante a elaboração e aplicação de políticas no país
direcionadas para a prevenção, promoção e proteção da saúde, trazendo para o
Brasil uma visão diferente dos aspectos relacionados à saúde.
É notório que as condições de trabalho impostas ao homem influenciam
significativamente a execução do seu trabalho e sua saúde. Estar em segurança no
ambiente de trabalho significa prevenir riscos, estar confiante e sentir-se bem
durante a realização do mesmo (BOLICK, 2000). Estes são fatores relevantes que
devem ser avaliados constantemente.
Analisar as condições de segurança no trabalho e os meios de proteção à
saúde dos trabalhadores tornou-se uma necessidade comum às empresas e ao
mercado de trabalho como um todo, visto que, estes buscam minimizar os seus
custos e impedir perdas na produção.
As doenças do trabalho referem-se a um conjunto de danos e agravos que
incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados
por fatores de risco presentes nos locais de trabalho. Estes riscos são classificados
em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, acidentais e de organização do
trabalho (BRASIL, 2002b).
Com a finalidade de minimizar os riscos ocupacionais a que os trabalhadores
estão expostos, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) formulou Leis e Normas
Regulamentadoras (NR’s) relacionadas às condições de trabalho e à saúde
ocupacional, obrigando as empresas a cumprirem ações determinadas pelo mesmo,
estando estas expostas a punições, caso estas ordens não sejam cumpridas. Tais
ações estão voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de doenças e de
acidentes ocupacionais e estão organizadas em Normas Regulamentadoras (NR‘s),
fundamentadas nos artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovadas
pelo Decreto-lei nº 5.452. Foram formuladas também as Normas Regulamentadoras
Rurais-NRR, relativas à segurança e higiene do trabalho rural que são de
observância obrigatória, conforme disposto no art. 13 da Lei n° 5.889 (BRASIL,
1973a).
No âmbito da saúde do trabalhador, destaca-se a importância de se
compreender as relações entre o trabalho e o processo saúde/doença, bem como,
65
suas articulações com os modos de desenvolvimento produtivo da humanidade em
determinado momento histórico (BRASIL, 2001). Podemos também incluir aspectos
relacionados às condições de trabalho, à jornada de trabalho e à preservação dos
direitos
do
trabalhador,
satisfação
profissional,
relações
interpessoais,
condicionamento físico e mental, entre outros aspectos relacionados ao ser
trabalhador como um todo, de modo integral.
É de suma importância destacar a existência de documentos legais
direcionados para a saúde ocupacional que visam proteger e garantir direitos que
preservam o bem-estar físico e mental dos trabalhadores. Para garantir o direito à
saúde, o trabalhador precisa conhecer e entender a Legislação pertinente em vigor
no país.
A legislação vigente, referente a acidente de trabalho, insalubridade,
periculosidade e aposentadoria, para os trabalhadores, tanto os civis do serviço
público da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, Estaduais e
Municipais como também dos serviços privados. Qualquer empresa deve seguir as
leis, e em caso de descumprimento se paga multa, obrigatórias por lei, e hoje muitas
empresas, preferem não pagar multa de impostos ao governo, e o nível de
conscientização para promover saúde aos trabalhadores está crescendo, pois,
percebeu-se que os valores de uma indenização por danos à saúde ou danos
morais estavam sendo muito altos, e que investir em segurança e saúde do
trabalhador é a melhor saída.
No intuito de descrever os regimes jurídicos existentes e suas peculiaridades
tanto para a categoria dos trabalhadores públicos regidos pelo Regime Jurídico
Único (RJU) como para os privados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) seguem, portanto, no Quadro 1, os documentos legais da CLT relacionados à
saúde do trabalhador, seguido das Normas Regulamentadoras da Portaria nº 19, do
Ministério do Trabalho, apresentadas no Quadro 2.
66
Quadro 1 - Legislação relacionada à saúde e saúde do trabalhador.
LEGISLAÇÃO
Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Lei Nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977.
Lei nº 8.080, de 19/9/1990.
Lei nº 8.142, de 18/12/1990.
Portaria nº 2203 MS/GM, de 05/11/1996.
Portaria nº 373 MS/GM, de 27/02/2002.
Portaria nº 399 MS/GM, de 22/02/2006.
Portaria nº 3.908 MS/GM, de 30/10/1998.
Portaria Interministerial MPS/MS/TEM
nº 800 de 05/05/2005.
Portaria nº 1.125 MS/GM, de 6/7/2005.
Portaria MS/GM nº1.956 de 15/08/2007.
Portaria MS/GM nº 204 de 31/01/2007
Retificação em 14/03/2007.
Lei N° 8213/91.
ESPECIFICAÇÕES
Aprova a Consolidação das Leis de
Trabalho.
Altera o Capítulo V do Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho,
relativo à segurança e medicina do
trabalho e dá outras providências.
Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
Dispõe
sobre
a
participação
da
comunidade na gestão do Sistema Único
de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais
de
recursos
financeiros na área da saúde e dá outras
providências.
Aprova, nos termos do texto a esta
portaria, a NOB 1/96, a qual redefine o
modelo de gestão do Sistema Único de
Saúde.
Aprova a Norma Operacional da
Assistência à Saúde – NOAS - SUS
01/2002 que amplia as responsabilidades
dos municípios na atenção básica.
Divulga o pacto pela saúde 2006
(consolidação do SUS) e aprova as
diretrizes operacionais do referido pacto.
Estabelece procedimentos para orientar e
instrumentalizar as ações e serviços de
Saúde do Trabalhador no Sistema Único
de Saúde (SUS).
Publica o texto base da Minuta de Política
Nacional de Segurança e Saúde do
Trabalho, elaborada pelo Grupo de
Trabalho
instituída
pela
Portaria
Interministerial nº 153, de 13 de fevereiro
de 2004, prorrogada pela Portaria
Interministerial nº 1009, de 17 de setembro
de 2004, para consulta pública.
Dispõe sobre os propósitos da política de
saúde do trabalhador para o SUS.
Dispõe sobre a coordenação das ações
relativas à saúde do trabalhador no âmbito
do Ministério da Saúde.
Regulamenta o financiamento e a
transferência dos recursos federais para
as ações e os serviços de saúde, na forma
de blocos de financiamento, com o
respectivo monitoramento e controle.
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
67
Providência
providências.
Social
e
dá
outras
Fonte: (BURITI; SILVA; COSTA, 2009).
Quadro 2 – Documentos legais relacionados a saúde do trabalhador.
DOCUMENTOS LEGAIS
CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DE TRABALHO
LEGISLAÇÃO
Capítulo V (CLT)
Portaria nº 3.214, de 08 de
Junho de 1978
NR 1 – Disposições Gerais
Artigos 154 a 159
---
NR 2 – Inspeção Prévia
Artigo 160
---
NR 4 – Serviços Especializados em
Engenharia e Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT)
NR 5 – Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA)
NR 6 – Equipamentos de Proteção
Individual (EPI)
NR 7 – Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO)
NR 9 – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA)
NR 15 – Atividades e Operações
Insalubres
NR 17 – Ergonomia
Artigo 162
---
Artigos 163 a 165
---
Artigos 166 e 167
---
Artigos 168 e 169
---
Artigos 175 a 178
---
Artigos 189 e 192
---
Artigos 198 e 199
---
NR 24 – Condições Sanitárias e de
Conforto nos Locais de Trabalho
NR 28 – Fiscalização e
Penalidades
Artigo 200, inciso VII.
---
Artigo 201
NR 32 – Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde
---
Artigo 2º da Lei nº 7.855, de
24 de Outubro de 1989;
Artigo 1º da Lei nº 8.383, de
30 de Dezembro de 1991.
---
NORMAS
REGULAMENTADORAS
Fonte: (BURITI; SILVA; COSTA, 2009).
Segundo a Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do
Trabalho (BRASIL, 1978):
NR 1 – Disposições Gerais
Estabelece o campo de aplicação de todas as Normas Regulamentadoras de
Segurança e Medicina do Trabalho, bem como os direitos e obrigações do Governo,
dos empregadores e dos trabalhadores no tocante a este tema específico. A
68
fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico nesta
NR, são os artigos 154 a 159, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
NR 2 – Inspeção Prévia
Estabelece as situações em que as empresas deverão solicitar ao Ministério do
Trabalho
e
Emprego
(MTE)
a
realização
de inspeção
prévia
em seus
estabelecimentos, bem como a forma de sua realização. A fundamentação legal,
ordinária e específica que dá embasamento jurídico à existência desta NR é o artigo
160 da CLT.
Determina ainda que todas as empresas devam apresentar a Declaração de
Instalações (DI) quando ocorrerem modificações substanciais nas instalações e/ ou
equipamentos. O não cumprimento desta norma poderá impedir o funcionamento do
estabelecimento e/ou equipamento.
NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia e Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT)
Estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas que possuam
empregados regidos pela CLT, de organizarem e manterem funcionando Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT,
com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no
local de trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica que dá
embasamento jurídico a existência desta NR é o artigo 162 da CLT:
Art. 162 – As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo
Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados
em segurança e em medicina do trabalho.
NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
Estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas organizarem e
manterem em funcionamento, por estabelecimento, uma comissão constituída
exclusivamente por empregados com o objetivo de prevenir adversidades laborais,
através da apresentação de sugestões e recomendações ao empregador para que
melhore as condições de trabalho, eliminando as possíveis causas de acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais. A fundamentação legal, ordinária e específica que
dá embasamento jurídico à existência desta NR são os artigos 163 a 165 da CLT.
Art. 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), de conformidade com instruções expedidas pelo
69
Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas
especificadas.
NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Estabelece e define os tipos de EPI‘s que as empresas estão obrigadas a fornecer
aos seus empregados, de acordo com a necessidade, em relação às condições de
trabalho, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A
fundamentação legal, ordinária e específica que dá embasamento jurídico a
existência desta NR são os artigos 166 e 167 da CLT.
Art. 166 – A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente,
equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado
de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral
não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à
saúde dos empregados.
Art. 167 - O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou
utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do
Trabalho.
NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de
promoção e preservação da saúde dos seus trabalhadores. A fundamentação legal,
ordinária e específica que dá embasamento jurídico à existência desta NR são os
artigos 168 e 169 da CLT.
Art. 168 - Será obrigatório o exame médico do empregado, por conta do
empregador.
§ 1º - Por ocasião da admissão, o exame médico obrigatório compreenderá
investigação clínica e, nas localidades em que houver, abreugrafia.
§ 2º - Em decorrência da investigação clínica ou da abreugrafia, outros
exames complementares poderão ser exigidos, a critério médico, para
apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a
função que deva exercer.
§ 3º - O exame médico será renovado, de seis em seis meses, nas atividades
e operações insalubres e, anualmente, nos demais casos. A abreugrafia será
repetida a cada dois anos.
70
§ 4º - O mesmo exame médico de que trata o § 1º será obrigatório por
ocasião da cessação do contrato de trabalho, nas atividades, a serem
discriminadas pelo Ministério do Trabalho, desde que o último exame tenha
sido realizado há mais de 90 (noventa) dias.
§ 5º - Todo estabelecimento deve estar equipado com material necessário à
prestação de primeiros socorros médicos.
Art. 169 - Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das
produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou
objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo
Ministério do Trabalho.
NR 28 - Da Fiscalização e Penalidades
Estabelece os procedimentos a serem adotados pela fiscalização trabalhista da
equipe de Segurança e Medicina do Trabalho, tanto no que diz respeito à concessão
de prazos às empresas para a correção das irregularidades técnicas, como também
no que concerne ao procedimento de autuação por infração às Normas
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho. A fundamentação legal,
ordinária e específica, tem sua existência jurídica assegurada, em nível de
Legislação Ordinária, através do artigo 201 da CLT, com as alterações que lhe foram
dadas pelo artigo 2º da Lei nº 7.855, de 24 de Outubro de 1989, que institui o Bônus
de Tesouro Nacional (BTN), como valor monetário a ser utilizado na cobrança de
multas e, posteriormente, pelo artigo 1º da Lei nº 8.383, de 30 de Dezembro de
1991, especificamente no tocante à instituição da Unidade Fiscal de Referência
(UFIR), como valor monetário a ser utilizado na cobrança de multas em substituição
ao BTN.
Muitas empresas, atualmente, realizam exames médicos durante o contrato
de trabalho, conforme exigência na NR 07. Isso, não pela conscientização em
promover saúde aos trabalhadores, e sim, para prevenir uma grande dor de cabeça,
pois, penalidades previstas na Constituição ao empregador que não cumpre essas
regras, presentes no artigo 201 da CLT, geram multa de R$ 402,53 a R$ 4.025,33.
O Decreto-Lei No 5.452/43 (CLT), o Decreto-Lei No 2.848/40 (Código Penal)
e a Lei N° 8213/91 tornam obrigatória a notificação das doenças profissionais:
CLT - Art. 169. Será obrigatória a notificação das doenças profissionais
e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou
71
objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do
Trabalho.
Código Penal - Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade
pública doença cuja notificação é compulsória.
A Lei N° 8213 de 24 de julho de 1991 que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, em seu Art.22 traz o
prazo de comunicação da CAT conforme descrito abaixo:
Art. 22. A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho à
Previdência Social até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso
de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o
limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente
aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social.
Art. 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença
profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o
exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em
que foi realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro.
A legislação previdenciária em vigor (Lei Federal n.º 8.213/1991, Decreto n.º
3.048/1999 e Decreto n.º 664/2014) estabelece que todos os segurados da
Previdência Social (Regime Geral), no caso de doenças comuns, têm direito, entre
outros, aos seguintes benefícios e serviços: auxílio-doença; auxílio-acidente;
aposentadoria por invalidez.
Tanto o auxílio-doença (benefício em espécie, pago a partir do 30.º dia de
incapacidade laborativa temporária reconhecida pela perícia médica do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS) como a aposentadoria por invalidez, no caso
de doenças comuns, exigem a carência, regulamentadas em lei.
As doenças relacionadas ao trabalho, quando enquadradas nos requisitos dos
artigos 19 e 20 da Lei Federal n.º 8.213/1991, são equiparadas a acidentes de
trabalho. Atualmente elas estão listadas no Anexo II do Decreto n.º 3.048/1999
(Listas A e B), conforme mencionado na introdução e no capítulo 1 deste manual.
O diagnóstico de doença relacionada ao trabalho em trabalhador segurado pelo SAT
da Previdência Social obriga que, caso isto ainda não tenha sido feito, seja aberta
uma Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), documento da Previdência
Social. A CAT, como instrumento de comunicação no âmbito da Previdência Social,
deve ser preenchida, em sua primeira parte, pela empresa.
72
Segundo o art. 336 do Decreto n.º 3.048/1999, - “Na falta de comunicação por
parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a
entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade
pública, não prevalecendo, nestes casos, o prazo previsto neste artigo”. (Parágrafo
3.º do mesmo artigo, grifo introduzido). O prazo para a comunicação é até o primeiro
dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade
competente, sob pena de multa. A segunda parte da CAT, Laudo de Exame Médico,
deve ser preenchida, nos campos correspondentes, pelo médico que assistiu o
trabalhador, isto é, o médico que fez o diagnóstico de acidente de trabalho, stricto
sensu, acidente de trajeto ou doença profissional ou do trabalho, registrando sua
opinião, mesmo que preliminar, quanto à necessidade ou não de afastamento do
trabalho.
NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando à preservação da
saúde e da integridade física dos trabalhadores, através da antecipação,
reconhecimento, avaliação e consequente controle de riscos ambientais existentes
ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção
do meio ambiente e dos recursos naturais. A fundamentação legal, ordinária e
específica que dá embasamento jurídico à existência desta NR são os artigos 175 a
178 da CLT.
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres
Descreve as atividades, operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de
tolerância, definindo, assim, as situações que ocasionem o exercício insalubre
quando vivenciadas nos ambientes de trabalho e também os meios de proteger os
trabalhadores de tais exposições nocivas à sua saúde. A fundamentação legal,
ordinária e específica que dá embasamento jurídico à existência desta NR são os
artigos 189 e 192 da CLT.
Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas
que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em
razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus
efeitos.
73
Art. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e
operações insalubres e adotarão normas sobre os critérios de caracterização da
insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e
o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.
Parágrafo único - As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do
organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos,
irritantes, alérgicos ou incômodos.
NR 17 - Ergonomia
Visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho
às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um
máximo de conforto e segurança para que ocorra um desempenho eficiente do
trabalhador. A fundamentação legal, ordinária e específica que dá embasamento
jurídico à existência desta NR são os artigos 198 e 199 da CLT.
NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Descreve os preceitos de higiene e de conforto a serem observados nos locais de
trabalho, especialmente no que se referem a banheiros, vestiários, refeitórios,
cozinhas, alojamentos e água potável, visando à higiene dos locais de trabalho e à
proteção à saúde dos trabalhadores. A fundamentação legal, ordinária e específica
que dá embasamento jurídico à existência desta NR é o artigo 200, inciso VII, da
CLT.
NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde
Tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas para a implementação de
medidas de proteção e segurança à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde,
bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde no
geral.
Conhecer os documentos legais que regem a Legislação Brasileira, e mais
especificamente a vida do trabalhador, é de suma importância para a população,
pois com estas informações, o trabalhador pode lutar por seus direitos e cumprir os
seus deveres, possibilitando melhores condições de vida e de trabalho.
É papel de todos divulgarem a Legislação para que todos os trabalhadores
tenham consciência dos seus direitos e para nós, como profissionais da saúde,
também possamos lutar por nossos direitos e propagar essa luta em prol dos
trabalhadores da área da saúde.
74
Infelizmente, no Brasil, ainda há empresas que não cumprem as
determinações ligadas à saúde do trabalhador, como por exemplo, realizar exames,
além de preservar os direitos constitucionais do empregado, dentre eles o direito à
saúde, podendo evitar ações judiciais para sua empresa e possíveis danos para a
saúde do trabalhador.
Por isso, devemos disseminar estas informações e conscientizar a população,
visando preservação da vida dos trabalhadores e a promoção da saúde de todos.
Na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) temos a Divisão de
Medicina e Segurança no Trabalho (DMST), criada pela lei nº 214/93, artigo 4º,
subordinada
ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
de
Administração, é o órgão de âmbito Municipal competente para coordenar, orientar,
controlar e supervisionar as atividades relacionadas com a Prevenção de Acidentes
do Trabalho, compreendendo as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes CIPA e a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre
Segurança e Medicina do trabalho, no âmbito da municipalidade (RIBEIRÃO
PRETO, 1994).
A DMST, nos limites de sua jurisdição, é o órgão municipal competente para
executar as atividades relacionadas com a prevenção de acidentes do trabalho.
Compete ainda, adotar e cumprir medidas necessárias à fiel observância dos
preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Dentre
as muitas atribuições, deve agendar os exames periódicos, perícias médicas e
retornos médicos (RIBEIRÃO PRETO, 1994).
Entretanto, a DMST realiza apenas exames admissionais e avalia atestados
médicos para afastamentos de até 14 dias. Após este prazo fica a cargo do Instituto
de Previdência do Municipiário (IPM). Quanto aos controles de saúde, exames
periódicos, demissionais, implantados em 1994, ainda não se efetivaram.
3.5.2 Responsabilidades Legais do Trabalhador com a Instituição Empregadora
A apresentação da quitação anual da anuidade do Conselho de Classe de
sua categoria profissional, bem como a contribuição sindical anual obrigatória; evita
o exercício ilegal da profissão, e traduz-se em responsabilidade legal do profissional
trabalhador perante a instituição empregadora.
75
Os profissionais devem cumprir com todos os deveres e obrigações do
Código de Ética Profissional de sua categoria profissional. Qualquer irregularidade
deve ser denunciada ao Conselho da categoria.
Por ocasião de sua contratação/admissão, deve receber todas as instruções
de funcionamento, uso de EPI, regras, horários, regulamentos internos da instituição
empregadora; enfim seus direitos e deveres para com a empresa. Nesta ocasião,
normalmente são ofertados todos os treinamentos necessários para o início da
função selecionada.
A assistência em saúde vem evoluindo não só no aspecto tecnológico como
também no que se refere aos recursos humanos, como bem observam Schmidt e
Oguisso (1977, p. 287): “Mesmo porque, hoje, a complexidade da assistência à
saúde requer o concurso de muitos profissionais de áreas diferentes para atuarem
coletivamente em função do paciente.” No mesmo sentido aponta Lima (1999, p.
42): “Mais do que nunca, as atividades dos profissionais de saúde se caracterizam
por uma multidisciplinaridade, obrigando cada segmento a ser permeável em relação
às suas conclusões sobre o estado e o tratamento do paciente.” Com isto, há
possibilidade de ser responsabilizado por seus atos na atuação junto ao paciente,
com repercussões legais que podem se situar na área jurídica da responsabilidade
civil.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) (Lei n. 8.078, de 11 de setembro
de 1990, dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências), que no
art. 14, em seu § 4º, refere Grinover et al. 1998, p. 157: “A responsabilidade dos
profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.” O profissional
liberal, no escólio de Prux (1998, p. 107), é entendido como:
Assim, precipuamente, conclui-se serem os profissionais liberais uma
categoria de pessoas, que no exercício de suas atividades laborais, é
perfeitamente
diferenciada,
pelos
conhecimentos
técnicos
reconhecidos em diploma de nível superior, não se confundindo com
a figura do autônomo.
Ainda ressalta, o mesmo Prux (1998, p. 181): “A responsabilidade civil dos
profissionais liberais é tradicionalmente ligada à teoria subjetiva fundada na culpa”.
Os serviços de saúde públicos e os serviços de saúde privados (serviço
público delegado às entidades privadas) serão responsáveis, civilmente, pelos
prejuízos sofridos por pacientes, em virtude de danos causados por seus
profissionais.
76
Estão os serviços de saúde, entre eles os hospitais, onde labutam os
profissionais de saúde, sujeitos à regra que vem esculpida no art. 932, do Código
Civil Brasileiro, no caput e inciso III, que diz (BRASIL, 2002a): “São também
responsáveis pela reparação civil: [...] III - o empregador ou comitente, por seus
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou
em razão dele [...]”
E a Súmula 341, do STF - Supremo Tribunal Federal - complementa: “É
presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou
preposto”.
E, em conformidade com a Lei nº 5.905/73, de 12 de julho de 1973, que
dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá
outras providências, fica determinado em seu Art. 15 item VII – expedir a carteira
profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o
território nacional e servirá de documento de identidade (BRASIL, 1973b).
77
4 CASUÍSTICA E MÉTODO
A seguir serão apresentados conteúdos referentes à casuística e métodos
propostos no estudo incluindo sua natureza, local, população e amostra, análise dos
dados, além de aspectos éticos e legais preconizados na Resolução 466/12.
4.1 NATUREZA DO ESTUDO
Trata-se de uma pesquisa exploratória, com delineamento transversal e
abordagem quantitativa que visa levantar dados da biologia do indivíduo, do meio
ambiente em que vive e trabalha, de seu estilo de vida e de seu acesso ao serviço
de saúde, com o objetivo de estimular os trabalhadores de uma Unidade de
Assistência Especializada, a aplicarem em seu cotidiano de vida e trabalho, os
elementos que cientificamente produzem saúde.
Para Rouquaryol e Almeida Filho (2003), o estudo transversal é um dos
delineamentos mais empregados na pesquisa epidemiológica, enfatizando que nesta
modalidade de estudo pode-se investigar “causa” e “efeito” de maneira simultânea e
verificar a associação existente entre a exposição e a doença, como se pretende na
presente investigação.
A pesquisa quantitativa procura quantificar os dados, enquanto a exploratória
visa proporcionar maior identidade com o problema, tornando-o mais explícito,
formal e objetivo. Envolve entrevistas com sujeitos e suas experiências práticas com
o assunto explorado (CERVO; BERVIAN, 2002), como proposto no estudo.
4.2 LOCAL DO ESTUDO
O município de Ribeirão Preto, situado no nordeste do Estado de São Paulo
possui 604.682 habitantes, dos quais 1.716 residem na zona rural, ou seja, 99,72%
da população está na zona urbana, conforme censo de 2010. Sua população
estimada para 2014 é de 658.059 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2010).
Conforme dados de população do Censo IBGE (2010), e distribuição por
Unidade de Saúde baseada no setor censitário do IBGE pela Divisão de
78
Planejamento em Saúde, a população do Distrito Central é de 97.975; do Distrito
Norte é de 110.627; do Distrito Sul é 85.060; do Distrito Leste é de 159.802 e do
Distrito Oeste é de 151.218 (RIBEIRÃO PRETO, 2014).
A Política Nacional de Atenção Básica prioriza a Estratégia Saúde da Família,
(Portaria GM 2.488, 2011), como instrumento principal para a reorganização da
atenção básica no país (RIBEIRÃO PRETO, 2014).
O Plano Municipal de Saúde (2014-2017) pontua que a rede municipal de
atenção à saúde está estruturada em 5 (cinco) Distritos de Saúde, cada qual com
área de abrangência definida, constituindo-se de uma Unidade Básica Distrital
(UBDS) onde são ofertadas especialidades médicas, serviço de pronto atendimento
e Unidades Básicas (UBS), conforme o dimensionamento do território e da
população, onde são ofertados os serviços de clínica geral, pediatria e
ginecologia/obstetrícia, bem como serviços de enfermagem, odontologia, vacinação,
farmácia e outros. Este universo é composto por 48 estabelecimentos de atenção
básica, dos quais 14 são Unidades de Saúde da Família - com um total de 30
equipes - e 18 Unidades Básicas tradicionais - com 20 equipes de agentes
comunitários de saúde (RIBEIRÃO PRETO, 2014).
O Complexo Regulador de Ribeirão Preto, obedecendo à Portaria 399/06 do
MS, está estruturado por unidades de trabalho (centrais de regulação: central de
consultas especializadas, central de regulação de procedimentos e exames de
média e alta complexidade, central de regulação de cirurgias eletivas e central de
regulação odontológica) necessariamente, interligadas entre si, permitindo assim a
ordenação do fluxo de necessidade / resposta aos pacientes (RIBEIRÃO PRETO,
2014).
O setor secundário dispõe, além das 5 UBDS, de 30 locais de assistência
ambulatorial especializada, sendo 16 ambulatórios especializados, 2 serviços de
radiodiagnóstico, 3 de terapia renal substitutiva, 3 de odontologia (2 Centros
Especializados em Odontologia e 1 Laboratório de Prótese), 6 laboratórios de
análises clínicas (sendo 1 próprio e 5 conveniados) (RIBEIRÃO PRETO, 2014).
No setor terciário, o município conta com 09 hospitais, sendo 6 públicos
(Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo – Unidade Campus (HC-Campus FMRP/USP); Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo –
Unidade de Emergência (HC-UE FMRP/USP); Hospital Psiquiátrico de Ribeirão
79
Preto – Santa Thereza; Hospital Estadual de Ribeirão Preto (HE); Hospital Mater –
Maternidade do Complexo Aeroporto/Fundação Maternidade Sinhá Junqueira; e
Instituto Santa Lydia) e 3 filantrópicos e conveniados SUS (Sociedade Beneficente
Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto; Sociedade Portuguesa
Beneficência – Hospital Imaculada Conceição e Hospital Electro Bonini – UNAERP)
(RIBEIRÃO PRETO, 2014).
Existe ainda, uma rede suplementar de atenção em saúde com números
expressivos de
serviços (clínicas,
consultórios, laboratórios,
entre
outros).
Entretanto, apesar do número de beneficiários da rede suplementar, muitos destes
também utilizam o SUS, com destaque para os serviços de imunização, assistência
farmacêutica, assistência domiciliar, internações de alta complexidade como
oncologia, terapia renal substitutiva, além dos processos judiciais para aquisição de
órteses, próteses, meios de locomoção, medicamentos (não padronizados pela
Relação Nacional de Medicamentos Especiais - RENAME) e fraldas (RIBEIRÃO
PRETO, 2014).
Neste contexto, o presente estudo foi desenvolvido no Núcleo de Gestão
Assistencial (NGA-59) que é uma unidade ambulatorial de assistência especializada,
faz atendimento secundário, está vinculada à Secretaria Municipal da Saúde, um
dos locais de assistência ambulatorial para o município e, geograficamente,
localizado no Distrito Central, da cidade de Ribeirão Preto/SP.
Nesta Unidade temos atendimento de especialidades médicas e não médicas:
Acupuntura, Cardiologia, Cirurgia Ambulatorial, Cirurgia Cabeça e Pescoço, Cirurgia
Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria,
Gastrologia,
Geriatria,
Homeopatia,
Imuno-Alergia,
Mastologia,
Nefrologia,
Neurologia, Nutrologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia,
Proctologia, Reabilitação Física, Reumatologia, Urologia, Enfermagem, Assistência
Social,
Eletrocardiogramas,
Eletroencefalogramas,
Espirometria,
Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional.
O total de procedimentos realizados na Unidade do estudo, nos anos de 2013
e 2014 foi um total de 498.581, obtendo-se uma média de 20.774 atendimentos por
mês neste período, de acordo com os dados fornecidos pelo Setor de Informática da
Secretaria Municipal de Saúde - Sistema Hygia - Ribeirão Preto, incluindo as
consultas
médicas,
pré
e
pós-consultas
de
enfermagem,
exames
80
(eletrocardiogramas, eletroencefalogramas, espirometria, glicemia, ultrassom e
audiometria), avaliação da situação vacinal, antropometria, entre outros.
Na época da adesão do município à gestão plena de saúde, o NGA-59, que
era uma unidade de saúde do Estado, foi incorporado ao município. Nesta mudança
vieram vários profissionais estatutários de vínculos federais, estaduais e também
municipais. Atualmente existem 6 trabalhadores federais, 36 estaduais e 81 do
município (RIBEIRÃO PRETO, 2013).
4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA
Foram considerados como população do estudo todos os profissionais de
saúde do Núcleo de Gestão Assistencial (NGA-59), contratados pela Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto e municipalizados (profissionais com vínculos estadual
e/ou federal que prestam serviço no município), totalizando 125 profissionais de
todas as áreas, que desenvolvem atividades diversas, nos períodos manhã e tarde,
na Unidade de saúde em questão.
Os critérios de inclusão compreenderam concordância em participar do
estudo, após ciência dos objetivos da pesquisa, ter a função/comprometimento de
assistência/atendimento ao cliente/usuário na unidade do estudo.
Os critérios de exclusão contemplaram os trabalhadores do NGA-59 que não
concordaram em participar do estudo, ou assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) (Apêndice I), ou que por algum motivo não estiveram presentes
em todas as etapas do estudo.
Após aplicação dos critérios supracitados, considerando que 11 (8,8%)
sujeitos foram excluídos, pois 8 (6,40%) não quiseram participar; 3 (2,40%) se
encontravam afastados por licença saúde; participaram deste estudo 114
profissionais, constituindo-se a amostra da presente investigação, com erro amostral
de 2,8% e o intervalo de confiança de 95%.
4.4 COLETA DOS DADOS
Os dados foram coletados a partir do instrumento, com todos os profissionais
de saúde que se dispuseram a participar da pesquisa, relacionado à biologia
humana dos profissionais, aspectos relacionados ao meio ambiente, estilo de vida e
81
sobre o acesso aos serviços de saúde pelos profissionais que atuam em uma
Unidade de Assistência Ambulatorial Especializada do município de Ribeirão
Preto/SP.
4.4.1 Instrumento de Coleta de Dados
A cada participante que concordou em participar do estudo foi utilizado um
instrumento (ANEXO A) que incluiu questões contempladas no modelo de “Campo
de Saúde” de Lalonde. Lalonde propõe um olhar para a saúde classificada em
quatro
elementos:
biologia
do
indivíduo,
ambiente,
estilo
de
vida
e
organização/acesso da assistência à saúde. Enfatiza também a responsabilidade de
cada indivíduo em mudar seus comportamentos para melhorar sua saúde.
Para avaliar os dados da biologia humana dos profissionais, também foi
realizado o exame de bioimpedância no NGA-59, utilizando o Monitor de
Composição Bioimpedância Biodynamics modelo 310, que se encontra no
Ambulatório de Nutrologia do referido local.
As informações coletadas foram armazenadas em uma planilha eletrônica
Excel 2012 da empresa Microsoft Corporation.
4.4.2 Procedimento de Coleta de Dados
O instrumento para coleta de dados (ANEXO A), foi aplicado pela
pesquisadora a todos os trabalhadores que concordaram em participar do estudo,
após assinatura do TCLE (APÊNDICE I), com anotação dos conteúdos, na
sequência dos relatos . Essa etapa ocorreu no período de abril a novembro de 2014.
Os
trabalhadores
convidados,
que
participaram
da
coleta
citada
anteriormente, foram orientados e instruídos para e como seria o exame de
bioimpedância, realizado em consultório no NGA-59; o agendamento ocorreu
conforme disponibilidade do tabalhador, no mesmo dia ou em outra data, desde que
tivessem cumprido as instruções necessárias, e não houvessem dúvidas a
esclarecer. É um exame de curta duração, 10 a 15 minutos, feito com o sujeito em
posição deitada, decúbito dorsal, com um eletrodo na mão e pé direito, cujo preparo
prévio consta de avaliação/aferição dos sinais vitais: peso, altura e pressão arterial.
Também houve a recomendação de que o sujeito fizesse uma dieta leve e não
82
realizasse exercícios físicos extenuantes no dia anterior ao exame, conforme
orientação da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome
Metabólica – ABESO (2009).
4.5 ANÁLISE DOS DADOS
A análise quantitativa dos dados ocorreu com o uso do software Excel 2012
da empresa Microsoft Corporation através da funcionalidade de “tabela dinâmica”,
onde foi possível correlacionar as informações por meio de um cubo dinâmico,
apresentando as frequências relativas e absolutas expressas nas tabelas,
apresentadas nos resultados e discussões.
4.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
Em atendimento à Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12,
respeitando os princípios éticos, foi preservada a confidencialidade no estudo.
Houve autorização pelo Secretário Municipal de Saúde do município de Ribeirão
Preto - SP (ANEXO C) e Gerente do NGA-59 (ANEXO B), para abordar os
trabalhadores da saúde necessários ao estudo, após solicitações a esses
responsáveis (APÊNDICES III e IV), respectivamente, e autorização do Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de Ribeirão Preto (ANEXO
D), sob parecer nº 546.826, aprovado na data de 19/02/2014, de acordo com o
pedido a esse órgão (APÊNDICE V).
Foi dado aos participantes, que aceitaram participar do estudo, o TCLE
(APÊNDICE I) para assinatura, o mesmo orienta sobre os objetivos da pesquisa.
Não houve situação de risco para os participantes durante o estudo, uma vez que
eles somente responderam às questões propostas no instrumento de coleta de
dados, em local apropriado, assistidos e supervisionados pela coordenadora da
pesquisa.
Acreditamos que houve benefícios diretos desta pesquisa para o participante,
que pôde obter novos conhecimentos e informações que serão extremamente
valiosas no sentido de planejamentos futuros acerca da própria saúde e também
para ao Departamento de Saúde do Trabalhador do Município de Ribeirão Preto.
83
Ao participante foi garantida a liberdade da retirada do consentimento a
qualquer momento, e deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo na
instituição onde trabalha, respaldando-se, inclusive, nos conteúdos preconizados na
Resolução 466/12, onde está assegurada a privacidade dos sujeitos (APÊNDICE I).
Também não foram oferecidos riscos advindos da participação nessa
investigação, pois cada sujeito respondeu apenas às questões previamente
formuladas e passaram pelas aferições de medidas propostas para o exame de
bioimpedância.
4.7 CRITÉRIOS DE SUSPENSÃO OU ENCERRAMENTO DA PESQUISA
A pesquisa somente seria suspensa diante da percepção de algum risco
ou dano aos sujeitos da pesquisa ou diante de outro estudo que tenha os mesmos
propósitos e, por fim, apresentasse superioridade metodológica. As situações
pontuadas não ocorreram, permitindo a realização de todas as etapas propostas no
estudo.
84
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Serão descritos nesse tópico os resultados provenientes da coleta de dados
da pesquisa e discutiremos as informações, subsidiados pelo referencial Modelo de
Campo de Saúde de Lalonde para levantamento das informações, bem como
aplicação do exame de bioimpedância e consulta ao Sistema Hygia.
A amostra deste estudo constituiu-se de 114 profissionais do Núcleo de
Gestão Assistencial (NGA-59).
No Quadro 3 é apresentada a distribuição dos trabalhadores da saúde do
NGA-59, de acordo com sexo e faixa etária, considerando que foram classificadas 5
faixas etárias para mulheres e 4 para homens, com idades compreendidas entre 20
e 70 anos, e 30 e 70 anos; respectivamente. A caracterização da população
estudada foi de 71 (62,28%) mulheres e 43 (37,72%) homens. Constatamos maior
prevalência de trabalhadores, de ambos os sexos, na faixa etária de 50 a 60 anos;
sendo 33 (28,95%) no sexo feminino e 26 (22,81%) masculino.
Quadro 3: Distribuição de trabalhadores da saúde do NGA-59, segundo sexo e
faixa etária. Ribeirão Preto/SP, 2014.
SEXO
Feminino
Feminino Total
Masculino
Masculino Total
Total Geral
FAIXA ETÁRIA
TOTAL (%)
n%
20 |--- 30
30 |--- 40
40 |--- 50
50 |--- 60
60 |---| 70
1 (0,88)
6 (5,26)
17 (14,91)
33 (28,95)
14 (12,28)
71 (62,28)
1 (0,88)
12 (10,53)
26 (22,81)
4 (3,51)
43 (37,72)
114 (100)
1,41
8,45
23,94
46,48
19,72
100,00
2,33
27,91
60,47
9,3
100
30 |--- 40
40 |--- 50
50 |--- 60
60 |---| 70
Fonte: Autora.
Os dados encontrados corroboram os achados no estudo de Nascimento e
Mendes (2002) e do Observatório de Recursos Humanos em Saúde/Estação
CETREDE/UFC/UECE (2007), com relação ao sexo, prevalecendo o feminino;
entretanto, as faixas etárias predominantes nos estudos citados, foram de 35 a 39
85
anos e 30 a 39 anos, respectivamente; enquanto na presente pesquisa foi de 50 a
60 anos, em ambos os sexos, revelando trabalhadores com idades mais avançadas.
Quanto ao vínculo trabalhista, 88 (77,19%) dos trabalhadores possuem
vínculo municipal, 22 (19,3%) estadual e 4 (3,51%) federal. O maior percentual de
trabalhadores com vínculo municipal deve-se ao fato da Unidade de Saúde
pertencer ao município; tendo sido municipalizada na gestão plena e os
trabalhadores com vínculo estadual e federal permanecerem na Unidade até a
aposentadoria, sem futuras reposições destes trabalhadores.
Com relação ao tempo de trabalho, encontramos 55 (48,25%) trabalhadores
com 20 a 30 anos, 31 (27,9%) possuem de 10 a 20 anos, 15 (13,16%) com 30 a 40
anos e 13 (11,40%) até 10 anos. Frente aos dados citados, por se tratar de órgão
público, observou-se que se trata de trabalhadores que ingressaram em sua
atividade laboral por concurso público, na Prefeitura de Ribeirão Preto, e no
momento do estudo estavam lotados no NGA-59, onde prestam serviços
atualmente, portanto, confirma-se que estão em atividade, há vários anos, pois a
maioria tem 20 a 30 anos de trabalho.
Em grande parte das instituições não há políticas definidas para o
desenvolvimento do funcionário público por meio de treinamento e progressão na
carreira e quando existe, geralmente, está relacionada à permanência no cargo e ao
tempo de serviço (MARCONI, 2005). Isto pode resultar na má qualidade dos
serviços prestados e na falta de funcionários estimulados e capacitados, gerando
desperdícios de recursos técnicos, financeiros e humanos, causando elevação dos
custos operacionais e queda na qualidade dos serviços prestados à sociedade
(MELO, 2010).
5.1 DADOS RELACIONADOS À BIOLOGIA DO INDÍVIDUO
5.1.1 Lalonde
5.1.1.1 Dados Antropométricos
No Quadro 4 é apresentada a distribuição dos trabalhadores da saúde do
NGA-59, por sexo e resultado do Índice de Massa Corporal (IMC), encontrando-se
86
45 (39,47%) da amostra com obesidade I, II e III; além de 42 (36,84%) trabalhadores
com sobrepeso.
Na distribuição por sexo, ainda no Quadro 4, constatamos 27 (38,03%)
mulheres com obesidade I, II e III; seguidas de 23 (32,39%) com sobrepeso; 18
(41,85%) homens com obesidade e 19 (44,19%) com sobrepeso.
Quadro 4: Distribuição de trabalhadores da saúde do NGA – 59, segundo sexo
e classificação do Índice de Massa Corporal (IMC), obtida a partir da avaliação
feita no momento da entrevista. Ribeirão Preto/SP, 2014.
CLASSIFICAÇÃO DO IMC: TOTAL E POR SEXO
Classificação IMC
Peso saudável
Sobrepeso
Obesidade I
IMC
Obesidade II
Obesidade III
Não Avaliado
Total
Funcionários
26
42
24
13
8
1
114
%
22,22
35,90
20,51
11,11
6,84
0,85
97,44
Mulheres
20
23
16
7
4
1
71
%
28,17
32,39
22,54
9,86
5,63
1,41
100,00
Homens
6
19
8
6
4
0
43
%
13,95
44,19
18,60
13,95
9,30
0,00
100,00
*Diretrizes Brasileiras de Obesidade 2009/2010 - ABESO
Fonte: Autora.
Na amostra, constatamos índices mais elevados de sobrepeso e obesidade
quando comparamos com dados da literatura, pois encontramos 76,31%
trabalhadores com sobrepeso e obesidade, índice maior que os encontrados no
estudo de Oshiro, Ferreira e Oshiro (2013) de 72,1% sujeitos; e de Nascimento e
Mendes (2002) que totalizou 61,9% dos entrevistados com sobrepeso e obesidade.
Embora o IMC seja um índice amplamente utilizado, sobretudo pelo baixo
custo operacional e pela simplicidade de utilização, pela conhecida associação entre
elevados valores de IMC e risco aumentado para DCNT, vários estudos têm
demonstrado que não deve ser utilizado como única forma de diagnóstico de
sobrepeso e obesidade em adultos, pois de acordo com as características dos
sujeitos avaliados, em relação às quantidades de massa gorda e massa muscular,
erros
significativos
podem
ser
produzidos
nos
resultados
(ROSS,
1997;
87
DEURENBERG; VAN STAVEREN, 1998; CARRASCO et al., 2004; COSTA,
GUISELINI; FISBERG, 2007).
No Quadro 5 é apresentada a distribuição dos trabalhadores da saúde do
NGA-59, por sexo e classificação de Pressão Arterial (PA), demonstrando que 33
(28,94%) da amostra possuem hipertensão I, II e III. Na distribuição por sexo
encontramos 17 (39,45%) homens e 16 (22,54%) mulheres com hipertensão I, II e
III.
Quadro 5: Distribuição de trabalhadores da saúde do NGA – 59, segundo sexo
e classificação de Pressão Arterial (PA), obtida a partir da aferição no
momento da entrevista. Ribeirão Preto/SP, 2014.
CLASSIFICAÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL: TOTAL E POR SEXO
Classificação PA
Hipotensão
Ótima
Normal
Limítrofe
PA
Hipertensão I
Hipertensão II
Hipertensão III
Não Avaliado
Total
Funcionários
21
6
34
19
24
4
5
1
114
%
17,95
5,13
29,06
16,24
20,51
3,42
4,27
0,85
97,44
Mulheres
17
6
19
12
11
1
4
1
71
%
23,94
8,45
26,76
16,90
15,49
1,41
5,63
1,41
100,00
Homens
4
0
15
7
13
3
1
0
43
%
9,30
0,00
34,88
16,28
30,23
6,98
2,33
0,00
100,00
*VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010).
Fonte: Autora.
Os dados encontrados em nosso estudo, com 28,94% dos trabalhadores
portadores de HAS, são menores que aos resultados obtidos por Nascimento e
Mendes (2002), e maiores que os encontrados na pesquisa de Oshiro, Ferreira e
Oshiro (2013), que tiveram prevalência de HAS em seus respondentes, na ordem de
25,5% e 49,5%, respectivamente.
Quanto ao sexo dos trabalhadores hipertensos, os percentuais encontrados
no sexo masculino foram maiores (39,45%) ao compararmos àqueles identificados
nos estudos de Nascimento e Mendes (2002) e Oshiro, Ferreira e Oshiro (2013), que
encontraram 33,1% e 37,8% indivíduos hipertensos, respectivamente. Considerando
o sexo feminino, nosso resultado foi discretamente menor (22,54%) ao ser
88
comparado com dados de Oshiro, Ferreira e Oshiro (2013) que citam 23,2%
mulheres hipertensas em sua pesquisa.
Estes índices do presente estudo confirmam o encontrado na população em
geral, onde há predomínio de HAS no sexo masculino.
5.1.2 Exame de Bioimpedância
No Quadro 6 é apresentada a distribuição dos trabalhadores da saúde do
NGA-59, por sexo e resultado do percentual de Massa Gorda no peso corporal, e
encontramos 76 (66,67%) da amostra com % moderada e excessiva; e 16 (14,03%)
na % limítrofe.
Considerando a distribuição por sexo, encontramos 50 (70,43%) das
mulheres com porcentagem (%) moderada e excessiva; e 10 (14,08%) na %
limítrofe. Nos homens 26 (60,47%) estavam com % moderada e excessiva; e 6
(13,95%) na % limítrofe (Quadro 6).
Quadro 6: Distribuição de trabalhadores da saúde do NGA-59, segundo sexo e
resultado de massa gorda, obtido a partir do exame de bioimpedância.
Ribeirão Preto/SP, 2014.
SEXO
Feminino
Feminino Total
Masculino
Masculino Total
Total Geral
Result. % de Massa Gorda
Ótima
Normal
Limítrofe
Moderada
Excessiva
Não avaliado
Ótima
Normal
Limítrofe
Moderada
Excessiva
TOTAL
6 (5,26)
3 (2,63)
10 (8,77)
9 (7,89)
41 (35,96)
2 (1,75)
71 (62,28)
9 (7,89)
2 (1,75)
6 (5,26)
5 (4,39)
21 (18,42)
43 (37,72)
114 (100,00)
n%
8,45
4,23
14,08
12,68
57,75
2,82
100,00
20,93
4,65
13,95
11,63
48,84
100,00
Fonte: Manual do Aparelho de Bioimpedância –TBW.
89
No presente estudo verificamos a variação do IMC (referida) e % Gordura
Corporal (aferida), considerando que a nomenclatura usada para referências de IMC
e bioimpedância são distintas, salientando que no IMC temos sobrepeso e
obesidade I, II e III; na bioimpedância pontuamos o % de gordura em limítrofe,
moderada e excessiva. Ao fazermos analogia dos dados encontrados, sob a ótica
das duas formas de levantamentos realizadas, considerando sobrepeso (36,84%)
versus limítrofe (14,03%), e obesidade I, II e III (39,47%) versus moderada e
excessiva (66,67%), os dados mostraram que o IMC realmente não é um método
individualizado e, sim, populacional, diferente da bioimpedância que nos mostra um
resultado personalizado, um método não dispendioso e fácil de ser usado, que
possibilita dados mais fidedignos, referentes à situação corporal dos trabalhadores,
sujeitos dessa pesquisa. Esta comparação dos métodos revelou importante
discordância dos valores de IMC quando comparados aos encontrados na
bioimpedância.
Dados da literatura, como do estudo realizado por Carrasco et al. (2004),
demonstraram a concordância de diagnóstico entre o IMC e a porcentagem de
gordura obtida pela impedanciometria em adultos chilenos; que utilizou os mesmos
pontos de corte que os utilizados no presente estudo. Os resultados foram
semelhantes, com maior porcentagem de obesidade detectada pela % de gordura
(bioimpedância) do que pelo IMC. Essa informação permite-nos inferir que o IMC
apresenta significativo número de diagnósticos falsos negativos quando comparado
à % de gordura.
No Quadro 7 é apresentada a distribuição dos trabalhadores da saúde do
NGA-59, por sexo e resultado da % de Água Corporal Massa Magra, constatando na
amostra, 78 (68,41%) com % de água dentro da normalidade e 34 (29,83%) com
retenção hídrica. Na distribuição por sexo, encontramos 58 (81,69%) mulheres com
% de água dentro da normalidade e 11 (15,49%) com retenção hídrica; nos homens
23 (53,49%) estavam com retenção hídrica e 20 (46,51%) com % de água dentro da
normalidade.
90
Quadro 7: Distribuição de trabalhadores da saúde do NGA-59, segundo sexo e
resultado de % de água corporal na massa magra, obtido a partir do exame de
bioimpedância. Ribeirão Preto/SP, 2014.
SEXO
RESULTADO % ÁGUA
Feminino
TOTAL
n %
Normal
58 (50,87)
81,69
Retenção hídrica
11 (9,65)
15,49
Não avaliado
Feminino Total
2 (1,75)
2,82
71 (62,28)
100,00
Masculino
Normal
20 (17,54)
46,51
Retenção hídrica
23 (20,18)
53,49
Masculino Total
43 (37,72)
100
Total Geral
114 (100)
Fonte: Manual do Aparelho de Bioimpedância -TBW (2003)
Para Barreto et al. (2008), a bioimpedância elétrica tem sido uma alternativa
viável na avaliação da composição corporal, pois trata-se de equipamento não
invasivo, portátil, de fácil manuseio, boa reprodutibilidade e, portanto, com uso para
a prática clínica e para estudos epidemiológicos.
Ainda Barretos et al. (2008) enfatizam que para a estimativa dos
componentes corporais (p. 887)
a bioimpedância elétrica estima primeiramente a quantidade de água
corporal total e, para isso, pressupõe um grau estável de hidratação
e de conteúdo mineral ósseo. A suposição não é válida para
indivíduos obesos, considerando que estes possuem um maior nível
de hidratação inerente à obesidade, ocorrendo uma subestimação de
gordura corporal.
No Quadro 8, identificamos que o resultado do % de água corporal na massa
magra foi aumentando, conforme o aumento do IMC. No “peso saudável” 4
(15,38%); “sobrepeso” 9 (21,43%); “obesidade I” 9 (37,50%); “obesidade II” 7
(53,85%) e na “obesidade III” 5 (62,50%).
91
Quadro 8: Distribuição de trabalhadores da saúde do NGA-59, segundo IMC e
resultado de % de água corporal na massa magra, obtido a partir do exame de
bioimpedância. Ribeirão Preto/SP, 2014.
RESULTADO IMC
Peso Saudável
RESULTADO % ÁGUA
Normal
Retenção hídrica
Peso Saudável Total
Sobrepeso
Normal
Retenção hídrica
Não avaliado
Sobrepeso Total
Obesidade I
Normal
Retenção hídrica
Obesidade I Total
Obesidade II
Normal
Retenção hídrica
Obesidade II Total
Obesidade III
Obesidade III Total
Não avaliado
Não Avaliado Total
Total Geral
Normal
Retenção hídrica
Não avaliado
TOTAL
22 (19,30)
4 (3,51)
26 (22,81)
32 (28,07)
9 (7,89)
1 (0,88)
42 (36,84)
15 (13,16)
9 (7,89)
24 (21,05)
6 (5,26)
7 (6,14)
13 (11,40)
3 (2,63)
5 (4,39)
8 (7,02)
1 (0,88)
1 (0,88)
114 (100)
n%
84,62
15,38
100,00
76,19
21,43
2,38
100,00
62,50
37,50
100,00
46,15
53,85
100,00
37,50
62,50
100
100
100
Fonte: Autora.
O
conhecimento
da
composição
corporal
de
um
indivíduo,
pela
bioimpedância, segundo Heyward e Stolarczyk (2000), pode ser uma ferramenta
valiosa e auxiliar na identificação dos riscos à saúde, associados aos níveis
elevados de gordura corporal, aos níveis mínimos de massa magra, à % de água
corporal total, ao acúmulo de gordura intra-abdominal, a mudanças da composição
corporal associadas às DCNT, na avaliação da eficiência de intervenções
nutricionais e de exercícios físicos, na estimativa do peso ideal, na formulação e
prescrição de dietas ou até mesmo no monitoramento das mudanças corporais
associadas ao crescimento, ao desenvolvimento e à maturação.
No presente estudo, quando da avaliação do nível de massa magra
(músculos, ossos e vísceras), por sexo e faixa etária, foram encontrados 108
(94,74%) trabalhadores dentro do nível mínimo esperado e 4 (3,51%) com nível
abaixo do preconizado e 2 (1,75%) não avaliados. Estes 4 últimos trabalhadores
92
citados são mulheres, na faixa etária de 42 a 52 anos de idade, e seus % de gordura
apurado foram 2 – limítrofe, 1 – moderada e 1 – excessiva, isto nos permite designálas de “falsas magras”, uma vez que não têm o mínimo desejável quanto à massa
magra e estão fora da normalidade quanto ao percentual de gordura corporal,
aconselhando-se trabalharem a atividade física/exercício para ganhar massa
muscular e perder gordura, de forma acompanhada.
Estudiosos na área, como Eickemberg et al. (2011), defendem que a
bioimpedância pode ser usada para determinar o fracionamento dos componentes
corporais, como marcador de estado nutricional e para avaliação de dano celular,
desde que sejam estabelecidos critérios mais fidedignos para análise e interpretação
dos resultados, no sentido de adotar pesquisas que desenvolvam equações
específicas para a população brasileira, inclusive para diferentes grupos etários.
5.1.3 História Clínica do Trabalhador
Considerando a importância da história clínica que caracteriza a biologia dos
participantes dessa pesquisa buscamos identificar quais as doenças que possuem
ou já possuíram, pontuando sobrepeso (59,65%), problemas de coluna (52,63%),
problemas gástricos (37,72%), HAS (31,58%), transtornos emocionais (31,58%),
distúrbios do sono (28,95%), dislipidemias (24,56%), outras doenças (20,18%),
obesidade (19,3%), problemas hepáticos (12,28%), DM e osteopenia (9,65%) cada,
problemas urinários, osteoporose, hipotireoidismo, doença vascular periférica
(7,02%) cada, distúrbios da imunidade (3,51%), hipertireoidismo (2,63%) e acidente
vascular cerebral (0,88%). Também foi perguntado se possuíam outras patologias
que não foram contempladas no instrumento.
No Gráfico 2 constatamos que foram apontadas, com maior frequência,
sobrepeso, problemas de coluna e gástricos, além da HAS, transtornos emocionais,
distúrbios do sono e dislipidemias.
Ainda aparecem nas condições clínicas agrupadas como “outras doenças”,
citadas individualmente pelos trabalhadores, em menor número, porém, com
frequência significativa de 20,18%, quando associadas, rinite alérgica 3 (13,4%);
cegueira - pós cirurgia/acidente, asma, enxaqueca, vertigem paroxística postural,
hérnia inguinal com 2 (8,7%) cada, pé diabético, glaucoma, retinopatia diabética,
prolapso de válvula cardíaca, disritmia cerebral, miocardiopatia hipertrófica -
93
marcapasso, arritmia cardíaca, fibromialgia, insuficiência aguda do miocárdio - IAM,
insuficiência aórtica com prótese, varizes de membros inferiores, psoríase, sequela
de poliomielite, e labirintite em 1 (4,35%).
94
Gráfico 2: Distribuição da história clínica de doenças nos trabalhadores da saúde do NGA – 59, referida por ocasião da
entrevista. Ribeirão Preto/SP,2014.
Sobrepeso
História Clínica
Problemas de Coluna
Problemas Gástricos
80
HAS
70
Transtornos Emocionais
68
Distúrbio do Sono
60
Dislipidemia
60
Outras Doenças
50
Obesidade
43
40
Problemas Hepáticos
36
Diabetes Melitus
36
33
30
Osteopenia
28
23
Problemas Urinários
22
Osteoporose
20
Hipotireoidismo
14
11
11
8
10
8
8
Doença Vascular Periférica
8
4
3
Distúrbio de Imunidade
1
Hipertireoidismo
0
1
AVC
Fonte: Autora.
95
Ressalta-se que nesse grupo de “outras doenças”, frequentemente, aparecem
sinais e sintomas que posteriormente culminaram em quadros clínicos que levaram a
instalação da DM, HAS e poderiam, se consideradas para investigação e
intervenção em saúde, terem evitado a ocorrência das DCNT, citadas anteriormente,
por exemplo.
Conforme dados da Pesquisa Nacional de Saúde (2013), a proporção de
indivíduos de 18 anos ou mais que referiram diagnóstico de doenças, apontam a
HAS (21,4%), problemas de coluna (18,5%), dislipidemia (12,5%), depressão (7,6%),
diabetes (6,2%), asma (1,75%) e AVC (1,5%) e, ao confrontarmos os resultados do
presente estudo identificamos um percentual mais elevado em relação à HAS
(37,72%), problemas de coluna (52,63%), transtornos emocionais (31,58%) e
diabetes (9,65%). Entretanto, no que diz respeito à asma (1,75%) e AVC (0,88%), os
resultados
da
pesquisa
vigente
trouxeram
índices
iguais
e
menores,
respectivamente, como verificado no Gráfico 2.
Outro estudo intitulado Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel, 2012), realizado pelo Ministério
da Saúde, mostrou que 51% da população acima de 18 anos, está acima do peso
considerado normal, em ambos os sexos. Entre os homens, o excesso de peso
atinge 54% e as mulheres, 48%. O estudo inédito também revela que a obesidade
cresceu no País, atingindo o percentual de 17% da população. Na presente
investigação sobrepeso e obesidade, associadas, atingiram 78,95%, reforçando a
tendência de crescimento, já relatada.
5.2 DADOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE
5.2.1 Formação e Atividade Profissional
Considerando o nível de instrução dos participantes da amostra, constatamos
no Quadro 9, que os níveis de instrução de maior predomínio, em ambos os sexos,
foram o superior completo seguido de médio completo, sendo no sexo feminino 44
(61,97%) e 18 (25,35%), e no sexo masculino 32 (74,42%) e 7 (16,28%),
respectivamente. Ainda salientamos que existem 2 (2,82%) mulheres que possuem
apenas nível fundamental.
96
Quadro 9: Distribuição dos trabalhadores da saúde do NGA – 59 segundo sexo
e nível de instrução. Ribeirão Preto/SP, 2014.
SEXO
Feminino
NÍVEL INSTRUÇÃO
Fundamental Completo
Fundamental Incompleto
n%
1 (0,88)
1,41
1 (0,88)
1,41
18 (15,79)
25,35
6 (5,26)
8,45
Sup. Completo
44 (38,59)
61,97
Sup. Incompleto
1 (0,88)
71 (62,28)
1,41
100
Médio Completo
7 (6,14)
16,28
Médio Completo
Médio Incompleto
Feminino Total
Masculino
TOTAL
Médio Incompleto
2 (1,75)
4,65
32 (28,08)
74,42
Sup. Incompleto
Masculino Total
2 (1,75)
43 (37,72)
4,65
100
Total Geral
114 (100)
Sup. Completo
Fonte: Autora.
No estudo de Nascimento e Mendes (2002) e Observatório de Recursos
Humanos em Saúde/Estação CETREDE/UFC/UECE (2007), também foi observada
a predominância de trabalhadores com ensino superior completo, corroborando com
os achados deste.
Com relação à ocupação dos profissionais, a amostra foi constituída por 40
Médicos(as) (35,09%); 27 Técnicos(as), Auxiliares e Atendentes de Enfermagem
(26,32%); 13 Profissionais com Nível Superior (4 Dentistas, 2 Psicólogos(as), 1
Fisioterapeuta, 1 Terapeuta Ocupacional, 2 Fonoaudiólogos(as), 2 Assistentes
Sociais e 1 Nutricionista)
(11,4%); 10 Agentes Administrativos
(8,77%); 7
Enfermeiros(as) (6,14%); 5 Auxiliares de Serviços Gerais (4,39%); 3 Agentes de
Segurança (2,63%); 2 Auxiliares de Cirurgião Dentista (1,75%); 2 Visitadores
Sanitários (1,75%); 1 Técnico de ECG (0,88%) e 1 Telefonista (0,88%).
Das ocupações, os profissionais que alegaram ter mais de um emprego, a
frequência foi 100% de Nutricionistas; 92,5% dos Médicos(as); 50% dos
Fonoaudiólogos(as) e Psicólogos(as); 33,3% dos Agentes de Segurança e
Atendentes de Enfermagem; 30% dos Agentes Administrativos; 20% dos Auxiliares
de Enfermagem e Auxiliares de Serviços Gerais e 14,29% dos Enfermeiros(as). Os
demais profissionais relataram ter somente um emprego.
97
No que diz respeito à jornada de trabalho encontramos 36 (31,58%)
colaboradores com jornada de até 6 horas diárias; 73 (64,04%) com jornada de 6 a
12 horas e 5 (4,39%) trabalham de 12 a18 horas.
Os dados no estudo de Ferraz (2010) contrapõem os achados aqui
encontrados, pois houve predominância de jornada de trabalho semanal dupla e
tripla (nos profissionais enfermeiros de um hospital escola em Belo Horizonte/MG),
jornadas consideradas desgastantes, comum nessa classe de trabalhadores da
saúde.
Segundo Martins e Zeitoune (2007) são reveladoras a condição de trabalho
imposta pela ideologia capitalista, pois absorve toda a força de trabalho dos
trabalhadores para fazer jus ao mundo consumista, idealizado histórico e
socialmente, como prerrogativa de viver bem e ter qualidade (material) de vida. A
sobrecarga de trabalho interfere nos meios de garantir a qualidade de vida dos
indivíduos, impedindo que os mesmos busquem condições para uma relação de
trabalho que priorize o descanso físico e o cuidado de si.
5.2.2 Renda e Estrutura Familiar
Quando analisamos a renda familiar dos trabalhadores tivemos maior
prevalência de 53 (46,49%) na faixa salarial acima de 10 Salários Mínimos (SM),
seguidos de 29 (25,44%) entre 6 e 10 SM; 28 (24,56%) entre 3 e 6 SM e 4 (3,51%),
menor que 3 SM.
Com relação ao estado civil, 73 (64,04%) são casados, 19 (16,67%) são
solteiros; 12 (10,57%) divorciados; 4 (3,51%) viúvos e 2 (1,75%) relataram ser
amigados, desquitados e separados judicialmente. Encontramos ainda 6 (5,26%)
trabalhadores que vivem outra união-não formal, diferente do registro civil.
Quanto ao número de filhos, 42 (36,84%) dos trabalhadores têm 2 filhos, 30
(26,32%) possuem 1 filho, 20 (17,54%) têm 3 filhos, 18 (15,79%) não os possuem, 3
(2,63%) relataram 5 filhos e 1 (0,88%) refere 4 filhos.
No estudo de Nascimento e Mendes (2002) foram encontrados 72,8% de
trabalhadores que viviam com algum companheiro e 32,2% tinham dois filhos. Estes
resultados corroboram com os achados da presente investigação onde 71,05%
trabalhadores vivem com algum companheiro e 36,84% tinham dois filhos.
98
Ao analisarmos a renda familiar, detectamos escassez de pesquisa nessa
área, com relação específica, ao trabalhador da saúde, pois estudo do Observatório
de Recursos Humanos em Saúde/Estação CETREDE/UFC/UECE (2007), a
remuneração dos trabalhadores de saúde de nível superior está na faixa de 4 a 8
salários mínimos e daqueles de nível técnico entre 1 a 4 salários mínimos; porém
difere dos encontrados no estudo vigente, uma vez que fizemos avaliação da renda
familiar e não individual do trabalhador.
5.3 DADOS RELACIONADOS AO ESTILO DE VIDA
Tendo em vista a importância do estilo de vida na ocorrência das DCNT,
buscamos identificar na entrevista com os trabalhadores, as causas para sua doença
relacionadas ao estilo de vida de cada um.
No Gráfico 3, estão relacionadas as principais causas para ocorrência da
doença de acordo com o estilo de vida, predominando, com 52 (45,67%) a falta de
exercícios físicos; 47 (41,23%) dieta incorreta; 34 (29,82%) estresse; 33 (28,95%)
história familiar; 30 (26,32%) idade; 16 (14,04%) obesidade; 9 (7,89%) tabagismo, e
3 (2,63%) diabetes. Ressaltamos que cada participante poderia indicar mais de uma
associação da ocorrência da doença e seu estilo de vida.
Rothman e Greenland (1998) definiram causa suficiente como um conjunto de
eventos e condições mínimos que inevitavelmente acarreta a ocorrência de doença,
conceituando que ‘mínimo’ implica que não se pode prescindir de nenhum dos
eventos ou condições componentes. Nota-se ainda que, para a ocorrência de uma
determinada doença, pode haver diversos conjuntos de causas/fatores de risco
suficientes, durante um período de tempo específico.
A passagem da atribuição de associação entre a exposição (suposto agente
causal) e a doença para atribuição de causa tem sido a tônica da discussão sobre
causalidade em epidemiologia (LUIZ; STRUCHINER, 2002).
No estudo de Teixeira e Mantovani (2009), os fatores de risco encontrados
incluíram o estresse (25,6%), HAS (21,1%), antecedentes familiares (18,9%),
obesidade (14,4%), sedentarismo (12,2%), diabetes (3,3%), tabagismo (2,3%) e
excesso de sal na alimentação (2,2%). Podemos dizer que os fatores anteriormente
citados, também estão presentes no estudo que realizamos, porém, não há como
99
comparar os percentuais porque, diferente do preconizado pelos autores
supracitados, os trabalhadores do NGA podiam apontar mais de um fator.
Gráfico 3: Distribuição das causas para ocorrência da doença, dos
trabalhadores da saúde do NGA – 59, segundo o estilo de vida, apontadas por
eles. Ribeirão Preto/SP, 2014.
Fonte: Autora.
Com relação ao consumo de bebidas alcoólicas tivemos 64 (56,14%) que não
consomem, porém 50 (43,86%) de trabalhadores ingerem. Destes últimos 6 (12%)
fazem uso de bebidas 3 vezes ou mais na semana, 30 (60%) uso menor que 3 vezes
na semana e 14 (28%) referiram consumir raramente/1 vez na semana. As bebidas
mais citadas foram cerveja (54%) e vinho (24%), respectivamente.
Lara (2015) afirma que o álcool, em quantidades moderadas (até duas
canecas de 250 ml para homens e apenas um copo para mulheres), tem ação
protetora para o sistema cardiovascular, faz a manutenção de níveis saudáveis de
colesterol, ajuda na contração muscular, na coagulação sanguínea, na proteção
contra alguns tipos de câncer e também no diabetes.
Ao se discutir qual bebida é mais saudável, o National Nutrient Database
(USDA) (2015) fez uma comparação entre 100 ml de cerveja e 100 ml vinho tinto
seco, e divulgou que o resultado foi levemente favorável à cerveja; pois esta última
100
bebida é menos calórica, o teor alcoólico é menor e tem maior quantidade de água;
já o vinho tem menos carboidrato e é mais rico em antioxidantes; a quantidade de
proteína é muito baixa nas duas bebidas.
Como evidenciado nessa pesquisa, Vaismann (1998) relata que no Brasil,
estudo realizado no ano de 1993, pela Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo - FIESP aponta que 10% a 15% dos trabalhadores brasileiros apresentam
dependência ou problemas de abuso do álcool, índice próximo ao encontrado nos
trabalhadores do NGA-59, de 12%.
O alcoolismo é apontado por Magda (2004) como um problema expressivo da
vida intramuros das organizações e que deve ser tratado não como entidade
nosológica unitária e, sim, como síndrome multivariada. A prevalência do uso de
álcool foi de 48,6%, no estudo de Ferraz (2010), entre enfermeiros de um hospital
escola em Belo Horizonte/MG, maior que a encontrada entre os trabalhadores da
Unidade de Saúde, ora investigada.
Quanto ao tabagismo, 87 (76,32%) dos trabalhadores apresentaram-se como
não fumantes, 20 (17,54%) são ex-fumantes e 7 (6,14%) fumantes. Observa-se,
pelos resultados, que há semelhança dos dados presentes na população, em geral,
considerando o crescimento do número de ex-fumantes (18,2%) em relação aos
fumantes (17,2%), encontrados na pesquisa realizada pelo IBGE (2009).
Ferraz (2010) relatou dados percentuais concorrentes com os que foram
pontuados, pois constatou que 83,8% enfermeiros de um hospital escola em Belo
Horizonte/MG nunca fumaram; 9,5% pararam de fumar e 6,7% são fumantes.
Nos dados do PNS (2013), a prevalência de usuários atuais de produtos
derivados de tabaco, fumado ou não, de uso diário ou ocasional foi de 15%, exfumantes 17,5% e não fumantes 67,5%. Comparando estes dados com os referidos
pelos trabalhadores do NGA-59 evidenciamos maior índice de não fumantes na
amostra em estudo, percentual similar de ex-fumantes nos dois estudos, e com
relação aos fumantes constatamos índice menor entre os trabalhadores; cenário de
saúde mais positivo que o encontrado na população, em geral, pois se apresentam
em maior número, trabalhadores não fumantes e, em menor ocorrência, os
fumantes.
101
Quando o trabalhador foi questionado se era estressado, tivemos 64 (56,14%)
que disseram sê-lo em situação de trabalho, 26 (22,81%) em situação doméstica, 16
(14,04%) não têm qualquer estresse, e 12 (10,53%) em outras situações.
Um conceito bastante investigado, por exemplo, é o de conflito entre papéis
profissionais e familiares (FRONE et al., 1992; KELLOWAY, 1999). De acordo com
Pollasky e Holahan (1998), a literatura mostra a importância, para a saúde e bemestar do indivíduo, de se desempenhar diversos papéis dentro e fora de casa, pois
isso aumenta a autoestima e oferece maiores oportunidades de apoio social. No
entanto, estudos têm revelado que tentativas de equilibrar demandas advindas do
trabalho e da família podem provocar consequências negativas, estresse no âmbito
familiar e profissional (CARNET, 1993; THOMPSON; WALKER, 1989; VERÍSSIMO,
et al., 2013).
A pesquisa de Tamayo (2001) que encontrou relação entre valores e estresse
ocupacional, abordou somente os valores pessoais básicos e não os valores do
trabalho.
No estudo de Nascimento e Mendes (2002), o estresse foi referido em 47,3%
da população estudada, sendo que o ambiente do trabalho foi considerado o mais
estressante (46,7%), dados estes bem menores que os encontrados no presente
trabalho.
No estudo de Paschoal e Tamayo (2005), os resultados mostraram que
somente a variável interferência família-trabalho explicou a variável estresse
ocupacional. Não foi encontrada relação entre os valores do trabalho (realização no
trabalho, relações sociais, prestígio e estabilidade) e o estresse ocupacional.
Acreditamos
que
o
estresse
ocupacional,
encontrado
na
presente
investigação, pode advir da variável situação família-trabalho, como já citado em
vários estudos, principalmente quando o casal trabalha fora e precisar conciliar a
situação de trabalhador também em casa, inserindo aí a rotina do cuidado com os
filhos (PASCHOAL, T; TAMAYO, A. 2005).
Ao indagarmos aos trabalhadores se possuíam alterações do sono
encontramos 30 (26,32%) que referiram tê-las, destes 9 (30%) relataram que as
causas se devem a problemas emocionais, 6 (20%) a mudanças de hábitos, 9 (30%)
de causas variadas (apneia do sono, obesidade, menopausa, compromissos, criança
pequena e idade) e 6 (20%) não responderam. Na unidade estudada há somente
102
turno diurno de trabalho, porém muitos trabalhadores possuem outros empregos,
conforme citado anteriormente, dado esse que pode ter interferência no sono dos
trabalhadores.
Segundo dados da Academia Brasileira de Neurologia (ABN) (2015), o sono
normal ou seus distúrbios estão associados ao bom ou mau funcionamento cerebral.
Algumas pessoas apresentam estruturalmente maior propensão a distúrbios do sono
(são os fatores predisponentes), também se expostas a condições de estresse,
doenças ou mudança de hábitos (fatores precipitantes).
Os distúrbios de sono mais comuns são a insônia, a apneia obstrutiva do sono
e a síndrome das pernas inquietas. A principal manifestação de um problema crônico
de sono é a sonolência diurna exagerada. As primeiras manifestações dos distúrbios
do sono são as alterações do humor e as alterações de memória e capacidades
mentais (cognitivas), como aprendizado, raciocínio e pensamento, podendo surgir
também dor de cabeça. Na prática, o descanso prepara nosso cérebro emocional
para as interações sociais e emocionais do dia seguinte (ABN, 2015).
Na University of Califórnia, em Berkeley, os pesquisadores, Greer, Goldstein e
Walker (2013) afirmam que a falta de descanso/sono está causando transtornos
psicológicos. Referem que as regiões cerebrais responsáveis pela tomada de
decisões ficavam prejudicadas pela falta de sono, enquanto, estruturas cerebrais
mais primitivas que controlam a motivação e o desejo são amplificadas. Além disso,
informaram ainda que os alimentos altamente calóricos também sejam mais
atraentes aos olhos de quem era privado de sono. O sobrepeso e a obesidade
podem estar relacionados a pessoas que dormem menos, pela combinação de
alteração da atividade cerebral e de tomada de decisão.
No Quadro 10 demonstramos a classificação da atividade física / exercício
físico dos trabalhadores, conforme apontado por eles, sendo que a maioria é
sedentária 55 (48,25%) e apenas 17 (14,91%) muito ativos.
103
Quadro 10: Distribuição dos trabalhadores da saúde do NGA – 59, segundo a
Classificação
de
Atividade
Física
e
Exercício
Físico,
proposto
pelo
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), Ribeirão Preto/SP, 2014.
Classificação*
Sedentário
Insuficientemente Ativo
Ativo
Muito Ativo
Total
Atividade Física / Exercícios
Nº de funcionários
55
22
20
17
114
%
48,25
19,30
17,54
14,91
100,00
*IPAQ, 2001.
Fonte: Autora.
Dados do PNS (2013) assinalam que no Brasil, 27,1% dos homens, com
mais de 18 anos, praticavam o nível recomendado de atividade física no lazer,
enquanto as mulheres apenas 18,4%. O percentual de adultos que praticavam o
nível recomendado de atividade física, no tempo livre, tendeu a diminuir com o
aumento da idade (PNS, 2013). A média brasileira foi de 22,5% de adultos ativos;
percentual que se aproxima do encontrado no presente estudo (17,54%).
Na amostra foram encontrados 19,3% trabalhadores insuficientemente
ativos, percentual considerado abaixo da média nacional, se comparados aos
valores encontrados no PNS (2013), onde o percentual de adultos insuficientemente
ativos no Brasil foi de 46%. Insuficientemente ativos são os indivíduos adultos que
não praticaram atividade física ou a praticaram por menos do que 150 minutos por
semana.
No presente estudo foi encontrado pouco menos que a metade (48,25%) de
trabalhadores sedentários; enquanto, Nascimento e Mendes (2002) revelam que
mais da metade dos entrevistados não desenvolviam atividade física, assim eram
sedentários. Os índices apontados foram muito próximos, e sem dúvida, vêm
contribuindo para aumentar os altos índices de sobrepeso e obesidade na presente
população.
Ainda foram abordadas questões sobre a vida sexual, menopausa e uso de
hormônios pelos trabalhadores. Quanto à vida sexual tivemos 91 (79,82%) com vida
sexual ativa, 20 (17,54%) sem vida sexual ativa e 3 (2,63%) não responderam.
A sexualidade tem grande importância no desenvolvimento e na vida psíquica
das pessoas, pois além da sua potencialidade reprodutiva, relaciona-se com a busca
104
do prazer, necessidade fundamental das pessoas. Manifesta-se desde o momento
do nascimento até a morte, de formas diferentes a cada etapa do desenvolvimento
humano, sendo construída ao longo da vida.
Segundo dados de uma pesquisa britânica, na Universidade de Manchester,
na Inglaterra, mais da metade dos homens e quase um terço das mulheres com
mais de 70 anos ainda têm vida sexual ativa. Entre os homens, a principal queixa
foram as dificuldades de ereção (39%); e com relação as mulheres foram
dificuldades para alcançar a excitação (32%) e atingir o orgasmo (27%). Com o
envelhecimento da população, os profissionais de saúde não podem negligenciar a
vida sexual dos mais velhos, e precisam, cada vez mais, conhecer melhor as
necessidades dessa faixa etária (LEE et al., 2015).
Ressalta-se, contudo, que há escassez de literatura sobre a vida sexual entre
trabalhadores da saúde, e tendo em vista a faixa etária predominante no presente
estudo ser de adultos, ponderou-se os dados encontrados para a população, em
geral.
Das 71 mulheres participantes deste estudo, 36 (50,7%) estão em
menopausa, sendo que destas, 9 (25%) a obtiveram devido a cirurgia ginecológica.
A menopausa se dá quando ocorre a última menstruação na vida da mulher.
Ela é parte de um processo biológico, ocorre entre as idades de 45 e 55 anos,
variando de mulher para mulher. Durante esse período, os ovários gradualmente
produzem menos quantidades de hormônios sexuais, estrogênio e progesterona
(SOGESP, 2015).
A "menopausa natural" começa quando a mulher tem seu último ciclo
menstrual, ou pára de menstruar, e é considerada completa quando a menstruação
cessou há mais de 1 ano. As mulheres que sofreram cirurgia para remover o útero e
ambos os ovários (histerectomia total) experienciam uma "menopausa cirúrgica", um
fim imediato na produção de hormônio e menstruação (SOGESP, 2015).
A deficiência de estrogênio foi considerada por muitos pesquisadores uma
condição fisiológica, e não patológica, provavelmente porque a insuficiência ovariana
é geneticamente programada. Embora essa deficiência de estrogênio seja tratável,
menos de 20% das mulheres pós-menopáusicas recebem tratamento. A Terapia de
Reposição Hormonal (TRH) é recomendada para alívio dos sintomas vasomotores,
tratamento da atrofia vaginal e prevenção da osteoporose. Entretanto, existem várias
105
contraindicações e, com isto, aproximadamente 70% das mulheres cessam o
tratamento após o primeiro ano (GIACOMINI; MELLA, 2006).
Os sintomas vasomotores (fogachos) atingem cerca de 75% das mulheres no
climatério. Estes sintomas podem desaparecer em um a dois anos, sem tratamento,
portanto, uma terapia de reposição hormonal, por curto prazo, estaria bem
justificada, evitando que a mulher vivencie sinais e sintomas importantes e
incômodos (OPPERMANN-LISBÔA; WANNMACHER, 2001).
O climatério é a fase da vida em que ocorre a transição do período
reprodutivo ou fértil para o não reprodutivo, devido à diminuição dos hormônios
sexuais, tanto no homem como na mulher (SOGESP, 2015).
Com relação aos hormônios, das 71 mulheres, 41 (57,74%) não utilizam, 27
(38,03%) faz uso e 3 (4,23%) não responderam à questão. Dos 43 homens, 40
(93,02%) não utilizam, 2 (4,65%) não responderam e 1 (2,33%) referiu usar. Não foi
pontuado qual tipo de hormônio utilizavam, ou ainda se para fins de anticoncepção
ou reposição hormonal.
O estudo Women's Health Initiative Investigators (WHI) (2002) enfatizou que
os riscos de saúde global ultrapassaram os benefícios provenientes do uso de
estrogênio mais progestina combinado, entre as mulheres norte-americanas na pósmenopausa saudável. O perfil de risco-benefício, não é consistente com os
requisitos para uma intervenção viável para a prevenção primária de DCNT, e os
resultados indicam que este regime não deve ser iniciado ou continuado para a
prevenção primária de doenças cardiovasculares.
A Andropausa, Climatério Viril ou Síndrome de Adam "Androgen Deficience
Aging Male" (Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino) são termos até
pouco usados para designar um quadro clínico com novos estudos e muito
questionado, que ocorre em uma parcela significativa de homens a partir dos 50 a
60
anos;
onde
são
detectados
decréscimos
significativos
de
hormônios
androgênicos, principalmente a testosterona (SBEM, 2015a).
A andropausa não é tão abrupta como a menopausa. É um processo lento e
gradual, que afeta todos os processos orgânicos, e tem a ver com o declínio
progressivo dos hormônios sexuais masculino. Em contraste com a situação vivida
pelas mulheres, onde a menopausa marca o fim do período fértil, a fertilidade em
homens persiste apesar da idade (SBEM, 2015a).
106
A deficiência androgênica (diminuição da produção do hormônio sexual
masculino) está presente em cerca de 15% dos homens entre 50 e 60 anos,
chegando a 50%, ou mais, dos homens com 80 anos (SBEM, 2015a).
A revisão publicada por Bonaccorsi (2001) descreve que após apresentar o
quadro de andropausa, acredita-se que a "Síndrome de Insuficiência Androgênica
Parcial" acomete pelo menos 20% a 30% dos homens, a partir dos 50 a 60 anos, e
que a terapêutica por testosterona tem sido segura e eficaz, em 30% dos casos, não
havendo provas de que aumente a morbidade e mortalidade cardiovascular.
Ainda o mesmo autor conclui, de forma reflexiva, que:
Se existem riscos inerentes às ações da testosterona, seja ela
endógena ou exógena, estes riscos seriam o tributo que os homens
têm que pagar para se manterem homens saudáveis
(BONACCORSI, 2001, p. 131).
Frente ao comentado pelo pesquisador, apresenta-se, nessa condição, uma
peculiar correlação entre correr riscos para se manter saudável e uma clara
associação entre a ideia da presença da testosterona e o "manter-se" jovem e
saudável.
Os resultados encontrados no presente estudo diferem dos achados da
revisão de Bonaccorsi (2001), pois somente um trabalhador homem (2,33%) referiu
uso de hormônio.
5.4 DADOS RELACIONADOS AO ACESSO/ATENDIMENTO DA SAÚDE
No Brasil, mesmo com a existência do SUS, gratuito e universal, o custo
individual de uma doença crônica ainda é bastante elevado, especialmente pelos
valores agregados, o que contribui para o empobrecimento dos trabalhadores e suas
famílias (MALTA et al., 2011).
Considerando o acesso/atendimento da saúde do trabalhador verificamos que
54 (47,37%) referem utilizar os serviços de saúde para fins preventivos, 46 (40,35%)
fazem uso periódico, para tratamento de alguma enfermidade, e ainda encontramos
13 (11,4%) trabalhadores que procuram os serviços de saúde apenas em caso de
urgência e 1 (0,88%) trabalhador referiu não fazer uso de serviços de saúde.
Nesse sentido, Couto et a.l, (2010), ao identificar que as práticas de cuidados,
de si e dos outros, são construídas nas relações entre as pessoas, tanto em lócus
107
privado/doméstico quanto em público/institucional, ampliar-se-iam o reconhecimento
e o acolhimento de demandas e necessidades masculinas e femininas, forçando a
ruptura do círculo vicioso de invisibilidade e exclusão dos sujeitos, o que permitiria
resgatar a equidade e aprimorar o cuidado e a assistência em saúde.
Embora os estudos relatem altas taxas de mortalidade masculina, em todas
as idades, e para quase todas das causas (WHITE; CASH, 2004; LAURENTI;
MELLO JORGE; GOTLIEB, 2005), ao se examinar a morbidade, a auto-percepção
de saúde e o uso de serviços constatou-se que as mulheres apresentam indicadores
mais altos que os homens, uma vez que elas são apontadas como mais atentas, na
busca por atenção à saúde e/ou portadoras de mais problemas de saúde (AQUINO;
MENEZES; AMOEDO, 1992).
Pinheiro et al. (2002) traçaram um panorama sobre morbidade referida,
acesso e utilização de serviços de saúde no Brasil. Os recortes utilizando sexo e
faixa etária, mostraram que, em termos da auto-avaliação do estado de saúde,
23,5% das mulheres e 18,2% dos homens apontaram seu estado de saúde como
deficiente. O estudo também ressaltou marcadas diferenças por sexo quanto ao
motivo da procura de serviços de saúde, mesmo excluídos os partos e os
atendimentos de pré-natal. As mulheres procuram mais serviços para realização de
exames de rotina e prevenção (40,3% mulheres e 28,4% homens), enquanto os
homens procuram mais serviços de saúde por motivo de doença (36,3% homens e
33,4% mulheres).
No Brasil, todo cidadão tem acesso ao Sistema Único de Saúde, e nesse
grupo incluem todos os trabalhadores da saúde participantes dessa pesquisa.
Também foi referido que 114 (100%) sujeitos possuem e utilizam outro convênio de
saúde como o SASSOM 57(50%) e Unimed 39 (34,21%), citados com maior
frequência. Alguns trabalhadores relataram ter mais de um convênio particular de
saúde.
No estudo de Nascimento e Mendes (2002) foi observado que em relação ao
acesso/atendimento em Serviços de Saúde, o serviço privado foi o mais citado
(43%), seguido de sua associação com o público (38%). No presente estudo não foi
feita a correlação de qual serviço foi mais usado/procurado, entretanto, a utilização
da associação do público e privado apareceu quando a consulta fora realizada na
108
rede privada, acrescentando que houve citação quanto a buscar a medicação
prescrita pelo médico do convênio, na rede SUS.
Considerando o aspecto preventivo quanto à ocorrência de doenças, no
presente estudo, das mulheres que não fizeram consulta ao ginecologista no último
ano, totalizando 24 (33,8%), foi questionado quando havia sido sua última visita, e 8
(11,27%) referiram há 2 anos; 8 (11,27%) de 2 a 4 anos atrás; 3 (4,23%) entre 4 a 6
anos; 2 (2,82%) entre 10 a 12 anos atrás; 2 (2,82%) foi há 14 a 16 anos; e 1 (1,41%)
de 18 a 20, enfatizando que esta última trabalhadora, relatou que depois da
ocorrência da menopausa, não voltou ao ginecologista.
Foi constatado no estudo que 12 (40%) homens com 50 anos ou mais não
foram ao urologista no último ano, e evidenciamos que destes, 7 (23,33%) têm nível
de escolaridade superior – médicos, 5 (16,67%) têm nível médio, sendo 2 (6,67%)
auxiliares de enfermagem e 3 (9,99%) em funções administrativas.
Na investigação de Nascimento e Mendes (2002), 87% dos sujeitos fizeram
preventivo do câncer de colo do útero, e a prevenção do câncer de próstata foi
afirmada por somente 28,6% dos homens, dentro da faixa etária recomendada. Ao
confrontarmos esses dados com os obtidos no estudo presente identificamos
percentual mais baixo em relação ao preventivo de câncer de colo de útero, uma vez
que 66,2% fizeram sua consulta anual ao ginecologista e quanto à prevenção do
câncer de próstata, em contraponto, em nosso estudo 60% dos homens, dentro da
faixa recomendada, foram ao urologista.
A experiência profissional e vital permite-nos inferir que existe uma dificuldade
cultural de se fazer exames preventivos, na população em geral e também na equipe
de saúde, seja para ir ao ginecologista ou urologista. Nossa população em geral, só
procura os serviços de saúde para tratar um mal já instalado. Talvez seja necessário
priorizar um maior enfoque educativo nestas questões culturais.
Também foi abordado, quando o trabalhador fez sua última consulta ao
dentista, e 96 (84,21%) visitaram esse profissional no último ano.
Para a Associação Brasileira de Odontologia (ABO), a recomendação é de
pelo menos uma consulta anual ao dentista, para vigilância de uma boa saúde bucal.
Miotto e Loureiro (2003) citam que existe uma compreensão inquestionável,
de que problemas bucais produzem impactos, muitas vezes incapacitantes, sobre a
qualidade de vida das pessoas e, portanto, o processo saúde/doença varia de
109
acordo com a cultura, o comportamento social e condições econômicas de cada
indivíduo.
Curiosamente, conforme os indivíduos envelhecem, tendem a aceitar a
deteriorização da saúde e podem vir a considerar problemas bucais menos
significantes (HAIKAL et al., 2011).
Os estudos nacionais, envolvendo utilização de serviços odontológicos,
registram taxas de utilização em torno de 30% (BARCELLOS; LOUREIRO, 2004),
enquanto, segundo relatos dos participantes da presente investigação, a visita ao
cirurgião-dentista, no último ano, foi de 84,21%, superando quase três vezes o
percentual nacional, diminuindo de forma significativa os impactos negativos na
qualidade de vida produzidos por condições bucais, na amostra do estudo.
Quanto à situação vacinal dos trabalhadores, na entrevista 90 (78,95%)
relataram estar com suas vacinações em dia, sendo Hepatite B (65,79%), Febre
Amarela (64,04%), Dupla Adulto (63,16%), Influenza (37,72%) e Sarampo-CaxumbaRubéola (Tríplice Viral - SCR/MMR) (31,58%). Quando esta informação foi aferida no
Sistema Hygia - PMRP, somente 15 (16,67%) trabalhadores estavam com as
vacinas
apontadas,
registradas.
Assim,
conforme
instrução
da
Vigilância
Epidemiológica, vacina não registrada, não pode ser considerada.
No estudo de Nascimento e Mendes (2002), a imunização contra o tétano e
Hepatite B havia sido realizada em 15,2% e 35,9% da população estudada,
respectivamente. Se compararmos esses resultados com os dados vacinais
informados pelos trabalhadores pesquisados verifica-se maior cobertura vacinal de
Dupla Adulto (63,16%) e Hepatite B (65,79%). Entretanto, esta situação não se
efetiva, pois foi identificado que há ausência de registros, e com isto a cobertura
vacinal cai para 16,67% (cadastros de aplicações), percentual considerado abaixo
do desejável para adultos, em geral, de acordo com o Programa Nacional de
Imunização.
Quanto ao uso regular de medicamentos, encontramos 72 trabalhadores
(63,16%) fazendo uso contínuo/diário de medicações prescritas pelo médico(a),
apurado por ocasião da entrevista. Muitos destes trabalhadores buscam suas
medicações nas UBS ou farmácia popular, locais cadastrados para distribuição
gratuita de alguns medicamentos. Não se apurou a classificação medicamentosa,
nem quantidade diária usada pelo trabalhador, por não ser objetivo da pesquisa.
110
Face a poucos estudos na área, ainda para Nascimento e Mendes (2002), o
uso de medicamentos não se constituiu como prática realizada por mais da metade
dos trabalhadores; contrariando nossos achados.
Ferraz (2010) identificou uso de substâncias psicoativas, utilizadas como
medicamentos, incluindo os tranquilizantes (14,3%), anfetaminas (10,5%) e opiáceos
(6,7%). Em menor proporção, encontraram a maconha (5,7%) e os inalantes (2,9%),
entre enfermeiros do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Não houve classificação de classes medicamentosas, entretanto, os
medicamentos
mais
citados
pelos
trabalhadores
do
NGA-59
foram,
predominantemente, para controle de DCNT, como anti-hipertensivos, antidiabéticos,
anticolesterolêmicos, ansiolíticos, para controle de acidez gástrica e analgésicos.
Em pesquisa realizada por Dal Pizzol et al. (2012) foi encontrada prevalência
de 72,3% indivíduos adultos em uso contínuo de medicamentos, com idade de 60
anos ou mais; não nos permitindo uma comparação efetiva com o estudo presente,
uma vez que a faixa etária da amostra é diferente.
De acordo com Carvalho et al. (2012), o protocolo de tratamento de várias
DCNT prevê a associação de vários medicamentos, e a prescrição para portadores
de uma ou mais DCNT tem grande probabilidade de ser classificada como
polifarmácia, ou seja, uso de cinco ou mais medicamentos simultaneamente, como
observamos nos relatos dos trabalhadores do NGA-59.
A utilização do referencial Modelo de Campo de Saúde de Lalonde, associado
ao exame de bioimpedância e checagem do histórico vacinal dos trabalhadores,
possibilitou-nos uma visão mais ampliada do perfil dos trabalhadores investigados,
especialmente, ao se considerar a percepção que possuem de sua condição de
saúde (relatos na entrevista), a partir dos elementos propostos por Lalonde, e o que
de fato se encontrou ao realizar a bioimpedância e verificar os registros de
vacinação dos participantes.
111
6 CONCLUSÃO
Acreditamos que conhecer como o adulto de hoje está construindo sua saúde,
como ele vem cuidando de si mesmo, dos seus e do meio ambiente que o rodeia é
um dos caminhos para que a futura população idosa experimente a longevidade
mais saudável nos âmbitos social, afetivo e profissional; pois estes dados permitem
interferências quanto à promoção de saúde, prevenção de doenças e minimização
de danos.
O trabalho, sendo uma atividade essencialmente humana, que responde às
carências e necessidades de cada indivíduo, possibilita a autotransformação do
trabalhador devendo ser, portanto, uma prática autônoma e livre, levando a uma
emancipação e humanização do ser humano. Antes o trabalho era visto como uma
atividade penosa e árdua, e nos dias atuais passou a ocupar destaque e
centralidade na vida de todos, constituindo-se em um direito a ser conquistado.
Este estudo teve como objetivo investigar o perfil de saúde dos profissionais
que atuam em uma Unidade de Assistência Ambulatorial Especializada, de
Atendimento Secundário, do município de Ribeirão Preto/SP e a amostra do estudo
constituiu-se de 114 profissionais.
Descritos os dados pessoais e antropométricos, o estudo mostrou prevalência
de trabalhadores do sexo feminino com 28,95%, com predomínio da faixa etária de
50 a 60 anos, para ambos os sexos. A maioria dos profissionais (77,19%) possui
vínculo municipal, com tempo de trabalho entre 20 a 30 anos (48,25%).
Quanto ao perfil de IMC foi encontrado 39,47% da amostra com obesidade I,
II e III com predominância dos homens tanto na obesidade (41,85%) quanto no
sobrepeso (44,19%). Na avaliação por bioimpedância, o percentual de Massa Gorda
no peso corporal predominante foi moderada e excessiva com 66,67%, em ambos
os sexos, predominando nas mulheres com 70,43%. Quanto ao percentual de Água
Corporal na Massa Magra houve uma predominância de resultados no intervalo de
normalidade, com 68,41% dos profissionais. Já o resultado do percentual de água
corporal na massa magra foi aumentando, conforme aumento do IMC, atingindo um
percentual de 62,50% na obesidade III.
Na distribuição e classificação de Pressão Arterial, 28,94% da amostra
possuem hipertensão I, II e III, com predominância de 39,45% nos homens.
112
Com relação à história clínica de DCNT que os profissionais possuem ou já
possuíram, a maioria relatou sobrepeso (59,65%), além de outras doenças.
Os resultados em relação ao meio ambiente mostraram que o nível de
instrução de maior predomínio, em ambos os sexos, foi o superior completo, seguido
de médio completo, ocorrendo no sexo feminino 44 (61,97%) e 18 (25,35%),
respectivamente.
Com relação à ocupação dos profissionais, a amostra foi constituída por
35,09% de Médico(a)s, 26,32% de Técnicos(as), Auxiliares e Atendentes de
Enfermagem, 11,40% Profissionais com Nível Superior (Dentistas, Psicólogo(a)s,
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo(a)s, Assistente Social e
Nutricionista), 8,77% de Agentes Administrativos, 6,14% de Enfermeiro(a)s, 4,39%
de Auxiliares de Serviços Gerais, 2,63% de Agentes de Segurança; 1,75% de
Auxiliares de Cirurgião Dentista e Visitadores Sanitários cada; 8,88% de Técnico de
ECG e Telefonista, cada.
Os profissionais que alegaram ter mais de um emprego foram as
nutricionistas (100%), 92,5% dos Médicos(as); 50% das Fonoaudiólogos(as) e
Psicólogos(as); 33,33% dos Agentes de Segurança e Atendentes de Enfermagem;
30% dos Agentes Administrativos; 20% dos Auxiliares de Enfermagem e Auxiliares
de Serviços Gerais e 14,29% de (a)s Enfermeiros (as).
Quanto à jornada de trabalho, 64,04% com jornada de 6 a 12 horas, com
renda familiar (46,49%) na faixa salarial acima de 10SM.
Considerando o estado civil, a maioria é casada (64,04%) e possui dois filhos
(36,84%); porém 2,63% relataram 5 filhos e 0,88% referiram 4 filhos.
Analisado o estilo de vida dos profissionais, as principais causas para
ocorrência da doença, segundo relatos desses trabalhadores, com maior evidência
foi a falta de exercícios físicos (45,67%); seguida de 41,23% dieta incorreta, sendo
que 76,32% sujeitos são não fumantes e 17,54% declararam-se ex-fumantes.
Com relação ao consumo de bebidas alcoólicas tivemos 64 (56,14%) que não
consomem, e 50 (43,86%) de trabalhadores que fazem uso de bebidas alcoólicas.
Destes últimos 6 (12%) fazem uso de bebidas 3 vezes ou mais na semana, 30 (60%)
uso menor que 3 vezes na semana e 14 (28%) referiram consumir raramente/1 vez
na semana. As bebidas mais citadas foram cerveja (54%) e vinho (24%),
respectivamente.
113
Quando a situação de estresse houve 56,14% que disseram tê-lo em situação
de trabalho; 22,81% em situação doméstica; 14,04% não têm qualquer estresse; e
10,53% em outras situações.
Ao indagamos sobre alteração do sono, 26,32% trabalhadores referiram tê-las
e, destes, 30% relataram que as causas se devem a problemas emocionais.
No que diz respeito à atividade física/exercício físico dos trabalhadores
48,25% relataram ser sedentários; 79,82% sujeitos citaram vida sexual ativa; 50,7%
estão em menopausa, entretanto, o hormônio não é utilizado por 57,74% mulheres e
93,02% homens, segundo os relatos.
Referente ao acesso/atendimento da saúde do trabalhador verificou-se que
47,37% referem utilizar os serviços de saúde para fins preventivos, 40,35% fazem
uso periódico, em tratamento de alguma enfermidade, entretanto, 11,40%
trabalhadores procuram os serviços de saúde apenas em caso de urgência, sendo
que 100% da amostra, além do SUS, possuem e utilizam outro convênio de saúde,
com 63,16% trabalhadores fazendo uso contínuo/diário de medicações prescritas
pelo médico (a).
Considerando o aspecto preventivo quanto à ocorrência de doenças, no
presente estudo, no último ano, 15,79% dos trabalhadores não estiveram no
dentista; 33,8% mulheres não fizeram consulta ao ginecologista e 40% homens, com
50 anos ou mais, não foram ao urologista, sendo que destes últimos, 23,33% têm
nível de escolaridade superior.
Quanto à situação vacinal dos trabalhadores, na entrevista 78,95% relataram
estar com suas vacinações em dia, porém ao ser aferido registro no Sistema Hygia PMRP, somente 16,67% trabalhadores estavam com as vacinas apontadas,
registradas.
Um aspecto que muito nos inquietou, refere-se à situação da mulher, mãe,
esposa, provedora, trabalhadora, profissional da saúde - que historicamente cuida
dos filhos, do marido, da família, dos pacientes, e pela literatura é mais cuidadosa
com sua saúde, vive mais que os homens, e neste estudo está deixando de se
cuidar. Quais as variáveis envolvidas neste comportamento e conduta?
Em síntese, os trabalhadores desta Unidade conhecem os riscos de saúde,
demonstrados na prática do cuidado cotidiano prestado ao usuário, entretanto, este
conhecimento não se transforma em ações preventivas no cuidado próprio, pessoal.
114
Os dados encontrados neste estudo corroboram a situação presente em
outros serviços de saúde, onde apesar dos problemas de saúde mais frequentes
(sobrepeso,
problemas
de
coluna,
problemas
gástricos,
HAS,
transtornos
emocionais, distúrbio do sono, dislipidemia, diabetes e obesidade) serem comuns à
população, em geral, os dados da literatura evidenciam sua relação com fatores
presentes no cotidiano dos trabalhadores de saúde, atuantes em unidades de
atenção básica, unidades de assistência especializada e instituições hospitalares.
Portanto, entendemos ser de responsabilidade dos empregadores e gestores desses
serviços, públicos ou privados, dirigirem atenção aos fatores causadores do
adoecimento.
Os resultados encontrados alertam para a necessidade de atuação em
diversas vertentes. É preciso somar esforços eficazes na busca de melhores
condições de saúde e trabalho por meio da capacitação profissional, produção de
conhecimento, prestação de serviços e da fiscalização quanto ao cumprimento das
exigências legais na área de saúde do trabalhador. Além de adotar estratégias de
prevenção como a implementação de atividades educativas, o autocuidado,
realização de exames periódicos, bem como controle dos riscos ocupacionais,
articulando as condições em que o trabalho ocorre àquelas de segurança, oferecidas
aos trabalhadores, visando cuidar deste profissional, que cuida da população.
Fica, notadamente claro, que as dimensões social, educativa, profissional,
legislativa e política da saúde do trabalhador da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto apresentaram-se pouco desenvolvidas, ressaltando, inclusive, que há
vulnerabilidade nas ações voltadas ao servidor público, que não integram uma
política pública, e ficam à mercê dos diferentes governos e das mudanças, a cada
período eleitoral. O servidor público, como trabalhador, não tem recebido atenção,
investimento, apenas lhe é ofertado um falso controle relacionado às questões de
sua saúde, em consonância com o longo histórico de desvalorização de sua
atividade.
O que se vivencia, cotidianamente, é o caminhar conjunto de pessoas que
negligenciam o cuidado com sua saúde, aliado à ausência de controle da entidade
empregadora quanto à situação de saúde de seus trabalhadores, culminando em
uma condição que expõe seres humanos a fatores de risco para ocorrência de
115
doenças, aumento de morbidades e agravamento de doenças que já possuem, num
cenário de contínuo descumprimento de cidadania.
Em síntese, cabe salientar, contudo, que o compromisso da instituição
empregadora e do profissional constitui-se no ponto de partida para a melhoria da
qualidade de vida dos trabalhadores, que terão suas missões em exercício, tanto no
aspecto coletivo como individual, respectivamente, buscando o real sentido de
produzir saúde.
116
REFERÊNCIAS
ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA. Definição dos distúrbios
relacionados ao sono. São Paulo, 2015, Disponível em:
<http://www.cadastro.abneuro.org/site/conteudo.asp?id_secao=31&id_conteudo=35
&ds_secao=Perguntas%20e%20Respostas> Acesso em: 08fev2015.
ALMEIDA, P.C. (Coord.) Observatório de Recursos Humanos em Saúde –
Estação CETREDE / UFC / UECE: Diagnóstico da situação dos trabalhadores de
saúde de nível, superior e técnico da macrorregião de saúde de Sobral / Ceará.
Fortaleza: EdUECE, 2007
ALMEIDA, M. A. B.; CARDONA, M. A. A Promoção da Saúde: um enfoque
psicopolítico. In: ALMEIDA, M. A. B.; SILVA, A. S.; CORRÊA, F. (Org). Psicologia
Política: debates e embates de um campo interdisciplinar. São Paulo: Escola de
Artes, Ciências e Humanidades – EACH/USP, 2012. 247p.
ASSOCIAÇÃO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DE SÃO PAULO – SOGESP.
Guia de Saúde da mulher Madura. 2015. Disponível em
http://www.sogesp.com.br/canal-saude-mulher/guia-de-saude-da-mulher-madura .
Acesso em:10fev2015.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME
METABÓLICA – ABESO. Diretrizes brasileiras de obesidade 2009/2010. 3.ed.
Itapevi, SP : AC Farmacêutica, 2009.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA - ABRASCO. X Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva. 2012. Disponível em:
http://scholar.google.com.br/scholar?q=X+Congresso+da+Abrasco+%282012%29&b
tnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5. Acesso em: 16nov2013.
AMERICO, C. Promoção e Prevenção - Rede organiza atendimento a doenças
crônicas. 2013. Disponível em:
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/9485/162/ministerio-institui-redede-atencao-a-pessoas-com-dcnt.html . Acesso em: 16nov2013.
ANTUNES, R. As mutações no mundo do trabalho na era da mundialização do
Capital. Educação e Sociedade, Campinas, v. 25, n. 87, p. 335-351, 2004.
AQUINO, E. M. L.; MENEZES, G. M. S.; AMOEDO, M. B. Gênero e saúde no Brasil:
considerações a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rev. Saude
Publica, São Paulo, v. 26, n.3, p.195-202, 1992.
AROUCA, A. S. S. O dilema preventivista: contribuição para compreensão e crítica
da medicina preventiva. 1975. 267p. Tese (Doutorado em Ciências Médicas),
Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas,
1975.
117
BARCELLOS, L. A; LOUREIRO, C. A. O público do serviço odontológico. Rev
Odontol ., Vitória, v. 6, n. 2, p. 41-50, 2004.
BARRETO-SILVA, M. I.; AVESANI, C. M.; VALE, B.; LEMOS, C.; BREGMAN, R.
Agreement between anthropometry and bioelectrical impedance for measuring body
fat in nonobese and obese nondialyzed chronic kidney disease patients. J Renal
Nutr., Nova Iorque, v. 18, n. 4, p. 355-62, 2008.
BRASIL. Ministério da Saúde. Conceituação Ampla de Saúde. Relatório Final. Anais
da VIII Conferência Nacional de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 1986.
________. ________. SIAB. Manual do Sistema de Informação da Atenção Básica.
Brasília: Ministério da Saúde, 2000.
______. ______. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Legislação em saúde: caderno de legislação em
saúde do trabalhador / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 1. ed. – Brasília: Ministério
da Saúde, 2001.
_____________. Ministério da Saúde/ Instituto Nacional de Câncer. Programa
Nacional de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco de Câncer Modelo Lógico e Avaliação. Brasília/DF, 2003.
______. ______. Secretaria de Atenção á Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Hipertensão Arterial Sistêmica. Caderno de Atenção Básica. Brasília, 2006b.
______. ______. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde,
2009c.
_______. Presidência da República. Casa Civil. Constituição da República
Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br./ccivil_03/Constituicao/constituicao.htm> Acesso em:
02out2013.
_______. _______._______. Casa Civil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 set.
1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso
em: 16nov2013.
________. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.120, de 01 de julho de 1998. Aprova a
Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, de 02.07.98, Seção 1,
pág. 36. Disponível em:
<http://www.cerest.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_cerest/legislacao/ger
ados/portaria%203.120.pdf>. Acesso em: 16nov2013.
118
______. ______. Portaria nº 1.339, de 18 de novembro de 1999. Lista de doenças
relacionadas ao trabalho. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília,
DF, 19 nov. de 1999. Disponível
em:<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port99/GM/GM-1339.html>.
Acesso em: 16nov2013.
______. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 5.889, de 08 de junho de 1973.
Estatui normas reguladoras do trabalho rural. Diário Oficial [da] República Federativa
do Brasil, Brasília, DF, Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF,
11jun1973. 1973a. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5889.htm.>.
Acesso em: 16nov2013.
_______.___________________._______. Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.
Dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá
outras providências. DOU 13/07/1973 seção I fls 6825. 1973b. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5905.htm> Acesso em: 01dez2013.
________. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 3214, de 08 de junho de
1978. Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da
Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
Disponível em:<portal.mte.gov.br/legislacao/portaria-n-3-214-de-08-06-1978-1.htm>.
Acesso em: 01dez2013.
_______. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 10406, de 10 de janeiro de
2002. Institui o Código Civil Brasileiro. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 11jan2002. 2002a. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em:
16nov2013.
_________. Ministério da Saúde. Saúde do Trabalhador. Cadernos de atenção
básica. n.5. Brasília, DF, 2002. 66 p. 2002b. Disponível em:
http://www.renastonline.org/recursos/cadernos-aten%C3%A7%C3%A3ob%C3%A1sica-n5-sa%C3%BAde-trabalhador Acesso em: 16nov2013.
______. ______. Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto
pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do
Referido Pacto. 2006a. Disponível
em:<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm>.
Acesso em: 25nov2013.
_______. Ministério do Trabalho e Emprego. Consolidação das Leis do Trabalho.
Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. 2008. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del5452.htm>, Acesso em: 25nov2013.
_____. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.252/GM, de 22 de dezembro de 2009.
Aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de vigilância em
saúde pela União, estados, Distrito Federal e municípios e dá outras providências.
2009a. Disponível em: <http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/1020683252>.Acesso em: 16nov2013.
119
______. ______. Portaria nº 2.728, de 11 de novembro de 2009. Dispõe sobre a
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast) e dá outras
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 nov.
2009b. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria_renast_2728.pdf>. Acesso
em: 16nov2013.
______. ______. Portaria nº 4.279/GM, de 30 de janeiro de 2010. Estabelece
diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde - RENAST - (SUS), 2010. Disponível em:
<http://brasilsus.com.br/legislacoes/gm/107038-4279.html>. Acesso em: 16nov2013.
_________. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 7.602, de 07 de
novembro de 2011. Dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no
Trabalho – PNSST. Diário Oficial [da]República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8
nov. 2011a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2011/Decreto/D7602.htm>. Acesso em: 16nov2013.
_________. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 8262, de 31 de maio
de 2014. Altera o Decreto nº 2.018, de 1º de outubro de 1996, que regulamenta a Lei
nº 9.294, de 15 de julho de 1996, Brasília, DF. BRASIL, 2014a. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8262.htm>.
Acesso em: 05jan2015.
__________. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488/GM, de 21 de outubro de 2011.
Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes
e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da
Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 out. 2011b. Disponível
em: <http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/110154-2488.html>. Acesso em:
16nov2013.
______. ______. Decreto nº 7.508/GM, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 jun. 2011c. Disponível em:
<http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/108599-7508.html>. Acesso em:
20nov2013.
______. ______. Portaria nº 104/GM, de 25 de janeiro de 2011. Define as
terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no
Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças,
agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território
nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos
profissionais e serviços de saúde. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,
Brasília, DF, 26 jan. 2011d. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html>.
Acesso em: 25nov2013.
120
______. ______. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de
Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 / Ministério da
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de
Saúde - Brasília: Ministério da Saúde, 2011e. 148 p.
______. ______. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – PnaPS. Revisão da Portaria
MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006. / Ministério da Saúde. Secretaria de
Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. - Brasília: Ministério da Saúde,
2014.
______. ______. Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho. Plano
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Brasília/DF, abril de 2012a.
______._______. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de
Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Universidade de
Brasília. Centro de Educação a Distância. Curso de Extensão em Promoção da
Saúde para Gestores do SUS com Enfoque no Programa Academia da Saúde.
Brasília: Mistério da Saúde, 2013.
______. ______. Portaria nº 1.823/GM, de 23 de agosto de 2012. Institui a Política
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 ago. 2012b. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1823_23_08_2012.html>.
Acesso em: 25nov2013.
______________. Medida Provisória nº 664, de 30 de dezembro de 2014.
Alterações no auxílio acidente, seguro desemprego. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 dez. 2014. Disponível em:
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2014&jornal=
1000&pagina=1&totalArquivos=4>. Acesso em: 30jan2015.
BIRCH, L. L.; FISHER, J. O. Development of eating behaviors among children and
adolescents. Pediatrics, Pennsylvania, v. 10, p. 539–549, 1998.
BITTENCOURT, M. S.; OLIVEIRA, A. L. V.; GOWDAK, L. H. W. Doença Arterial
Coronariana Crônica. 2010. Disponível
em:<http://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/3601/doenca_arterial_coron
ariana_cronica_%E2%80%93_definicao_diagnostico_e_estratificacao_de_risco.htm
> Acesso em: 07fev2015.
BOLICK, D. et al. Segurança e controle de infecção. Rio de Janeiro: Reichmann &
Affonso Editores, 2000.
BONACCORSI, A. C. Andropausa: insuficiência parcial androgênica do homem
idoso. Uma revisão. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia Metabólica, São
Paulo, v. 45, n. 2, p. 45-57, 2001.
121
BORGES, A.; DRUCK, G. A terceirização: balanço de uma década. Caderno CRH,
Salvador, n. 37, p. 111-139, dez. 2002.
BRUNET-JAILLY, J. L'évaluation économique des programmes de santé: est-elle
éthique? Ruptures, Montreal,v.4, n.1, p. 8-22, 1997.
BURNET, D. L.; COOPER, A. J.; DRUM, M. L.; LIPTON, R. B. Risk factor for
mortality in a diverse cohort of patients with childhood-onset diabetes in Chicago.
Diabetes Care.; San Francisco, v. 30, n. 10, p. 2559-63, 2007.
BURITI, A. K. L.; SILVA, J. P. G.; COSTA, S. F. G. Direitos da Saúde do
Trabalhador: Aspectos Legais. Anais do II Encontro Nacional de Bioética e Biodireito
- III Encontro de Comitês de Ética em Pesquisa da Paraíba, João Pessoa, 2009.
BUSS, P. M. Uma introdução ao conceito de promoção da saúde. In: CZERESNIA,
D.; FREITAS, C. M. (org). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências Rio
de Janeiro: Fiocruz, 2003.
BUSS, P. M.; PELLEGRINI, A. F. Physis. Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.
17, n. 1, p. 77-93, 2007.
CANADA. Carta de Ottawa. I Conferência Internacional de sobre Promoção da
Saúde. 1986. Disponível em:<
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf> Acesso em:
16Nov2013.
CANADA. CARNET: The Canadian Aging Research Network. Work and family: The
survey findings for the work and eldercare research group. Guelph, (1993).
CARRASCO,F; REYES,E; RIMLER,O; RIOS. Exactitud del índice de masa corporal
en la predicción de la adiposidad medida por impedanciometría bioelétrica. Arch
Latinoam Nutr, Venezuela, v. 54, n. 3, p. 280-6, 2004.
CARVALHO, M. F. C.; CATÃO CARVALHO, M. F.; ROMANO-LIEBER, N. S.;
BERGSTEN-MENDES, G.; SECOLI, S. R.; RIBEIRO, E.; LEBRÃO, M. L.; OLIVEIRA
DUARTE, Y. A. Polifarmácia entre idosos do Município de São Paulo - Estudo SABE.
Rev Bras Epidemiol, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 817-827, 2012.
CERQUEIRA, M. D.; WEISSMAN, N. J.; DILSIZIAN, V.; JACOBS, A. K.; KAUL, S.
LASKEY, W. K. et al. Standardized myocardial segmentation and nomenclature for
tomographic imaging of the heart: a statement for healthcare professionals from the
Cardiac Imaging Committee of the Council on Clinical Cardiology of the American
Heart Association. Circulation, Dallas, v. 105, p. 539-42, 2002.
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. 5. ed. São Paulo: Prendice
Hall, 2002. 242p.
CHIAVENATTO, C. V. Percepção dos profissionais de nível superior da atenção
primária quanto ao desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador no SUS
122
em Minas Gerais. 2010. 128f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública), Faculdade
de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.
COSTA, R. F. DA; GUISELINI, M.; FISBERG, M. Correlação entre porcentagem de
gordura e índice de massa corporal de freqüentadores de academia de ginástica. R.
bras. Ci. e Mov., Brasília, v. 15, n. 4, p. 39-46, 2007.
COUTINHO, W. Etiologia da Obesidade, Artigo de Revisão. 2015. Disponível
em:<http://www.abeso.org.br/pdf/Etiologia%20e%20Fisiopatologia%20%20Walmir%20Coutinho.pdf.> Acesso em:11fev2015.
COUTO, M. T. et al. O homem na atenção primária à saúde:discutindo
(in)visibilidade a partir da perspectiva de gênero. Interface - Comunic., Saude,
Educ., Botucatu, v.14, n.33, p.257-70, abr./jun. 2010.
CZERESNIA, D. “The Concept of Health and the Diference Between Promotion and
Prevention”. Cadernos de Saúde Pública, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 701-710, 1999.
CZERESNIA, D. Ações de promoção à saúde e prevenção de doenças: o papel
da ANS (2003). Disponível em:
http://www.ans.gov.br/portal/upload/biblioteca/tt_as_02_dczeresnia_acoespromocao
saude.pdf. Acesso em: 16nov2013.
DAL PZZOL, T. S; PONS, E. S.; HUGO, F. N.; BOZZETTI, M. C.; SOUSA, M. L. S.;
HILGERT, J. B. Uso de medicamentos entre idosos residentes em áreas urbanas e
rurais de município no Sul do Brasil: um estudo de base populacional Cad. Saúde
Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n. 1, p. 104-114, jan 2012.
.
DANTAS, R. A. S. Perfil de pacientes com infarto agudo do miocárdio na
perspectiva do modelo de “Campo de Saúde”. 1996. 156p. Dissertação
(Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, Ribeirão Preto, 1996.
DASBASH, E.; TEUTSCH, S.M. Cost-utility analysis,pp. 4-12. In: HADIX, A. C.;
TEUTSCH, S. M.; SHAFER; DO DUNET, P. A. (orgs.). Prevention Effectiveness: a
Guide to Decision Analysis and Economic Evaluation. Oxford University Press,
Oxford. 1996.
DEURENBERG, P.; YAP, M.; VAN STAVEREN, W. A. Body mass index and percent
body fat: a meta-analysis among different ethnic groups. Int J Obes Relat Metab
Disord, London, v. 22, n. 12, p. 1164-71, 1998.
DEVER, G. E. A. A epidemiologia na administração de serviços de saúde. São
Paulo: Pioneira, 1988. 394 p.
DIAS, E. C. (Coord.). Desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador na
Atenção Primária à Saúde: aspectos históricos, conceituais, normativos e
diretrizes. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 63 p. (Relatório técnico-científico).
DIAS, E. C; HOEFEL, M. G. O desafio de implementar as ações de saúde do
trabalhador no SUS: a estratégia da Renast. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de
Janeiro, v. 10, n. 4, p. 817-828, 2005.
123
DIAS, E. C.; SILVA, T. L. Desenvolvimento de conceitos e instrumentos
facilitadores da inserção de ações de Saúde do Trabalhador na Atenção
Primária de Saúde, no SUS. Relatório Final (agosto 2008 a dezembro 2012). Belo
Horizonte: UFMG, 2012.
DIAS, E. C.; SILVA, T. L.; ALMEIDA, M. H.C. Desafios para a construção cotidiana
da vigilância em saúde ambiental e em saúde do trabalhador na Atenção Primária à
Saúde. Cadernos de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 15-24, 2012.
DIAS, E. C.; SILVA, T. L. Contribuições da Atenção Primária em Saúde para a
implementação da Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho (PNSST).
Revista Brasileira de Saúde Ocupacional., São Paulo, v.38, n.127, p.31-43, 2013.
DIAS, E. C.; LAUAR, I. D. Doenças relacionadas com o trabalho: diagnóstico e
ações decorrentes. In: PEDROSO, E. R. P.; ROCHA, M. O. C. (Org.). Clínica
Médica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2012.
SILVA, T. L.; DIAS, E. C.; SILVA, J. M da. Contribuição do Agente Comunitário de
Saúde na produção do cuidado aos trabalhadores. Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional., São Paulo, v. 38, n. 127, p. 31-43, 2013.
DIMENSTEIN, M. et al. O apoio matricial em USF: experimentando inovações em
saúde mental. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 63-74, 2009.
DRUCK, G. Trabalho, precarização e resistências: novos e velhos desafios?
Caderno CRH, Salvador, v. 42, n. 1, p. 35-55, 2011. Número especial.
EICKEMBERG, M. et al. Bioimpedância elétrica e sua aplicação em avaliação
nutricional.Rev. Nutr., Campinas, v. 24, n. 6, p. 883-893, nov./dez. 2011.
EPSTEIN, L. H.; PALUCH, R. A.; GORDY, C. C. et al. Decreasing sedentary
behaviors in treating pediatric obesity. Arch Pediatr Adolesc Med., Buffalo, v. 154,
p. 220–226, 2000.
ESCOREL, S. (Coord.). Saúde da Família: avaliação da implementação em dez
grandes centros urbanos–síntese dos principais resultados. 2. ed. atual. Brasília, DF:
Ministério da Saúde, 2005.
FACCHINI, L. A. Vigilância em saúde do trabalhador:uma aproximação prática.
Boletim da Saúde, Porto Alegre, v. 20, n. 1, p. 50-56, jan./jun. 2006.
FAGUNDES, E. C. Angina Estável - definição, fisiopatologia e classificação. (2011)
Disponível em: http://blog.medportal.com.br/artigos-cardiologia/angina-estaveldefinicao-fisiopatologia-lassificacao/ Acesso em: 07fev2015.
FERRAZ, S. M. Estudo da prevalência de uso de substâncias psicoativas por
enfermeiros. 2010. 60p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem), Escola de
Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.
124
FERNANDES, L. M. M. Ações de saúde do trabalhador na Atenção Primária de
Saúde: estudo de caso de experiência desenvolvida no SUS de Minas Gerais.
87f. 2012. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública)–Faculdade de
Medicina,Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.
FRANCO NETTO, G. et al. Saúde e ambiente: reflexões para um novo ciclo do SUS.
In: CASTRO, A.; MALO, M. SUS: ressignificando a promoção da saúde. São Paulo:
Hucitec; OPAS, p. 152-170, 2006.
FREITAS, O. C.; CARVALHO, F. R.; NEVES, J. M.; VELUDO, P. K.; PARREIRA, R.
S.; GONÇALVES, R. M. et al. Prevalence of Hypertension in the urban population of
Catanduva, in the state of São Paulo, Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de
Cardiologia, Arquivos on line, São Paulo, v. 77, p. 16-21, 2001.
FROHLICH, K. L.; POTVIN, L. Transcending the known in public health practice. The
inequality paradox: the population approach and vulnerable populations. American
Jounal Public Health, Washington, v. 98,n. 2, p. 216-21, fev 2008.
FRONE, M. R.; RUSSELL, M.; COOPER, M. L. Antecedents and outcomes of workfamily conflict: Testing a model of the work-family interface. Journal of Applied
Psychology, Bethesda, MD, v.77, n. 1, p. 65-78, 1992.
GENEAU, R. et al. Priority actions for the non-communicable disease crisis. Lancet,
United Kingdom, v. 337, n. 9775, p.1438-1447, 2011.
GIACOMINI, D. R.; MELLA, E. .A. C.. Reposição Hormonal: vantagens e
desvantagens.Semina: Ciências Biológicas e Saúde, Londrina, v. 27, n. 1, p.7192, jan./jun. 2006.
GORTMAKER, S. L.; MUST, A.; PERRIN, J. M. et al. Social and economic
consequences of overweight in adolescence and young adulthood. N Engl J Med.,
Boston, MA, v. 329, p. 1008–1012, 1993.
GLASGOW, R. E.; RUGGIERO, L.; EAKIN, E. G.; DRYFOOS, J.; CHOBANIAN, L.
Quality of life and associated characteristics in a large national sample of adults with
diabetes. Diabetes Care, San Francisco, v. 20, n.4, p. 562-7,1997.
GREER, S. M.; GOLDSTEIN, A.N.; WALKER, M. P. The impact of sleep deprivation
on food desire in the human brain. Nat Commun, London, v. 4, p. 2259, 2013
GRINOVER, A. P. et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado
pelos autores do anteprojeto. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, p.157,
1998.
HAIKAL, D. S; PAULA, A. M. B; MARTINS, A. M. E. B. L; MOREIRA, A. N;
FERREIRA, E. F. Autopercepção da saúde bucal e impacto na qualidade de vida do
idoso: uma abordagem quanti-qualitativa. Cien Saude Colet., Rio de Janeiro, v.16,
n. 7, p. 3317-3329, 2011.
125
HAHL,J.; HÄMÄLÄINEN, H.; SINTONEN, H.; SIMELL T.; ARIREN S.; SIMELL O.
Health related quality of life in type 1 diabetes without or with symptoms of
long term complications. Quality of Life Research Journal, Milwaukee, v. 11, n. 5,
p. 427-36, 2002.
HEYWARD, V.; STOLARCZYK, L. Avaliação da Composição Corporal Aplicada.
São Paulo: Manole, 2000. 244p.
HILL, J. O.; PETERS, J. C. Environmental contributions to the obesity epidemic.
Science, Denver, CO, v. 280, p. 1371–1374, 1998.
HINMAM, A. R. Quantitative policy analysis and public health policy: a macro and
micro view. American Journal of Preventive Medicine, Philadelphia, v. 13,n.1,p.611,1997.
HYDER, A. A.; ROTLANT, G.; MORROW, R. M. Measuring the burden of disease:
healthy life-years. American Journal of Public Health, Washington,DC, v. 88, n. 2,
p. 196-206,1998.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE. Pesquisa
Nacional por amostra de domicílios - Tabagismo 2008. Rio de Janeiro, 2009.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE. Ribeirão Preto
- SP. Dados Básicos, População, Economia, Outros, Histórico, Fontes dos
dados. 2010. Disponível em:
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=354340&search=saopaulo|ribeirao-preto|infograficos:-informacoes-completas Acesso em: 29set2014.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE). Pesquisa
Nacional de Saúde 2013. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em:
<www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/.> Acesso em:15fev2015
KELLOWAY, E. K.; GOTTLIEB, B. H.; BARHAM, L. The source, nature, and direction
of work and family conflict: A longitudinal investigation. Journal of Occupational
Health Psychology, Washington, DC, v. 4, n. 4, p. 337-346, 1999.
KOLOTKIN, R. L.; ZELLER, M.; MODI, A. C.; SAMSA, G. P.; QUILAN, N. P.;
YANOVSKI, J. A. et al. Assessing weight-related of life in adolescents. Obesity and
Quality of Life Consulting. Durham,v. 14,n.3,p. 448-57, 2006.
LAFRAMBOISE, H. L., 1973. Health policy: breaking the problem down into
more manageable segments. Canadian Medical Association Journal,108:388-393.
LALONDE, M. A new perspective on the health of Canadians. A working
document. Ottawa information. Ottawa: Canadian Department of National Health
and Welfare. Government of Canada, 1974.
LARA, J. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTROLOGIA (ABRAN), Seis motivos
para beber cerveja. Disponível em:<http://abran.org.br> Acesso em:12mar2015.
126
LAURENTI, R.; MELLO JORGE, M.H.; GOTLIEB, S. Perfil epidemiológico da
morbimortalidade masculina. Cienc. Saude Colet., Rio de Janeiro, v.10, n.1, p.3546, 2005.
LEE, D. M.; NAZROO, J.; O’CONNOR, D. B.; BLAKE, M.; PENDLETON, N. Sexual
Health and Well-being Among Older Men and Women in England: Findings from the
English Longitudinal Study of Ageing. Arch Sex Behav., Manchester, s. p., jan 2015.
LEMCO, J. National health care: lessons for the United States and Canada. Ann
Arbor: University of Michigan Press, 1994.
LIMA, L. D. O processo de implementação de novas estruturas gestoras no
Sistema Único de Saúde: um estudo das relações intergovernamentais na CIB/RJ.
Dissertação (Mestrado em Medicina Social). Instituto de Medicina Social da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999.
LOTUFO, P. A. O escore de risco de Framingham para doenças cardiovasculares.
Rev Med, São Paulo, v.87, n. 4, p. 232-237, 2008.
LUIZ, R. R.; STRUCHINER, C. J. Inferência causal em epidemiologia: o modelo de
respostas potenciais [online]. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002. 112 p. Disponível em:
<http://books.scielo.org>. Acesso em: 08fev2015.
LUNA, R. L.; SABRA, A. Medicina de família: saúde do adulto e do idoso. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
MAGDA, V. Alcoolismo no trabalho. Rio de Janeiro: Garamond Fiocruz, 2004.
MALTA, D. C. et al. A construção da vigilância e prevenção das doenças crônicas
não transmissíveis no contexto do Sistema Único de Saúde. Epidemiologia e
Serviços de Saude, Brasília, v. 15, n. 3, p. 47-65, 2006.
MALTA, D.C.; MORAIS NETO, O.L.; SILVA JUNIOR, J.B. Apresentação do plano de
ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis
no Brasil, 2011 a 2022. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 20, n. 4, p. 421-423,
dez, 2011.
MARCONI, N. Gestão Pública no Brasil Contemporâneo. In: EGAFUNDAP. São
Paulo: FUNDAP, 2005. Disponível em:
<http://scholar.google.com.br/scholar?start=10&q=treinamento+de+servidores+p%C
s%BAbliocos&hl=pt-BR&sdt=0,5>. Acesso em 14mar2015.
MARTINS, E. R. C, ZEITOUNE, R.C.G. Condições de trabalho e as substâncias
psicoativas. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 11, n.
4, p. 639-644, 2007.
MATSUDO, S. M.; ARAUJO, T. L.; MATSUDO, V. K. R.; ANDRADE, D. R.;
ANDRADE, E. L.; OLIVEIRA, L. C. et al . Questionário Internacional de Atividade
127
Física (IPAQ): estudo de validade e reprodutibilidade no Brasil. Rev Bras Ativ
Saude, São Caetano do Sul, v. 6, n. 2, p. 5-18, 2001.
McQUEEN, D. V. Continuing Efforts in Global Chronic Disease Prevention. Prev
Chronic Dis [serial on the Internet], Atlanta, USA, v. 4, n. 2, p. 21, april 2007.
Disponível em: http://www.pubmedcentral. nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1893120.
Acesso em: 24nov2013.
MELO, E. Gestão de Pessoas nos órgãos públicos. 2010. Disponível em:
www.administradores.com.br/informe-se/artigos/gestao-de-pessoas-nos-orgaospublicos/38019/. Acesso em 14mar2015.
MENDES, R.; DIAS, E.C. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. Revista
de Saúde Pública, São Paulo, v. 25, n.5, p.341-349, out.1991.
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de
Janeiro, v. 15, n. 5, p. 2297-2305, ago. 2010.
MINAYO, M.C. Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. Revista Ciência
& Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.5,n.1,p.7-18, 2000.
MINKLER, M. Health education, health promotion and the open society: an historical
perspective. Health Educ Q., Berkeley, University of California, USA, v. 16, n. 1, p.
17-30, 1989.
MIOTTO, M. H. M. B; LOUREIRO, C. A. Efeito das características sociodemográficas
sobre a frequência dos impactos dos problemas de saúde bucal na qualidade de
vida. Rev Odontol, Vitória, v. 5, n. 3, p. 6-14, 2003.
MOLINA, M. C. B.; CUNHA, R. S.; HERKENHOFF, L. F.; MILL, J. G. Hipertensão
arterial e consumo de sal em população urbana. Revista Saúde Pública, São Paulo,
v. 37, n. 6, p. 743-50, 2003.
MONKEN, M.; BARCELLOS, C. Vigilância em saúde e território utilizado:
possibilidades teóricas e metodológicas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de
Janeiro, v. 21, n. 3, p. 898-906, maio-jun. 2005.
MONTEIRO, Carlos Augusto et al. Monitoramento de fatores de risco para doenças
crônicas por entrevistas telefônicas. Rev. Saúde Pública [online], São Paulo, v. 39,
n. 1, p. 47-57, 2005.
NAHAS, M. V. A era do estilo de vida. In: NAHAS, MV. Atividade física, saúde e
qualidade de vida. Londrina: Midiograf, 2003. p. 13-29.
NASCIMENTO, L. C.; MENDES, I. J. M. Perfil de saúde dos trabalhadores de um
Centro de Saúde-Escola. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 10, n. 4,
p. 502-508, 2002.
NATIONAL NUTRIENT DATABASE – Banco de Dados Nacional de Nutrientes do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (United States Department os
128
Agriculture - USDA). Cerveja X Vinho, qual a bebida mais saudável.
<http://ndb.nal.usda.gov/> Acesso em 12mar2015.
NEHMY, R. M. Q.; DIAS, E. C. Os caminhos da saúde do trabalhador: para onde
apontam os sinais? Revista Médica de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 20, n. 2, p.
13-23, 2010. Suplemento.
OPPERMANN-LISBÔA, K; WANNMACHER, L. Reposição hormonal na
menopausa:benefícios e riscos. Reprodução e Climatério, São Paulo, n. 16, n.1, p.
11-19, 2001.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Resolução nº 265/2010. Reunião
para com chefes de Estado para Discutir DCNT. Nova Iorque, 2011. p. 26.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Constituição da Organização
Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 1946. Disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3oMundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saudeomswho.html. Acesso em: 25nov2013.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Glossário de Promoção da Saúde.
Geneva: Organização Mundial da Saúde (OMS), 1988.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Noção e conceito de qualidade de
vida. 1995. Disponível em: http://www.vidadequalidade.org/conceito-de-qualidadede-vida/ Acesso em: 25nov2013.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Experiências e Desafios
da Atenção Básica e Saúde Familiar: caso Brasil. Brasília: Organização PanAmericana da Saúde (OPAS), 2004.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
SAÚDE. Doenças crônicas não transmissíveis: estratégias de controle e desafios
e para os sistemas de saúde. 2011. Disponível em: http://apsredes.org/site2012/wpcontent/uploads/2012/06/Condicoes-Cronicas_flavio1.pdf. Acesso em: 25nov2013.
OSHIRO, M. L.; FERREIRA, J. S.; OSHIRO, E. Hipertensão arterial em
trabalhadores da Estratégia Saúde da Família. Revista Brasileira de Ciências da
Saúde, São Caetano do Sul, ano 11, n. 36, abr/jun 2013.
PASCHOAL, T.; TAMAYO, A. Valores laborais e estresse ocupacional. Psic. Teor. e
Pesq., Brasília, v. 2, n. 2, p. 173-180, Mai-Ago 2005.
PINHEIRO, R. S. et al. Gênero, morbidade, acesso e utilização de serviços de saúde
no Brasil. Cienc. Saude Colet., Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, p. 687-707, 2002.
POLASKY, L. J.; HOLAHAN,C. K. Maternal self-discrepancies, inter-role conflict, and
negative affect among married professional women with children. Journal of Family
Psychology, Washington, DC, v. 12, n. 3, p. 388-401, 1998.
129
PORTERO, K. C. C.; MOTTA, D. G.; CAMPINO, A. A. C. Abordagem econômica e
fluxograma do atendimento a pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2 na rede pública
de saúde de um município paulista. Saúde Em Revista, Piracicaba, v. 5, n.11, p. 3542, 2003.
PRUX, O. I. Responsabilidade civil do profissional liberal no Código de Defesa
do Consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, p. 107-181,1998.
RAMAZZINI, B. As doenças dos trabalhadores. 3. ed. Tradução Raimundo Estrela.
São Paulo: Fundacentro, 2000.
Rede Nacional de Atenção Integral á Saúde do Trabalhador (RENAST).
Desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador na Atenção Primária à
Saúde. Belo Horizonte, 2011. Disponível em:
<http://www.renastonline.org/recursos/desenvolvimentoa%C3%A7%C3%B5essa%C3%BAde-trabalhadoraten%C3%A7%C3%A3oprim%C3%A1ria-sa%C3%BAde>. Acesso em: 16nov2013.
RIBEIRÃO PRETO. Secretaria Municipal de Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Boletim Sistema Informação de Mortalidade (SIM) / Sistema de
Coleta e Análise de Estatísticas Vitais (SICAEV) - DVE/SMS-RP, 2012.
RIBEIRÃO PRETO. Secretaria Municipal de Saúde. Departamento de Recursos
Humanos - Núcleo de Gestão Assistencial NGA-59. Recursos Humanos. NGA-59,
Set, 2013.
RIBEIRÃO PRETO. Secretaria Municipal da Saúde. Plano Municipal da Saúde
2014-2017. Disponível em:<www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/vigilancia/.../pms-rp2014-2017.pdf >. Acesso em: 15out2014.
RIBEIRÃO PRETO. Secretaria da Administração. Departamento de Recursos
Humanos. Divisão de Medicina e Segurança no Trabalho/DSMT. Lei nº 214/93,
1994. Disponível em:<www.ribeiraopreto.sp.gov.br >. Acesso em: 15fev2015.
RIBEIRO, A. L. P. Estratégias diagnósticas na angina de peito. Rev. Médica Minas
Gerais, Belo Horizonte, v. 10, n. 1, p. 22-7, jan./mar. 2000.
RIGOTTO, R. M. Saúde ambiental e saúde dos trabalhadores: uma aproximação
promissora entre o verde e o vermelho. Revista Brasileira de Epidemiologia, São
Paulo, v. 6, n. 4, p. 388-404, 2003.
ROSS, W.D. Agrupando amostras que diferem alometricamente em tamanho. Rev
Bras Med Esp., Niterói, v. 3, n. 4, p. 95-100, 1997.
ROSA, R. S. Curso de Capacitação à Distância em Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) - edição 2013. Departamento de Medicina Social
Faculdade de Medicina/Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Porto Alegre - RS. Disponível em http://www.ufrgs.br/dcnt.Acesso em: 16nov2013.
130
ROSSOUW, J.E.; ANDERSON, G.L.; PRENTICE, R.L.; LACROIX, A.Z.;
KOOPERBERG, C.; STEFANICK, M.L.; JACKSON, R.D.; BERESFORD, S.A.A.;
HOWARD, B.V.; JOHNSON, K.C.; KOTCHEN, J.M.; OCKENE, J.; Risks and Benefits
of Estrogen Plus Progestin in Healthy Postmenopausal Women Principal Results
From the Women's Health Initiative Investigators Randomized Controlled Trial.
JAMA, Chicago, v. 288, n. 3, p. 321-333, 2002.
ROTHMAN, K.J.; GREENLAND, S. Modern Epidemiology. 2nd edn., LippincottRaven, U.S.A., 1998.
ROUQUARYOL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & Saúde. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. p. 736.
SANTANA, V.S. et al. Gravidade dos acidentes de trabalho atendidos em serviços
de emergência. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 43, p. 750-760, out.2009
SANTOS, A. L., RIGOTTO, R. M. Território e territorialização: incorporando as
relações produção, trabalho, ambiente e saúde na atenção básica à saúde.
Trabalho Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 8, n. 3, p. 387-406, 2011.
SCHIMIDT, M. J.; OGUISSO, T. O exercício da enfermagem sob o enfoque das
normas penais e éticas. In: SANTOS,E.F.dos et al. Legislação em enfermagem:
atos normativos do exercício e do ensino de enfermagem. São Paulo: Atheneu,
1977. cap. 4, p. 287-303.
SCHMIDT, M. I.; DUNCAN, B. B. O enfrentamento das doenças crônicas não
transmissíveis: um desafio para a sociedade brasileira. Epidemiol. Serv. Saúde
[online], Brasília, v. 20, n. 4, p. 421-423, 2011.
SCHRAMM, J. M.; OLIVEIRA, A. F.; LEITE, I. C. Transição epidemiológica e o
estudo de carga de doenças no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro,
v. 9, n. 4, p. 897-908, 2004.
SERRANO JR., CARLOS, V; STEFANINI, EDSON; TIMERMAN, ARI. Tratado de
Cardiologia da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo SOCESP. 2. ed. São Paulo: Manole, 2009.
SICHIERI, R.; COUTINHO, D. C.; MONTEIRO, J. B.; COUTINHO, W. F.
Recomendações de alimentação e nutrição saudável para a população brasileira.
Arq Bras Endocrinol Metabologia, São Paulo, v. 44, n. 3, p. 227-32, jun 2000.
SIMÃO, M. Fatores de risco para as doenças cardiovasculares em
trabalhadores de uma destilaria do interior paulista. 2001. 88f. Dissertação
(Mestrado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo. Ribeirão Preto, 2001.
SILVA, S. S. Angina pectoris instável: perfil de clientes de uma instituição privada.
Ribeirão Preto, 2003. 102p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Fundamental).
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ribeirão
Preto, 2003.
131
SILVA, T. L.; DIAS, E. C.; SILVA, J. M da. Contribuição do Agente Comunitário de
Saúde na produção do cuidado aos trabalhadores. Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional, São Paulo, v. 38, n.127, p. 31-43, 2013. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0303-76572013000100007&script=sci_arttext .
Acesso em:15set2013.
SIQUEIRA, F. P. C. Estilo de vida e Hipertensão. 2002. 183f. Dissertação
(Mestrado em Enfermagem), Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP.
Ribeirão Preto, 2002.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Diretriz de Prevenção da
Aterosclerose na Infância e na Adolescência. Arquivo Brasileiro de Cardiologia,
Rio de Janeiro, v. 85, suplemento 6, p.3-36, 2005
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (SBEM).
Diabetes. 2015. Disponível em:<http://www.endocrino.org.br/10-coisas-que-voceprecisa-saber-sobre-diabetes/>. Acesso em 11fev2015.
________________________________________________________________ .
Reposição Hormonal Masculina. 2015a. Disponível
em:<http://www.endocrino.org.br/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-reposicaohormonal-masculina/> Acesso em 11fev2015.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. V Diretrizes Brasileiras de
Hipertensão Arterial. 2006. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/abc/v89n3/a12v89n3.pdf Acesso em: 16nov2013.
_____________________________________. VI Diretrizes Brasileiras de
Hipertensão. Cap. I. Conceituação, epidemiologia e prevenção primária. Revista
Brasileira de Hipertensão, v. 17, n.1, p. 7-10, 2010.
SOCIEDADE PORTUGUESA DE DIABETOLOGIA (SPD). Definição, Diagnóstico e
Classificação da Diabetes Mellitus. 2015. Disponível em:
<http://www.spd.pt/index.php/grupos-de-estudo-mainmenu-30/classificao-dadiabetes-mellitus-mainmenu-175>. Acesso em 11fev2015.
SOUZA, M. L. P.; GARNELLO, L. “É muito dificultoso!”: etnografia dos cuidados a
pacientes com hipertensão e/ou diabetes na atenção básica, em Manaus,
Amazonas, Brasil. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, (suppl.1), p.
s91-s99, 2008.
TAMAYO, A. Prioridades axiológicas, atividade física e estresse ocupacional.
Revista de Administração Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 5, n. 3, p. 127-147,
(2001).
TEIXEIRA, C. F.; SOLLA, J. P. Modelo de atenção à saúde. O Futuro da
Prevenção, Salvador: Casa da Qualidade, Salvador: EDUFBA; 2006. 236 p.
132
TEIXEIRA, R. C.; MANTOVANI, M.F. Enfermeiros com doença crônica: as relações
com o adoecimento, a prevenção e o processo de trabalho. Rev Esc Enferm USP,
São Paulo, v. 43, n. 2, p. 415-21, 2009.
TERRIS, M. Conceptos de la promoción de la salud: Dualidades de la Teoria de La
Salud Publica. In: OPS. Promoción de la Salud: una Antologia. Washington: OPS,
Publ. Cient. 557 p. 37-44, 1996.
THOMPSON, L.; WALKER, A. Gender in families: Women and men in marriage,
work and parenthood. Journal of Marriage and the Family, Minneapolis, v. 45, n. 2,
p. 240-251, 1989.
TORRES, C.H. Ensino de Epidemiologia na Escola Médica: institucionalização da
epidemiologia como disciplina na faculdade de medicina da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Dissertação apresentada para a obtenção do título de Mestre em
Ciências na área de Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública da
Fundação Oswaldo Cruz. 2002.
VAISSMANN, M. Alcoolismo como problemas de saúde no trabalho - avaliação
de um programa de tratamento para funcionário de uma universidade. 1998. 201p.
Tese (Doutorado em Psiquiatria). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de
Ciências e da Saúde, Rio de Janeiro, 1998.
VERÍSSIMO, M; PIMENTA, M; BORGES, P. et al. Percepções parentais acerca dos
conflitos e benefícios associados com a gestão da família e do trabalho. Diaphora Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 13,
n.1, p. 01-08, Jan/Jul 2013.
VIEIRA, M. C. F. O trabalho domiciliar e sua relação com a saúde do
trabalhador: uma revisão da literatura brasileira no período de 2000 a 2009. 2009.
60 f. Dissertação. (Mestrado em Saúde Pública e Meio Ambiente) - Escola Nacional
de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro: 2009.
VILAS BOAS, S. W.; DIAS, E. C. Contribuição para a discussão sobre as
políticas no setor sucro-alcooleiro e as repercussões sobre a saúde dos
trabalhadores. In: PLATAFORMA BNDES. Impactos da indústria canavieira no
Brasil. [Rio de Janeiro]: IBASE, 2008(Versão Preliminar).
VON ATZINGEN, R. H. O direito à saúde e ao trabalho: um estudo de caso no
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST - Regional de Ribeirão
Preto – SP, 2010. 172f Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2010.
WHITE, A.; CASH, K. The state of men’s health in Western Europe. J. Men’s Health
Gend., v.1, n.1, p. 60-6, 2004.
WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Body mass index classification –
report of a WHO consultation on obesity. Geneva: WHO; 1995. Technical Report
Series 854. Disponivel em:
<http://www.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html> Acesso em 16nov2013.
133
WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Reducing Risks and Promoting
Heathly Life, World Heath Report. Geneva: WHO; 2002. Disponivel em:
<http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf?ua=1>. Acesso em 16nov2013.
WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Obesity: preventing and managing the
global epidemic. Report of a WHO Consultation. (WHO Technical Report Series, n.
894). Geneva, 2004.
WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Relatório Mundial de Saúde.
Financiamento dos Sistemas de Saúde. World Heath Report. Geneva: WHO;
2013. Disponivel em: <http:// www.who.int/whr/2010/whr10_pt.pdf>. Acesso em 15
fev2015.
134
APÊNDICE I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O objetivo deste projeto de pesquisa é levantar dados da biologia do indivíduo, do
meio ambiente em que vive e trabalha, do seu estilo de vida, e de seu acesso ao serviço de
saúde, com o objetivo de estimular que estes mesmos trabalhadores ajam em benefício
próprio, pois trabalham e orientam os usuários da Unidade quanto à prevenção e ou
retardamento da ocorrência de doenças crônicas degenerativas e seus agravos e,
consequentemente, que desfrutem de uma velhice mais ativa e saudável. Entendemos ser
necessário usar as mesmas práticas com sua própria saúde.
É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento, e deixar
de participar do estudo sem qualquer prejuízo nesta instituição.
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros profissionais, não
sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Será garantido a(o) Sr(a) o direito
de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa.
Comprometemo-nos a utilizar os dados somente nesta pesquisa.
Não há despesas para a participação em qualquer fase do estudo, mas também não
há compensação financeira relacionada à sua participação.
Quaisquer dúvidas de sua parte poderão ser dirimidas junto ao Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade de Ribeirão Preto, pelo telefone: 36036915.
Ribeirão Preto, _____/____/_____
______________________
Assinatura do participante
____________________
RG
____________________
CPF
________________________________________________
Profª. Drª. Sílvia Sidnéia da Silva Tel: (16)99139-0493
Email: [email protected]
_____________________________________________
Assinatura da pesquisadora
Enfª Susana Dutra de Oliveira Silveira Tel: (16)99148-6880
Email: [email protected]
Programa de Mestrado Stricto sensu Saúde e Educação
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)
Fone: (16) 3603-6774 e 36037010
135
APÊNDICE II
DECLARAÇÃO DA PESQUISADORA
Eu, Susana Dutra de Oliveira Silveira, na condição de pesquisadora
responsável por este projeto, sendo orientada pelo Profa. Dra. Silvia Sidnéia da
Silva, DECLARO que:
1 Assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das
informações,
2 As informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão
utilizadas apenas para atingir o objetivo previsto na pesquisa,
3 Os dados serão coletados no ambiente do NGA-59 e me responsabilizo
pelo arquivo do mesmo após uso,
4 Os resultados da pesquisa serão tornados públicos,
5 Não há qualquer acordo restritivo à divulgação pública dos resultados,
6 Comunicarei ao CEP da suspensão ou do encerramento da pesquisa,
7 Cumprirei os termos da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde,
8 O CEP será comunicado em caso de efeitos adversos da pesquisa,
9 A pesquisa ainda não foi realizada.
______________________________
Enfª.Susana Dutra de Oliveira Silveira
Responsável pelo estudo
136
APÊNDICE III
Ilmo. Sr.
Carlos Eduardo de Oliveira
Gerente do Núcleo de Gestão Assistencial (NGA - 59)
Senhor Gerente,
Venho por meio desta, solicitar a autorização de V. Sa., enquanto representante
da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, para realização da pesquisa intitulada
“PERFIL DE SAÚDE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM UMA UNIDADE DE
ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO”, no Núcleo de
Gestão Assistencial (NGA – 59), na Rua Minas n. 895, sob gerência do Dr. Carlos Eduardo
de Oliveira.
Esta referida pesquisa será realizada pela enfermeira Susana Dutra de Oliveira
Silveira, como aluna regularmente matriculada no curso de Mestrado em Saúde e Educação
pela Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, sob orientação da Professora Dra. Silvia
Sidnéia da Silva.
A pesquisa será realizada através de um exame de bioimpedância e aplicação
de questionário aos profissionais que atuam no NGA-59.
O levantamento terá como objetivo conhecer o perfil de saúde, o meio
ambiente onde vivem e trabalham estes profissionais, as principais causas de doenças e
seu estilo de vida. Também será levantado o acesso aos serviços de saúde e suas
dificuldades na rede municipal de saúde de Ribeirão Preto e SASSOM. Espera-se que os
resultados possam servir para propor ações futuras à Atenção Básica, Secundária e em
ações de prevenção de Saúde do indivíduo e do trabalhador e, consequentemente, que
desfrutem de uma velhice mais ativa e saudável.
Agradeço antecipadamente sua atenção e coloco-me à disposição para quaisquer
esclarecimentos que julgar necessário. Segue anexo o projeto da pesquisa na íntegra.
Cordialmente,
________________________________
Profª. Drª. Silvia Sidnéia da Silva
Universidade de Ribeirão Preto
Currículo: http://lattes.cnpq.br/3846397343896366
_______________________________
Enfª. Susana Dutra de Oliveira Silveira
Pesquisadora
Ribeirão Preto, 03 de dezembro de 2013.
137
APÊNDICE IV
Ilmo. Sr.
Stênio Correia Miranda
Secretário da Saúde de Ribeirão Preto
Senhor Secretário,
Venho por meio desta, solicitar a autorização de V. Sa., enquanto
representante da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, para realização
da pesquisa intitulada “PERFIL DE SAÚDE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM UMA
UNIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO”,
no Núcleo de Gestão Assistencial (NGA – 59), na Rua Minas n. 895, sob gerência do
Dr. Carlos Eduardo de Oliveira.
Esta referida pesquisa será realizada pela enfermeira Susana Dutra de
Oliveira Silveira, como aluna regularmente matriculada no curso de Mestrado em
Saúde e Educação pela Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, sob orientação
da Professora Dra. Silvia Sidnéia da Silva.
A pesquisa será realizada através de um exame de bioimpedância e
aplicação de questionário aos profissionais que atuam no NGA-59.
O levantamento terá como objetivo conhecer o perfil de saúde, o meio
ambiente onde vivem e trabalham estes profissionais, as principais causas de
doenças e seu estilo de vida. Também será levantado o acesso aos serviços de
saúde e suas dificuldades na rede municipal de saúde de Ribeirão Preto e
SASSOM. Espera-se que os resultados possam servir para propor ações futuras à
Atenção Básica, Secundária e em ações de prevenção de Saúde do indivíduo e do
trabalhador e, consequentemente, que desfrutem de uma velhice mais ativa e
saudável.
Agradeço antecipadamente sua atenção e coloco-me à disposição para
quaisquer esclarecimentos que julgar necessário. Segue anexo o projeto da
pesquisa na íntegra.
Cordialmente,
________________________________
Profª. Drª. Silvia Sidnéia da Silva
Universidade de Ribeirão Preto - Currículo: http://lattes.cnpq.br/3846397343896366
__________________________________________
Enfª. Susana Dutra de Oliveira Silveira
Pesquisadora
138
APÊNDICE V
CARTA DE ENCAMINHAMENTO AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM
SERES HUMANOS DA UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP
Ilma Srª
Profª Drª Luciana Rezende Alves Oliveira
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da UNAERP
Universidade de Ribeirão Preto – Campus Ribeirão Preto
Venho pelo presente encaminhar o Projeto intitulado: Perfil de saúde de
profissionais que atuam em uma Unidade de Assistência Especializada no
município de Ribeirão Preto, a ser desenvolvido pela Mestranda – Susana Dutra
de Oliveira Silveira do Curso de Mestrado em Saúde e Educação, tendo como
orientadora a Profª. Drª. Silvia Sidnéia da Silva, coordenadora do Programa de
Mestrado Profissional em Saúde e Educação da Universidade de Ribeirão Preto –
UNAERP, para a apreciação deste comitê.
As atividades serão desenvolvidas no município de Ribeirão Preto/SP, com os
trabalhadores do Núcleo de Gestão Assistencial (NGA – 59), na Rua Minas n. 895,
no município de Ribeirão Preto-SP.
Atenciosamente,
__________________________________________________
Profª. Drª. Silvia Sidnéia da Silva – Pesquisadora Responsável
Ribeirão Preto, 03 de dezembro de 2013.
139
APÊNDICE VI
CONVOCAÇÃO DE VACINA
Ribeirão Preto, Setembro de 2014.
PARA:
Sua participação em meu projeto de pesquisa sobre o “Perfil de Saúde de
Profissionais que atuam em uma Unidade de Assistência Especializada no
Município de Ribeirão Preto”, foi muito importante.
Minha pesquisa teve como objetivo levantar dados da biologia do indivíduo, do meio
ambiente que vive e trabalha, do seu estilo de vida, e de seu acesso ao serviço de
saúde; afim de estimular que estes mesmos trabalhadores ajam em benefício
próprio, prevenindo ou retardando da ocorrência de doenças crônicas degenerativas
e seus agravos e, consequentemente, que desfrutem de uma velhice mais ativa e
saudável.
Apuramos em seu questionário, que sua situação vacinal encontra-se incompleta/
em atraso ou não há registro, conforme recomendações a profissionais da saúde.
Favor comparecer com esta carta e o cartão de vacina em uma Unidade de Saúde
mais próxima de sua residência para atualizar suas vacinas. Solicite também em seu
atendimento que a vacina realizada seja anotada no Sistema Hygia.
VACINAS:
Atenciosamente,
Assinatura da pesquisadora
Susana Dutra de Oliveira Silveira
Programa de Mestrado Stricto sensu Saúde e Educação
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)
Fone: (16) 3603-6774 e 36037010
140
ANEXO A
INSTRUMENTO “CAMPO DE SAÚDE” DE LALONDE
TÍTULO DO PROJETO: Perfil de Saúde de Profissionais que Atuam em uma
Unidade de Assistência Especializada no Município de Ribeirão Preto
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Enfª. Susana Dutra de Oliveira Silveira
ORIENTADORA: Profª. Drª. Sílvia Sidnéia da Silva
IDENTIFICAÇÃO:
Nome: ____________________________________________________________
Sexo: ( ) M
( )F
Data de Nascimento: ___/___/___
Data Admissão: ___/___/___
A - DADOS RELACIONADOS À BIOLOGIA DO INDÍVIDUO
A.1 – Dados antropométricos
Peso: ________(Kg) Altura: _______(m) PA:__________(mmHg)
A.2 – História clínica do cliente
Tem (ou teve) algumas das doenças abaixo:
* Hipertensão arterial sistêmica
( ) sim
( ) não ( ) não sabe referir
*Diabetes mellitus
( ) sim ( ) não
( ) não sabe referir
* Dislipidemias (colesterol, triglicérides e ácido úrico)
( ) sim ( ) não
( ) não sabe referir
* Doença vascular periférica
( ) sim ( ) não
( ) não sabe referir
* Acidente vascular cerebral
( ) sim ( ) não ( ) não sabe referir
* Distúrbio do sono (insônia, apneia, ronco, infecções respiratórias)
( ) sim ( ) não ( ) não sabe referir
* Problemas de coluna (hérnia de disco, artrose, dores articulares, alterações posturais)
( ) sim ( ) não ( ) não sabe referir
* Problemas gástricos (hérnia, refluxo, gastrite)
( ) sim ( ) não ( ) não sabe referir
* Problemas hepáticos (esteatose hepática, gota, hepatites, litíase)
( ) sim ( ) não ( ) não sabe referir
141
* Problemas urinários (infecções recorrentes, nefrite)
( ) sim ( ) não ( ) não sabe referir
* Transtornos como: ansiedade, estresse, depressão, sente-se discriminado
( ) sim ( ) não ( ) não sabe referir
* Osteoporose
( ) sim ( ) não
( ) não sabe referir
* Osteopenia
( ) sim ( ) não
( ) não sabe referir
* Hipertireoidismo
( ) sim ( ) não ( ) não sabe referir
* Hipotireodismo
( ) sim ( ) não
( ) não sabe referir
*Distúrbio de imunidade (alteração da imunidade)
( ) sim ( ) não ( ) não sabe referir
*Sobrepeso
( ) sim ( ) não
( ) não sabe referir
* Obesidade
( ) sim ( ) não
( ) não sabe referir
* Outra patologia? Qual? ___________________
B – DADOS DO MEIO AMBIENTE
B.1 – Formação Profissional e Atividade Profissional
Nível de Instrução: ( ) Analfabeto (a)
( ) Ensino Fundamental incompleto
( ) Ensino Fundamental completo
( ) Ensino Médio incompleto
( ) Ensino Médio completo
( ) Nível Superior incompleto
( ) Nível Superior completo
Ocupação: ______________________________________________________
Tem mais de 01 (um) emprego? ( ) não
( ) sim Quantos? _______
Jornada diária de trabalho: _________________________________________
B.2 – Renda e Estrutura Familiar
Salário mínimo Brasil =678,00 – 01.01.2013 ------------- São Paulo – 699,00
São Paulo
755,00 - 01.02.2013
Renda familiar: ( ) menor que 3 (três) salários-mínimo
( ) entre 3 e seis salários-mínimo
( ) entre 6 e 10 salários-mínimo
( ) acima de 10 salários-mínimo
( ) não sabe referir
142
Estado civil:
( ) solteiro(a)
( ) desquitado(a)
Qual?_____________
Número de filhos: __________
Local de residência:
( ) zona urbana
( ) casado(a)
( ) viúvo(a)
( ) divorciado(a)
(
) outros.
( ) zona rural
C – DADOS RELACIONADOS AO ESTILO DE VIDA
Quais são as causas apontadas pelo cliente para a ocorrência da sua doença?
( ) dieta incorreta
( ) falta de exercícios físicos
( ) tabagismo
( ) ingestão excessiva de álcool
( ) estresse
( ) uso de estrógenos
( ) idade
( ) etnia
( ) história familiar
( ) diabetes
( ) hipercolesterolemia
( ) hipertensão arterial
( ) obesidade
( ) outros.
Especificar: _____________________________________________
C.1 – Consumo de bebidas alcoólicas
Uso de bebidas alcoólicas:
( ) sim
Qual/Quais bebida(s): ____________
Frequência: (
(
(
(
( ) não
Quantidade: ________________
) diariamente
) 3 ou mais vezes por semana
) menos de 3 vezes por semana
) raramente
C.2 – Tabagismo
Com relação ao hábito de fumar:
( ) fumante
( ) ex-fumante
( ) não fumante
C.3 - Atividade Física / Exercício Físico
Realiza alguma atividade física/exercício físico regularmente? ( ) sim ( ) não
Atividade: _______ Tempo de atividade:_____ Frequência: ________horas/semanais
( ) caminhar
( ) correr
( ) pedalar
( ) jogar bola
( ) nadar
( ) outros. Especificar: _____________________________________________
C.4 – Estresse
Considera-se mais estressado(a) em situações que ocorrem em que tipo de ambiente?
doméstico ( ) de trabalho ( )outros.
Especificar:______________________________________________________
( )
143
Apresenta alterações do sono com frequência? ( ) sim
( ) não
Atribui essas alterações a quais fatores?
( )mudanças de hábito (ambiente estranho, ausência de objetos familiares, horário
alterado devido a trabalho ou lazer)
( ) doenças
( ) uso de drogas
( ) uso de bebidas alcoólicas
( ) estado emocional
( ) outros.Especificar: ___________________________________________________
C.5 – Vida Sexual e Uso de Hormônios
Possui vida sexual ativa?
( ) sim
( ) não
Mulheres:
Houve a ocorrência da menopausa?
( ) sim Quando: _______ ( ) não
Tipo: ( ) natural ( ) cirúrgica
Faz uso de estrógenos/hormônios para efeitos contraceptivos? ( ) sim ( ) não
Fez uso de hormônios para outros fins?
( ) sim
( ) não
Homens:
Faz uso de hormônios para outros fins?
( ) sim
( ) não
Especificar: ____________________________________________________
D – DADOS RELACIONADOS AO ACESSO /ATENDIMENTO DA SAÚDE
D.1 – Dados relativos à utilização de serviços de saúde
Qual/Quais serviços de saúde utiliza?:
SUS ( ) SASSOM ( ) UNIMED ( ) IAMSPE ( )
Em quais ocasiões:
( ) periodicamente, para prevenir doenças.
( ) periodicamente, pois faz tratamento médico.
( ) somente em casos de urgência.
( ) outros.
Especificar:_____________________________________________________
Faz tratamento para algum tipo de enfermidade? ( ) sim
( ) não
Especificar: _____________________________________________________
Faz uso de algum medicamento?
( ) sim
( ) não
Qual(is): ________________________________________________________
Uso regular?
( ) sim
( ) não
Quando foi sua última consulta ao dentista?______________________________
Quando foi sua última consulta ao ginecologista? _________________________
Quando foi sua última consulta ao urologista? ____________________________
Sua carteira de vacina está em dia? ( ) sim
( ) não
Dupla adulto ( ) Febre Amarela ( ) Hepatite B ( ) Gripe ( ) VCR (
Conferência no Sistema Hygia ( ) sim
( ) não
)
144
ANEXO B
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO/AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE
SAÚDE PARA A PESQUISA
Eu, Carlos Eduardo de Oliveira, CPF 446.829.306-30, abaixo assinado,
na função de Gerente do Núcleo de Gestão Assistencial (NGA – 59), declaro
estar de acordo com a realização do projeto de pesquisa: “PERFIL DE SAÚDE
DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM UMA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA
ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO”, que será realizado
pela profissional Susana Dutra de Oliveira Silveira, enfermeira, como projeto de
Mestrado em Saúde e Educação pela Universidade de Ribeirão Preto
(UNAERP).
O projeto terá como objetivo conhecer o perfil de saúde, meio ambiente onde
vivem e trabalham estes profissionais e as principais causas de doenças, além
do estilo de vida e acesso aos serviços de saúde e suas dificuldades na rede
municipal de saúde de Ribeirão Preto e SASSOM.
Espera-se que os resultados possam servir para propor ações futuras à Atenção
Básica, Secundária e em ações de prevenção de Saúde do indivíduo e do
trabalhador e consequentemente que desfrutem de uma velhice mais ativa e
saudável. Não haverá custo algum para o NGA ou para a Secretaria da Saúde e
será feita solicitação de autorização para o Secretário da Saúde antes da
realização do mesmo.
Ribeirão Preto, 03 de dezembro de 2013.
_____________________________________
Carlos Eduardo de Oliveira
Gerente NGA – 59
145
ANEXO C
AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
DE RIBEIRÃO PRETO/SP
146
ANEXO D
AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES
HUMANOS DA UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP
147
ANEXO E
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria Municipal de Saúde - NGA-59
Ambulatório de Nutrologia - Rua Minas, 895 - Campos Elíseos
Email: [email protected]
Tel: 3977-7112
EXAME: AVALIAÇÃO CORPORAL POR BIOIMPEDÂNCIA
Profissional Solicitante/ Nº Conselho:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paciente:
Hygia:
Sexo:
Data de Nascimento:
Idade:
Data da Avaliação:
Hora:
Estatura:
cm
Peso:
Kg
IMC:
Bio-Resistência:
Ohms
Reactância:
Ohms
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL POR BIOIMPEDÂNCIA
A avaliação da composição corporal por bioimpedância consiste na divisão do seu peso
corporal total em 3 componentes: massa gorda(gordura corporal), massa magra (músculos,
ossos e vísceras) e água corporal.
O resultado do teste indica exatamente a proporção de gordura e massa muscular do seu
organismo, servindo como parâmetro de comparação na reavaliação para acompanhar a
sua evolução após o tratamento médico, dietético e/ou programa de atividade física.
PESO CORPORAL:
Kg
GORDURA PERCENTUAL:
%
MASSA GORDA:
Kg
PESO A SER ALTERADO: Kg
Classificação de seu Peso Corporal / IMC:
Valor ideal:
Valor ideal:
Valor ideal :
Kg
%
Kg
A gordura no organismo é essencial para várias funções vitais como síntese de hormônios,
reserva de energia, isolamento térmico, transmissão de impulsos nervosos, proteção dos
órgãos vitais contra choques mecânicos e transporte das vitaminas lipossolúveis (Vit. A, D,
E e K). Entretanto, o excesso de gordura corporal está associado a diversas doenças como
diabetes, hipertensão arterial, colesterol sanguíneo elevado, distúrbios respiratórios, desvios
posturais, dores de coluna, diversas cardiopatias e alguns tipos de câncer, além da própria
discriminação social. Portanto , você deve manter a sua gordura corporal dentro do valor
ideal indicado abaixo, mantendo uma boa saúde de modo geral e melhorando a sua
condição física.
Sua gordura percentual atual é de
%. O ideal de gordura para uma pessoa do sexo
até anos é de %.
Classificação de sua Gordura Corporal :
148
MASSA MAGRA:
Kg
Valor ideal: Kg
A massa magra corresponde aos seus músculos, ossos e vísceras, sendo que a
musculatura é o principal responsável pela queima de calorias no seu organismo. Portanto,
quanto maior for o valor da sua massa magra, mais calorias você estará queimando em
repouso e consequentemente maior será a sua ingestão calórica. Não existe um valor ideal
de massa magra, pois a musculatura pode ser desenvolvida através de um programa de
condicionamento físico individualizado, auxiliando no emagrecimento e evitando a flacidez.
A massa magra baixa está associada ao sedentarismo e a uma alimentação inadequada.
ÁGUA CORPORAL TOTAL:
litros
ÁGUA NO PESO CORPORAL:
%
ÁGUA NA MASSA MAGRA:
%
Valor ideal: 50 - 60%
Valor ideal: 68 - 75%
Esta é quantidade total de água que você tem no seu corpo. A água no organismo é
importante para a troca de calor com o meio ambiente, facilita as reações químicas para
obtenção de energia e é o principal componente do sangue.
Sua quantidade de água na massa magra foi de
%.O valor ideal é entre 68 - 75 %.
Classificação de sua Água Corporal Total:
A retenção de água pode ser causada pela ingestão excessiva de sal e alimentos enlatados,
período pré-menstrual ou algum distúrbio renal. Siga rigorosamente as orientações do seu
médico, procurando também controlar a sua pressão arterial.
TAXA METABÓLICA BASAL:
Cal/dia
Valor ideal:
Cal/dia
A taxa metabólica basal corresponde à quantidade mínima de calorias por dia que o seu
organismo consome para manter as suas funções basais em repouso como respiração,
batimentos cardíacos e digestão dos alimentos. Este valor não inclui as suas atividades
diárias nem o exercício físico. A taxa metabólica basal está diretamente relacionada à sua
massa magra, ou seja, quanto maior for sua massa magra (musculatura), maior será o valor
da sua taxa metabólica basal e consequentemente mais calorias você poderá ingerir por dia
sem correr o risco de engordar.
__________________________
Susana Dutra de Oliveira Silveira
Enfermeira NGA-59
Coren-SP 22.689
IMPORTANTE: As informações contidas neste relatório não são prescrições médicas. Antes
de iniciar qualquer programa de atividade física e/ou dieta que modifique significativamente
o seu estilo de vida, siga rigorosamente a orientação do seu médico, nutricionista, professor
de educação física ou profissional da saúde.
Fat Checker 1.0 TBW
149
ANEXO F
FICHA A - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO/SP
150
151
ANEXO G
FICHA D - REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO/SP
152
153