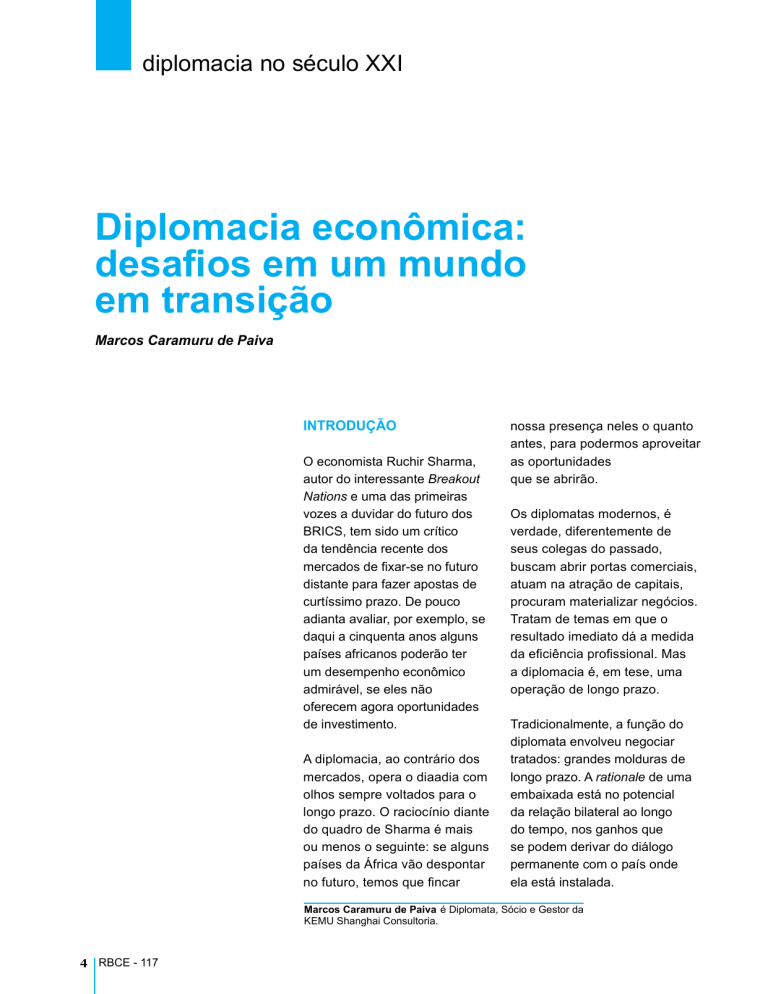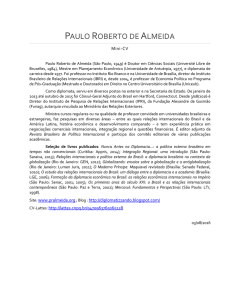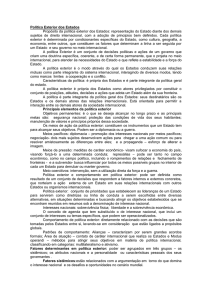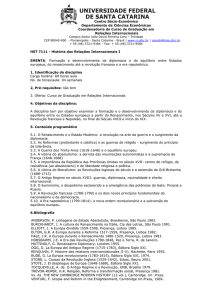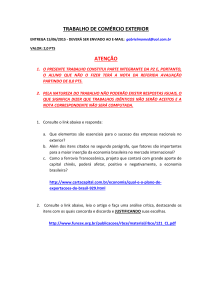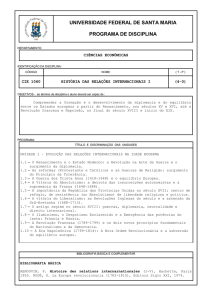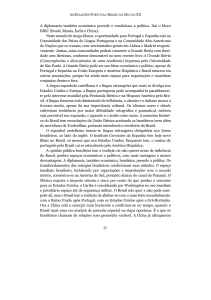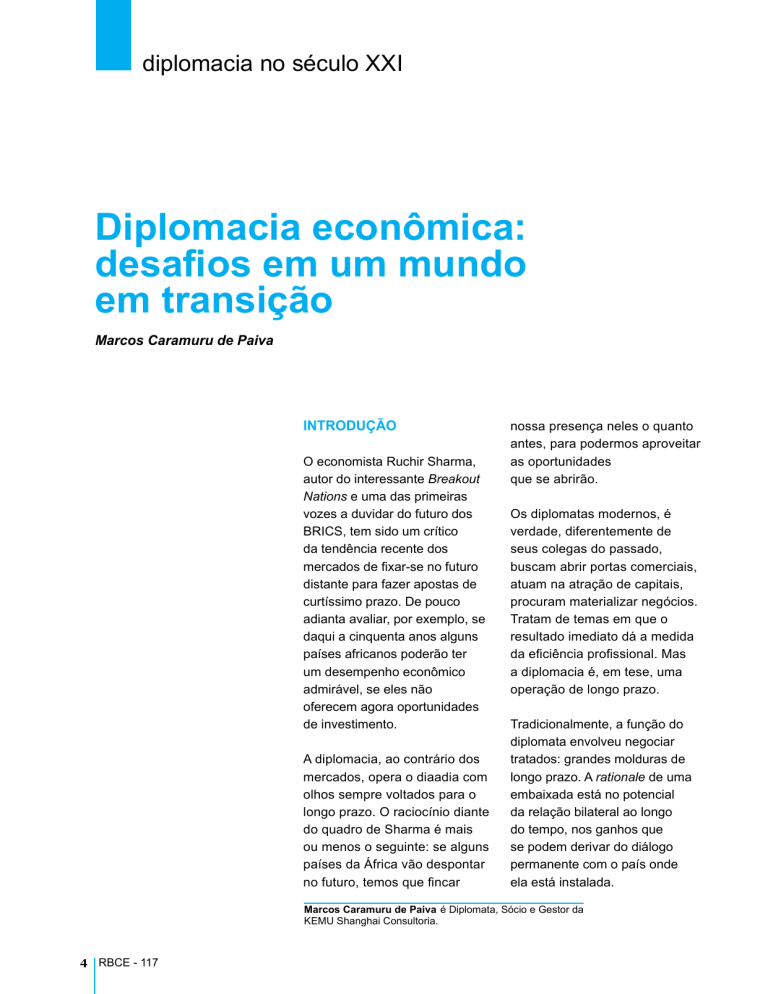
diplomacia no século XXI
Diplomacia econômica:
desafios em um mundo
em transição
Marcos Caramuru de Paiva
INTRODUÇÃO
O economista Ruchir Sharma,
autor do interessante Breakout
Nations e uma das primeiras
vozes a duvidar do futuro dos
BRICS, tem sido um crítico
da tendência recente dos
mercados de fixar-se no futuro
distante para fazer apostas de
curtíssimo prazo. De pouco
adianta avaliar, por exemplo, se
daqui a cinquenta anos alguns
países africanos poderão ter
um desempenho econômico
admirável, se eles não
oferecem agora oportunidades
de investimento.
A diplomacia, ao contrário dos
mercados, opera o diaadia com
olhos sempre voltados para o
longo prazo. O raciocínio diante
do quadro de Sharma é mais
ou menos o seguinte: se alguns
países da África vão despontar
no futuro, temos que fincar
nossa presença neles o quanto
antes, para podermos aproveitar
as oportunidades
que se abrirão.
Os diplomatas modernos, é
verdade, diferentemente de
seus colegas do passado,
buscam abrir portas comerciais,
atuam na atração de capitais,
procuram materializar negócios.
Tratam de temas em que o
resultado imediato dá a medida
da eficiência profissional. Mas
a diplomacia é, em tese, uma
operação de longo prazo.
Tradicionalmente, a função do
diplomata envolveu negociar
tratados: grandes molduras de
longo prazo. A rationale de uma
embaixada está no potencial
da relação bilateral ao longo
do tempo, nos ganhos que
se podem derivar do diálogo
permanente com o país onde
ela está instalada.
Marcos Caramuru de Paiva é Diplomata, Sócio e Gestor da
KEMU Shanghai Consultoria.
4 RBCE - 117
Uma boa parte do trabalho dos
economistas é prever o rumo
de indicadores relevantes e
avaliar o seu impacto sobre
os negócios. Os economistas
mensuram riscos e aconselham
quem vai tomá-los. Os
diplomatas valem-se mais da
história. O conceito de risco
lhes é pouco familiar. Levam
em conta, primordialmente,
componentes imutáveis dos
países: a sua posição geográfica,
suas características culturais e
o sentido de direção das suas
realidades.
As breves observações acima
dão, genericamente, a dimensão
de como é desafiador relacionar
o mundo diplomático e o
econômico, como proposto no
tema desta edição da RBCE.
Ao lado disso, todo exercício
de futurologia é, por princípio,
perigoso. Vale sempre a máxima
tantas vezes repetida de
Groucho Marx: “fazer previsões
é difícil, particularmente quando
se fala sobre o futuro”. Mas não
fazê-lo dificulta o planejamento.
A grande reviravolta política
do final do século XX, com a
queda do regime soviético e
a reunificação da Alemanha,
coincidiu com um período de
extraordinária transformação
da economia internacional.
Essa transformação refletiuse num significativo aumento
dos fluxos internacionais
de capitais (investimentos
diretos e de portfólio), a
substituição dos tradicionais
empréstimos bancários por
novas modalidades de captação,
como a via bônus, em que
os credores são múltiplos e
muitas vezes não identificados,
expansão dos tratados de
livre comércio, ampliação
considerável dos mercados
de derivativos, redução das
moedas em circulação, com a
ousadia europeia de acordar
o Euro, em 1993, e pô-lo em
circulação no despertar de
1999, uma multiplicação de
regras quase informais mas
de cumprimento obrigatório
fixadas por organismos
internacionais variados, como
as regras da Basileia, as regras
de transparência em matéria
de política fiscal, as regras de
combate à lavagem de dinheiro,
as regras da IOSCO, as regras
contábeis uniformes, entre
várias outras.
Quem apostou, no final dos
anos 80, que, com a derrocada
do regime soviético os EUA
reinariam sozinhos não viu a
China. Parece surpreendente
hoje que, há trinta anos atrás,
quando a China engatinhava
na abertura, ninguém tivesse
antecipado a força econômica
em que ela se transformaria.
Quem apostou num cenário de
prosperidade garantida, tendo
como base as extraordinárias
taxas de crescimento da
economia internacional na
primeira metade dos anos 90 e,
outra vez, no primeiro quinquênio
do século XXI, teve que rever
seus conceitos, primeiro com a
crise asiática, depois com a crise
nas economias amadurecidas.
E quem apostou, na eclosão da
crise de 2008, que a força dos
emergentes passaria a mover
a economia internacional por
décadas adiante, está agora
num processo de reavaliação de
conceitos.
CENÁRIOS PARA O
SÉCULO XXI
Todas essas transformações
imprevisíveis e rápidas dão
uma ideia de quão difícil é, no
momento, desenhar um cenário
para o século XXI. Algumas
ideias, porém, são inescapáveis.
China e Leste Asiático
Parece claro que o século XXI
será, sobretudo, o século do
Leste asiático. A menos que
os asiáticos se percam nas
controvérsias territoriais e
nos rancores do passado, os
chineses cometam grandes
erros na condução da política
econômica, ou não tenham a
coragem de realizar as reformas
necessárias, o papel do Leste
Asiático será crescentemente
importante.
A dificuldade maior de tirar
conclusões sobre a China é
que os instrumentos de análise
de que dispomos no Ocidente
não funcionam adequadamente
para um país com uma taxa
de poupança superior a 50%
do PIB e uma organização
política inédita, que leva a que
os temas sejam tratados de
forma diferenciada, sem seguir
parâmetros conhecidos. Mas
mesmo os mais céticos sobre as
perspectivas futuras da China
têm que admitir que o país
ainda tem espaço para crescer a
taxas elevadas por pelo menos
uma década, que o processo
de urbanização prosseguirá
RBCE - 117
5
Há um bom
entrosamento das
cadeias industriais da
ASEAN e da China na
produção de bens que,
a partir da China, são
exportados para o
resto do mundo
trazendo uma boa parte dos
650 milhões de chineses que
vivem no campo à economia de
consumo, que a organização
política tem dado mais sinais de
eficiência do que de ineficiência
e que os governantes estão
sabendo construir uma densa
teia de relacionamentos
externos, que não se romperá
facilmente com o tempo.
chinês e 21% das importações
vieram de lá. Apesar das
disputas territoriais no Pacífico,
os investimentos japoneses na
China seguem ampliando-se.
Os coreanos também. Os três
países, China, Japão e Coréia,
estão discutindo um acordo de
livre comércio que deverá ainda
mais estimular investimentos e
fortalecer os vínculos comerciais.
A China moverá o seu entorno
e carregará consigo os países
do Leste da Ásia. Vai atrelar
crescentemente à sua realidade
os grandes (Japão e Coréia),
os países bem sucedidos da
ASEAN (Cingapura, Malásia,
Tailândia, Indonésia) e as
economias menores (Laos,
Camboja, Vietnam, Mianmar).
O mecanismo ASEAN+3
(China, Japão e Coréia) segue
funcionando. Os países criaram
um colchão de proteção
para crises de balanço de
pagamentos que afetem as
economias mais fracas (o
chamado mecanismo de Chiang
Mai) e continuarão trabalhando
em propostas para ampliar a
integração de seus mercados
financeiros e a eficiência na
alocação regional da poupança.
A China está determinada a
ampliar os investimentos de
infraestrutura na Ásia do Leste.
Já fez muito na construção de
vias que a liguem aos seus
vizinhos diretos. Além disso,
há experiências inovadoras
em curso no leste asiático. A
China e a Malásia, por exemplo,
têm construído conjuntamente,
tanto em território chinês
como malásio, zonas de
desenvolvimento industrial
para atrair investimentos de um
país no outro e criar espaço
para investimentos de terceiros
países. Resultado: a pequena
Malásia, com uma população
pouco maior do que a de Xangai,
tornou-se o maior parceiro
comercial chinês na região.
Os países da ASEAN, na
verdade, já têm uma proporção
elevada (em alguns casos 60%
a 80%) do seu fluxo comercial
total no comércio bilateral
com a China. No período de
2002 a 2012, as trocas entre
a China e os membros da
Associação ampliaram-se, em
média, 60% ao ano, chegando
a US$ 400 bilhões. Há um bom
entrosamento das cadeias
industriais da ASEAN e da China
na produção de bens que, a
partir da China, são exportados
para o resto do mundo.
Os vínculos entre a China, o
Japão e a Coréia são menos
expressivos, mas não são
irrelevantes. Em 2012, a Coréia
exportou para a China 28.5%
de suas exportações totais e
importou 15.8% do total. No caso
do Japão, 18% das exportações
dirigiram-se para o mercado
6 RBCE - 117
Se a China tiver sucesso no
esforço de ampliar o consumo
interno e levar a cabo reformas,
paulatinamente o seu mercado
interno será o grande catalizador
das vendas regionais. A Ásia
do Leste poderá tornar-se
uma região introspectiva, com
pequeno grau de interação com
o exterior. Ver isso acontecer é
justificado fator de preocupação
de grandes países ocidentais.
Estados Unidos
Os Estados Unidos continuarão
a ser, pelo menos em grande
parte do século XXI, a grande
força econômica que foram nas
últimas cinco décadas. Mesmo
que a China possa superá-los
no tamanho do produto, não
chegará, em futuro previsível,
a ter o peso americano. Os
chineses sabem disso.
Os Estados Unidos não só
serão um dos maiores, senão
o maior produtor de petróleo e
gás do mundo, mas também o
único país que tem condições
de criar inovações tecnológicas
de alcance global e transformar
a vida dos negócios e das
pessoas, como fizeram
com a Internet, as redes
sociais e,mais recentemente,
as impressoras 3D.
O dólar será, ainda por longo
período, a moeda de referência
e de troca nas transações
internacionais. O renminbi está
ampliando o seu uso, fruto dos
acordos de swap de moedas
que a China tem concluído com
um grande número de países,
inclusive com a União Europeia.
Mas a China precisará gerar um
grau muito elevado de confiança
nos mercados para que sua
moeda atinja o status do dólar.
Isso levará algumas décadas, ou
simplesmente não ocorrerá.
É muito provável que a China
abra a conta de capital em
menos de dez anos, absorva
um volume extraordinário de
investimentos de portfólio do
mundo inteiro e que o mercado
financeiro chinês modernizese mais rapidamente do que
se prevê. Mas o renminbi não
se tornará facilmente uma
alternativa ao dólar.
Os Estados Unidos parecem ser,
hoje, um país onde a formação
de consensos políticos é mais
difícil do que anteriormente. As
divergências entre democratas e
republicanos na gestão da crise
de 2008 foram desastrosas e o
surgimento de movimentos como
o Occupy Wall Street é sinal de
que há algo novo a fragilizar
o sistema político americano.
Se essa tendência persistir,
irá, inevitavelmente, abalar a
confiança na economia e na
moeda. Mas é previsível imaginar
que a racionalidade prevaleça e
que os EUA e o dólar mantenham
sua importância relativa na
economia internacional.
Europa
A Europa, que por séculos
exerceu a liderança das grandes
tendências — afinal, a base
intelectual do capitalismo e da
democracia veio da Europa.
A Europa, nos anos 80 e 90,
fixou standards de privatização
e gestão de serviços públicos
que foram copiados em muitos
outros países; foi a formação
da União Europeia que fez
desencadear a pletora de
acordos de livre comércio que
se viu no mundo — ocupará
uma posição de menor força
na definição de novos rumos
para a economia internacional.
Continuará, é claro, a ter peso
no comércio mundial, nos fluxos
de capital, na modernização
da indústria. E, possivelmente,
o acordo de livre comércio
Europa-EUA vai estabelecer
novos padrões regulatórios para
vários segmentos que acabarão
sendo seguidos — ou impostos
— aos demais países do mundo.
Mas o peso relativo da região
será menor. Os modelos de
comportamento econômico virão
dos EUA ou da Ásia.
Países com
influência regional
Haverá um grupo de países
com uma trajetória solo, com
influência regional e no seu
entorno ou com peso relativo
próprio. Nesse grupo incluemse a Índia, a Rússia, o Brasil, a
África do Sul, a Austrália e talvez
alguns africanos, como a Nigéria
ou Angola. Tais países serão
mais ou menos relevantes na
definição dos rumos da economia
internacional, na medida em
que suas políticas tenham
maior ou menor qualidade.
Alguns deles exercerão uma
liderança regional, como será
inevitavelmente o caso do
Brasil, mas nenhum deles fixará
padrões de conduta a serem
internacionalmente copiados.
A Índia e a Austrália, assim
como a Nova Zelândia, têm
dado mostras variadas de que
farão o possível para integrarRBCE - 117
7
Outro acordo de
impacto global será a
Parceria Transpacífica,
lançada pelos Estados
Unidos, em fase de
negociação e com
resultado esperado
para 2015
se à grande comunidade
econômica do leste asiático.
Mas, ainda que consigam graus
crescentes de aproximação
com a região, sempre gozarão
de um status diferenciado. A
Austrália até poderá ter uma
interação maior com a China,
se concluir com ela o acordo de
livre comércio em negociação.
A Nova Zelândia já tem um
ALC com a China. A interação
entre a Índia e a China é menos
provável. O comércio vaise
ampliar, mas a Índia dá poucos
sinais de que será um país
mais aberto, e a estratégia de
penetração chinesa envolve
investir fora.
Não há nenhuma razão para
acreditar que o México e o
Canadá perderão o vínculo
privilegiado com a economia
dos Estados Unidos ou para
antecipar o surgimento, na
América do Sul, de algum
país que venha a exercer uma
liderança econômica diferente da
que hoje se registra na região.
Oriente Médio
O Oriente Médio terá uma
presença garantida na
provisão de capitais aos
mercados internacionais e as
economias individuais dos
países apresentarão graus
mais elevados de eficiência e
bem estar, o que poderá, como
já ocorre, gerar oportunidades
comerciais para o resto do
mundo. Além disso, os países
da região terão uma relação
privilegiada com outros
países muçulmanos fora da
região (Malásia e Indonésia,
principalmente) e, com eles,
8 RBCE - 117
buscarão desenvolver um
enfoque muçulmano para temas
econômicos. Os bônus islâmicos,
já razoavelmente desenvolvidos,
são um exemplo disso. Mas o
peso de produtos dessa natureza
será reduzido.
Acordos de comércio
e OMC
À parte a visão do mundo
baseada na importância
individual dos países ou regiões,
os acordos de livre comércio
terão relevância crescente
e poderão ora fortalecer,
ora quebrar a dinâmica
essencialmente regional de
funcionamento das economias.
O acordo China-JapãoCoréia está no primeiro grupo.
Contribuirá para consolidar um
Leste asiático mais entrosado
economicamente. O acordo EUAUE pode quebrar a dinâmica
introspectiva da economia
europeia.
Outro acordo de impacto global
será a Parceria Transpacífica,
lançada pelos Estados Unidos,
em fase de negociação e com
resultado esperado para 2015.
Concebida pra contestar o peso
da China no Pacífico, a Parceria
deve entrar preliminarmente
em vigência em 2015. É
prematuro avaliar o seu impacto.
Possivelmente, estimulará o
comércio e investimentos entre
países maiores na área do
Pacífico (EUA, Japão) e países
menores da América Latina, Ásia
e Oceania. É pouco provável,
contudo, que a Parceria chegue
a abalar o peso da China para
os países do Pacífico no seu
entorno, sendo que não está
descartado que a própria China
possa aderir em algum momento.
Imaginar que o Pacífico possa
ter um movimento comercial
expressivo sem o envolvimento
da China é um wishful thinking.
A possibilidade de um
breakthrough na recuperação do
enfoque multilateral dos temas
comerciais parece remota no
momento. Nenhum país tem
dado sinais de entusiasmo por
tal recuperação. O fato de o
mundo ter vivido sucessivas
crises financeiras fez com
que os Governos relutassem
em perder os resquícios de
liberdade que guardam nas
políticas comerciais. Além
disso, a OMC funcionou
como grande catalizadora de
entendimentos comerciais
globais enquanto suas decisões
eram capitaneadas por um
pequeno número de atores
influentes — três, na verdade:
EUA, UE e Japão. A China não
tinha o peso comercial que
tem hoje e nem mesmo era
membro da Organização; os
emergentes participavam das
decisões globais mais com uma
estratégia de defesa de sua
autonomia para aumentar tarifas
e recorrer a barreiras comerciais
do que com uma estratégia de
integração aos fluxos comerciais
internacionais.
Crises financeiras
Tudo leva a crer que a realidade
financeira internacional nas
próximas décadas repetirá o
padrão dos últimos 20 anos:
crises sucessivas.
Como as crises que o mundo
vivenciou desde a segunda
metade dos anos 90 não
geraram grandes transformações
na regulação dos mercados nem
no comportamento estrutural das
instituições financeiras, o mais
provável é que o mundo viva
ciclos de prosperidade-criseprosperidade, com períodos de
ampliação e de estrangulamento
da liquidez e surpresas
sucessivas no cenário dos fluxos
de capital. Os países em crise
não serão necessariamente
os mesmos, haverá crises de
maior e de menor duração, mas
que tenderão a ter um impacto
global, ou seja, o fenômeno do
contágio veio para ficar.
Um tema difícil é avaliar qual
será o impacto das crises
quando a China tiver uma
economia aberta e mais
integrada ao mundo financeiro
internacional. Ou seja, admitindose que a China praticará graus
crescentes de abertura para
investimentos estrangeiros,
ela funcionará como um
amortecedor do impacto das
crises ou, ao contrário, acabará
sendo também dragada pelo
impacto de problemas externos?
Dada a dimensão da economia
chinesa e a sua elevada taxa de
poupança, a primeira hipótese
parece mais plausível. É possível
mesmo que os graus de abertura
que venham a ser praticados
ao longo de uma década ou
mais não sejam suficientes para
que a China efetivamente se
integre de forma abrangente
aos fluxos internacionais. Hoje,
as instituições financeiras
estrangeiras só podem investir
em ações e títulos de renda
fixa chineses quando lhes são
alocadas quotas dentro de
um programa chamado QFII
(Qualified Foreign Institutional
Investors).
Brasil
É impossível conceber
a diplomacia econômica
desvinculada dos rumos da
economia interna. Isso ocorreu
no passado, quando o grau
de integração que tínhamos
à economia internacional
era reduzido e os diplomatas
acreditavam que a visão
essencialmente política dos
temas pudesse influenciar a
realidade econômica.
Nos anos 80, enquanto a
economia brasileira vivia um
estado elevado de desordem, os
diplomatas brasileiros lideravam
os debates de temas como um
código de conduta restritivo
à operação de empresas
multinacionais, um sistema
de preferência tarifária entre
países em desenvolvimento
cujo objetivo era levar as
economias em desenvolvimento
a depender menos de economias
amadurecidas ou, ainda, o
aumento expressivo do fluxo de
assistência ao desenvolvimento,
independentemente das políticas
em curso nos países receptores.
Hoje, não há mais espaço para
esse tipo de postura. Nem
existe mais a convicção de
que algum país possa ter força
política relevante no debate
econômico internacional sem
manter a casa em ordem, sem
gerir a sua economia interna
RBCE - 117
9
O Itamaraty,
frequentemente,
defende operações
de financiamento a
projetos de empresas
brasileiras no exterior
que não encontram
apoio no Tesouro
com padrões de racionalidade
internacionalmente aceitáveis.
Em outras palavras, se
mantivermos a solidez fiscal,
uma política monetária sólida
voltada para o controle da
inflação, contas externas
equilibradas e políticas sociais
eficientes, teremos mais chances
de exercer alguma influência
nos debates sobre a economia
internacional. Caso contrário,
as chances se reduzirão ou se
tornarão nulas.
A formação de consensos
internos sobre os temas
econômicos externos nunca
foi simples no Brasil. Temos
Ministérios vocacionados
para defender interesses
setoriais (o Ministério da
Agricultura, o MDIC) que não
necessariamente coincidem nos
temas comerciais. Ao contrário:
frequentemente divergem sobre
os rumos a seguir. Ao mesmo
tempo, temos Ministérios sem
um viés definido (a Fazenda, o
Itamaraty), mas cujas análises
contêm ênfases próprias. O
Itamaraty, frequentemente,
defende operações de
financiamento a projetos de
empresas brasileiras no exterior
que não encontram apoio no
Tesouro, cujo dever de ofício é
defender o rigor fiscal.
No campo comercial, a criação
da CAMEX, no Governo FHC,
foi um bom passo para ampliar a
construção de consensos. Mas
o consenso frequentemente é o
mínimo denominador. Ele inibe
naturalmente políticas mais
agressivas e audaciosas.
Isso ajuda a explicar por
10 RBCE - 117
que razão as mudanças de
Governo no Brasil não refletiram
mudanças das posições sobre
uma série de temas. Nossa
política comercial sempre deu
ênfase ao multilateralismo e
desdenhou acordos bilaterais de
livre comércio, mesmo quando
esses acordos passaram a
ganhar força no mundo. É mais
fácil fixar um teto tarifário a ser
praticado pelo Brasil no contexto
da OMC do que construir
consensos internos em torno
da ideia de zerar tarifas no
contexto de um acordo de livre
comércio. Sempre defendemos
o aprofundamento do Mercosul,
mesmo quando os rumos da
União Aduaneira não ofereciam
qualquer perspectiva para tal
aprofundamento. Não faltaram
autoridades a declarar que a
solução para os problemas do
Mercosul é mais Mercosul, ainda
quando todos reconhecessem
que a sobrevivência do bloco
estava vinculada a uma estrutura
tarifária cheia de exceções
e voltada para atender às
expectativas de cada um dos
integrantes, não do grupo.
Nossas posições no debate
financeiro multilateral sempre
foram traçadas exclusivamente
pelo Ministério da Fazenda.
Tiveram uma mudança de ênfase
na passagem do Governo FHC
para as Administrações do PT
— antes disso, o problema da
dívida inviabilizava qualquer
posição substantiva brasileira
— mas o fato é que o mundo
tem vivido crises sucessivas
desde que estabilizamos a
economia e as posições que
assumimos estão diretamente
vinculadas às circunstâncias de
crise. Além disso, o Brasil tem
reduzidas condições de opinar,
com credenciais e conhecimento
de causa, sobre temas como a
regulação dos mercados mais
avançados de capitais.
Uma parte importante da
função diplomática sempre foi
abrir espaço para exportações
e fomentar a atração de
investimentos. Mas o Brasil
sempre teve baixa eficiência na
gestão desses dois tópicos.
De um lado, porque a atração
de investimentos tornou-se um
tema eminentemente estadual.
As tentativas federais de
políticas nessa matéria foram
sempre um tanto frustradas.
Tem havido mais pró-atividade,
recentemente, na divulgação dos
investimentos de infraestrutura e
das oportunidades na exploração
de petróleo, mas o desempenho
brasileiro ao longo do tempo
tem sido pouco efetivo e algo
desorganizado.
Na parte comercial, tem-se
tentado fazer mais, mas o fato é
que o setor público tem mesmo
limites na assistência que pode
oferecer ao mundo empresarial.
A DIPLOMACIA NO
CENÁRIO ATUAL
Em diversos países o processo
de adaptação da diplomacia às
mudanças que ocorreram nas
últimas décadas foi mais lento do
que se poderia esperar.
Na verdade, não foi só o
mundo que mudou. Mudaram
as práticas de interlocução
internacional: (i) criaram-se
mecanismos quase informais
como o G20, cujo propósito
é a concertação de políticas
e não a tomada de decisões;
(ii) a diplomacia presidencial
ganhou destaque, o que
transformou os diplomatas
em grandes assessores,
quando antes os Presidentes
sentavam-se em reuniões
internacionais para fazer o
que os diplomatas queriam ou
apenas ler o que escreviam;
(iii) multiplicou-se o volume de
informações disponíveis sobre
as mais diferentes realidades
e, sobretudo, aumentou a
velocidade de circulação das
informações, em particular das
informações econômicas; (iv)
em vários setores, Ministros e
funcionários governamentais
passaram a encontrar-se
regularmente, a telefonar-se
com frequência, comunicarse por e-mail e, assim, trocar
opiniões, forjar posições comuns
sobre diferentes temas ou
acertar entendimentos bilaterais.
A intermediação diplomática
tornou-se menos necessária.
Na lógica da modernidade, não
seria de todo absurdo dizer que
a diplomacia deveria downsize.
Não surpreenderia que algum
país inovador em práticas do
setor público decidisse reduzir
drasticamente o seu número
de embaixadas e diplomatas
no exterior.
Na prática, contudo, parece
estar ocorrendo o oposto.
Por várias razões, entre
elas algumas de simples
compreensão: há um bom
número de países novos
(os que passaram a ter
personalidade jurídica própria
com o desmantelamento da
União Soviética, por exemplo)
que estão encantados com
a ideia de ter uma presença
no cenário externo. Eles
abrem embaixadas e esperam
reciprocidade. Há países
que estão aprendendo a se
internacionalizar (os do Oriente
Médio, por exemplo, com
suas linhas aéreas e os seus
fundos de investimento), os
africanos estão mais vinculados
à economia internacional,
atraindo investimentos em
mineração e agricultura e,
assim, justificando embaixadas.
Ao lado disso, com o aumento
do turismo e de viajantes de
toda parte para toda parte,
as demandas consulares
ampliaram-se, o que passou
a dar mais trabalho às
Chancelarias, justificar a
abertura de representações no
exterior e fez crescer o viés
da atividade diplomática como
prestadora de serviço aos
cidadãos. Ao mesmo tempo,
a multiplicação das redes
sociais em diferentes línguas e
com diferentes perfis levou os
diplomatas a desbravar uma
nova área em que normalmente
operavam pouco: a da
comunicação.
O grande ativo da diplomacia
está nos recursos humanos.
E o problema está em formar
recursos com uma visão
prospectiva e uma perspectiva
contemporânea, compatível com
os desafios que a organização
mundial e a temática dos
novos debates apresentam
aos diplomatas.
RBCE - 117
11
Nossos vínculos com
o mundo oriental
e com a China, em
particular, obviamente
se ampliarão
Diplomacia no Brasil:
algumas sugestões
O mais óbvio dos desafios no
mundo atual é a compreensão
do mundo asiático. Diversos
países não se prepararam para
a emergência dos asiáticos. O
Brasil foi um deles e a corrida
contra o tempo perdido não tem
atalhos. Formar profissionais
especializados na realidade
chinesa, por exemplo, com
domínio da língua, compreensão
da cultura e das diversas
particularidades da realidade não
é esforço de resultados rápidos.
É excessivo, contudo,
acreditar que o peso de nossa
prioridade diplomática penderá
decisivamente para o Oriente.
Nossos vínculos com o mundo
oriental e com a China, em
particular, obviamente se
ampliarão. Estão aí o consórcio
para a exploração do campo
de Libra, o banco dos BRICS,
as vendas de commodities
para mostrar que as relações
terão um nível crescente de
complexidade. Mas a densidade
do envolvimento econômicocomercial brasileiro com a China
e com o Leste asiático, em geral,
terá limites dados pela própria
economia brasileira.
O mercado é grande demais
para a estrutura de produção da
expressiva maioria de nossas
empresas. Alcançá-lo com itens
que não sejam “commodities”,
onde o Brasil acumulou um
grau de eficiência elevado,
requer uma musculatura que
não temos no momento e
cujo desenvolvimento envolve
investimento pesado, uma
12 RBCE - 117
noção avançada de branding,
conhecimento das práticas
locais. A China é um país
altamente segmentado, onde
a cultura local tem peso forte.
Chegar aos seus consumidores
— pessoas ou empresas — de
forma significativa é um esforço
considerável.
Além disso, a China ainda
está em processo acelerado
de mudanças. A nova fronteira
chinesa neste momento é o
Oeste, onde muitas empresas
estrangeiras já estão instaladas
e um número grande delas está
planejando a abertura de novas
unidades de representação ou
de produção. Acompanhar tais
mudanças requer um esforço no
qual muitas empresas brasileiras
preferem não apostar.
Não é simples definir o
instrumental necessário para que
a diplomacia possa enfrentar os
desafios econômicos futuros.
Na realidade, talvez até seja
mais lógico falar não apenas
numa diplomacia preparada,
mas num setor público eficiente
no seu conjunto, mais hábil a
lidar com os temas externos.
Mas eis algumas sugestões:
1. A diplomacia precisa dispor de
um grupo de profissionais com
conhecimento aprofundado
do setor privado brasileiro.
Os diplomatas, em geral,
são generalistas. Mesmo
os que operam na área de
promoção comercial veem
seu papel como o de abrir
portas: organizar seminários,
encontros empresariais.
Estão corretos. Mas num
país como o Brasil, onde a
maioria das empresas foca a
sua atenção exclusivamente
no mercado interno, é preciso
não só abrir portas, mas
empurrar o empresário para
cruzá-las. O MDIC e a Camex
têm programas regulares
de educação do empresário
para exportar. Os traders,
tradicionalmente, fizeram a
intermediação comercial. Já
foram bem mais ativos no
passado; seu papel ainda tem
relevância. Mas basta olhar os
indicadores básicos de nosso
desempenho exportador e
de internacionalização das
empresas para entender
que estamos aquém de
onde deveríamos estar. Há
explicações econômicas para
isso, e atribuir o resultado do
desempenho pouco ativo das
empresas no setor externo à
ineficiências da diplomacia
seria absurdo. De um modo
geral, contudo, parece claro
que a diplomacia precisa
revisitar as estratégias de
sua atuação na promoção
comercial, penetrar mais na
teia do setor privado, ajudálo a compreender o exterior
e ser mais eficiente na
internacionalização de
vendas e investimentos das
empresas brasileiras.
2. A diplomacia deveria melhorar
a sua interlocução no
debate econômico interno. A
informação econômica que a
diplomacia tem condições de
produzir poderia ser veiculada
mais livremente. É verdade
que hoje há muita produção
de informação de qualidade
sobre a economia externa e
o desempenho individual dos
países. Os bancos privados,
por exemplo, produzem uma
quantidade extraordinária
de relatórios, inclusive
sobre economias que antes
não eram acompanhadas
regularmente por eles, como
as asiáticas. Os think tanks, os
órgãos de pesquisa e reflexão
econômica também produzem
muita informação econômica.
A diplomacia poderia oferecer
mais livremente as suas
informações, trazer à tona
os elementos de análise ao
seu alcance, que são muitos.
Há um constrangimento
natural para isso, é verdade.
Não cabe a um órgão oficial
brasileiro fazer publicamente
avaliações de outros países.
Mas há muita informação que
não gera problemas.
3. Os serviços que as
representações diplomáticas
são capazes de prover aos
segmentos produtivos da
economia no exterior poderiam
ser remunerados. Muitos
países atualmente — França e
Estados Unidos, por exemplo
— cobram regularmente por
tais serviços. A cobrança e a
competição com provedores
privados dos mesmos serviços
podem ser saudáveis indutores
de eficiência e qualidade. A
alternativa seria a diplomacia
retirar-se do auxílio direto
a empresários, federações,
às múltiplas associações
de entidades privadas que
existem no país. Mas isso
seria retirar a diplomacia de
uma atividade onde ela pode
ter valor adicionado, o que
poderia ser um equívoco.
4. Conhecer o marco regulatório
de diferentes setores, as
restrições regulatórias ao
comércio e investimentos será
crescentemente relevante
para a diplomacia. Com isso,
será inevitável incorporar
ao serviço diplomático
profissionais especializados
(economistas, profissionais
de comunicação e outros)
que, se não necessariamente
exercerão o trabalho
diplomático strictu sensu,
poderão prover inputs
ao exercício da atividade
diplomática. Em outras
palavras, um bom número
de embaixadas terá que
dispor de profissionais com
conhecimento aprofundado
dos meandros regulatórios
de setores como agricultura e
pecuária, ciência e tecnologia,
educação. Pouco a pouco,
as embaixadas brasileiras
já estão abrigando os
adidos oriundos de outros
Ministérios. Isso é um
bom sinal.
5. Há que investir mais em
imagem, outreach, sobretudo
no cenário asiático, onde o
Brasil é pouco conhecido e
há a percepção de que não
somos capazes de alcançar
padrões de produção
elevados. Branding e trabalho
de imagem de países,
produtos e setores será
essencial no futuro. Na China,
há branding para tudo: o
algodão americano, o peixe do
Ártico, o salmão norueguês, e
assim por diante. Os canais de
TV abundam em publicidade
e slogans para promover
países e suas regiões, atrair
RBCE - 117
13
A nova fronteira —
Ásia — será nosso
maior desafio. Porém,
ainda é cedo para
alocarmos um bom
volume de nossos
recursos humanos no
continente asiático
investimentos, valorizar
os produtos, influenciar o
consumidor e as autoridades.
6. Será mais e mais importante,
no futuro, investir na obtenção
de informações, na formação
de bases de dados, em
software especializado para
cruzar dados e informações
que possam enriquecer
observação econômica e
instruir a formulação de
estratégias.
7. O sistema de comunicações
terá que ter maior
horizontalidade, ou seja,
representações diplomáticas
numa mesma área geográfica
terão que trabalhar em
contato mais direto, interagir
mais frequentemente.
Uma alternativa pode ser
reduzir embaixadas e formar
hubs em algumas regiões,
concentrando diplomatas
para atuar em diversos
países. A forma tradicional de
comunicação da diplomacia
— textos — terá que ser
agilizada com o uso mais
regular de teleconferências
e encontros a distância. A
Chancelaria brasileira vale-se
muito pouco de meios mais
modernos de comunicação.
À parte as orientações de
ordem essencialmente prática,
a diplomacia, como qualquer
outra atividade conta com
recursos limitados. A eficiência
na alocação dos recursos
humanos dará a medida
dos resultados que podem
ser alcançados.
As prioridades brasileiras não
se alterarão radicalmente nas
14 RBCE - 117
próximas décadas. Os países
do nosso entorno (o Mercosul, a
América Latina) serão o nosso
foco máximo de atenção, assim
como a relação com os Estados
Unidos e a Europa será chave.
É nessas áreas onde estará o
maior contingente de nossos
diplomatas. O universalismo nos
acompanhará, ou seja, teremos
vínculos econômicos de maior
ou menor dimensão com países
nas mais diversas regiões do
globo, mas sempre faltará gente
para alocar em toda parte. A
nova fronteira — Ásia — será
nosso maior desafio. Porém,
ainda é cedo para alocarmos um
bom volume de nossos recursos
humanos no continente asiático.
Primeiro, porque a relação com
a Ásia está em construção.
Já ganhou um grau elevado
de relevância com o fato de a
China ter se tornado o nosso
primeiro parceiro comercial e
dela se originar o maior fluxo
de investimentos diretos na
economia brasileira. Mas a
densidade financeira é pequena,
o comércio tem padrões baixos
de envolvimento de empresas,
o diálogo político ainda é
relativamente distante.
À parte o dilema de onde
concentrar recursos escassos,
será necessário estabelecer
uma relação mais direta
entre a alocação de recursos
e resultados.
Como dito anteriormente, é
inevitável concentrar recursos
humanos e energias no nosso
entorno, particularmente no
Mercosul. Mas, à medida que o
Mercosul avance pouco, volte
frequentemente aos mesmos
temas (as exceções à TEC,
a ausência de tarifa zero nas
trocas internas entre os membros
da União aduaneira), perdemos
tempo que poderia ser investido
em oportunidades que se
apresentam em outros contextos.
A tendência brasileira sempre
foi conviver com a ineficiência
de resultados como se isso
não tivesse impacto sobre
a capacidade de explorar
oportunidades que se abrem no
cenário externo. É um equívoco.
Se tivéssemos empregado
todo esforço que empregamos
para bombardear a Alca em
ações concretas de penetração
em novos mercados, talvez
tivéssemos obtido bons ganhos
para nossas exportações.
Com a velocidade que os
temas avançarão no mundo
nas próximas décadas, novas
oportunidades se abrirão.
As perdas derivadas de uma
alocação ineficiente de recursos
poderão ser maiores.
A noção de eficiência não está
usualmente implícita na atividade
diplomática. Mas é um tanto
inevitável incorporá-la de alguma
maneira, se imaginarmos que
os desafios e oportunidades que
se apresentarão nos próximos
vinte ou trinta anos serão
consideravelmente maiores
do que os atuais.
Outra consideração: o Brasil
sempre tendeu a ter uma atitude
de cooperação sem exigências
com vizinhos e países menores.
Sempre buscamos ampliar
empréstimos a vários desses
países onde nossas empresas
construtoras encontram mercado
para seus serviços, sem nunca
discutir com eles a qualidade
de suas políticas econômicas,
os elementos que, em última
análise, garantem que os
empréstimos serão pagos.
As reduzidas tentativas de
introduzir o tema da disciplina
macroeconômica no Mercosul
nunca tiveram verdadeiro peso.
Talvez tenhamos agido assim
porque nunca tivemos segurança
de que as políticas macro
ajustadas vieram para ficar na
nossa própria realidade. Como
vendê-las aos nossos parceiros?
A diplomacia sempre procurou
desvincular-se das políticas
econômicas em curso no
país. Não poderá ser assim
para sempre.
Se aumentarmos a densidade
de nosso relacionamento
econômico-comercial com países
menores, será inevitável passar
a discutir com eles questões
vinculadas à gestão econômica
e esperar deles alguma
garantia de solidez em
suas políticas internas.
a alocação dos seus recursos
humanos, abrir-se a profissionais
especializados, modernizar-se
tecnologicamente e transformar
constantemente os métodos
de atuação.
A diplomacia será, em larga
medida, refém das políticas
internas, da qualidade dos
governos, da seriedade dos
projetos nacionais. Se a
realidade interna faltar, por
mais que o trabalho diplomático
busque ser competente, não
realizará muito. Em suma,
é menos o método e mais a
substância o que contará de fato.
A diplomacia não pode ser outra
coisa senão a projeção do país.
Para se viabilizar no futuro, o
Brasil terá que rever o pacto
político — o atual parece estar
se esgotando mais rapidamente
do que se imaginava —, manter
o equilíbrio econômico, aumentar
o grau de abertura à realidade
externa e contar com um setor
privado que esteja disposto a
avançar no cenário externo. Se
tudo isso ocorrer de uma forma
razoável, será bem mais fácil
conduzir a atividade diplomática. ■
REFLEXÕES FINAIS
O mundo do futuro será mais
competitivo, a realidade se
transformará com frequência, a
economia internacional viverá
altos e baixos sucessivos e nela
se operarão transformações
abruptas e rápidas. A diplomacia
econômica terá que se adaptar a
isso, renovar-se com velocidade
— o que é sempre difícil no setor
público —, rever prioridades com
frequência, revisar regularmente
RBCE - 117
15