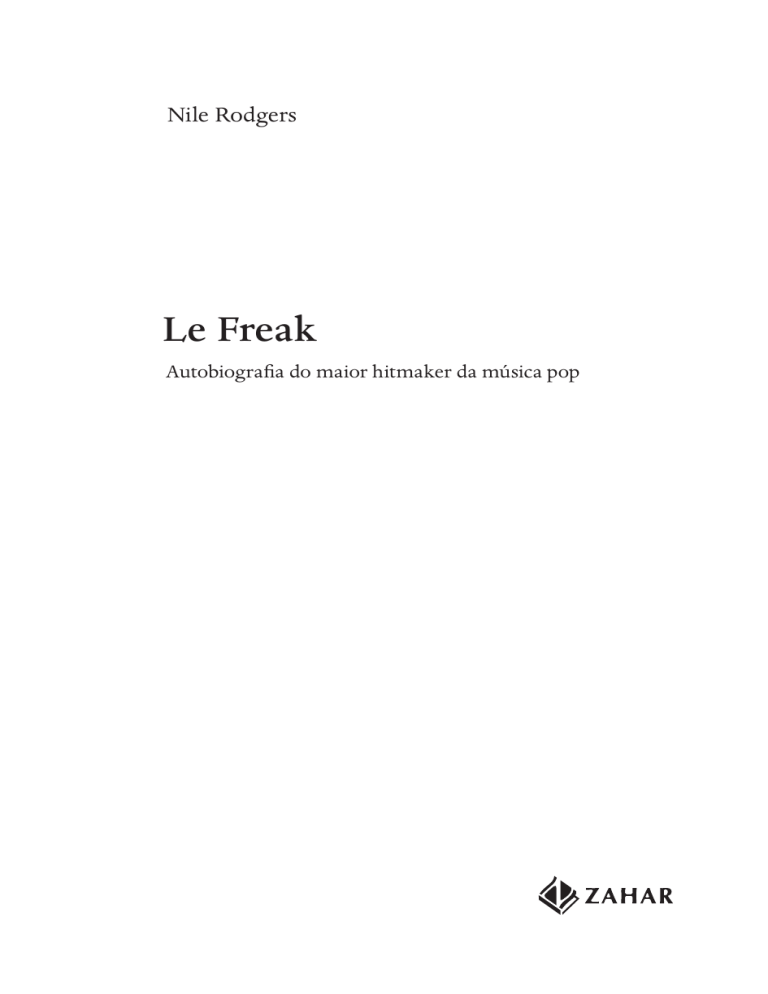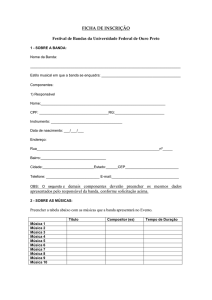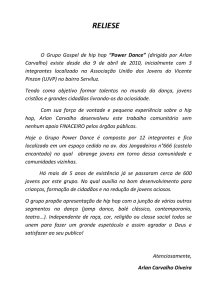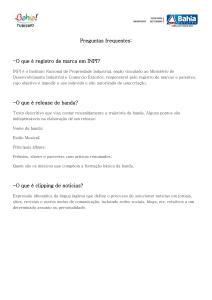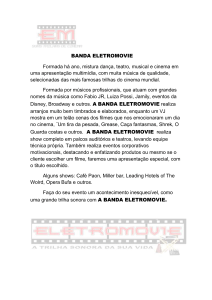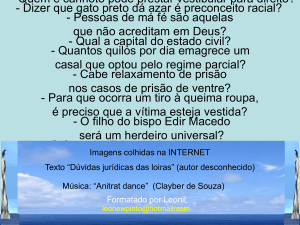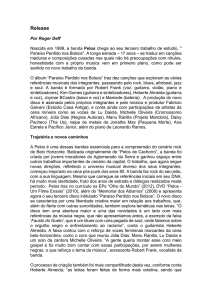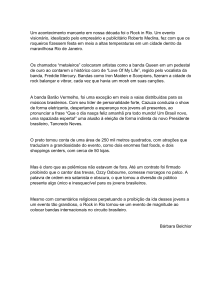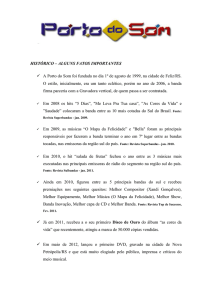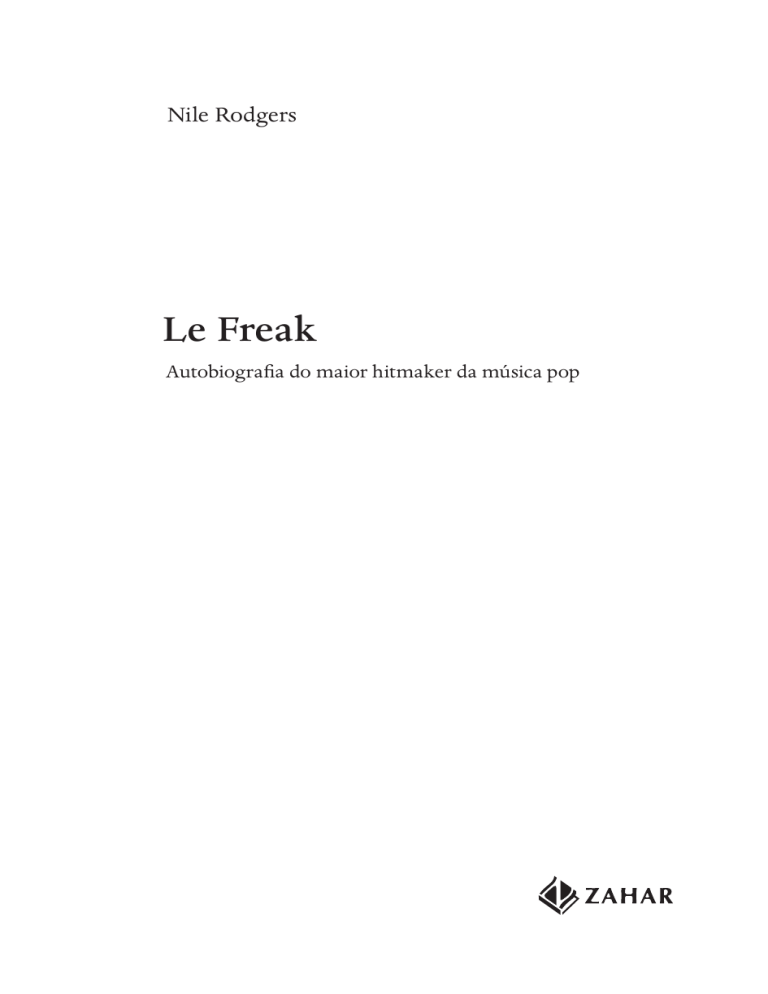
Nile Rodgers
Le Freak
Autobiografia do maior hitmaker da música pop
Este livro é dedicado às minhas famílias biológica, espiritual e musical.
Sem vocês, eu não existiria. Amo muito vocês.
Título original:
Le Freak
(An Upside Down Story of Family, Disco and Destiny)
Tradução autorizada da primeira edição americana, publicada em 20
por Spiegel & Grau, um selo de The Random House Publishing Group,
uma divisão de Random House, Inc., de Nova York, Estados Unidos
Copyright © 20, Nile Rodgers
Copyright da edição brasileira © 205:
Jorge Zahar Editor Ltda.
rua Marquês de S. Vicente 99 ‒ o | 2245-04 Rio de Janeiro, rj
tel (2) 2529-4750 | fax (2) 2529-4787
[email protected] | www.zahar.com.br
Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo
ou em parte, constitui violação de direitos autorais. (Lei 9.60/98)
Grafia atualizada respeitando o novo
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa
Tradução: Cristiano Botafogo | Preparação: Diogo Henriques, Nino Pena
Revisão: Eduardo Monteiro, Carolina Sampaio
Indexação: Nelly Praça | Capa: Estúdio Insólito
cip-Brasil. Catalogação na publicação
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, rj
Rodgers, Nile
R594f Le Freak: autobiografia do maior hitmaker da música pop/Nile Rodgers; [tradução Cristiano Botafogo]. – .ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 205.
il.
Tradução de: Le Freak (an upside down story of family, disco and destiny)
Inclui índice
isbn 978-85-378-460-4
. Rodgers, Nile. 2. Músicos – Estados Unidos – Biografia. 3. Compositores – Estados Unidos – Biografia. 4. Executivos de gravação de som e produtores – Estados Unidos – Biografia. I. Título.
cdd: 927.864
5-22447cdu: 939:78.067.27
7. O Chic acontece: ascensão e
chamado da revolução disco
Era uma noite de sexta-feira de início de outono no Fairtree Lounge, um
badalado local no Bronx que apresentava música ao vivo para uma plateia
que parecia saída de um filme Blaxploitation. Estávamos no início dos anos
70, então camisas de poliéster com gola pontuda, chapéus de aba larga e
ternos de lã com padrões missoni eram roupas comuns.
Um amigo guitarrista havia me recomendado de última hora para
substituir o guitarrista da banda contratada por Hack Bartholomew, que
era melhor do que a média. Como eu era substituto, não conhecia ninguém no palco, mas eles estavam tocando uma música de R&B chamada
113
114 Vá, se quiser
“Sissy Strut”, em dó. Pulei no palco com minha guitarra de jazz archtop e
me juntei a eles.
A banda de Bartholomew não era de primeira linha, mas o trompete de
Hack tinha um toque soul, e ele tocava com Joe Simon, que fazia sucesso nas
paradas do gênero. Hack era um excelente bandleader e sabia fazer um bom
show: o que era fundamental para trabalhar no Fairtree, um lugar mediano
no infame Circuito Chitlin’ – uma série de casas de shows para negros que
ia de Buffalo, em Nova York, até o sul da Flórida. Do mesmo modo como os
artistas judeus tinham o Cinturão Borscht, os músicos de soul tinham o Circuito Chitlin’. A maioria das bandas de R&B a leste das Montanhas Rochosas trabalhava nesses lugares de algum modo. Sem o Circuito, não haveria
Commodores, Impressions, Marvin Gaye, LaBelle, Hendrix ou Funkadelic.
Tocar nessas casas – que, em termos de decoração, iam de versões guetificadas e ostentosas do bar de Guerra nas estrelas até barracos com teto de
zinco típicos do Cinturão da Bíblia* – era a principal fonte de renda para
a maioria dos músicos que conheci na época. Era o nosso equivalente à
terceira divisão do futebol. Você ainda estava longe da primeira, mas era
preciso percorrer aquele caminho. E embora fosse a terceira, a plateia do
Fairtree era difícil e estava acostumada a ver apresentações de qualidade,
de artistas que acabariam se tornando grandes astros e estrelas. Se alguém
pedisse “Chocolate Buttermilk”, “Pusher Man” ou até mesmo “I Want You
Back”, era melhor que a banda tocasse e tocasse bem.
Se fosse qualquer outra noite, eu a teria classificado como “apenas mais
um show”. Só que havia algo especial em relação à banda: o baixista, Bernard
Edwards. Nós já havíamos conversado ao telefone alguns meses antes sobre
tocar juntos, mas não chegamos a um acordo. Bernard não se impressionava
com minhas ideias vanguardistas de fundir música clássica, jazz e rock, e
me disse, sem meias palavras, para jogar fora seu número de telefone. Mas
quando começamos a tocar juntos naquela noite, bom, foi como se telepaticamente soubéssemos o que o outro estava pensando. Os dois caras novos
assumiram o controle da unidade, e a qualidade do show de Hack subiu mais
alguns degraus. A banda parecia estar totalmente ensaiada.
* Ampla região no sul/sudeste dos Estados Unidos de forte influência protestante. (N.T.)
O Chic acontece
115
Se alguém não conhecesse as músicas, Bernard e eu cantávamos as mudanças. Instintivamente, formamos uma parceria temporária para deixar
a banda bem azeitada para Hack, de modo que ele pudesse se concentrar
em ser o astro do show. Mal sabíamos que esse seria nosso principal papel
pelo resto de nossas vidas.
Pensando naquela primeira noite, consigo ver e ouvir claramente a malemolência tradicionalista soul do meu futuro parceiro. Nard estava vestido
de um jeito estiloso, mas também conservador. Usava calça de seda com
bolsos traseiros, sapatos Playboy e uma bly. Os sapatos pareciam uma sapatilha, só que com solas de borracha de 2,5cm de altura, e a bly, se é que
era esse mesmo o nome, era uma camisa de tricô com padrões complexos. Eu estava usando meus trajes hippie normais. Éramos tão diferentes
quanto o dia e a noite, mas, assim como o dia e a noite, não é possível ter
um sem o outro.
A partir de então nos tornamos inseparáveis. Se eu fosse contratado
para um show, fazia de tudo para que Nard também entrasse, e vice-versa.
Durante as semanas seguintes, tocamos juntos em alguns shows de boogalloo (isto é, nos quais eram apresentadas músicas de R&B que estavam
fazendo sucesso no momento), até recebermos um novo telefonema de
Hack nos chamando para tocar em uma casa de shows italiana mais chique,
onde também apresentaríamos clássicos do jazz. Não lembro ao certo o
nome do lugar (acho que era Delmonico’s), mas ficava na avenida Morris
Park, no leste do Bronx, uma parte da cidade mais vazia na qual morei em
vários momentos da vida com Beverly e Graham.
Não era uma vida de fama e glamour, mas era melhor do que os shows
do Circuito Chitlin’. Para mim, infelizmente, essa vida foi curta. Fui demitido da banda de Hack Bartholomew na primeira noite porque minha
namorada, Connie, foi me ver tocar. Segundo a direção do lugar, eles não
gostaram da forma como ela estava vestida. Bernard pressentiu que al-
116 Vá, se quiser
guma coisa ia dar errado. “Cara”, lembro de seu alerta quando a viu entrar
no lugar, “a Connie está de farol altíssimo.” Minha namorada tinha vindo
ao show com um vestido de grife bem decotado. Pensem em um corpete
de lã invertido, que fechava na frente a partir do umbigo. O decote ia se
abrindo até chegar aos seios. Bem Sophia Loren. Fui expulso e acabei recebendo o pagamento por apenas metade da noite. “Ei, cara, não dá pra ter
isso aqui”, disse-me o dono da casa, que era branco. Ele nunca me explicou
o que era “isso” que eles não podiam ter lá, mas nem precisava. Seria a
última vez que eu trabalharia com Hack, mas era o começo de uma vida
de trabalho com Bernard Edwards.
Nard e eu tocamos juntos no Circuito Chitlin’ até 977. Do fundo do
palco, aprendemos o básico de como montar uma produção musical de
sucesso. Em 973, Nard conseguiu um trabalho que mudaria nossas vidas.
Ele foi chamado para ser diretor musical de um grupo vocal chamado New
York City, que era conhecido por tocar música soul ao estilo da Filadélfia,
apesar do nome. O NYC tinha contrato com a Chelsea Records, cujo dono
era Wes Farrell, que era casado com Tina Sinatra. Os dois transitavam
muito pelo aeroporto Van Nuys, uma ironia que não cheguei a explicar
a meus amigos. Adotamos o nome Big Apple Band enquanto banda de
apoio do NYC.
O New York City conseguiu emplacar um sucesso, “I’m Doing Fine
Now”, do extraordinário produtor e compositor Thom Bell, mais conhecido na época pelo trabalho com os Delfonics, os Stylistics e os Spinners.
Logo estaríamos excursionando pelo mundo. Durante algum tempo, estávamos com a bola toda. Tocamos em lugares grandes com uma série de
artistas de R&B como os O’Jays e o Parliament-Funkadelic; até abrimos
para os Jackson 5 em algumas datas americanas da sua primeira turnê
mundial. O soul ao estilo Filadélfia do NYC estava explodindo. Thom Bell
estava no auge, e seu soul elegante e sofisticado dominava as paradas de
sucesso de R&B e pop.
Embora a Big Apple Band não tenha participado das gravações de Bell,
tocávamos ao vivo muito bem. Bernard e eu sempre tentávamos fazer
com que a música ao vivo soasse bastante fiel aos discos, como havíamos
O Chic acontece
117
feito antes na banda de Hack. Mas essa era a primeira vez que eu tocava
para grandes plateias. Nos shows da Vila Sésamo, eu tocava no fosso da
orquestra e, basicamente, ficava escondido. Agora, aos 2 anos, as coisas
estavam mudando depressa.
Quando comecei a tocar com o NYC, eu só comia comida orgânica (de
preferência macrobiótica). Não bebia, não fumava, nem usava drogas. Estava inteiramente dedicado aos estudos de guitarra, que abracei com a
disciplina de um monge. Minha personalidade causava certo desconforto
entre meus chefes do New York City, pois achavam que eu era gay. Na
opinião deles, essa era sem dúvida a única explicação possível para meus
hábitos estranhos.
Olhando em retrospecto, eu até consigo entender. Havia muitas garotas se atirando nos membros da banda, mas eu não demonstrava interesse.
Só queria ler livros e estudar guitarra. Era muito tímido no palco, quase a
ponto de parecer introvertido. Ficava de cabeça baixa e nunca olhava para
a plateia. O New York City queria me demitir, mas Bernard os convenceu
a me manterem na banda.
Aos poucos, essa situação me forçou a mudar. Lembro exatamente do
dia em que aconteceu. Nós havíamos voltado ao Circuito Chitlin’, uma vez
que “I’m Doing Fine” havia saído das paradas há algum tempo. Estávamos
em Raleigh, na Carolina do Norte, quando o ônibus da turnê parou num
McDonald’s e pedi um McFish, pensando: “Bom, pelo menos é peixe!” Em
seguida, chegamos a Myrtle Beach, na Carolina do Sul, e fiquei com uma
garota do exército que me colocou para dentro do seu quarto de motel pela
janela. Antes de transarmos, ela me perguntou, com ar inquisitivo: “Você
é mesmo de Nova York, né? Conhece algum judeu?” Ao que eu respondi:
“Milhões.” Gostei tanto desse momento quanto do sexo.
Para reduzir os custos, os membros da banda dividiam quartos, e
meu companheiro de quarto era o baterista. Havia uma fila constante
de garotas atrás dele, e eu às vezes pegava as rebarbas. Fiquei com uma
série de comissárias de voo gostosas e comecei a tomar vinho – mas só
118 Vá, se quiser
durante as refeições! Sim, eu estava me comportando de um jeito mais
parecido com o dos outros caras da banda. Também estava ficando muito
mais íntimo de Bernard. Embora nunca tivesse criticado meus gostos na
minha frente (fora uma brincadeira ou outra), ele vivia tentando me transformar num soul man. Nard não era o único que me dava o tratamento
Pigmaleão. Eu tinha outra musa em Miami Beach, Marsha Ratner, líder
de um grupo de pessoas fabulosas do mundo das festas tresloucadas da
cidade. Ela também era mãe solteira, o que me fazia lembrar da minha
mãe.* Quando me viu tocar pela primeira vez, ficou imaginando por que
eu sempre virava de costas para a plateia, e, daquele ponto em diante, se
comprometeu a me ajudar a sair da casca; aos poucos, a coisa começou a
dar certo. Meu ato final de transformação também aconteceu em Miami,
mas foi de natureza musical.
Certo dia, após um show em Miami, Nard me convenceu a trocar minha querida guitarra de jazz, uma Gibson Barney Kessel semiacústica (de
corpo oco), por uma estilosa Fender Stratocaster (de corpo sólido), o equivalente guitarrístico de trocar um Range Rover por um Porsche. A banda
local que abriu para nós usou nosso equipamento, e o guitarrista deles
soava melhor do que eu no meu próprio amplificador. Nard me convenceu
de que era a guitarra que fazia a diferença. Seu plano de me transformar
em um soul man estava funcionando. Ele fazia os acordes com a mão
esquerda, mas sua mão direita tocava semicolcheias enquanto acentuava
o ritmo. Ele chamava isso de “chucking”. Bernard era guitarrista antes de
trocar para o baixo, e uma aula era tudo de que eu precisava. Nas noites
seguintes, enquanto meu companheiro de quarto tinha todo tipo de encontro amoroso, eu estava tendo um caso com minha nova guitarra no
banheiro. Em poucos dias, eu sairia dali um guitarrista de funk, mestre
no “chucking”, que conhecia mais inversões de acordes de jazz do que a
maioria dos meus colegas no R&B.
* Seu filho mais novo, Brett, acabou se tornando um famoso diretor de cinema. Conside-
ro Brett meu irmão, amigo e filho. Nossas identidades foram ambas formadas no mundo
da arte, cego às cores – e ele fica tão à vontade com Mike Tyson ou Wu-Tang Chan quanto
eu ficava com os B-52’s ou o Duran Duran.
O Chic acontece
119
Mais ou menos nessa época, conheci uma garota, Karen, que se encaixava perfeitamente na minha transformação em soul man. Ela era uma
daquelas garotas tão legais que as pessoas simplesmente gostavam de estar a
seu lado. Ela conhecia todo mundo, desde Nicky Barnes – o famoso gângster
de Nova York –, passando por DJs como Frankie Crocker, Vaughan Harper,
até dezenas de personalidades do rádio. Tendo Karen como namorada, uma
Stratocaster como guitarra e Bernard como bandleader, comecei a me encaixar de forma mais orgânica no universo do R&B. Os amigos de Karen
viraram meus amigos, e a música de Nard virou minha música também.
Nós tocávamos sobretudo com o New York City, mas às vezes a Big
Apple Band tocava sem eles. Verdade seja dita, Big Apple Band era apenas
um dos nomes que utilizávamos. Ao passo que o NYC estava perdendo
popularidade, a banda de apoio seguia carreira. Seu nome mudava dependendo do show que nossos muitos agentes e empresários conseguiam. A
única coisa que permaneceu igual em todas as versões da banda foi eu na
guitarra e Bernard no baixo. (Tivemos a sorte de trabalhar frequentemente
com dois jovens e talentosos cantores: Luther Vandross e Fonzi Thornton,
que eu conhecia desde os shows da Vila Sésamo e que gravariam com a
gente pelo resto da vida.)
Nessa época, eu e Bernard já trabalhávamos juntos há três anos. Mais
íntimos que nós, impossível. Tínhamos um alto nível de confiança artística.
Todo relacionamento que tive com qualquer outro artista é uma variação
da minha relação com Bernard. Nós ensinamos um ao outro como acreditar nas ideias artísticas um do outro; também nos ensinamos a lutar pelas
nossas ideias quando achávamos que elas serviam melhor ao projeto. E,
por um feliz acaso, criamos uma técnica de produção que seria a base de
todo e qualquer projeto no qual trabalharíamos até nosso último suspiro.
Nós a chamávamos de SPO (Sentido Profundo Oculto). A regra era que
todas as nossas músicas deveriam ter esse ingrediente. Para resumir, isso
significava entender o DNA da música e enxergá-lo de muitos ângulos
diferentes. A arte é subjetiva, mas, se soubéssemos do que estávamos falando, poderíamos transmitir essas ideias aos outros de diferentes formas,
mantendo sua verdade essencial.
120 Vá, se quiser
Em meados dos anos 70, as boates de Nova York estavam explodindo, e
o Apollo – outrora o grande teatro da moda, o mais alto patamar para os
músicos de R&B – estava se transformando em um dinossauro preso à
cultura musical negra dos anos 50 e 60.
Enquanto isso, havia uma tempestade gigantesca chamada disco se
formando no horizonte. O lugar onde eu morava estava na vanguarda
desse movimento revolucionário. A história reduziu tanto esse período
glorioso e complexo que é comum ele ser retratado como um momento
breve e descartável – a era dos Embalos de sábado à noite ou do Studio 54.
Mas ele foi muito mais do que isso, especialmente para mim.
Havia surgido um novo estilo de vida e uma nova forma de ativismo
– que eu, minha namorada, Karen, e Bernard, meu parceiro musical, havíamos abraçado. Como membros fundadores desse novo estilo de vida da contracultura, organizávamos nossas reuniões e manifestações na pista de dança.
Karen e seus amigos estilosos dançavam até não poder mais. Para eles,
o movimento, em todas as acepções da palavra, era aberto e comunitário,
assim como era para os hippies durante minha adolescência. Karen era
negra e vinha de Staten Island, mas seus amigos formavam um arco-íris que reunia pessoas de todo tipo de background cultural e bairro da
cidade. Eu diria que eram até mais expressivos, políticos e comunitários
do que os hippies, pois se uniam através de seus corpos pela dança; eram
impulsionados por um novo tipo de música, cheia de groove e suingue.
A dança havia se transformado em algo primal e onipresente, uma poderosa ferramenta de comunicação, tão motivadora quanto um discurso de
Angela Davis e tão desejada quanto um ingresso de dezoito dólares para
os três dias de Woodstock.
Todo movimento revolucionário tem como combustível o desejo de
mudar um status quo insustentável. Os guerreiros dessa revolução estavam
engajados em uma batalha por reconhecimento. “Sexo, drogas e disco”
eram as novas palavras de ordem. O underground – agora étnico e mais
fortalecido do que nunca – estava se transformando em mainstream.
Pela primeira vez desde que Chubby Checker havia separado os casais
com “The Twist”, agora voltara a ser legal tocar os companheiros de dança.
O Chic acontece
121
Uma série de passos onde os dançarinos se tocavam bastante foi introduzida nas principais boates – o resultado de o sexo gay ter saído do armário
e ido para as pistas de dança. As pessoas curtiam interações íntimas com
múltiplos parceiros, muitas vezes do mesmo sexo, mas, ao menos na aparência, continuavam apenas dançando. O nome dos novos passos revelava
a abertura dos tempos: Hustle, Freak e Bus Stop. Pensem nisso: “hustle” faz
referência a venda de drogas, crimes ou prostituição; “ freak” é um viciado
em sexo ou drogas; e “bus stop” [ponto de ônibus] é onde tudo acontecia.
Era um mundo muito distante do foxtrot e da rumba.
O movimento disco estava se disseminando pela atmosfera como cinza
vulcânica, e, no mundo inteiro, todos estavam dançando. Infelizmente, a
música que tocávamos no New York City não fazia mais sucesso. Estávamos
na estrada, no meio de uma turnê, quando a banda decidiu se separar devido ao fato de nenhuma música do segundo disco ter feito sucesso. Karen
também decidiu terminar nosso namoro durante essa turnê. O NYC fez seu
último show na Inglaterra. Alguém havia invadido meu quarto de hotel na
noite anterior, e a banda tinha que voltar para os Estados Unidos. Era sextafeira à noite, e meu passaporte havia sido roubado. Como eu só poderia
ir à embaixada dos Estados Unidos na segunda, meus companheiros de
banda me deixaram lá e foram para casa sem mim.
Isso não era um problema. Desde que Karen havia me deixado, eu vinha saindo com uma garota chamada Carey, hostess de uma famosa boate
de Londres, a Churchill’s. Nós havíamos nos conhecido em Londres, na
última turnê do New York City.
Carey tinha Londres na mão. Conhecia todo mundo, especialmente os
xeques árabes que haviam enriquecido devido ao petróleo, a maior força
na cena social londrina desde os Beatles. Como ela parecia uma modelo
loira sueca e era hostess do Churchill’s, nós tínhamos passe livre em qualquer lugar da moda. Estar em Londres com Carey era tão empolgante que,
mesmo depois que consegui meu passaporte, decidi ficar.
122 Vá, se quiser
Em uma atípica noite londrina de céu claro, Carey me levou a uma
casa de shows para ver uma banda da qual eu já ouvira muito falar, mas
nunca ouvira de fato. Chamava-se Roxy Music. Coincidentemente, eles
iriam tocar num lugar chamado Roxy. Seus fãs tinham muito glamour e
pareciam o produto de uma mistura das indústrias da moda, da música,
da arte e do sexo. Os últimos shows do NYC foram, em sua maioria, em
bases militares instaladas na Europa durante a Guerra Fria, mas aquilo era
completamente diferente e parecia uma espécie de extensão do Circuito
Chitlin’. A mistura da plateia com o ambiente e a música me deixaram
louco. Eu nunca tinha visto nada assim. Foi uma experiência tão reveladora
quanto minha primeira viagem de ácido em Los Angeles.
O líder do Roxy Music, Bryan Ferry, era suave e exalava elegância. A
música do grupo incluía uma variedade de rocks ecléticos com compassos
estranhos e texturas etéreas. Embora eu nunca tivesse ouvido a banda
antes, dava para perceber que o som deles estava evoluindo. Era um experimento de arte completamente envolvente, e parecia que eu estava ali
absorvendo mais do que simplesmente música.
Depois do show, as canções do Roxy Music ficaram na minha cabeça.
Eu precisava ouvi-las de novo. Comprei seus últimos dois discos (Stranded e
For Your Pleasure). Quando peguei os dois LPs da prateleira, ver as fotos da
Coelhinha do Ano Marilyn Cole
e de Amanda Lear, celebridade
de Londres, nas respectivas capas
me deu um estalo: a arte da capa
era parte essencial da identidade
da banda e da forma como ela se
vendia, e isso era quase tão importante quanto a própria música.
Depois de ver os discos, fiz uma
conexão de 360 graus e tive o primeiro vislumbre de ideia do que
resultaria em minha banda Chic.
Eu estava fechando nosso SPO.
O Chic acontece
123
Depois de comprar os discos do Roxy Music, liguei para Bernard e
disse, simplesmente: “Já saquei.” “Sacou o quê?”, perguntou ele. “O conceito da nossa próxima banda.” Nós dois sabíamos que teríamos de sobreviver sem o luxo do salário oferecido pelo New York City. Ele ficou surpreso
ao saber que eu ainda estava em Londres. Expliquei que tinha ficado num
hotel e que Carey pagava a conta. Eu vinha tocando com vários artistas
em uma série de lugares e acrescentando meu chucking na música de todo
mundo, o que na mesma hora dava um ar funky a todas elas. Em pouco
tempo, eu tinha ficado famoso na cidade – bom, mais ou menos. Os amigos influentes de Carey haviam gostado do meu estilo e achavam que eu
talvez fosse a versão funk de Hendrix. Empresários da indústria musical
queriam me colocar ao lado de artistas locais e criar uma banda de R&B,
funk e rock baseada em Londres.
O funk-rock havia acabado de cruzar o oceano, e bandas como Ian
Dury and the Blockheads e outras estavam começando a refletir essa influência. Os líderes da atual onda de formadores de opinião em Londres
– que haviam me visto tocar com General Johnson (“Give Me Just a Little
More Time”) e outros em um lugar chamado Gulliver’s – achavam que
eu poderia ser a próxima sensação do momento. Mas eu sabia que, não
importava o que viesse a fazer musicalmente, teria que incluir Bernard.
Como ele estava casado e morava em Nova York, peguei o próximo avião.
Quase assim que cheguei, a Big Apple Band começou a transformar nosso
sofisticado sonho funk-rock em realidade. Em uma cena digna de Sete homens e um destino, saímos à caça de mercenários. O primeiro a se juntar a
nós foi o baterista Tony Thompson, que havia acabado de sair do LaBelle,
uma banda só de mulheres que misturava funk e fantasia. Tony sabia
tocar qualquer estilo. Tinha excelente técnica e era agressivo, o que não
era o ideal para nosso material mais suave, mas seria perfeito para nossas
músicas mais rock. Eu conhecia Tony de shows da época da cena persa,
que incluía artistas como Jamshid Alimorad, Aki Banaii e o superastro
Googoosh.
124 Vá, se quiser
Em seguida, chamamos o tecladista Rob Sabino, um dos heróis mais desconhecidos do nosso jazz-rock-funk, pilar sólido da nossa nova organização.
Na maioria das vezes, era ele quem tocava aqueles trechos de piano acústico
nos pequenos espaços entre o chucking que eu e Bernard fazíamos no Chic.
Por fim, acrescentamos um extraordinário cantor chamado Bobby Cotter, que havia acabado de participar de Jesus Cristo Superstar. Bobby era um
excelente líder, bonito e com incrível alcance e habilidade vocal. Estávamos
prontos para conquistar o mundo, ou assim pensávamos.
Nossa nova banda tocava com frequência, e em determinado momento
gravamos uma fita demo muito boa, produzida pelo diretor musical de
Embalos de sábado à noite, Leon Pendarvis. A música recebeu muita atenção
das gravadoras, mas não nos faziam nenhuma proposta depois que viam
que éramos negros. A voz de Bobby era cheia de soul, e, antes de nos verem, provavelmente imaginavam que éramos uma versão funk do Queen
ou do Journey. O som da demo tendia mais para o funk-rock do que para o
groove suave, então as gravadoras presumiam que éramos brancos. Depois
de meses de reuniões, ficou claro que nossa fórmula funk-rock não estava
funcionando, então tivemos que repensar tudo.
Conhecíamos muitas bandas locais. Nosso tecladista era amigo de uma
banda especialmente esquisita chamada KISS. Eles usavam maquiagem
branca no palco e pareciam super-heróis loucos. Em certo momento, começamos a ir a shows do KISS. Era muito legal como os papéis que interpretavam no palco eram bem definidos, e como ninguém tinha
ideia de como eles eram fora dali.
Certa noite, um raio atravessou minha cabeça e tive uma ideia:
“E se fôssemos uma banda profissional de apoio sem rosto?”, per­guntei a Bernard. Não parecia nenhuma loucura para mim. Na
verdade, fazia muito sentido. A
Big Apple Band era, originalmente,
O Chic acontece
125
a banda de apoio do New York City, que eram as estrelas. Embora tivéssemos contratado Bobby Cotter para ser nosso cantor, ele era claramente
o líder do grupo. Parecia um astro, e nós parecíamos a banda dele. Era o
papel perfeito para nós. Sabíamos que não sabíamos como ser astros. Em
reuniões com as gravadoras, eles sempre faziam perguntas para o nosso
tecladista, Rob. Presumiam que ele era o líder da banda porque era o mais
branco! Ele era porto-riquenho e sempre dizia aos executivos: “Olha, eu
acabei de entrar. A banda é deles. Pergunte a eles!”
Depois de assistir àqueles poucos shows do KISS, Nard e eu começamos a pensar. Não tínhamos a cara da música que tocávamos. As gravadoras nos adoravam, mas só até nos conhecer. Não éramos astros – mas
nossa música faria sucesso! A resposta estava bem na nossa frente: o KISS!
Percebemos que a direção de arte do KISS era tão importante quanto a
música deles, assim como era com o Roxy Music. As duas bandas ofereciam ao público experiências teatrais envolventes, embora completamente
distintas. Como isso se aplicava ao nosso caso? Nard e eu pensamos no
assunto e chegamos a uma conclusão usando a “lógica de banda”, que nada
tem a ver com a lógica normal:
Fora do palco, os personagens do KISS não tinham rosto. Sem rosto.
Beleza! Isso a gente consegue fazer.
O Roxy Music é estilosa e suave. Estilosa e suave.
Beleza! Isso a gente consegue fazer.
A direção de arte deles é tão importante quanto a música.
Beleza! Isso a gente consegue fazer.
Então, Bernard e eu tentamos descobrir como juntar o anonimato do
KISS com a diversidade musical do Roxy Music e as garotas sexy das capas.
Esse conceito grudou em nossas cabeças, não importava quantos shows
tivéssemos que fazer para sobreviver enquanto isso. Durante os meses
seguintes, essa questão nos consumiu.
Ninguém à nossa volta tinha a menor ideia do que era essa coisa com
a qual Bernard e eu estávamos obcecados. Nem mesmo nosso baterista,
126 Vá, se quiser
Tony Thompson, conseguia entender o que estávamos tentando fazer. O
que era totalmente compreensível.
O KISS e o Roxy Music eram bandas de rock. A despeito de quão
inspiradoras eram em termos de conceito, eram sem dúvida bandas de
rock. Contudo, musicalmente, minha inspiração vinha do jazz. Muitos
dos meus heróis do jazz estavam conseguindo emplacar discos de sucesso,
mas fazendo R&B para dançar. Roy Ayers, Herbie Hancock, Joe Beck, Jazz
Cruzaders, Norman Connors e outros estavam no topo das paradas. Então
nós criamos um novo som que era uma fusão de jazz, soul e grooves funk
com melodias e letras de influência mais europeia.
Quando achávamos que estava tudo certo, as coisas começaram a desmoronar. De repente, nosso cantor decidiu sair. Então, um outro grupo
chamado Big Apple Band lançou uma versão disco fenomenal da Quinta
Sinfonia de Beethoven. Chamava-se “A Fifth of Beethoven”, de Walter
Murphy and the Big Apple Band (que também não tinha rosto), e foi sucesso imediato. Nosso telefone não parava de tocar com mensagens de
parabéns de nossos amigos músicos de estúdio. O problema é que eles
estavam ligando para a Big Apple Band errada. Walter era nova-iorquino
e tinha nascido poucos meses depois de Nard e eu. Tocava no mesmo circuito, fazendo covers de R&B, mas seu disco de estreia com a Big Apple
Band estourou antes da gente.
Não tivemos escolha. Teríamos que recomeçar com um nome novo – e
tentar nos reconectar com nossos poucos mas confiáveis seguidores. Naquela
época, o boca a boca era exatamente isso, uma pessoa falando com a outra.
E se você não tivesse contrato com uma gravadora e assessoria de imprensa,
podia levar meses até as pessoas saberem da novidade. Quando falei do Roxy
Music pela primeira vez, Bernard sugeriu o nome “Chic”. Tony e eu rimos
e descartamos de cara, mas tínhamos o luxo de ser a Big Apple Band e estávamos fazendo muitos shows! Agora, por causa de Walter, de seu disco e da
perda do nosso vocalista, teríamos que adotar um outro nome. “Chic” ainda
me parecia engraçado, mas decidimos que valia uma tentativa.
Bernard havia pensado no nome, então, como principal compositor da
banda na época, coube a mim compor nossa primeira música, “Everybody
O Chic acontece
127
Dance”. Somente um punhado de baixistas na terra conseguiria tocar a
linha de baixo que eu escrevera para a música, mas haviam se passado
alguns anos desde a noite em que Nard e eu nos conhecêramos no Bronx,
e agora eu já sabia do que ele era capaz. A música tinha influências do
jazz e era bem complicada: uma mistura de acordes harmonicamente
estendidos, e na segunda metade da progressão incorporava dois movimentos estritamente cromáticos no baixo. Compensei com um refrão
ridiculamente simples: “Everybody dance, do-do-do, clap your hands, clap
your hands.”* Cantei para Bernard, e ele gostou, mas me perguntou, muito
sério: “Ahn, cara, que porra é essa de ‘do-do-do’?” Respondi com a mesma
seriedade: “O mesmo que ‘lá-lá-lá’, seu merda!” Nunca ri tanto na vida
quanto ri com Bernard.
Como disse antes, a banda tinha alguns seguidores, e nosso ex-vocalista Bobby tinha um amigo chamado Robert Drake, que havia se tornado
um dos nossos maiores fãs. Robert era um verdadeiro amante de música,
tinha um estúdio de gravação e trabalhava na manutenção de um estúdio
profissional chamado Sound Ideas. Ele marcou a primeira sessão da nossa
nova banda lá. Trabalhávamos à noite, quando era para o lugar estar fechado. A única pessoa que tínhamos que subornar era o ascensorista, e
com dez dólares mantínhamos sua boca fechada sobre nossa gravação
secreta. Robert foi nosso engenheiro de som e ainda conseguiu convencer
o engenheiro-assistente do estúdio a trabalhar com a gente de graça!
A espinha dorsal dessa gravação que mudaria nossas vidas era a seção
rítmica da Big Apple Band, mas também convidamos alguns amigos para
que a música soasse mais como um disco de verdade. Luther Vandross
trouxe seus cantores; Eddie Martinez (de “King of Rock”, do Run-DMC)
tocou guitarra comigo; e dois músicos de estúdio ligados ao jazz, David
Friedman e Tom Copolla, tocaram vibrafone e clavicórdio, respectivamente. Todas as produções do Chic foram feitas com esse grupo de amigos.
Os arranjos vocais de Luther sobre minha melodia básica nos ensinaram o
que fazer e como fazê-lo. Nunca havíamos produzido um disco antes, nem
* “Todo mundo dançando/ Do-do-do/ Batendo palmas/ Batendo palmas.” (N.T.)
128 Vá, se quiser
nos demos conta de que era isso que estávamos fazendo. Eu era compositor,
arranjador, orquestrador e guitarrista, Bernard era o baixista e líder da
banda, e interpretávamos esses papéis. Nesse cenário, Robert Drake era,
digamos, o engenheiro de som e produtor.
Nós já havíamos gravado muitas vezes, e sabíamos que era preciso
deixar o engenheiro acertar o som antes. Sabíamos também que só depois
disso ensaiaríamos e gravaríamos. Rapidamente, ficou claro que quem estava no comando éramos eu e Bernard, embora não nos considerássemos
“produtores”. Estava claro que eu havia composto a música e que ele estava
dirigindo os músicos. Começamos a mudar e a rearranjar partes da música
com base na interpretação da banda.
Nard mudou sua linha de baixo, introduzindo um chucking, então simplifiquei meu arranjo, pois era complementar ao dele. Antes da gravação,
somente eu havia tocado a música, mas agora estávamos todos tocando
juntos, e esse novo arranjo fazia a canção subir de patamar. Quando entendemos que o arranjo estava certo, começamos a gravar.
Desde a primeira nota, sabíamos que tínhamos algo quente nas mãos.
Eu havia feito um arranjo longo para a música, que consistia numa série
de seções instrumentais diferentes, realçada por “quebras”. Uma quebra é
quando retiramos os principais componentes da composição e deixamos
apenas os elementos básicos do groove, para, a partir daí, acrescentar mais
instrumentos até que a banda inteira esteja tocando novamente. A ideia
era desconstruir a música e reconstruí-la para quem estivesse ouvindo. Eu
sabia que a fórmula funcionava em shows de R&B, e achava que também
funcionaria no estúdio. Fechamos a música em uma noite. A primeira encarnação de “Everybody Dance” não tinha voz principal, apenas o arranjo
vocal de Luther para o meu refrão. Robert fez uma mixagem preliminar
no final da noite, e o que aconteceu em seguida é estranho demais para
descrever em palavras.
Na época em que fizemos essa sessão de gravação, ainda não existiam
fitas cassete, então só escutamos a música umas poucas vezes logo depois
de a gravarmos, naquela mesma noite. Só fui escutar a música de novo três
O Chic acontece
129
semanas depois, quando recebi um telefonema “urgente” que demonstrava
o efeito que a fórmula que havíamos usado causava nas pessoas.
Em 976, os americanos estavam começando a tomar ciência de um
novo fenômeno sociocultural, os buppies (profissionais liberais negros urbanos), cujo baluarte era a cidade de Nova York. O engenheiro de som de
“Everybody Dance” também era o DJ de uma das boates buppies mais concorridas da cidade, a Night Owl, que, por acaso, ficava no Greenwich Village.
Nessa época, eu estava morando temporariamente em Flatbush, no
Brooklyn, no apartamento de Rosalia, minha namorada. Tínhamos nos
conhecido poucas semanas antes durante um show que eu havia feito perto
do Navy Yard, no Brooklyn. Eu havia escrito “Everybody Dance” no apartamento dela. Rosalia trabalhava durante o dia, o que me permitia compor sem interrupções. Apenas três semanas depois da gravação, Robert,
que havia feito algumas cópias da gravação em acetato (que podiam ser
reproduzidas rapidamente), telefonou para mim em caráter de “urgência”
para me dizer que estava tocando em uma boate como DJ e que queria
ter certeza de que conseguiria me ver entre uma música e outra. “Ei, Nile,
você precisa ver isso”, disse Robert.
“Ver o quê?”, perguntei.
“Não dá pra explicar, você tem que ver. Venha à Night Owl hoje à noite
e, quando barrarem você na porta, diga que é o compositor de ‘Everybody
Dance’.”
O fato de que eu seria barrado era certo. A Night Owl tinha um público negro mais sofisticado, que se vestia mais formalmente. Eu não tinha
nem roupas nem dinheiro para entrar, então perguntei a Robert: “O que
é mesmo que você quer que eu faça?”
Ele repetiu as instruções e enfatizou: “Diga a eles que foi você quem
compôs ‘Everybody Dance’. É só isso que você tem que fazer. Entendeu?”
“Tudo bem. Até logo mais.”
Comecei a me vestir ainda com o telefone no ouvido, porque a curiosidade estava me matando. Corri até o metrô e até a boate para ver o que
quer que fosse que eu tinha que ver. Assim que cheguei à porta, o segurança disse: “Cara, você não pode entrar vestido desse jeito.”
130 Vá, se quiser
“Sou amigo do Robert Drake.”
“Nem se você fosse o Robert Drake entraria aqui vestido assim.”
“Ah, já ia esquecendo. Fui eu que compus ‘Everybody Dance’.”
“‘Everybody Dance’? Cara, deixa eu te cumprimentar. Qual é o seu
nome?”
“Sou o Nile.”
“Ei, esse aqui é o Nile. Deixa ele entrar”, disse o segurança a outro
segurança que ficava do lado de dentro da bilheteria. Peguei o elevador e
subi. A porta se abriu e o segurança seguinte me disse: “Ei, você não pode
entrar aqui assim.” E eu respondi, imediatamente: “Meu nome é Nile, e
eu compus ‘Everybody Dance’.”
“‘Everybody Dance?’ Porra, sério? Vamos entrando, irmão. Posso te pagar
um drinque? Ei, Tom”, ele gritou para o dono branco da boate para negros,
um cara mais fino que papel de seda. Tom era a versão anos 70 do meu padrasto Bobby: impecavelmente vestido, de fala macia e com um apetite por
negras. “Foi esse cara que fez ‘Everybody Dance’.”
“Ei, cara, meu nome é Tom e esse lugar é meu. Você pode vir aqui a
hora que quiser, por conta da casa.”
Aquilo tudo parecia uma pegadinha do Robert, porque eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas e todos estavam me tratando como se eu
fosse o cara. Tom e eu conversamos uns dez minutos sobre a nova boate
do meu velho bairro, e então ele me levou por uma sala cheia de fumaça
de cigarro até a cabine do DJ. Robert estava conversando com uma buppie
linda que trabalhava em Wall Street.
“Ei, Nile”, disse ele assim que me viu. E não perdeu tempo. Gritou por
sobre a música “Você tem que ver isso!”, e começou a rir.
A agulha caiu no acetato e, depois da virada de Tony na bateria, começou o riff insuperável de Bernard no baixo. Eu não ouvia a música
fazia quase um mês, mas a reconheci imediatamente, porque, afinal, eu
a havia composto. Os frequentadores da Night Owl soltaram um “uauuu”
quase atemorizante. Aí entrou minha guitarra junto com o piano de Rob,
o vibrafone de David e o clavicórdio de Tom. O salão se encheu de vozes:
“Everybody da-ance, do-do-do, clap your hands, clap your hands.” A multidão
O Chic acontece
131
frenética ficou tocando air guitar e air bass na pista de dança durante sete
repetições dos dois acetatos de Robert – por volta de uma hora da mesma
música. Eu gostava de dançar e de ir a boates desde que namorava Karen,
e entendia que os DJs tocavam uma música famosa repetidamente para
manter a pista cheia, mas isso era ridículo. Uma hora da mesma música, e
era a minha demo!
Eu tinha mesmo visto aquilo? Era tão incrível que, mesmo que por fora
eu estivesse fingindo que acreditava, por dentro ficava me perguntando.
Pensei que não seria possível Robert combinar tudo aquilo, e, mesmo que
fosse, por que faria isso? A coisa toda parecia um completo absurdo.
Para acentuar o nonsense da cena, Robert disse “Agora veja isso”, e
tocou o single mais vendido daquela semana de outubro de 976 segundo
a Billboard, “A Fifth of Beethoven”, interpretado por ninguém menos que
Walter Murphy and the Big Apple Band: o grupo que há poucos meses
havia nos obrigado a mudar de nome. Todo mundo começou a vaiar e
ameaçou sair da pista de dança. Robert tocou “Everybody Dance” pelo
menos mais quatro vezes até que todos aceitassem “A Fifth of Beethoven”.
Não era irônico? Enquanto a música de Walter estava tocando, corri até um
telefone da boate e liguei para Bernard, que estava em casa dormindo com
a mulher e os filhos. “Acorde e venha aqui”, disse. “Você tem que ver isso.”
“Ver o quê?”
“Não posso explicar. Você precisa vir até a Night Owl. Ah, não se esqueça de dizer ao pessoal da porta que você fez ‘Everybody Dance’.” Pouco
tempo depois, vi o rosto intrigado de Bernard enquanto se aproximava
da cabine do DJ, passando por um salão cheio de fumaça ao lado de Tom.
A reconstrução da nossa nova banda havia começado. Contudo, por
mais incrível que tenha sido aquela noite na Night Owl, ainda levaria algum tempo até conseguirmos fechar contrato com uma gravadora para
fazer um disco do Chic. Levamos muita gente da indústria fonográfica à
Night Owl para observar a reação das pessoas à nossa música, mas nunca
saía disso, então continuamos a trabalhar.
132 Vá, se quiser
Bernard e eu gostávamos de tocar juntos, mas isso nem sempre era possível. Bernard conseguiu um trabalho como baixista numa sessão de gravação
com Kenny Lehman, um produtor/arranjador/instrumentista que também
nos havia sido apresentado por Robert Drake ‒ era um single bobinho que
grudava no ouvido e se chamava “I Love New York”, ou algo assim. Naquela
época, os compactos tinham que ter um lado A e um lado B. Normalmente,
as músicas colocadas no lado B eram piores, mas de vez em quando aparecia
algo como “I Will Survive”, de Gloria Gaynor, que talvez tenha sido a música
mais famosa da história já colocada em um lado B. Kenny havia acabado de
tocar com a banda e terminaria a música do lado B depois.
Até aquele momento, só eu compunha para o Chic, então Kenny veio
a mim com a ideia de fazer uma jam para o lado B, cujos músicos seriam
Jimmy Young na bateria e Bernard no baixo. Levando em conta uma série
de fatores, entre os quais a originalidade da linha de baixo, Kenny e eu
concordamos em trazer Bernard de volta para compor também.
Eu havia escrito um refrão que dizia assim: “I just dance, dance, dandan-dance, all the time. I just dance, dance, dance… all the time.”* Ao ouvir
aquilo, Bernard disse: “É complicado demais.” E sugeriu que mudássemos
para “Dance. Dance, dance, dance”.
Daquele momento em diante, Bernard se tornou meu parceiro musical
oficial. Era sua primeira música, e ele estava certo em suas sugestões. Nard
era um líder de banda e estava acostumado a fazer mudanças para extrair
o melhor de cada um nos shows. Quando passou a compor, fez o mesmo.
Sua filosofia era simples e pragmática: consertar agora para não sermos
vaiados no palco depois. É por isso que funcionávamos tão bem juntos. Eu
sempre acabava colocando coisas demais, e ele simplificava. Várias vezes
ele me disse: “Cara, você colocou um disco inteiro nessa música.” Ele entendia o que a música estava tentando dizer e fazia com que ela o dissesse.
Eu já tinha mais ou menos escrito os versos da música, e depois que
Nard simplificou o refrão achamos que estava pronta para ser gravada.
* “Eu só danço, danço, dan-dan-danço/ O tempo todo/ Eu só danço, danço, danço/ O
tempo todo.” (N.T.)
O Chic acontece
133
Contratamos meu antigo amigo da Vila Sésamo Luther Vandross como
diretor vocal. Nos anos 70, seguíamos as regras profissionais para gravação,
mesmo que os shows fossem informais. Os sindicatos haviam determinado
tabelas de preço, e as pessoas recebiam conforme suas responsabilidades.
Os líderes ou diretores de um grupo de músicos ganhavam mais, mas
tinham responsabilidades maiores, que consistiam, primordialmente, em
escolher músicos e tratar dos contratos.
Depois que Luther e seus cantores gravaram a música, o refrão ainda
me parecia simples demais, então escrevi o verso “Keep on dan-cing”, seguindo o mesmo padrão de recriar no estúdio o que havíamos feito antes, tal
como em “Everybody Dance”. Esse verso complementava o refrão e o vocal
da música. Kenny Lehman deu uma adoçada na orquestração de “Dance,
Dance, Dance” e meu refrão original passou a ser um contraponto melódico
secundário tocado em um sintetizador Micromoog durante os versos. Usamos todas as ideias musicais complexas que eu havia tido na hora de compor
a música, mas rearranjamos tudo de acordo com a noção de equilíbrio e a
lógica de Nard, que se contrapunha ao meu impulso para o exagero.
“Dance, Dance, Dance” foi a primeira música que completamos juntos. Havíamos descoberto a fórmula que usaríamos enquanto nos chamássemos Chic, nome de que eu ia gostando cada vez mais. Escrevemos
mais e mais músicas, tendo sempre em mente nossa regra de ouro: toda
música tinha que ter um Sentido Profundo Oculto. Bernard concordava.
Armados com nosso novo conceito, saímos novamente para conquistar o
mundo – uma pista de dança de cada vez. Havia uma metodologia naquela
loucura: achávamos que o público seria mais receptivo a uma mensagem
com muitas camadas se curtissem o groove. Também adorávamos mostrar
a essência dos nossos grooves separando seus elementos. O Chic sempre
separava os elementos das músicas. Havia uma piada recorrente entre nós:
“Músicas são desculpas para chegar ao refrão e refrões são desculpas para
fazer uma quebra.”
A indústria fonográfica demorou para entender a piada, mas acabou
entendendo.
134 Vá, se quiser
A Atlantic Records, de Nova York, havia começado como um selo só
de R&B, com artistas como Ray Charles, Ruth Brown e Aretha Franklin,
mas, na época de Woodstock, seu catálogo contava também com muitas
poderosas novas bandas de rock, como Cream, Led Zeppelin, Yes e Rolling
Stones. Se você fosse músico em Nova York, gostaria de estar na Atlantic
ou na Columbia, o topo da cadeia alimentar.
Tínhamos um número cada vez maior de contatos, e já havíamos contatado todos os selos com base em Nova York através de intermediários.
O pessoal de A&R (Artistas e Repertório) da Atlantic Records recusou
“Dance, Dance, Dance” porque não achava que a música faria sucesso no
rádio, devido a suas longas quebras. Todo mundo lá era dessa opinião.
Certo dia, um dos nossos produtores executivos, Tom Cossie, finalmente conseguiu fazer com que o disco chegasse ao presidente do selo,
Jerry Greenberg.
Depois de uma única audição, Jerry falou: “Cossie, isso vai estourar.
Preciso disso.”
Só havia um pequeno problema: nós já havíamos fechado um contrato.
Tecnicamente, havíamos sido contratados pela Buddah (sic) Records, um
selo mais conhecido por lançar artistas para meninas adolescentes, como
a 90 Fruitgum Company. Para piorar as coisas, Tom trabalhava na Buddah e havia conseguido que assinássemos com a gravadora. Então, por
que ainda estávamos atrás de um contrato? A Buddah estava obrigada
contratualmente a lançar o single de “Dance, Dance, Dance” antes da
convenção disco anual da Billboard. Tom sabia que aquele era o lugar certo
para lançar a música. Por algum motivo, porém, a Buddah perdeu o prazo
para prensar o disco, e parecia que ele não ficaria pronto a tempo de ser
lançado na convenção.
Tom Cossie era um produtor à moda antiga e jamais desperdiçaria a
propaganda que a convenção representava. Então ele levou uma cópia (as
cópias de fitas magnéticas perdem qualidade) da fita master para a Atlantic
e disse a Jerry: “Se você conseguir lançar primeiro, a banda é sua.” Jerry
nunca recusava um desafio (ou um artista que sabia que iria estourar),
então pediu que o helicóptero da Warner/Atlantic levasse o original para
O Chic acontece
135
a fábrica no mesmo dia, e de lá mandou limusines distribuírem os discos
em toda a região leste do país, até Boston (ah, os bons velhos tempos da
indústria fonográfica). Isso representava uma enorme violação de contrato,
mas, tanto para Tom quanto para Jerry, valia a pena.
Não só conseguimos lançar o single a tempo (ele tocava em todos os
quartos do hotel da convenção), como ele também passou a tocar em todas as boates importantes (que comunicavam que músicas haviam tocado
quantas vezes), com o selo da Atlantic estampado na capa. Havíamos creditado um dos melhores DJs do Studio 54, Tom Savarese, como responsável
pela mixagem (na verdade, ele fez uma versão que nunca usamos), o que
foi importante, pois o Studio 54 era o centro do universo disco. Com isso,
o jogo havia começado.
Quando a Buddah percebeu, já era tarde demais – eles só podiam
correr atrás. “Dance, Dance, Dance” foi a sensação da convenção disco.
E a versão que a Atlantic tinha lançado era apenas uma cópia da master.
Como eles diziam na época: “Se a coisa está rolando, quem se importa com
a qualidade do som?” A Buddah tinha a master em alta qualidade, mas
a Atlantic soube aproveitar o momento. Clive Davis, então executivo da
Buddah, ligou para Jerry e falou: “Ei, Jerry, como é que você pôde fazer
isso com a gente?” Então a Atlantic concordou em deixar a Buddah lançar
o compacto, para evitar um processo. Fomos disco de ouro em ambos os
selos, mas só recebemos pelas vendas da Atlantic.
O caminho que tomamos havia sido curioso, mas não tínhamos conquistado aquilo do dia para a noite. Finalmente estávamos conseguindo
o que queríamos. Naquela época, a maioria dos artistas de R&B usava
roupas vistosas, mas nós criamos alter egos factíveis: dois homens de ternos de grife diferentes mas sutis, o que nos conferia o anonimato do KISS.
Colocamos mulheres bonitas na capa, o que era elegante (à moda do Roxy
Music), e criamos uma forma de R&B com influência europeia que ainda
passava no teste para meus amigos da polícia do jazz. Em seguida criamos
uma corporação que administraria e desenvolveria essa entidade e todas
as suas atividades futuras, a Chic Organization Ltd. Nós havíamos nascido
no estúdio, mas agora éramos reais (pelo menos contratualmente e nos
136 Vá, se quiser
discos) e tínhamos que () cair na estrada e provar que o que oferecíamos
era uma experiência artística envolvente e (2) mostrar que os dois exigentes
jovens no comando da banda poderiam fazer daquilo um negócio viável.
“Dance, Dance, Dance” foi formalmente lançada no rádio no verão de
977, e começou a subir nas paradas. Foi um sucesso instantâneo, e convites
para shows começaram a aparecer de todo lugar. A Atlantic decidiu fazer
um álbum, que compusemos a toda velocidade. Escrevemos outras quatro
músicas* e colocamos versos em “Everybody Dance”. Fizemos o disco
em pouquíssimos dias. Bernard e eu fomos contratados individualmente
e concordamos em oferecer os serviços de uma entidade chamada Chic.
Começamos a procurar alguém para o papel principal, uma mulher
sensual, e seríamos sua elegante banda de apoio. Se isso desse certo, seríamos para o público uma espécie de versão corporativa do Rufus com
Chaka Khan nos vocais.
Contratamos uma cantora que não pertencia à cena nova-iorquina de
estúdios, Norma Wright. O fato de ser desconhecida alimentava nossa
mística. Conseguimos que ela incluísse também seu nome do meio, que,
por acaso, era “Jean”, em homenagem à lendária sereia do cinema Marilyn Monroe. Em seguida, contratamos formalmente nosso baterista, Tony
Thompson, para interpretar mais um papel. Ele era belíssimo e ficava bem
em qualquer coisa. Em nossa primeira sessão de fotos para a imprensa,
usou apenas um casaco esportivo – ele não curtia a coisa do terno, porque
se via como roqueiro. Mas adorava tocar com a gente, e acabou aceitando
o terno o máximo que pôde.
Tony ainda não acreditava que o conceito funcionaria, mesmo depois
do álbum gravado e de já estarmos pagando um salário a ele. Quando
pedimos que se preparasse para os ensaios da turnê, ele disse: “É sério?
Que músicas vamos tocar?” Hoje pode parecer estranho, mas é importante
* Patty, minha ex-namorada, traduziu uma delas (“Est-ce que c’est Chic?”) para o francês
a fim de acrescentar um toque extra de sofisticação.
O Chic acontece
137
lembrar que não foi Tony quem
tocou em “Dance, Dance, Dance”
e que ele não era parte do Chic
no início. Bernard e eu gostávamos de reproduzir ao vivo o que
havíamos gravado com a maior
fidelidade possível (a não ser que
a mudança fosse intencional).
Então, contratamos Luther Vandross, que havia cantado no single, para vir conosco na turnê.
Luther trouxe Alfa Anderson,
que fazia parte do seu grupo.
(Bernard e eu éramos da banda de apoio de Luther e havíamos tocado
com ele no Radio City Music Hall na noite em que fizemos a gravação de
“Everybody Dance”, que tinha nos custado somente dez dólares.)
Norma Jean e Tony não haviam participado da gravação da música
que nos rendera o contrato, nem do processo decisório ou da direção de
arte. Se fosse esse o caso, talvez um deles tivesse nos dito o óbvio: duas
garotas à frente do Chic combinaria mais com nossa direção de arte. Só
entendemos que isso era um problema após alguns shows e depois que
nosso disco de estreia estava em tudo quanto era lugar.
“Dance, Dance, Dance” era claramente uma música para ser cantada
por duas mulheres, e na capa do nosso álbum havia duas modelos. Como
o Chic era uma banda nova, não seria estranho pensar que as duas garotas da capa (uma das quais a top model Alva Chinn) eram as cantoras.
Luther e sua equipe, dois tecladistas, seções de cordas e metais saíram
com a gente em turnê. O som estava perfeito, mas não tínhamos a cara da
nossa música. Nossa primeira turnê foi boa, mas logo percebemos que as
pessoas achavam que tinham sido enganadas. Precisávamos resolver isso
imediatamente. Precisávamos de outra cantora.
Norma Jean nos apresentou a uma amiga, Luci Martin, e ela e Norma
ficaram como cantoras principais. Finalmente tínhamos a cara da nossa
138 Vá, se quiser
música! Havíamos de fato nos tornado uma experiência artística envolvente. Nossa direção de arte continuaria tão importante quanto a música,
e a capa de nossos dois álbuns seguintes provaria isso de forma definitiva,
tanto que conseguimos que Tony, o roqueiro, usasse terno.
Quando Norma deixou a banda para fazer carreira solo, Alfa, que era
do grupo de Luther e vinha cantando com a gente desde a nossa primeira
turnê, assumiu sua posição. Alfa e Luci seriam as mais associadas ao Chic,
sobretudo por conta do enorme sucesso de nosso disco seguinte, C’est Chic.
Ele deu à Atlantic seu único compacto a vender 6 milhões de cópias e um
dos dois únicos singles que chegaram ao topo da parada de sucessos da
Billboard três vezes – “Le Freak”. Por um curto período de tempo, o Chic
foi o que havia de mais quente.
Na minha pressa de contar o que aconteceu com a banda, pulei o que estava acontecendo ao mesmo tempo comigo. O primeiro show que fizemos
para promover o álbum de estreia foi em uma grande casa de shows em
Atlantic City chamada Casanova. A iluminação era bem suave e a plateia
foi muito receptiva. Nossa música estava tocando nas rádios da região, e
fomos recebidos lá como se fôssemos da família. Foi uma experiência bem
tranquila. Nosso show seguinte, por outro lado, foi na costa oeste, em
um festival de verão. O Chic iria tocar pela primeira vez em um estádio.
A banda havia crescido muito e muito rápido – e agora estaríamos diante
de cerca de 70 mil pessoas em Oakland, Califórnia, em plena luz do dia.
Eu estava morrendo de medo do palco.
No backstage, eu literalmente tremia de medo. Nunca havia visto nada
como aquela massa humana, pelo menos daquele ponto de vista. Claro, eu
já havia participado de manifestações gigantescas e de todo tipo de celebração tribal hippie, mas nunca havia estado do outro lado do microfone.
Já tinha feito um bocado de shows como músico profissional, mas sempre
na banda de apoio, não estava preparado para falar para 70 mil pessoas.
Felizmente, havia uma cura. Meu roadie disse para mim: “Ei, chefe, toma
isso aqui.” Ele me deu um copo de isopor com meio litro de Heineken.
O Chic acontece
139
Virei a cerveja e, de repente, fiquei de bem com o mundo. Senti uma onda
de confiança caindo sobre mim.
Corri para o palco, olhei para a plateia e gritei: “oakland!!!!!!!!”
A plateia respondeu: “chiiiiiiiiiiic!!!!!!!!”
É clichê. Sei que é clichê. Eu era mais um músico descendo a espiral do
alcoolismo. Eu era viciado – quer dizer, cheirava cola desde que tinha idade
suficiente para atravessar a rua e já havia tomado ácido antes de entrar no
ensino médio. Adorava as drogas. Chegaria a precisar de álcool todos os
dias. Não vou fazer suspense – as drogas e o álcool me acompanharam
em boa parte da minha vida adulta. Muitas das minhas vivências como
adulto ocorreram enquanto eu estava sob a influência de substâncias psicotrópicas. Era um caso de amor. Elas quase me mataram. Mas eu não
teria conseguido sem elas.
No camarim, instruí meu roadie a sempre ter uma bebida para mim
no palco. Naquele dia, comecei com um só copo de cerveja. No final da
turnê já havia uma série de copos brancos com Heineken na plataforma
da bateria, formando um padrão simétrico. Essa escultura funcional me
ajudou a desempenhar um novo papel, o de estrela acidental do rock – com
roupas e sapatos de grife, uma guitarra no ombro e álcool nas veias.
Nosso primeiro grande aliado na gravadora foi nossa relações-públicas, Simo Doe. Fazíamos longas turnês de promoção do álbum que
ela mesma montava, e ela nos mostrou como reduzir respostas mais
detalhadas a pequenos trechos. No começo, tínhamos a sensação de
estar mentindo, mas depois entendemos que eles só queriam trechos
curtos mesmo. Era uma mídia que tinha pouco espaço na programação
para histórias pessoais. Simo nos ensinou a dar declarações “curtas e
meigas”. Nosso sucesso exigia que jogássemos esse jogo repetidamente.
Para superar minha timidez, comecei a beber antes das entrevistas. Depois, passei a beber durante. Fiquei acostumado a ouvir minha voz na
TV e no rádio, e até ia às cabines dos DJs para dar um grito para a galera
na pista de dança.
140 Vá, se quiser
Embora o Chic apenas raramente tocasse em boates (que não acomodavam bandas do nosso tamanho), clubes do mundo todo nos recebiam
de braços abertos como convidados. Isso não se limitava aos lugares da
moda de Nova York, que pareciam se multiplicar de um dia para o outro; a
febre das boates estava se disseminando por todas as partes como se fosse
uma espécie de inverno nuclear. Nossa música estava entrando em todo
e qualquer setor da sociedade. Estávamos tocando em locais que normalmente não apresentavam atrações negras. Numa cidade em que tocamos,
não havia um show de música pop (fosse de brancos ou negros) desde
que Elvis provocara um quebra-quebra duas décadas antes. O Chic não
só tocou lá, como também foi acompanhado de um comboio policial. Eu
não conseguia acreditar que, a cada lugar que ia, as pessoas me tratavam
como um astro do rock quando ficavam sabendo que eu era o cara do Chic.
E onde novos astros do rock vão para se divertir? Nos anos 70, só havia
um lugar bom o suficiente: o Studio 54.
Na primeira vez que fui ao Studio 54, não fui tratado como um astro. Lá,
minha música estava tocando na pista, mas as modelos da capa do nosso
disco, o DJ Tom Savarese e minha namorada, Nefertiti, eram os astros e
estrelas. Nefi havia se formado no prestigioso Fashion Institute of Technology. Muitas pessoas do FIT curtiam o Studio 54, e eu era convidado
dela lá. A boate só havia sido aberta há poucos meses, mas já era o lugar
mais quente da terra.
Fazia sentido que eu não tivesse sido tratado como astro naquela primeira noite, pois ninguém sabia qual era a cara do Chic, e, no Studio 54, o
que valia era quem você era e a sua aparência. Nefi gostava da construção
do visual – era estilista e sabia desenhar e fazer roupas. Foi ela que me ensinou sobre moda de alto nível. Antes de Nefi, eu nunca havia ouvido falar
de Fendi, Fortuny e Fiorucci. Aprendi sobre alta-costura e conheci muitos
dos estilistas mais famosos, como Calvin Klein e Roy Halston, no Studio 54.
Passei muitas noites no Studio, mas nenhuma foi tão importante
quanto aquela em que tentei entrar sem Nefertiti e fui barrado: a noite
de Ano-novo de 977.