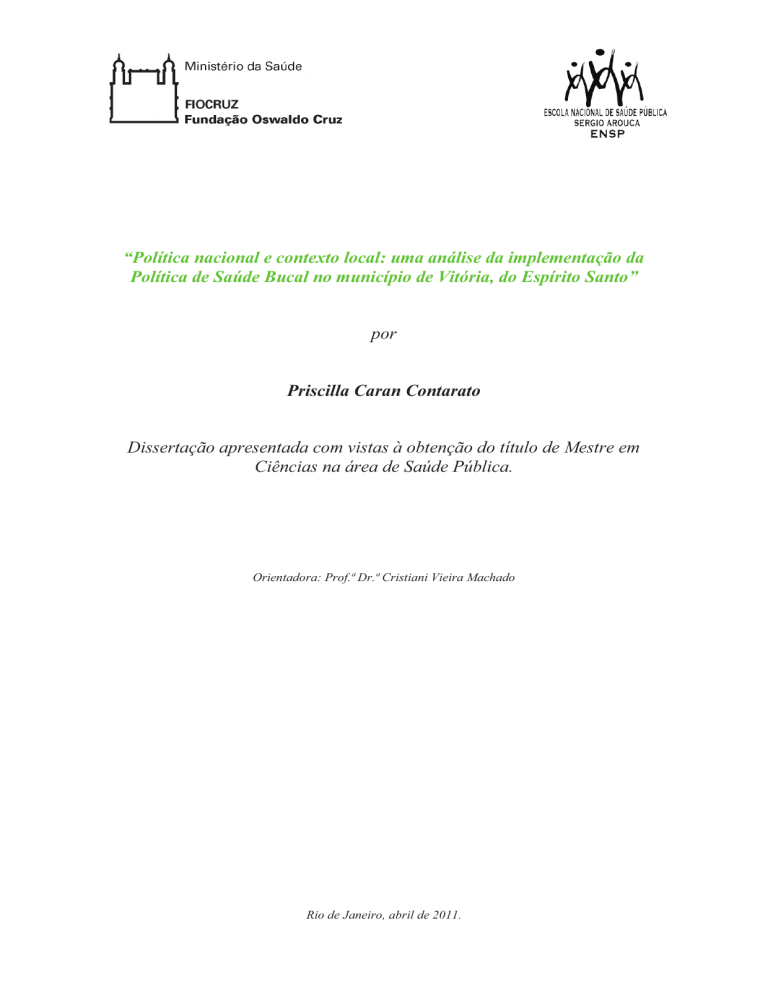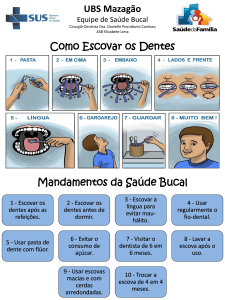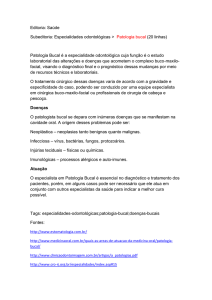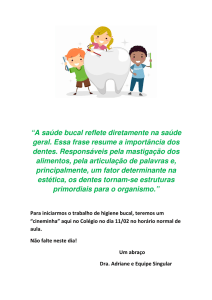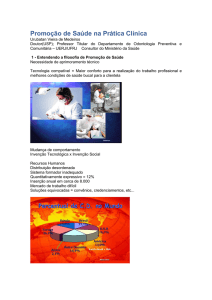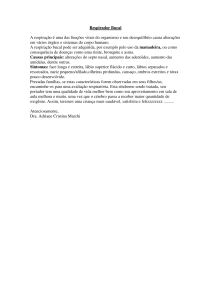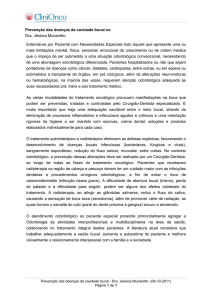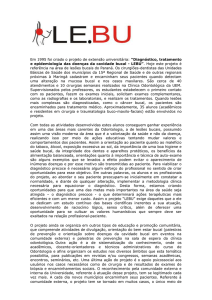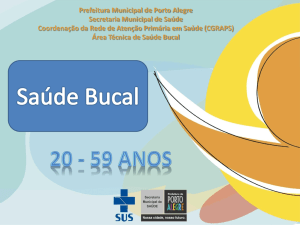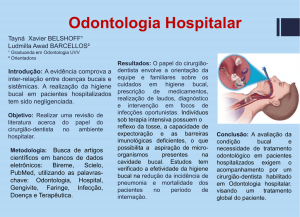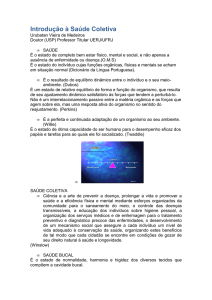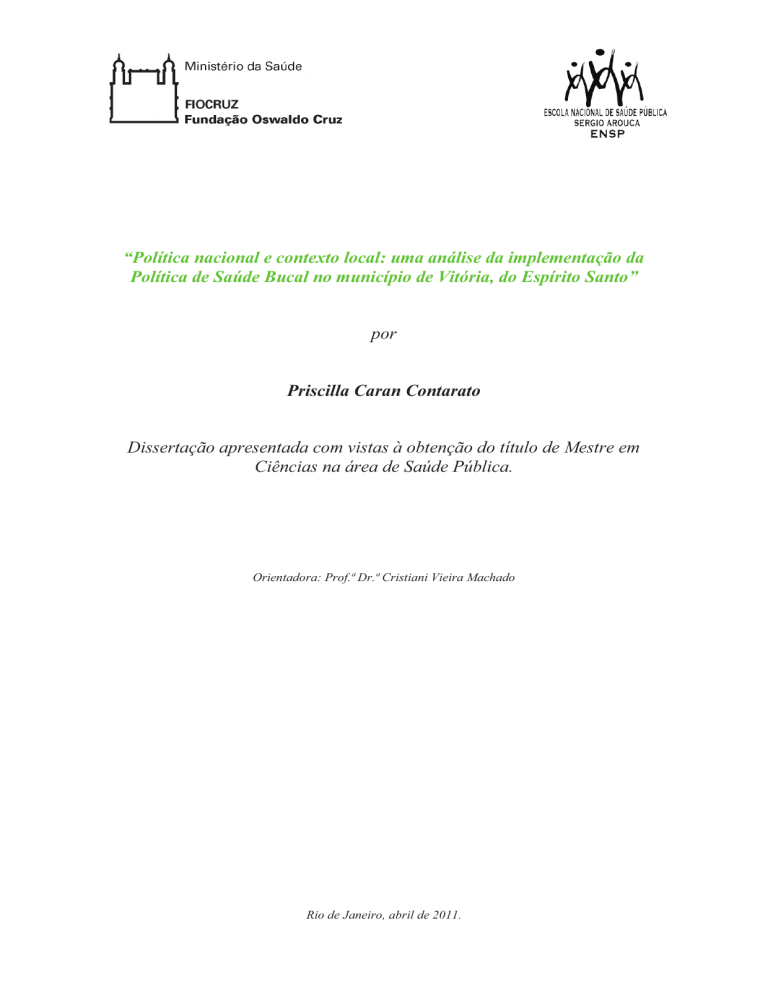
“Política nacional e contexto local: uma análise da implementação da
Política de Saúde Bucal no município de Vitória, do Espírito Santo”
por
Priscilla Caran Contarato
Dissertação apresentada com vistas à obtenção do título de Mestre em
Ciências na área de Saúde Pública.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Cristiani Vieira Machado
Rio de Janeiro, abril de 2011.
Esta dissertação, intitulada
“Política nacional e contexto local: uma análise da implementação da
Política de Saúde Bucal no município de Vitória, do Espírito Santo”
apresentada por
Priscilla Caran Contarato
foi avaliada pela Banca Examinadora composta pelos seguintes membros:
Prof. Dr. Ruben Araújo de Mattos
Prof.ª Dr.ª Tatiana Wargas de Faria Baptista
Prof.ª Dr.ª Cristiani Vieira Machado – Orientadora
Dissertação defendida e aprovada em 25 de abril de 2011.
Catalogação na fonte
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica
Biblioteca de Saúde Pública
C759
Contarato, Priscilla Caran
Política nacional e contexto local: uma análise da implementação da
política de saúde bucal no Município de Vitória, do Espírito Santo. /
Priscilla Caran Contarato. -- 2011.
164 f. : il. ; graf. ; mapas
Orientador: Machado, Cristiani Vieira
Dissertação (Mestrado) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca, Rio de Janeiro, 2011
1. Saúde Bucal. 2. Políticas Públicas. 3. Especialidades
Odontológicas. 4. Serviços de Saúde Bucal - organização &
administração. I. Título.
CDD - 22.ed. – 617.601098152
À Rosana pelo apoio, confiança, amizade e pelo seu
grande senso de humor que me faz ser a cada dia
uma pessoa melhor.
Agradecimentos
Agradeço a Deus, que me deu o dom da vida e me possibilitou nascer em uma
família, onde sempre tive muito amor, apoio e educação. Além de todas as bênçãos e
proteção.
À minha orientadora Cristiani Vieira Machado, ao qual pude desfrutar de
momentos valiosos de conhecimento, solidariedade, humildade, postura ética e
simplicidade. A cada orientação aprendia um pouco mais e me sentia acolhida para
seguir em frente. Obrigada por toda dedicação, afetuosidade e acolhimento. Serei
eternamente grata pelo seu carinho na condução deste trabalho. Minha mais profunda
estima e admiração.
Aos colegas do grupo de pesquisa e do grupo de leituras em metodologia de
análise de políticas públicas, agradeço pelas contribuições generosas para meu
crescimento profissional. Foi muito importante ter participado e desfrutado de
momentos tão ricos.
À Tatiana Wargas e Ruben Matos que aceitaram fazer parte da banca de
qualificação e de defesa desta dissertação. Todo meu agradecimento e reconhecimento
pelas valiosas contribuições.
À Gisele O’Dwyer e Rafael Arouca pela disponibilidade em fazer parte da banca
de defesa como suplentes. Agradeço a atenção.
Aos professores do mestrado pelas aulas dispensadas que possibilitaram novos
conhecimentos e desenvolvimento profissional.
A todos os meus colegas de mestrado pelos momentos que pudemos desfrutar
juntos. Foi um prazer tê-los conhecido. Em especial agradeço a amizade de Paula
Guidone, Henrique e Nidilaine pela troca de experiências e momentos compartilhados
nas nossas caminhadas de volta para casa ao final das tardes.
Aos funcionários da biblioteca sempre solícitos em nos receber e acolher, em
especial a Gisele pela sua receptividade e profissionalismo.
A todos os funcionários da Escola Nacional de Saúde Pública pela dedicação
dispensada.
Agradeço ao CNPq pelo apoio financeiro e pela bolsa de mestrado a mim
concedida por meio do Projeto “A política de saúde no Governo Lula: continuidades e
mudanças na condução nacional do Sistema Único de Saúde” sob coordenação da Dra.
Cristiani Vieira Machado.
Agradeço a Capes, que por meio do Edital Proex-Capes, proporcionou o apoio
financeiro para realização do trabalho de campo em Vitória, Espírito Santo.
À Coordenação do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Saúde Pública
da ENSP, e à Secretaria acadêmica pela preocupação e disponibilidade em solucionar as
questões referentes à documentação, prazos, agendamentos, entre outros.
Agradeço a todos os entrevistados pela disponibilidade e presteza em conceder
informações valiosas que culminaram na realização deste trabalho. Meu muito obrigado.
Aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória que por meio de
documentos e informações contribuíram enormemente para a elaboração da pesquisa,
em especial a Arlete pelos seus ensinamentos e dedicação ao serviço público.
À Vanessa, amiga fiel que me incentivou muito para ingressar no mestrado, meu
muito obrigado pelos ensinamentos, apoio e amizade.
A meus pais todo meu amor e agradecimento. Com eles aprendi lições
fundamentais para seguir na vida como a honestidade, o caráter e o amor ao próximo.
Agradeço por todo o amor e paciência nos momentos em que não pude estar presente.
Às minhas irmãs, Mychelle e Isabela, companheiras leais, agradeço pelo carinho
incondicional e apoio que me dispensaram na realização deste trabalho.
À minha avó Liquinha pelas orações e apoio constante.
A todos os meus familiares que se privaram da minha convivência, mas sempre
se mantiveram ao meu lado mesmo quando estava longe.
À minha tia Zilar, muito obrigada pelo apoio e incentivo.
Agradeço à minha prima Sumaya, pelo carinho com que me recebeu no Rio de
Janeiro. Muito obrigada pela hospedagem e pelos momentos que passamos juntas. Foi
muito bom resgatar essa convivência depois de muitos anos.
À minha prima, amiga e médica Márcia que me ajudou a controlar a ansiedade
por meio de seu carinho e florais.
À Rosana, meu profundo agradecimento pela sua dedicação, paciência,
confiança, carinho e amizade. Seu incentivo e apoio foram primordiais para a realização
deste trabalho.
O meu muito obrigada a todos os amigos que direta ou indiretamente
contribuíram para a realização deste trabalho. Aproveito também para pedir desculpas a
todos pelos momentos de ausência dos últimos tempos.
O êxito da vida não se mede pelo caminho que
você conquistou, mas sim pelas dificuldades que
superou no caminho.
Abraham Lincoln
Resumo
Este estudo analisa a política de saúde bucal na perspectiva da integralidade,
considerando as diretrizes nacionais e a sua implementação no município de Vitória ES. A pesquisa fundamentou-se nas contribuições da literatura de análise de políticas
públicas, particularmente na referente à implementação de políticas, e nos estudos sobre
integralidade, considerando dois sentidos principais: o desenho da política e a
organização da rede. As principais categorias de análise foram: o desenho e a
implantação da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB); a configuração e
implementação da política de saúde bucal no Município e sua relação com diretrizes
nacionais e estratégias estaduais; a estrutura e funcionamento do Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) e a integração entre serviços e níveis de atenção.
O estudo compreendeu várias estratégias metodológicas, tais como revisão
bibliográfica, análise documental, análise de bases de dados secundários e entrevistas
semiestruturadas. Identificou-se que a política de saúde bucal no Brasil no período
recente compreende uma configuração abrangente, que apresenta o CEO como principal
estratégia para ampliar o acesso da população ao atendimento especializado. A análise
da trajetória histórica da política de saúde bucal no município de Vitória revelou quatro
períodos com características distintas, em termos da condução da política, da
organização do sistema de saúde e do modelo de atenção. Observou-se, nos períodos
analisados, a adoção de diferentes estratégias para ampliar o acesso da população aos
serviços de saúde, com maior inflexão no último período pelas transformações ocorridas
na política nacional. Constatou-se que atualmente o CEO de Vitória dispõe de uma
estrutura razoável e bons equipamentos, entretanto apresenta dificuldades em algumas
especialidades relacionadas à grande demanda de pacientes, às longas filas de espera, ao
alto índice de absenteísmo e à baixa produção. Com relação à integração entre serviços,
observou-se que, apesar de a atenção básica e o CEO disporem de um fluxo bem
definido e articulado, a comunicação entre os níveis de atenção é frágil. Conclui-se que
o Município apresentou avanços importantes no período recente, principalmente na
estruturação da atenção especializada por meio da implantação do CEO, porém
persistem sérias limitações quanto ao acesso e à integração entre os serviços de saúde.
Palavras chave: Saúde Bucal. Políticas Públicas. Centro de Especialidades
Odontológicas. Política Nacional de Saúde Bucal.
Abstract
This study analyses the oral health policy in terms of comprehensiveness,
considering the national guidelines and their implementation in the municipality of
Vitória, in the Brazilian state of Espírito Santo. The research was grounded on
contributions in literature that reviews public policies, especially in relation to policy
implementation, and on studies into comprehensiveness, considering two main aspects:
the policy design and the health services network organization. The main categories of
analysis were: the design and implantation of the National Oral Health Policy; the
configuration and implementation of the oral health policy in the municipality and its
relation with national guidelines and state strategies; the structure and functioning of the
Centre of Dental Specialities (CEO) and the integration between services and levels of
care. The study consisted of various methodological strategies, such as bibliographic
review, documental analysis, analysis of secondary databases and semi-structured
interviews. It was ascertained that the recent history of oral health policy in Brazil
covers a wide-ranging configuration, with the CEO as the primary strategy to broaden
public access to specialised care. Reviewing the historical development of the oral
health policy in the municipality of Vitória revealed four periods bearing distinct
characteristics, in terms of administration of the policy, organization of the health
system and the care model. In the periods analysed, different strategies to broaden
public access to health services could be identified, with the greatest reversal occurring
in the last period due to transformations in the national policy. It was found that
presently the Vitória CEO is reasonably structured and has good equipment; however it
faces problems in some specialities due to the high demand from patients, long waiting
lists, high absenteeism and low production. In relation to the integration between
services, it was observed that, despite there being a well-defined and coordinated flow
between basic care units and the CEO, communication between the levels of care is
fragile. In conclusion, the municipality has achieved important progress in recent years,
especially in offering structured specialised care by implanting the CEO; however it still
faces serious limitations as regards the access and integration between the health
services.
Key Words: Oral Health. Public Policies. Centre of Dental Specialities. National Oral
Health Policy.
Sumário
Apresentação .................................................................................................................. 13
Capítulo 1 – Referencial Analítico e Desenho do Estudo .............................................. 18
1.1 Contribuições do Referencial de Análise de Políticas Públicas............................ 18
1.2 Contribuições do Enfoque da Integralidade em Saúde ......................................... 27
1.3 Desenho do Estudo ............................................................................................... 32
Capítulo 2 - A Política de Saúde Bucal no Brasil .......................................................... 40
2.1 Breve Histórico ..................................................................................................... 40
2.2 O Brasil Sorridente: A Política de Saúde Bucal no Governo Lula ....................... 51
2.3 A Implantação da Política de Saúde Bucal no Brasil ........................................... 63
Capítulo 3 – Trajetória da Política de Saúde Bucal em Vitória...................................... 77
3.1 O Período Pré-Sus (1950-1988) ............................................................................ 77
3.2 O Período de Ênfase na Municipalização (1989-1994) ........................................ 80
3.3 O Período de Predomínio do Programa Sorria Vitória (1995-2003) .................... 86
3.4 O Período de Influência do Brasil Sorridente (2004-2010) .................................. 96
Capítulo 4 – A Saúde Bucal no Município de Vitória: Configuração Atual e Inserção do
Centro de Especialidades Odontológicas ..................................................................... 105
4.1. A Organização da Saúde Bucal no Sistema Municipal de Saúde ...................... 105
4.2 O Centro de Especialidades Odontológicas no Sistema de Atenção à Saúde Bucal
.................................................................................................................................. 116
4.3 O Laboratório Regional de Prótese Dentária ...................................................... 125
4.4 A Integração do CEO na Rede de Serviços: Fluxos e Regulação Assistencial .. 128
4.5 As Outras Unidades Especializadas do Município ............................................. 136
Considerações Finais .................................................................................................... 139
Referências Bibliográficas ............................................................................................ 146
Apêndice A ................................................................................................................... 157
Apêndice B ................................................................................................................... 158
Apêndice C ................................................................................................................... 159
Apêndice D ................................................................................................................... 160
Apêndice E ................................................................................................................... 161
Lista de Quadros, Tabelas e Figuras
Quadros
0-2 Quadro 1.1 – Síntese das categorias, variáveis e estratégias metodológicas do estudo . 39
0-1 Quadro 2.1 – Tipos de CEO e formas de financiamento ............................................... 58
0-2 Quadro 2.2 – Produção mensal e tipo de repasse financeiro para LRPD....................... 58
0-3 Quadro 2.3 – Principais portarias ministeriais relativas à saúde bucal editadas a partir de
2004 – Brasil. .................................................................................................................. 61
0-4 Quadro 2.4: Estados Beneficiados com as Unidades Odontológicas Móveis no ano de
2009 ................................................................................................................................ 71
0-5 Quadro 2.5 - Estados Beneficiados com as Unidades Odontológicas Móveis no ano de
2010. ............................................................................................................................... 71
0-6 Quadro 2.6 - Indicadores de Saúde Bucal constantes no Pacto da Atenção Básica 2006.
........................................................................................................................................ 72
3-1 Quadro 3.1 – Percentual de crianças com necessidade de atenção clínica em saúde bucal
examinadas no município de Vitória no período de 1996 a 2004 (Programa Sorria
Vitória). .......................................................................................................................... 95
3-2 Quadro 3.2 – Síntese da evolução da Política de Saúde Bucal no Município de Vitória1950 a 2010. ................................................................................................................. 102
4-1 Quadro 4.1 – Índice de absenteísmo e filas de espera no CEO e unidades especializadas,
por especialidades. Município de Vitória, Julho a Dezembro de 2010 ........................ 124
4-2 Quadro 4.2 - Produção do Centro de Especialidades Odontológicas por Especialidade.
...................................................................................................................................... 124
Figuras
0.1 Figura 1.1 – Mapa da divisão territorial do município de Vitória .................................. 33
0.1 Figura 2.1- Evolução do número de Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde
Bucal no Brasil de 2002 a 2010. ..................................................................................... 64
0.2 Figura 2.2 – Evolução da Abrangência Populacional estimada das Equipes de Saúde da
Família e das Equipes de Saúde Bucal no Brasil – 2002 a 2010. ................................... 65
0.3 Figura 2.3 – Evolução das Equipes de Saúde Bucal implantadas por região no período
de 2003 a 2010................................................................................................................ 66
0.4 Figura 2.4 - Abrangência Populacional Estimada das Equipes de Saúde Bucal por região
nos anos de 2003 e 2010. ................................................................................................ 66
0.5 Figura 2.5 – Abrangência Populacional Estimada das Equipes de Saúde Bucal por
Unidade Federativa nos anos de 2003 e 2010. ............................................................... 67
0.6 Figura 2.6 – Evolução do número de Centros de Especialidades Odontológicas no Brasil
no período de 2004 a 2010. ............................................................................................ 68
0.7 Figura 2.7 – Número de Centros de Especialidades Odontológicas por tipo e região em
Outubro de 2010. ............................................................................................................ 69
0.8 Figura 2.8 – Número de Centros de Especialidades Odontológicas por Unidade
Federativa no ano de 2010. ............................................................................................. 69
0.9 Figura 2.9 – Evolução do número de Laboratórios de Prótese Dentária no Brasil no
período de 2005 a 2008. ................................................................................................. 70
0.10Figura 2.10 – Evolução da Cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática
por região – 2002 a 2007. ............................................................................................... 74
0.11Figura 2.11 – Evolução da Proporção de Procedimentos odontológicos especializados
em relação às ações odontológicas individuais por região - 2002 a 2007 ...................... 74
0.12Figura 2.12 – Evolução da Proporção de exodontias em relação às ações odontológicas
básicas individuais por região - 2002 a 2007. ................................................................ 75
4.1 Figura 4.1 – Mapa da regionalização da saúde em Vitória........................................... 106
4.2 Figura 4.2 – Percentual da população beneficiária de planos de saúde e de planos
odontológicos nas capitais da Região Sudeste no ano de 2009 .................................... 108
4.3 Figura 4.3 – Percentual da população beneficiária de planos de saúde e de planos
odontológicos em Vitória, Espírito Santo, Região Sudeste e Brasil no ano de 2009. .. 108
4.4 Figura 4.4- Abrangência populacional das Equipes de Saúde da Família e das Equipes
de Saúde Bucal. ............................................................................................................ 110
4.5 Figura 4.5- Abrangência populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal em Vitória,
Espírito Santo, Região Sudeste e Brasil no ano de 2010. ............................................. 110
4.6 Figura- 4.6 Número de Procedimentos dos Cirurgiões-dentistas de Vitória no ano de
2010 por tipo................................................................................................................. 114
4.7 Figura- 4.7 Evolução da Cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática em
Vitória 2004 a 2010 ...................................................................................................... 115
4.8 Figura- 4.8 Evolução da Proporção de Procedimentos odontológicos especializados em
relação às ações odontológicas individuais em Vitória - 2002 a 2007 ......................... 115
4.9 Figura 4.9 – Produção do Laboratório de Prótese no ano de 2010. .............................. 127
4.10Figura 4.10 - Fluxo de Atendimento do Usuário pela Central de agendamento antes do
sistema SISREG. .......................................................................................................... 129
4.11Figura 4.11 - Fluxo de Atendimento do Usuário pelo SISREG. .................................. 130
4.12Figura 4.12 - Fluxo de Atendimento do Paciente com Necessidades Especiais. ......... 131
Lista de Siglas
ABO – Associação Brasileira de Odontologia
ACD – Atendente de Consultório Dentário
AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
ANS – Agência Nacional de Saúde
APAC - Autorização de Procedimento de Alto Custo/Complexidade
APAE - Associação dos pais e amigos dos excepcionais
APD – Auxiliar em prótese dentária
CAP – Caixa de Aposentadoria e Pensão
CD – Cirurgião-dentista
CEBES - Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CNSB – Conferência Nacional de Saúde Bucal
CPO-D – Dentes Perdidos, Obturados e Cariados
CRO – Conselho Regional de Odontologia
CVRD – Companhia Vale do Rio Doce
DAI - Departamento de Ações Integrais em Saúde
DAS - Departamento da Administração em Saúde
DASS - Departamento de Assistência à Saúde
DATASUS - Departamento de Informática do SUS
DNSB - Divisão Nacional de Saúde Bucal
DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis
ECEO - Encontros Científicos dos Estudantes de Odontologia
ENATESPO - Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público
Odontológico
ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública
ESB – Equipe de saúde bucal
ESF – Estratégia de saúde da família
FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação
FAESA - Faculdade de Administração Espírito-Santense
FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde
GERUS - Gerenciamento de Unidades Básicas do SUS
IAP – Instituto de Aposentadoria e Pensão
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
IJSN – Instituto Jones Santos Neves
INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
INPS – Instituto Nacional de Previdência Social
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPC – Índice de Preços ao Consumidor
LRPD – Laboratório Regional de Prótese Dentária
MBRO - Movimento Brasileiro de Renovação Odontológica
MS - Ministério da Saúde
NHS – National Health Service
NOAS - Norma Operacional da Assistência à Saúde
NOB – Norma Operacional Básica
OMS - Organização Mundial da Saúde
PAB – Piso da Atenção Básica
PIA - Programa Inversão da Atenção
PIB – Produto Interno Bruto
PMV – Prefeitura Municipal de Vitória
PNCCSF - Programa Nacional de Controle da Cárie Dental com o uso de Selantes e
Flúor
PNE – Paciente com Necessidades Especiais
PNSB – Política Nacional de Saúde Bucal
PRECAD - Programa Nacional da Cárie Dental
PROFIS - Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio-Palatal
PSF – Programa de saúde da família
PUC – Pontifícia Universidade Católica
RMGV – Região Metropolitana da Grande Vitória
SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência
SCIELO - Scientific Electronic Library Online
SESA – Secretaria Estadual de Saúde
SESP - Serviço Especial de Saúde Pública
SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde
SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais
SISS - Sistema Integrado de Serviços de Saúde
SUS – Sistema Único de Saúde
TCG – Termo de Compromisso de Gestão
THD – Técnico em Higiene Dental
TPD – Técnico em prótese dentária
UF – Unidade Federativa
UFES –Universidade Federal do Espírito Santo
USP - Universidade de São Paulo
13
Apresentação
Nestes últimos vinte anos da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS),
podem-se
observar
avanços
relacionados,
principalmente,
às
políticas
de
descentralização e de democratização para a garantia do direito aos serviços de saúde.
Entre esses avanços, pode-se destacar, no ano de 2004, o lançamento da Política
Nacional de Saúde Bucal (PNSB), que abriu novas perspectivas para a atenção
odontológica, ao propor a expansão dos atendimentos básicos e especializados,
incluindo a criação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
Nessa perspectiva, este estudo apresenta como propósito a análise da política de
saúde bucal no município de Vitória, considerando as influências da política nacional,
com particular destaque para uma de suas estratégias: o Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO), como dispositivo crítico da Política de Saúde Bucal na
perspectiva da integralidade.
As inquietações que orientaram esta pesquisa foram vivenciadas na prática de
atendimento em um CEO em Vitória. Na época de inserção da autora nesse centro,
questões referentes a dificuldades de acesso, demanda excessiva por serviços
especializados, que até 2004 não faziam parte da agenda governamental, aspectos
relacionados à integralidade das ações, entre outras, despertaram o interesse em estudar
o papel que o CEO desempenha para a concretização dessa política.
O estudo partiu do pressuposto de que o Estado tem um papel importante na
condução de ações na área de saúde bucal e na constatação de que as históricas
fragilidades das políticas públicas nessa área são responsáveis, em grande parte, pela
péssima situação da população brasileira no que concerne à saúde bucal.
A primeira justificativa para realização deste estudo está relacionada à relevância
da saúde bucal e a seu reconhecimento como problema de saúde pública no Brasil. Tal
situação foi retratada pelo 3º. levantamento epidemiológico de 2003, em que se
evidenciou a histórica fragilidade de políticas públicas efetivas nessa área, demonstrada
pelos altos índices de doença bucal. Os dados que mais chamaram a atenção pela sua
gravidade relacionaram-se à perda dentária, uma vez que somente cerca de 55% dos
adolescentes com 18 anos tinham todos os dentes. Com relação aos idosos, esses dados
preocupavam ainda mais, com uma média, por pessoa, de quase 26 dentes extraídos.
Além disso, foi evidenciada a grande exclusão em relação ao acesso ao tratamento
odontológico, já que o levantamento destacou que cerca de 13% da população de
14
adolescentes nunca haviam ido ao dentista. Constatou-se, conforme os dados
levantados, que havia cerca de trinta milhões de desdentados no Brasil1.
A segunda justificativa para este trabalho diz respeito aos desafios para a
organização dessa política, que não logrou posição de destaque na agenda nacional da
saúde até 2000.
A atenção à saúde bucal sempre esteve caracterizada pelo seu aspecto curativo,
que subentendia a mutilação pela extração dentária, com um modelo de atenção
conformado na década de 1950, baseado no atendimento a escolares na idade de 6 a 14
anos, deixando a população adulta na livre demanda. As ações do Estado baseavam-se
na oferta de serviços imediatistas às queixas dos indivíduos, buscando manter em boas
condições a força de trabalho, o que configurava um modelo de saúde de pouca
efetividade. Nos anos 1980 foi realizado o primeiro levantamento epidemiológico de
Saúde Bucal, assim como a I Conferência Nacional de Saúde Bucal (CNSB), que
propôs incluir a saúde bucal como direito de todos e dever do Estado1, 2,3.
Com a implementação do SUS como um sistema universal, calcado nos
princípios de universalidade e integralidade, ocorreram mudanças com relação à política
de saúde brasileira, com expansão da oferta e do acesso a vários serviços. Apesar disso,
as políticas voltadas para a saúde bucal não tiveram destaque na agenda governamental
federal nos primeiros doze anos de implementação do SUS. Somente em 2000, por meio
da conformação de equipes de saúde bucal vinculadas a equipes de saúde da família, é
que se começou a observar um movimento mais concreto de ampliação das ações nessa
área.
Não é simples fortalecer uma política pública de saúde bucal, mesmo em um
país com um sistema de saúde de desenho universal, porque existe um peso forte do
setor privado na área odontológica. A análise da assistência odontológica pública em
países que apresentam sistemas de saúde abrangentes demonstrou, com exceção de
Cuba, atendimento fragmentado, restritivo a determinadas faixas etárias e grupos
específicos, e altamente vinculado ao setor privadoI,4.
A terceira justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa diz respeito às
inflexões na política brasileira a partir de 2003, com priorização da saúde bucal e sua
I
Foram analisados países de diferentes modalidades de proteção social e verificou-se que a Alemanha, o
Reino Unido, o Canadá e a Escandinávia apresentam uma prática odontológica privada mediada pelo
desembolso direto ou taxas de copagamentos. Na maioria dos países, os direitos públicos assegurados ao
tratamento odontológico estenderam-se às faixas etárias até 19 anos e a grupos específicos da população,
como os de gestantes, idosos, desempregados e pessoas com necessidades especiais, variando conforme o
país4.
15
expansão em todo o País. A partir de 2003, com o início do governo Lula, a saúde bucal
alcançou um status prioritário na agenda governamental federal. A Política Nacional de
Saúde Bucal (PNSB) Brasil Sorridente, lançada em 2004, reúne uma série de ações em
saúde bucal voltadas para cidadãos de todas as idades, baseadas em princípios de
universalidade e integralidade. Nesse sentido, os dados obtidos no levantamento
epidemiológico de 2003 serviram de base para a construção dessa política.
Com a implantação do Programa Brasil Sorridente, espera-se que haja uma
mudança na atenção à saúde bucal, que foi marginalizada por tantos anos. A PNSB tem
como meta principal ampliar e qualificar a atenção básica e reorganizar a atenção em
saúde bucal, buscando assegurar atendimento em todos os níveis de atenção e
proporcionar acesso a todas as faixas etárias5.
Uma forma de implementar esse atendimento integral tem sido a implantação
dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), que compreendem a oferta de
serviços de endodontia, periodontia, diagnóstico bucal, cirurgias e atendimento a
pacientes com necessidades especiais. Outro dispositivo são os Laboratórios Regionais
de Próteses Dentárias, cuja finalidade é confeccionar próteses totais ou parciais
removíveis5.
Os CEOs são colocados como dispositivos centrais dessa política, já que, por
meio deles, estaria assegurada a continuação do atendimento, que representa um aspecto
crítico para a integralidade. Tal argumento constitui a quarta justificativa deste
trabalho5.
Porém, organizar as ações de saúde na perspectiva da integralidade, relacionada
a uma atenção contínua, por meio de ações articuladas em rede que promovam a
coordenação do cuidado entre os diversos serviços é ainda hoje um dos grandes desafios
para a consolidação do SUS. Apesar dos avanços, muitos serviços ainda atuam de forma
fragmentada.
Diante desse quadro, é importante o estudo e a análise das políticas relacionadas
à integralidade em saúde bucal, para que os serviços de saúde sejam mais resolutivos no
atendimento das necessidades da população.
Dado o contexto da política no Brasil, marcado pela forte indução nacional e
pela grande diversidade local, justifica-se o exame tanto da condução política nacional
como da sua implementação, por meio da realização de um estudo de caso no município
de Vitória. Esta última justificativa apresenta-se como um importante recorte para a
realização deste estudo, visto que um Estado federal é caracterizado pela soberania
16
compartilhada entre o governo central e os subnacionais, exigindo equilíbrio entre o
autogoverno e a interdependência6.
Em um país como o Brasil, de grande extensão territorial, heterogêneo e
federativo, são adotados mecanismos para a coordenação federativa. O Governo
Federal, na distribuição intergovernamental de funções, fica encarregado da formulação
da política nacional de saúde, de seu financiamento e da coordenação das ações
intergovernamentais. Assim, uma política implementada em nível local será fortemente
dependente das regras institucionais nacionais e da transferência de recursos7.
Vitória foi escolhida por ser a cidade de origem da pesquisadora, ser uma capital
estadual com aproximadamente 320.000 habitantes e ter um único CEO, implantado há
cinco anos.
As principais questões de investigação que norteiam este estudo são: Quais as
mudanças e possibilidades que a política nacional de saúde bucal trouxe para o
município de Vitória? Qual a trajetória de construção da política de saúde bucal no
Município? Qual o papel que o CEO desempenha para concretização da política
municipal de saúde bucal na perspectiva da integralidade?
O objetivo geral do estudo é analisar a política de saúde bucal na perspectiva da
integralidade, considerando as diretrizes nacionais e a sua implementação no município
de Vitória/ES.
Os objetivos específicos são analisar o desenho da Política Nacional de Saúde
Bucal e a proposta dos CEOs na perspectiva da integralidade em saúde; descrever a
implementação da política municipal de saúde bucal em Vitória- ES; caracterizar o
papel e a atuação do CEO no atendimento à saúde bucal em Vitória/ES; discutir as
possibilidades e desafios dos CEOs como dispositivos da política de saúde bucal
voltada para a integralidade a partir do caso de Vitória/ES.
Além desta Apresentação, a dissertação está dividida em outros quatro capítulos.
No capítulo 1 aborda-se o referencial analítico e metodológico do estudo, por meio das
contribuições de análise de políticas e do enfoque da integralidade. Inicialmente
procura-se situar o campo e o ciclo das políticas públicas como um processo dinâmico e
interdependente. Aqui são abordados o referencial de Kingdon8 sobre a dinâmica de
conformação da agenda governamental e a contribuição da literatura sobre os estudos de
implementação de políticas. No que tange ao enfoque da integralidade, esta é discutida
na perspectiva da organização dos serviços e das respostas governamentais aos
problemas de saúde. Ainda neste capítulo aborda-se o desenho de estudo e caracteriza-
17
se o caso de Vitória. Apresentam-se também as categorias de análise e as estratégias
metodológicas utilizadas na pesquisa.
No capítulo 2 apresenta-se um breve histórico da trajetória da saúde bucal no
Brasil. Em seguida, discute-se a inserção da política de saúde bucal na agenda do
governo Lula bem como sua ascensão. A política é analisada levando-se em
consideração seu conteúdo e as estratégias prioritárias, buscando-se caracterizá-la à luz
do enfoque da integralidade. Destaca-se como uma importante estratégia da política o
CEO. Ainda neste capítulo analisam-se os dados de implantação nacional da política.
Já no Capítulo 3 faz-se uma análise acerca da trajetória da saúde bucal no
município de Vitória, que evidencia quatro momentos históricos distintos na sua
implementação. Os quatro momentos são caracterizados considerando-se o modelo de
atenção preponderante, a oferta de serviços, os principais atores para a concretização da
política, sua estrutura organizacional, além dos principais acontecimentos de cada fase.
Nessa mesma perspectiva, no Capítulo 4 discute-se o sistema atual de atenção
em saúde bucal no Município, procurando identificar elementos de continuidade e
mudanças em relação aos períodos anteriores. Em seguida, aborda-se o CEO,
caracterizando-o por meio da análise de sua estrutura e funcionamento, da sua
integração na rede de serviços e dos dados de produção.
Nas Considerações Finais, realiza-se um balanço da implementação da saúde
bucal no Município, discutindo-se os principais resultados da pesquisa e os desafios da
política para o princípio da integralidade.
18
Capítulo 1 – Referencial Analítico e Desenho do Estudo
Este capítulo aborda o referencial analítico e o desenho metodológico do estudo.
Em um primeiro momento é discutido o referencial de análises de políticas públicas,
com ênfase maior para o processo da implementação. Em um segundo momento são
discutidas as contribuições dos estudos sobre integralidade para a análise das políticas e
organização do sistema de saúde. Posteriormente é apresentado o desenho de estudo,
incluindo o tipo de estudo, as categorias da pesquisa e as estratégias metodológicas.
1.1 Contribuições do Referencial de Análise de Políticas Públicas
Ham e Hill9 discutem a emergência do campo da política pública como uma
proposta para analisar os governos desde a década de 1960. Segundo os autores, os
problemas enfrentados pelos governos envolviam muitos desafios, levando os policymakers a procurar ajuda para solucioná-los. Com isso, os pesquisadores da Academia,
principalmente os das ciências sociais, aumentaram a atenção dispensada a temas
relacionados com a política. Porém, a demanda por análise de políticas públicas
demonstrou que grande parte do trabalho acadêmico tradicional nas ciências sociais não
se adequava à pesquisa aplicada às políticas públicas.
Assim, iniciou-se, nos anos subsequentes, um processo de grande debate sobre
política pública, com a introdução de novos programas de ensino nas universidades e
lançamento de um grande número de jornais acadêmicos dedicados ao tema. Além
disso, professores e pesquisadores de algumas disciplinas, como ciência política,
economia e sociologia, deram início a publicações acadêmicas destinadas às questões
voltadas para esse tema. Ao mesmo tempo, as agências governamentais começaram a
empregar analistas de política, levando em consideração suas técnicas e habilidades9.
Esse assunto passou a ser muito debatido, em uma infinidade de áreas e por
muitos autores. Para Ham e Hill9, tal análise é definida como uma atividade aplicada
preocupada principalmente em contribuir para a solução dos problemas sociais.
Para entender o campo de análise de políticas públicas, deve-se compreender o
que vem a ser política pública. Nesse sentido, Howlett, Ramesh e Perl10 baseiam-se em
duas definições de políticas públicas. A primeira, de Thomas Dye (1972), que descreve
a política pública como o que o governo escolhe fazer ou não fazer. A segunda, de
Jenkins (1978), que a define como um conjunto de decisões tomadas por um ator
19
político ou um grupo de atores sobre a escolha de metas e meios para alcançá-las em
uma situação determinada.
Howlett, Ramesh e Perl10 compilam as definições dos vários autores e
descrevem o conceito de política pública como um fenômeno complexo, que envolve
uma série de decisões tomadas por pessoas e organizações dentro do governo, mas
influenciadas por outras entidades que operam dentro ou fora do Estado.
Souza11 resume a política pública como o “[...] campo de conhecimento que
busca ao mesmo tempo colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação, e quando
necessário, propor mudanças no curso dessas ações” (Souza11, p. 69).
Dessa forma, correlacionando as várias definições, Viana e Baptista12 citam que
falar de política pública é falar do Estado em ação e de todo o processo que envolve
uma ação governamental, como recursos, atores, arenas, pactos, ideias, relações de
poder e negociação.
Nesse sentido, as autoras identificam como objetivos da análise de políticas
públicas o estudo sobre a ação pública bem como seus determinantes, processos,
finalidades e consequências. Tal análise requer a descrição das regras institucionais e
sua intervenção sobre o processo decisório; a identificação dos participantes do
processo político e das coalizões que podem formar-se, bem como a avaliação dos
efeitos das diferentes coalizões sobre as decisões12.
Portanto, o estudo de políticas públicas é fundamentalmente multidisciplinar, já
que envolve diferentes áreas do conhecimento, como história, economia, direito,
sociologia e antropologia, para distinguir os aspectos e dimensões do processo político
(como o financeiro, as relações entre governo e sociedade e entre cidadãos). Para tal
distinção, são utilizadas diferentes abordagens e modelos teóricos no sentido de
esclarecer as relações entre esses aspectos, com maior peso para um ou outro12.
Diante disso, a análise de políticas tem-se baseado na decomposição do processo
de uma política em fases ou estágios, reportando-se ao conjunto das fases como ciclo da
política. Howlett, Ramesh e Perl10 descrevem esse ciclo como dinâmico e constituído de
cinco fases: (1) a fase de entrada na agenda política, quando os problemas passam a ter
atenção dos governantes; (2) a fase de formulação da política, que equivale às propostas
para solução dos problemas; (3) a fase de tomada de decisão pelo governo; (4) a fase de
implementação, que consiste em colocar uma solução em prática; (5) a fase de avaliação
da política, que se refere ao monitoramento dos resultados da política tanto pelo
governo quanto pela sociedade.
20
Os autores10 citam vantagens e desvantagens da abordagem de tal ciclo para a
análise de políticas. Entre as vantagens, discutem a facilidade de compreensão do
processo multidimensional pela desagregação do ciclo em várias etapas ou fases, em
que cada uma delas pode ser analisada isoladamente, ou mesmo por sua relação com as
outras fases do ciclo. Isso pode facilitar a construção de teorias e permitir que os
resultados de estudos de caso e estudos comparativos das diferentes fases sejam
sintetizados. Outra vantagem está relacionada à consideração das interrelações dos
vários atores, ideias e instituições envolvidas na determinação da política, que podem
estar presentes de forma própria nas diferentes fases.
A principal desvantagem desse modelo estaria associada ao risco de tratamento
muito estanque das fases, o que prejudicaria uma compreensão mais abrangente da
complexidade do processo político. É importante destacar que todas as fases da política
são muito dinâmicas e interdependentes, portanto uma influenciará na outra. Na
realidade, os próprios autores10 propuseram a noção de ciclo como uma proposta
analítica, que pode ser didaticamente útil, visto que os momentos de identificação dos
problemas, de desenvolvimento e de implementação das soluções apresentam
características próprias.
Segundo Viana e Baptista12, cada uma dessas fases pode apresentar processos
diferentes, com atores próprios, e sofrer intervenções do contexto político mais geral em
um processo de constante negociação.
Neste trabalho será considerada brevemente a discussão de como um problema
entra na agenda governamental, porém a análise se deterá de forma mais aprofundada
no processo de implementação da política.
No desenvolvimento de uma política é preciso reconhecer um problema como de
relevância pública. Nesse sentido, será utilizado o referencial teórico de Kingdon8 para
entender a fase de construção da agenda. O autor questiona por que alguns temas são
colocados em pauta e outros não e por que certas alternativas são escolhidas e outras
não. Para Kingdon8, a agenda é a lista de temas ou problemas que chamam a atenção do
governo e dos cidadãos. O autor diferencia no processo político três tipos de agenda:
sistêmica ou não governamental, governamental e decisória. A primeira diz respeito aos
temas que são preocupação do país há anos, mas sem ter atenção do governo; a segunda,
dita governamental, é a relação de temas e problemas que chamam seriamente a atenção
dos governantes e de pessoas a ele associadas num determinado momento histórico; a
última reúne a lista de questões a serem decididas.
21
Kingdon8 diz que a construção da agenda é influenciada pelos participantes
ativos, classificados como atores governamentais e não governamentais. Os primeiros
compreendem o alto staff da administração (presidentes, assessores de alto escalão,
ministros, políticos nomeados para cargos públicos), membros do Congresso,
funcionalismo de carreira. Já o grupo dos atores não governamentais inclui acadêmicos,
pesquisadores, consultores, mídia, participantes de partidos políticos e de campanhas
eleitorais e opinião pública.
Ainda segundo o autor8, esses dois grupos (governamentais e não
governamentais) podem ser subdivididos em atores visíveis e atores invisíveis: os
primeiros têm maior influência na definição da agenda e os outros na escolha de
alternativas. Os atores visíveis são o presidente, os assessores de alto escalão, os
ministros, os parlamentares, a mídia, os partidos políticos e os integrantes de campanhas
eleitorais. Já os atores invisíveis compreendem os acadêmicos, os pesquisadores, os
consultores, os técnicos de carreira, os analistas que trabalham para grupos de interesse,
os funcionários do Congresso e do Executivo.
Kingdon8 baseou-se no modelo de Cohen, March e Olsen (1972II e desenvolveu
o modelo de multiple streams para identificar os processos na formação da agenda e na
seleção de alternativas. De acordo com o autor, tal modelo é composto por três fluxos,
que compreendem: o fluxo dos problemas reconhecidos, o fluxo das soluções de
políticas e o fluxo dos eventos políticos (política).
Quanto ao primeiro fluxo, algumas situações podem chamar a atenção para o
reconhecimento dos problemas, tais como indicadores, eventos, crises, símbolos,
feedback de programas e orçamento. O reconhecimento da urgência de um problema
pode ser suficiente para colocá-lo na agenda, mas nem sempre isso aconteceIII,8.
A entrada na agenda pode depender de outros fatores, tais como políticos podem
eleger certos problemas para firmar uma marca com a sua solução; burocratas podem
propor iniciativas para manter seus empregos e aumentar sua área de influência; grupos
de interesse passam a controlar um tema, independente do problema a ser resolvido.
II
Tal modelo é denominado pelos autores de Garbage Can e procura entender as instituições, que operam
em condições de grande incerteza e ambiguidade, tais como universidades e governos. Esse tipo de
organização tem três características: preferências problemáticas, procedimentos pouco claros,
8
participação fluida .
III
Relato do autor sobre quando uma condição se torna um problema: “Condições passam a ser definidas
como problemas quando começamos a crer que precisamos fazer algo a respeito destas condições”
8
(Kingdon , p. 109).
22
O segundo fluxo diz respeito às soluções de políticas, em que as policy
communitiesIV, por meio da discussão e confronto de propostas e pesquisas, formulam
ideias ou alternativas a respeito dos problemas. O autor chama esse processo de seleção
das alternativas de policy primaveral soup, em que somente algumas ideias irão
permanecer desde que satisfaçam aos critérios estabelecidos pelos especialistas. Esses
critérios dependem da viabilidade técnica, da concordância da comunidade de
especialistas e do público e do grau de consenso entre eles8.
Já o terceiro fluxo corresponde à política propriamente dita e independe dos
problemas e das soluções. É composto pelo national mood, por grupos de pressão, por
mudanças administrativas e por resultados eleitorais8.
Quando surge uma ocasião favorável a chamar atenção para problemas ou
oferecer soluções, abre-se o que Kingdon8 chama de “janela de oportunidade”. Essa
situação apresenta maior probabilidade de acontecer quando os três fluxos se unemV.
O autor8 relata que mudanças no fluxo da política, como alterações no national
mood, nas eleições que provocam modificações no Legislativo, assim como nova
administração, podem provocar a abertura da janela de oportunidade. Estas, quando
abertas, apresentam pequena duração. Por isso os policy entrepreneursVI ficam em torno
do governo, com suas soluções à mão, esperando que a janela surja para que eles
possam oferecê-las, aguardando o desenvolvimento do fluxo da política para que eles a
possam usar a seu favor e não perder a oportunidade. “As soluções esperam pelos
problemas8”, no sentido de seu reconhecimento como tal. Assim, existe maior chance de
um tema entrar na agenda governamental quando há a conjunção dos fluxos.
Em relação ao modelo de Kingdon8, este estudo se deterá mais na lógica dos três
fluxos para procurar compreender o lugar que a política de saúde bucal ocupa tanto na
agenda federal como na agenda municipal.
Após o problema ter entrado na agenda governamental, procede-se à formulação
da política. Para Viana13, essa fase caracteriza-se pela busca de soluções e alternativas
para a resolução do problema, e a escolha de uma delas envolve um diálogo de
IV
As policy communities incluem pesquisadores, parlamentares, acadêmicos, analistas de grupos de
8
interesse, planejadores, entre outros .
V
Citação do autor a respeito da ascensão dos problemas para agenda de decisão: “Problemas ou políticas
podem estruturar a agenda governamental, mas a probabilidade de um item ascender na agenda de
decisão é dramaticamente aumentada se os três fluxos – problemas, soluções e política – se unirem”
8
(Kingdon , p.178).
VI
Os policy entrepreneurs compreendem políticos, acadêmicos, lobistas, funcionários públicos de
carreira, entre outros, preocupados com determinados temas/problemas, que utilizam seus recursostempo, energia, reputação e até dinheiro – com o objetivo de promover políticas que correspondam a seus
8
interesses ou preferências .
23
intenções e ações. Esse processo de escolha das soluções pelo governo equivale à fase
de tomada de decisão, seguinte à da formulação. Nesta fase é que se demarcam as metas
a serem alcançadas, os recursos a serem utilizados e o tempo da intervenção12.
Essas fases são muito importantes, já que, segundo Viana e Baptista12, vão
delimitar os princípios e diretrizes para o progresso de uma ação. Nesse sentido, estão
inter-relacionadas com a fase de implementação, pois muitas das decisões só podem ser
tomadas quando todas as informações estão à disposição dos implementadores.
Por isso relata-se que não há separação entre a fase de formulação e a de
implementação de uma política. Se o desenho da política é inadequado no momento da
formulação, a chance da implementação ocorrer é pequena. Entretanto, mesmo com
uma política formulada apropriadamente, se não forem levados em consideração os
problemas de sua execução, a implementação estará prejudicada. Além disso, o
momento da implementação também envolve formulação e reformulação da política12.
A implementação consiste usualmente em pôr em prática uma solução. Mazmanian e
Sabatier14 (p. 21) definem:
Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually
incorporated in a statute but which can also take the form of important
executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the
problem(s) to be addressed, stipulates the objectives(s) to be pursued, and, in
a variety of ways, “structures” the implementation process. The process
normally runs through a number of stages beginning with passage of the
basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing
agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual
impacts – both intended and unintended – of those outputs, the perceived
impacts of agency decisions, and finally, important revisions (or attemped
revisions) in the basic statute.
Assim pode-se perceber que a fase de implementação engloba uma série de
sistemas da administração pública, sistemas gerencial, decisório, de informação,
logísticos e operacionais, bem como agências implementadoras, com seus mais diversos
interesses, negociações e múltiplos atores12.
O processo de implementação é considerado de grande relevância para a política
pública, e está incluído como parte do processo maior de produção de políticas (policymaking). Portanto tem merecido destaque em muitos estudos, no esforço de melhor
entender por que os governos são muito melhores em fazer a legislação do que em
executar as mudanças desejadas15.
Hogwood e Gunn15,VII descrevem a existência de dez pré-condições para que
ocorra uma “perfeita” implementação, a saber:
VII
Foi utilizada a tradução do texto em português elaborada pela professora Maria Eliana Labra.
24
1.
que as circunstâncias externas à agência implementadora não imponham
limites à sua execução;
2.
que o programa disponha de tempo e de recursos suficientes;
3.
que os recursos necessários estejam de fato disponíveis;
4.
que a política a ser implementada esteja baseada em uma teoria que
permita sua efetiva execução;
5.
que a relação entre causa e efeito seja direta e que intervenham poucos
elos (links), pois, quanto maior o número de envolvidos e consequentemente suas
relações, mais complexa será a implementação;
6.
que as relações de dependência entre as agências e seus representantes
sejam mínimas;
7.
que haja consenso entre os atores com relação aos objetivos a serem
alcançados;
8.
que as tarefas sejam especificadas em correta sequência para cada
participante, de acordo com os objetivos acordados;
9.
que haja perfeita comunicação e coordenação nas organizações
envolvidas no processo de implementação;
10.
que aqueles com autoridade obtenham total aprovação aos seus
comandos.
Observa-se, nessa visão dos autores, que uma perfeita implementação é
inatingível, principalmente em uma política complexa como a saúde, na qual sempre
existem várias agências envolvidas, muitos atores, interdependência em todos os
momentos, influências externas de todos os tipos (políticas, financeiras, sociais e
outras).
No Brasil, tal complexidade se associa ao reconhecimento, pela Constituição de
1988 da concepção de saúde como um direito de todos e dever do Estado, assegurado
mediante políticas econômicas e sociais que visem à redução do risco de doenças e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação16. Assim, para assegurar tal direito, o setor saúde apresenta um
amplo espectro de ação.
Primeiro, por envolver os três níveis de governo (federal, estadual e municipal),
com respectivas atribuições para o desenvolvimento de suas funções. Assim os gestores
do Sistema Único de Saúde (SUS) atuam em diversos espaços de negociação e decisão,
exercendo suas funções de forma compartilhada17.
25
Segundo, por abranger ações e serviços de saúde no que diz respeito à garantia
da integralidade, considerando que é necessária a articulação de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos em todos os níveis de atenção. Cabe
ressaltar que articular os diversos níveis envolve desde unidades de saúde até hospitais
mais complexos, assim como exames diagnósticos, transplantes, recursos humanos das
diferentes áreas e formações. Além disso, são necessárias articulações com políticas
intersetoriais que atuem nos determinantes do processo saúde doença para garantia da
promoção da saúde. Vale destacar ainda que o SUS dispõe de serviços da iniciativa
privada para a cobertura assistencial à população e que a saúde é um setor
economicamente importante17,18.
A política de saúde, além da organização da rede assistencial, engloba a
vigilância sanitária, a epidemiológica e a saúde do trabalhador, e deve envolver ações
articuladas com outros setores de governo, como os de desenvolvimento científico e
tecnológico, política industrial, saneamento, urbanização e educação, por exemplo18.
Foram citadas apenas algumas das implicações e responsabilidades do setor
saúde com vistas a demonstrar a complexidade dessa área para a implementação de
políticas.
Portanto as condições discutidas anteriormente estão inter-relacionadas com
muitas outras, pois o processo de implementação é dinâmico e requer o entendimento
dos objetivos a serem alcançados, assim como mecanismos efetivos de comunicação e
coordenação, além de envolver a questão do poder.
Para entender o processo de implementação os autores utilizam ainda os
enfoques top-down e bottom-up. Na abordagem top-down, segundo Hogwood e Gunn15,
os implementadores são vistos como “agentes” dos formuladores, que fazem a política.
Nesse enfoque, os acontecimentos são decorrentes de uma única instância decisória, aos
quais procura responder pela abrangência da política, pelos objetivos e impactos
dispostos, pela própria política e pelos principais fatores que produzem seus impactos e
suas reformulações ao longo do tempo. O processo baseia-se no cumprimento de
objetivos definidos em decisões políticas anteriores pelas ações de atores públicos ou
privados12.
A abordagem bottom-up não confere um papel determinante às estruturas
preexistentes, com a análise da rede de decisões ocorrendo no nível concreto em que os
atores se enfrentam quando da implementação. Parte da ideia de que o processo de
preparação da política tem um controle imperfeito que vai condicionar o momento da
implementação12. De acordo com Sabatier e Jenkins19 esse enfoque traz a análise da
26
multiplicidade dos atores que interagem no nível operacional/local, imprimindo seus
próprios objetivos ao processo de implementação.
O enfoque político de uma implementação leva em consideração, conforme
Hogwood e Gunn15, os padrões de poder e influência entre as organizações e dentro
delas. Por mais que uma política tenha sido planejada em termos de organização,
procedimentos, gerência, se a sua implementação não levar em conta as realidades do
poder (por exemplo a habilidade de grupos opostos à política para bloquear os esforços
de quem a apoia), essa política dificilmente terá sucesso.
Assim, o sucesso de uma política vai depender da habilidade de algum grupo
dominante (ou coalizão de grupos) para impor sua vontade15. Portanto, a fase de
implementação, principalmente se for levado em consideração o contexto federativo, é
complexa e envolve muitos conflitos e negociação. O seu sucesso depende da
compreensão da política, do entrosamento entre formuladores e implementadores, do
conhecimento de cada fase do processo e da quantidade de mudanças envolvidas com a
nova política.
Como discutido anteriormente, a política de saúde é complexa, ainda mais em
países federativos como o Brasil.
Abrucio6 diz que uma federação resulta de um pacto entre as diversas unidades
territoriais, que, por meio de parceria, instituem uma nação e compartilham poderes
entre os governos subnacionais e a esfera central, sem concentração de soberania em um
só ente. Portanto uma federação tem mais de um nível de governo com relações não
hierárquicas, em que todos são soberanos. O autor6 relata que o pacto federativo
estabelece “[...] uma soberania compartilhada, que deve garantir a autonomia dos
governos e a interdependência entre eles” (p.235), autonomia essa garantida no
exercício do autogoverno pelos vários níveis governamentais e interdependência
assegurada pela cooperação entre as partes.
O autor6 descreve que em um sistema federalista há heterogeneidadesVIII entre as
unidades subnacionais que dividem e produzem conflitos peculiares em uma nação.
Entretanto, mesmo protegendo a autonomia local, devem-se procurar formas para
manter sua integridade territorial como nação, evitando o risco de fragmentação.
Assim, arranjos institucionais são necessários para controlar tais diversidades,
visto que o federalismo apresenta grande flexibilidade institucional com capacidade de
acomodação a diferentes conjunturas e realidades sociopolíticas20.
VIII
Esta heterogeneidade pode ser cultural, política, étnica, linguística, socioeconômica, territorial (grande
6
extensão e/ou diversidade física ampliada) .
27
Conforme Almeida21, os sistemas federais, por serem estruturas não
centralizadas, apresentam relações intergovernamentais instituídas pela competição e
cooperação e caracterizadas tanto pelo conflito de poder, como pela negociação entre as
esferas de governo. A autora admite certa
[...] flexibilidade na distribuição de responsabilidades muito adequada às
circunstâncias de um país, onde as capacidades financeira e administrativa
das unidades subnacionais, especialmente dos municípios, são tão
notoriamente desiguais21( p.27).
A autora21 complementa que implementar políticas sociais, como a da saúde, que
apresenta como diretriz organizativa a descentralização, impõe desafios à coordenação
intergovernamental federativa. Entretanto a política de saúde no Brasil, um país
notoriamente enorme e heterogêneo, desenvolveu mecanismos próprios para acomodar
os diversos interesses e administrar as tensões federativas existentes pelo fortalecimento
institucional dos municípios e estados17.
Assim, na distribuição intergovernamental de funções, é atribuição do Governo
Federal o financiamento e a formulação nacional da saúde, além da coordenação das
ações intergovernamentais. Para tal coordenação, o Ministério da Saúde tem adotado a
normatização pela edição de portarias ministeriais como seu principal instrumento. Os
governos municipais tornam-se muito dependentes das regras institucionais e das
transferências federais para a implementação de políticas. Por outro lado, os estados e
municípios participam da formulação da política de saúde pela institucionalização das
comissões intergestores, com representantes estaduais e municipais. Tais espaços de
negociação contrabalançam a concentração de autoridade do Governo Federal7.
Em síntese, a literatura sobre análise de políticas públicas é muito ampla e
diversificada. A breve revisão apresentada neste tópico visou apenas levantar alguns
aspectos
críticos
considerados
na
pesquisa,
relacionados
principalmente
à
implementação da política. Dentre eles destacam-se a indissociabilidade na prática dos
momentos de formulação e implementação, o dinamismo do processo de
implementação de políticas e da diversidade de atores envolvidos, e a complexidade da
implementação das políticas em contextos federativos, como é o caso do Brasil, os quais
têm implicações para a análise de políticas específicas.
1.2 Contribuições do Enfoque da Integralidade em Saúde
A integralidade em saúde, conforme Mattos22 é entendida como um conjunto de
valores, de vários sentidos, pelos quais vale à pena lutar em busca de um ideal de
28
sociedade mais justa e solidária. Nesse texto, o autor procura trabalhar com três sentidos
do princípio da integralidade. O primeiro deles diz respeito à medicina integral, em que
os profissionais de saúde devem compreender o conjunto de necessidades de ações e
serviços de saúde de que um paciente necessita, sem reduzi-lo a uma lesão que lhe
provoca sofrimento. O segundo sentido refere-se à organização dos serviços, em que a
“[...] integralidade se apresenta como um modo de organizar os serviços sempre aberto a
assimilar uma necessidade não contemplada na organização anteriormente dada”, com
vistas a buscar que as necessidades de saúde de um determinado grupo populacional
sejam apreendidas. O terceiro sentido refere-se às respostas governamentais aos
problemas de saúde nas suas mais diversas dimensões e/ou às necessidades de certos
grupos específicos.
Portanto, segundo o autor22, a integralidade pressupõe um esforço de apreender
as necessidades da população e procurar dar respostas aos problemas de saúde em todas
as suas dimensões.
No desenvolvimento deste projeto, serão explorados principalmente os dois
últimos sentidos da integralidade, referentes às respostas governamentais (desenho da
política) e à organização dos serviços.
A adoção da perspectiva da integralidade na análise das respostas
governamentais (desenho da política) é relevante para o estudo da construção e
implementação de políticas específicasIX, como é o caso da Política Nacional de Saúde
Bucal (PNSB) 23.
Nesse contexto, a integralidade vem aliada ao princípio de direito, de acordo
com a Constituição de 198816: o direito ao acesso universal e igualitário aos serviços e
ações de saúde. Tal premissa pressupõe um desenho de política abrangente direcionada
a englobar um conjunto amplo de ações, a incorporar os diversos grupos envolvidos
pelo problema, respeitando suas especificidades, e a abarcar as diferentes ações voltadas
a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação22.
Assim, na construção de uma política, é importante ter um escopo amplo em
relação à sua população-alvo, evitando-se inserir somente alguns grupos populacionais
ou faixas etárias delimitadas, mas incorporando o conjunto da população que pode se
beneficiar da política.
IX
23
De acordo com Mattos (p. 47), políticas de saúde específicas são “as respostas governamentais dadas
a certas doenças específicas, bem como as respostas governamentais dadas a demandas e/ou necessidades
de certos grupos populacionais específicos”.
29
A política deve apresentar um desenho que proporcione um conjunto amplo de
ações e estratégias diversificadas para suprir as necessidades da população, integrando
as dimensões de promoção, prevenção, assistência e recuperação.
Portanto, articular ações assistenciais com preventivas é um dos sinais da
construção das políticas de enfrentamento de certas doenças na perspectiva da
integralidade. Dessa forma, o direito das pessoas que têm uma determinada doença às
ações assistenciais estaria assegurado, assim como o direito da população de se
beneficiar das ações de promoção e prevenção. Os impactos das ações assistenciais e
das ações preventivas apresentam-se distintos. O primeiro responde às necessidades de
saúde por parte dos usuários, enquanto o segundo propõe a mudança do quadro social
de uma doença, que pode alterar as demandas por serviços assistenciais no futuro23.
Deve-se levar em consideração que, para abarcar as ações de promoção, são
necessárias articulações com outras políticas, como saneamento, educação e habitação,
por exemplo18. A política deve apresentar em seu desenho as formas de articulação entre
os setores, os mecanismos e instrumentos necessários para tal articulação, assim como
as formas de financiamento e regulação.
Assim, uma política estará pautada na integralidade quando apreender essas
questões discutidas.
Quanto à dimensão da organização dos serviços de saúde, a integralidade está
relacionada com a necessidade de garantia de acesso a todos os níveis tecnológicos
solicitados em cada situação, a fim de se obter um atendimento com resolubilidade24.
Segundo esses autores, o ponto de partida para a construção do princípio da
integralidade no SUS é a garantia de acesso a todos os níveis de atenção. No entanto, o
acesso por si só não garante a integralidade, já que esse princípio depende de outros
fatores para a sua materialização. Entre esses fatores está a melhoria das condições de
vida da população, a criação de vínculos entre equipes e usuários e a construção da
autonomia dos usuários para satisfazer suas necessidades e demandas em saúde24.
Portanto, o alcance da integralidade vai depender, além do espaço singular dos serviços,
de uma articulação entre serviços e ações setoriais e intersetoriais24.
Dessa forma, no que concerne à organização da rede de serviços de saúde25,
relaciona
a
integralidade
às
diretrizes
de
hierarquização
e
regionalização,
compreendidas como um arranjo entre os serviços de saúde e sua relação com a
população que vive num certo território. A hierarquização pressupõe a diferenciação
entre vários níveis de atenção, cada um oferecendo um conjunto de procedimentos e
apresentando um conjunto distinto de recursos tecnológicos. Já a regionalização refere-
30
se aos serviços de saúde (em vários níveis de atenção) em determinado território, que se
responsabilizam por dar resposta às necessidades de saúde da população.
A porta de entrada é outra questão que se refere à organização da rede de
serviços. Em geral, propõe-se que a atenção básica deva ser a única porta de entrada,
levando-se em conta o modelo de rede regionalizada e hierarquizada. Mattos25 diz que
em processos de grande complexidade as portas de entrada são construídas, refletindo
os dramas e histórias em busca de acesso.
O autor25 defende que, para organizar a rede de serviços de saúde, se deve levar
em conta, primeiramente, os territórios da vida social em toda a sua complexidade. Em
segundo lugar, deve-se abandonar a ideia de porta de entrada única no serviço. As
portas de entrada podem ser várias: atenção básica, emergências, Serviços de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ambulatórios de especialidades. Em terceiro
lugar, devem-se mudar os padrões de utilização das portas de entrada, mediante o
acolhimento e a orientação dos fluxos, de modo a atender integralmente as necessidades
das pessoas. Em quarto, os profissionais devem estar disponíveis para atuar como portas
de entrada, reconhecendo entre os usuários aqueles que, na sua trajetória, ainda têm
necessidades de serviços de saúde não atendidos, esboçando com isso um plano de
cuidados abrangente e individualizado e desenhando os fluxos adequados à sua
implementação.
Como sintetiza o autor25:
A tarefa da gestão do cuidado não seria a de criar normas para ordenar os
fluxos de certos pacientes, mas sim contribuir para que os profissionais,
vendo-se como portas de entrada, sejam capazes de propor um fluxo que
responda às necessidades da pessoa (p. 381).
Nesse contexto, a coordenação do cuidadoX adquire centralidade na organização
da atenção à saúde elevando o paciente à condição de sujeito. A continuidade de
atenção seria favorecida pela disponibilidade de informações a respeito dos problemas e
do percurso da pessoa na rede de serviços e o reconhecimento dessas informações pelos
profissionais de saúde. O desenvolvimento de sistemas organizados de serviços de
saúde, com integração da atenção em diferentes níveis e locais de prestação de serviços,
aumentaria a resolutividade do cuidado. Nem todas as necessidades podem ser atendidas
dentro da atenção primária, o que significa que as pessoas eventualmente precisam
acessar outros níveis de atenção por necessidades de saúde diferentes. Elas podem ir por
Segundo Starfield26 (p. 365), a coordenação do cuidado seria entendida como estado de harmonia numa
ação ou esforço em comum para garantir aos usuários acesso aos outros níveis assistenciais, mantendo-se
o vínculo com a equipe básica.
X
31
meio de encaminhamento da atenção primária para a atenção especializada, ou mesmo
buscar esses serviços diretamente26.
De acordo com Hartz e Contandriopoulos27 (p. 332), o conceito de integralidade
remete
ao de integração de serviços por meio de redes assistenciais, reconhecendo a
interdependência dos atores e organizações, em face da constatação de que
nenhuma delas dispõe da totalidade dos recursos e competências necessários
para a solução dos problemas de saúde de uma população em seus diversos
ciclos de vida.
Assim, para responder às necessidades de saúde individuais e coletivas em
âmbito local e regional, torna-se indispensável o desenvolvimento de mecanismos de
cooperação e coordenação próprios de uma gestão eficiente e responsável dos recursos
coletivos.
A atenção básica oferece um volume grande de atividades, tem características de
coordenação do cuidado, além de ser responsável por garantir a atenção aos outros
níveis de complexidade. Nesse sentido, Giovanella et al28, elaboraram uma metodologia
para avaliar o cumprimento do princípio da integralidade na gestão e organização dos
sistemas municipais, sem se ocupar em assistência na esfera dos serviços nem de
programas específicos.
Os autores28 propuseram que um sistema de atendimento integral deve ser uma
mistura de ações sanitárias e sociais, em todos os estágios e nas dimensões do processo
saúde-doença, que traga resultados às necessidades individuais e coletivas. Para isso,
adotaram a promoção da saúde, a prevenção de enfermidades e de acidentes, a atenção
curativa e reabilitadora como os três tipos de ação sanitária.
Alguns dos critérios de avaliação da integralidade propostos pelos autores28
foram considerados neste trabalho. O primeiro deles diz respeito à existência de centrais
de marcação de consultas e exames especializados, assim como centrais de regulação,
que sugeriria a preocupação em organizar o sistema de saúde e garantir o acesso aos
diferentes níveis de atenção. Um segundo critério para organização da oferta de serviços
estaria relacionado com a elaboração e instituição de protocolos para doenças e agravos,
o que favoreceria a eficiência na definição dos fluxos de pacientes no interior dos
serviços, nos diversos níveis de atenção, e na redução da probabilidade de
encaminhamentos incorretos. Outros critérios, como a integração da atenção básica à
rede, o monitoramento de filas de espera e a adoção de mecanismos para reduzi-las, o
controle do fluxo de pacientes para outros municípios e a presença de estratégia de
coordenação intermunicipal (como os consórcios), foram considerados relevantes para
garantir a atenção em saúde aos três níveis de complexidade.
32
Em síntese, no Brasil, no período recente, existe um expressivo número de
estudos com o enfoque da integralidade em saúde. Neste trabalho, foram brevemente
apresentadas contribuições de autores selecionados, referentes à análise da integralidade
na conformação da política e na organização da rede de serviços de saúde, contribuições
que embasaram a definição das categorias e das variáveis desta pesquisa, cujo desenho é
apresentado no próximo tópico.
1.3 Desenho do Estudo
A pesquisa teve caráter eminentemente qualitativo, consistindo na análise de
implementação de uma política específica – a política de saúde bucal – com destaque
para uma de suas estratégias – o Centro de Especialidades Odontológicas – na
perspectiva da integralidade em saúde, no município de Vitória, no Espírito Santo.
O referencial analítico fundamentou-se nas contribuições da literatura de análise
de políticas públicas, particularmente as referentes à implementação de políticas, por
um lado, e por outro, nos estudos sobre integralidade, considerando dois sentidos
principais de integralidade: o desenho da política e a organização da rede.
O estudo compreendeu duas vertentes principais. A primeira vertente consistiu
na análise do desenho da política nacional, tendo em vista o poder federal de indução
das políticas e as transformações recentes representadas pelo Brasil Sorridente, que
podem ter implicações para a implementação da política brasileira e a integralidade das
ações. A análise da política nacional foi feita com destaque para sua relação com os
princípios do SUS e com os sentidos da integralidade, considerando as diretrizes, o
conteúdo da política, seus mecanismos de regulação e financiamento. A segunda
vertente consistiu em um estudo de caso no município de Vitória – ES, que analisou a
configuração da política de saúde bucal no Município e o Centro de Especialidades
Odontológicas, como um dispositivo relevante dessa política.
O estudo de caso busca compreender fenômenos sociais complexos, preservando
as características gerais e significativas dos eventos da vida real. Utilizam-se para isso,
além das muitas técnicas adotadas nas pesquisas históricas, fontes de evidências, como
observação direta e série sistemática de entrevistas29.
Nesta pesquisa, o estudo de caso justifica-se pela relevância de estudos de
implementação de políticas no caso do SUS, que procurem analisar as complexas
relações entre o desenho nacional de políticas e sua operacionalização em contextos
locais específicos.
33
O desenho da política nacional e da municipal foi levado em consideração
porque a política é fortemente induzida nacionalmente e o grande peso de sua execução
é municipal.
A seguir são apresentadas uma breve caracterização do município de Vitória,
visando à compreensão do contexto local estudado, as categorias de análise e as
estratégias metodológicas da pesquisa.
O caso estudado: breve caracterização do município de Vitória
O município de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, tem
aproximadamente 93 km² de extensão. É constituído por 34 ilhas e por uma região
continental. Apresenta uma população de 320.156 habitantes, conforme estimativa do
Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2009. Juntamente
com os municípios de Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão integra a
Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), que conta com aproximadamente
1.624.837 habitantesXI30,31,32. O município de Vitória compreende 18,7% da população
da região metropolitana e 9,4% da população estadual do Espírito Santo33.
Na territorialização administrativa, a cidade de Vitória divide- se em oito
Regiões e 79 bairrosXII, de acordo com a Figura 2.132,33.
0.1 Figura 1.1 – Mapa da divisão territorial do município de Vitória
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Vitória
http://www.vitoria.es.gov.br/regionais/territorializacao/territorializacao.html
XI
A Região Metropolitana de Vitória foi constituída pela Lei Complementar Estadual no. 58, de 21 de
fevereiro de 1995. Em 1999 e 2001 incorporou respectivamente os municípios de Guarapari e Fundão,
passando a se chamar Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Atualmente a RMGV
compreende 46% da população total e 57% da população urbana do estado do Espírito Santo 31.
XII A organização do Município em bairros foi regulamentada pela Lei no. 6.077 de 29 de dezembro de
2003. As transformações geopolíticas da cidade redefiniram as divisões regionais e excluíram de seus
contornos alguns bairros pertencentes ao município vizinho, Serra34.
34
A taxa média de crescimento anual do município diminuiu, passando de 1,4% ao
ano na década de 1990 para 1,0% entre os anos de 2001 a 2008. Tal taxa é mais baixa
do que a da região metropolitana, que é de 1,7%, segundo dados do DATASUS em
200933.
A mudança de padrão econômico do Estado de complexo cafeeiro para
complexo industrial-exportador redefiniu e hierarquizou o entorno da cidade de Vitória.
Seu crescimento esteve vinculado às transformações econômicas ocorridas na década de
1960 com a implantação do Porto de Tubarão pela Companhia Vale do Rio Doce, que
mudou o padrão produtivo do Estado em direção à indústria de semiacabados para
exportação. Diante disso, a cidade de Vitória teve um crescimento acentuado de
comércio, serviços, moradia e outras atividades afins, que fizeram seu entorno tornar-se
uma extensão do espaço urbano. O papel de Vitória em relação aos demais municípios
da RMGV é de centralizar as atividades finais do complexo de intercâmbio com o
exterior e dos serviços derivados de sua condição como capital do Estado35.
Assim, Vitória concentra 48,8% do Produto Interno Bruto (PIB) da região
metropolitana e 36% do PIB do Espírito Santo. Além disso, compreende 28,6% da mão
de obra empregada no Espírito Santo e foi responsável por 26,9% do potencial de
consumo (IPC) em 200933,36. No mesmo ano, apresentou o maior PIB per capitaXIII e o
terceiro melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre as capitais
brasileiras33.
A economia municipal está voltada para atividades portuárias, comércio,
indústria, prestação de serviços e turismo de negócios. A cidade de Vitória dispõe de
dois importantes portos do País, o Porto de Vitória e o Porto de Tubarão, e comporta
muitas empresas, como a ValeXIV e a Petrobras Distribuidora33, 35.
Em relação ao rendimento per capita, os indicadores demonstram que
aproximadamente 42% das famílias de Vitória vivem com rendimentos de até dois
salários mínimos. Quanto às condições de saneamento, a maior parte dos domicílios de
Vitória, 99,5%, dispõe de abastecimento de água tratada e praticamente 90% deles
dispõem de rede de esgoto32.
O padrão demográfico do município de Vitória experimentou considerável
alteração nos últimos 25 anos, com queda na taxa de natalidade, de fecundidade e na
participação percentual das faixas etárias mais jovens (até 24 anos). A queda da
XIII
Segundo dados do IBGE, em 2009 o PIB per capita de Vitória foi de R$ 71.407,00, o terceiro maior
entre os municípios do estado do Espírito Santo. No mesmo ano, o Estado apresentou o quarto maior PIB
per capita entre os estados brasileiros, no valor de R$ 18.003,00. Nos últimos anos, o crescimento do PIB
estadual tem ficado em torno de 3,0% ao ano, acima da média nacional de 1,2% ao ano 30.
XIV
A Vale é a antiga Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)33,35.
35
mortalidade geral e o aumento da expectativa de vida favoreceram o crescimento da
população idosa (60 anos e mais) tanto em termos absolutos e quanto em sua
participação na população total.XV 32.
O padrão epidemiológico do município de Vitória assemelha-se ao nacional, em
que se observa um aumento acentuado da prevalência das doenças crônicodegenerativas. No ano de 2009, a primeira causa de morte no Município foram as
doenças cardiovasculares, seguidas dos óbitos decorrentes de neoplasias e causas
externas. Chama atenção o aumento de mortes prematuras na população masculina
jovem, em função da violência. Com relação à taxa de mortalidade infantil, o Município
apresentou um índice de 11,5 por mil nascidos vivos, bem abaixo da média nacional de
19,9 por mil nascidos vivos em 200932.
Categorias de Análise
Com base no referencial teórico-metodológico exposto e na revisão
bibliográfica, o estudo compreendeu as seguintes categorias de análise, que foram
previamente definidas, mas ajustadas na pesquisa de campo:
desenho e implantação da Política Nacional de Saúde Bucal;
configuração e implementação da política de saúde bucal no município e
sua relação com diretrizes nacionais e estratégias estaduais da política;
estrutura e funcionamento do CEO;
integração entre serviços e níveis de atenção.
A primeira categoria, intitulada “Desenho e implantação da Política Nacional de
Saúde Bucal”, relaciona-se à trajetória da política nacional de saúde bucal. Nesse
aspecto, foram analisados o desenho dessa política e as estratégias para sua
operacionalização, como diretrizes, mecanismos de regulação e financiamento.
A segunda categoria diz respeito à especificidade da trajetória, da configuração e
da implementação da política de saúde bucal em Vitória. Considerou-se a história de
conformação, a priorização dessa política no Município, as estratégias de
implementação, no que diz respeito ao financiamento, regulação, controle e atores
envolvidos; a valorização do CEO como um dispositivo para efetivação do atendimento
especializado.
XV
Segundo dados do IBGE30.
36
Ainda dentro dessa categoria, foi analisada a relação da política municipal com
as diretrizes nacionais e as estratégias estaduais, ou seja, procurou-se considerar o papel
das três esferas de governo.
A terceira categoria concerne aos aspectos referentes ao Centro de
Especialidades Odontológicas, abrangendo condições de estrutura, regras de
funcionamento e organização, tipos de ações oferecidas e produção.
A última categoria de análise, intitulada “Integração entre serviços e níveis de
atenção”, diz respeito aos fluxos dos serviços e entre eles, por meio da análise dos
mecanismos de referência e contrarreferência e dos mecanismos de agendamento para
atendimento especializado e organização da demanda.
Por meio dessas duas últimas categorias relacionadas ao CEO, procurou-se
identificar o papel dessa unidade na rede de serviços e a sua importância para a
integralidade (Quadro 1.1).
Estratégias Metodológicas
O estudo compreendeu diversas estratégias metodológicas para alcançar seus
objetivos, tais como revisão bibliográfica, análise documental, análise de bases de dados
secundários e entrevistas semiestruturadas.
A revisão bibliográfica foi realizada a partir de um levantamento nas bases de
dados disponíveis para acesso on-line, tais como Scientific Electronic Library Online
(Scielo) e Bireme, sobre os temas: a trajetória da política de saúde bucal no Brasil, a
integralidade em saúde, e estudos de implementação de políticas de saúde bucal.
A análise documental envolveu os principais documentos e portarias federais de
regulamentação da Política Nacional de Saúde Bucal divulgados no sítio do Ministério
da Saúde (Saúde Legis, Departamento de Atenção Básica, Coordenação de Saúde
Bucal). Os descritores utilizados para pesquisa no Saúde Legis foram: saúde bucal,
odontologia,
CEO,
Laboratórios
Regionais
de
Prótese
Dentária,
Unidades
Odontológicas Móveis, fluoretação das águas de abastecimento público. Também foram
utilizados os documentos estaduais e municipais referentes à saúde bucal, obtidos pelos
sítios ou diretamente nas secretarias de saúde do estado do Espírito Santo e do
município de Vitória.
As informações sobre a evolução da política (abrangência populacional das
equipes, número de equipes de saúde bucal e Centros de Especialidades Odontológicas)
foram obtidas na Sala de Situação do Ministério da Saúde. Foram utilizados os dados
37
por município, unidade federativa, região e Brasil. Para cálculo da abrangência
populacional estimada utilizou-se o número de equipes multiplicado por 3.450 pessoas,
visto que esse parâmetro foi adotado a partir de 2003XVI. Como foram utilizados os
dados de 2002 a 2010, optou-se por empregar tal parâmetro para fins de comparação.
Os dados de produção das várias especialidades do CEO do Município foram
obtidos a partir do SIA/SUS do DATASUS e analisados de acordo com os parâmetros
nacionais do Ministério da Saúde.
Para cálculo dos indicadores de saúde bucal foram utilizados os dados do
SIA/SUS e os dados populacionais obtidos no site do IBGE.
Os dados de oferta de profissionais de odontologia e do número de laboratórios
regionais de prótese dentária foram obtidos na base de dados do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES). Já os dados referentes à cobertura de planos de
saúde foram conseguidos no site da Agência Nacional de Saúde (ANS).
Com relação às entrevistas semiestruturadas, foram realizadas ao todo 22
entrevistas. Os sujeitos da pesquisa foram selecionados segundo os seguintes critérios:
cargo/função ocupada e período de atuação na política ou na atenção à saúde bucal no
município de Vitória.
As entrevistas compreenderam questões relacionadas à estruturação histórica da
saúde bucal no Município, estratégias prioritárias desta política e sua relação com as
demais áreas e políticas de saúde do Município, atores envolvidos na formulação e
implementação, avanços e dificuldades da política, bem como aspectos relacionados ao
funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas, tais como organização dos
fluxos, articulação na rede de serviços, formas de acesso e adoção de protocolos clínicos
nas diversas especialidades.
Os 22 entrevistados distribuíram- se nos seguintes grupos:
coordenador estadual de saúde bucal (1);
coordenador municipal de saúde bucal (1);
ex-coordenadoras municipais de saúde bucal (4),as quais foram incluídas
na pesquisa para melhor descrição e compreensão do processo de implementação da
política de saúde bucal no município;
diretoras
do
Centro
de
Especialidades
Odontológicas
(2),
compreendendo, além da diretora atual, a ex-diretora, por sua relevância na implantação
XVI
A Portaria GM no. 673 de 3 de junho de 2003, estabeleceu o financiamento das equipes de saúde bucal
na mesma proporção das equipes de saúde da família, ou seja, 1 ESB para 3.450 pessoas. Entretanto o
cálculo da abrangência populacional estimado no site do Ministério da Saúde continuou sendo realizado
até setembro de 2010, em cima de 6.900 pessoas (parâmetro utilizado anteriormente)37.
38
desse serviço especializado, por sua trajetória na política de saúde municipal e por seu
afastamento do cargo há menos de seis meses na época do trabalho de campo;
diretoras das unidades especializadas do município (2), que foram
inseridas na pesquisa para melhor entendimento da trajetória das especialidades no
município de Vitória;
cirurgiões-dentistas do Centro de Especialidades Odontológicas (12),
exceto um profissional da especialidade de cirurgia bucomaxilo facial, que estava
inserido no serviço havia menos de quatro meses, sendo entrevistada em seu lugar a
profissional que atuava nessa especialidade anteriormente.
Os entrevistados não são identificados por nome na apresentação dos resultados
da pesquisa, e sim pelo grupo ao qual pertencem. Os grupos compreendem
coordenadores e ex-coordenadores de saúde bucal (coordenador), gerentes do CEO e
das unidades especializadas (gerente) e cirurgiões-dentista do CEO (cirurgião-dentista)
As entrevistas foram gravadas com autorização dos entrevistados e
posteriormente transcritas. Procedeu-se, então, a uma análise de conteúdo temático,
considerando-se as categorias definidas no estudo.
O quadro 1.1 apresenta as categorias de análise, variáveis e estratégias
metodológicas do estudo.
39
0-1 Quadro 1.1 – Síntese das categorias, variáveis e estratégias metodológicas do estudo
CATEGORIAS
Desenho e
Implantação da
Política nacional de
saúde bucal
Configuração e
Implementação da
política de saúde
bucal no município
VARIÁVEIS
Trajetória da política nacional de saúde
bucal;
Desenho e Estratégias da política
nacional (diretrizes, mecanismos de
regulação e financiamento).
Trajetória da política no município;
Priorização da política de saúde bucal no
município;
Desenho da política municipal (papel das
unidades básicas e especialidades);
Estratégias de Implementação da política
(financiamento, regulação, controle);
Relação da política municipal com
diretrizes
nacionais
e
estratégias
estaduais (relações intergovernamentais
na política);
Valorização do CEO como um
dispositivo
para
efetivação
do
atendimento especializado;
Estratégias de implantação.
ESTRATÉGIAS
METODOLÓGICAS/ FONTES
DE INFORMAÇÃO
Documentos, portarias federais,
Saudelegis;
Dados dos sistemas de informação
do Ministério da Saúde.
Entrevista com coordenador(a)
Municipal de Saúde Bucal;
Entrevista com coordenador(a)
Estadual de Saúde Bucal;
Entrevista com diretor(a) do CEO
e outras unidades especializadas;
Documentos
municipais
da
política de saúde bucal.
Estrutura e
Funcionamento do
CEO
Estrutura;
Formas de acesso;
Tipos de ações oferecidas;
Dados de Produção e Desempenho.
Entrevista com coordenador(a)
Municipal de Saúde Bucal;
Entrevista com diretor(a) do CEO
e outras unidades especializadas;
Entrevista
com
profissionais
(odontológos do CEO);
Documentos,
relatórios
de
implantação municipais.
Integração entre
serviços e níveis de
atenção
Mecanismos
de
Referência
e
contrarreferência;
Mecanismos de agendamento para
atendimento especializado;
Organização da demanda.
Entrevista com coordenador(a)
Municipal de Saúde Bucal;
Entrevista com diretor(a) do CEO
e outras unidades especializadas;
Entrevista
com
profissionais
(odontológos do CEO).
Fonte: Elaboração da autora.
40
Capítulo 2 - A Política de Saúde Bucal no Brasil
Neste capítulo é traçado um breve histórico da política de saúde bucal no Brasil
até os anos 2000. Depois se discute de forma mais aprofundada o Brasil Sorridente, que
diz respeito à política de saúde bucal instituída no governo Lula. Por último, são
apresentados os dados recentes de implantação nacional da política.
2.1 Breve Histórico
As raízes da odontologia no Brasil remontam à época do Brasil Colônia,
primeiro com a atuação do pajé, que era um misto de feiticeiro, sacerdote e curador XVII;
depois com a atividade exercida pelo barbeiro, que fazia de tudo na área de saúdeXVIII 38.
A época colonial tinha como principal produto da economia brasileira a cana-deaçúcar, que se tornou acessível ao povo pelo seu baixo custo. A dieta rica em açúcar
acarretou o aumento da cárie dentária. A necessidade crescente de profissionais da área
fez com que a odontologia fosse ensinada a outros indivíduos, sem a obrigatoriedade de
cursos formais e sem restrições governamentais ao exercício profissional2.
Essa situação perdurou por muitos anos até que em 1856 foi instituído um exame
para dentistas se habilitarem ao exercício da profissão XIX . Entretanto os cursos de
odontologia só foram criados em 1884, nas faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e
da BahiaXX 2.
Ao longo do século XX, a prática odontológica predominante foi a odontologia
de mercado, expressando as transformações sofridas pela sociedade brasileira.
Mudanças como o acentuado crescimento econômico, a industrialização e a urbanização
repercutiram na prática odontológica, que se tornou cada vez mais complexa e
tecnologicamente sofisticada. Em consequência disso e associada ao desenvolvimento
capitalista no País, houve uma expansão dos cursos de odontologia. Dessa forma surgiu
XVII
O pajé indígena utilizava práticas essencialmente individualizadas e curativas com técnicas cirúrgicas
rudimentares, como a extração de dentes com instrumentos de madeira ao primeiro sinal de cárie e dor.
Prática comum era utilizar plantas medicinais ou outros elementos, como cinza de unhas de onças, ou
sangrias para escarificar a gengiva, no caso de fortes dores de dente. Nesta etapa dos pajés, a odontologia
era exercida por curandeiros, que se utilizavam de mitos religiosos, remédios caseiros e ervas para
tratamento de dores ou infecções agudas, e a cárie dental evoluía sem tratamento38.
XVIII
Os barbeiros, além de cortar o cabelo e fazer a barba de quem o solicitava, extraíam dentes,
aplicavam sanguessugas e tratavam de luxações, fraturas e ferimentos superficiais. Assim como os pajés,
2
suas atividades terapêuticas eram individualizadas e curativas .
XIX
Tal exame foi instituído na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro2.
XX
Por meio do Decreto no. 9311, de 18842.
41
uma categoria profissional de poder corporativo razoável e de estrutura bastante
complexa2.
A trajetória das ações estatais de atenção odontológica no País expressou a
dicotomia das políticas de saúde brasileiras, divididas nas vertentes da medicina
previdenciária e da saúde pública.
Na vertente previdenciária, as primeiras atividades de atendimento público
odontológico deram-se nas décadas de 1920 e 1930, primeiro pelas Caixas de
Aposentadoria e Pensões (CAP) e depois pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões
(IAP), em que só tinham direito ao atendimento os trabalhadores formais de algumas
categorias, vinculados a essas organizações profissionais39.
Quando houve a unificação dos IAPs e a criação do Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), em 1966, ampliou-se a cobertura previdenciária. Aos
poucos, quase toda a população (urbana e rural) inserida no mercado formal de trabalho
passou a ser beneficiada pela assistência médica da Previdência39.
O modelo de assistência odontológica da Previdência Social era caracterizado
pela assistência à livre demanda, pautada na prática curativa e mutiladora (pelo grande
número de extrações realizado), pela distribuição desigual de recursos humanos e
materiais, pela baixa incorporação de pessoal auxiliar e por mecanismos inadequados de
planejamento, controle e avaliação. As ações do Estado baseavam-se na oferta de
serviços imediatistas às queixas dos indivíduos, buscando manter em boas condições a
força de trabalho2.
A Previdência, nos anos 1970, aumentou o financiamento para a oferta
odontológica, por meio de serviços próprios ou, principalmente, da compra dos serviços
de terceiros mediante convênios e credenciamentos. De acordo com o autor, esses
serviços eram caracterizados por baixíssimo nível de qualidade e altíssimo grau de
mutilação40.
Um dos grandes efeitos produzidos pela assistência odontológica da Previdência
Social, segundo Narvai2, foi o alto número de registros de consultas associadas a
extrações e restaurações. Em 1980, para um total de 5,8 milhões de consultas, foram
realizadas 2,2 milhões de extrações e 1,8 milhão de restaurações nos serviços próprios
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).
Na vertente da saúde pública, a programação em saúde bucal surgiu nos anos
1950, com os primeiros programas de odontologia sanitária desenvolvidos no País pela
Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (Fundação SESP), configurando o
42
denominado modelo incremental XXI 41. Tal modelo compreendia duas vertentes: uma
preventiva e outra de caráter curativo. A preventiva reduziu-se à fluoretação das águas
de abastecimento público ou a sessões semanais de bochechos com soluções fluoretadas
nos serviços de saúde e escolas, enquanto a de caráter curativo se caracterizou pelo
atendimento a escolares de 6 a 14 anos de idadeXXII 42.
Embora fosse designado como de natureza preventivo-curativa, o modelo
incremental enfatizava, na prática, a ação restauradora. As ações educativas e
preventivas eram deixadas em segundo plano e restringiam-se a aplicações tópicas de
flúor. Além disso, a política mantinha um caráter excludente, já que a população fora da
faixa etária de 6 a 14 anos permanecia sem tratamento odontológico42.
A fluoretação das águas de abastecimento público foi utilizada na perspectiva da
prevenção da cárie dentária, trazendo benefícios a milhões de pessoas em todo o mundo.
No Brasil, essa iniciativa tornou-se obrigatória em 1974, com a promulgação de lei
federal, expandindo- se na década seguinteXXIII 44. Entre as razões para tal crescimento
encontravam-se, segundo Narvai2, o apoio do Governo Federal em financiar iniciativas
nessa área e o surgimento de novos coordenadores estaduais de saúde bucal após as
eleições diretas para governador, uma vez que os eleitos estavam muito empenhados em
reorientar as políticas públicas.
Narvai2 menciona duas pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde na cidade
de São Paulo sobre cárie em escolares. A primeira foi realizada em 1985, época em que
iniciou a fluoretação das águas nesta cidade e a segunda onze anos mais tarde, que
demonstrou uma redução de cerca de 67,7% na prevalência de cárie na idade de 12
anos. Tais pesquisas evidenciaram que o início do declínio dos níveis de cárie nas
crianças coincidiu com o início da fluoretação das águas na cidade de São Paulo.
Dessa forma, pode-se perceber que, entre as atividades específicas da prática
odontológica, a fluoretação das águas de abastecimento público é a de melhor relação
Narvai41 (p.10) traz uma discussão a respeito do termo modelo e sugere: “incremental, por exemplo,
refere-se apenas a um sistema de atendimento e não pode ser tomado como um modelo, uma vez que é
possível a programas que tenham concepções diametralmente opostas a saúde-doença, adotar o sistema
incremental”. Todavia, segundo Zanetti40, apesar de o sistema incremental ser um modelo programático,
acabou tornando-se sinônimo de modelo assistencial em saúde bucal. Neste trabalho, adotaremos o
sistema incremental como um modelo.
XXII
O modelo incremental surgiu como uma proposta de prestar atendimento odontológico de forma
programada e sistematizada, contrapondo-se ao modelo de livre demanda empregado pela odontologia
nas décadas anteriores. Sua programação compreendia eliminar as necessidades acumuladas de uma
população definida, até o completo tratamento para posterior controle. Foi preconizado para ser aplicado
em qualquer população, mas foi reduzido aos escolares de 6 a 14 anos. Essa faixa etária foi escolhida pela
grande incidência de cárie com lesões em fase inicial e pela facilidade em dispor de um grupo constante
para atendimento42, 43.
XXIII
A Lei Federal no. 6.050, de 24 de Maio de 1974, obrigou a fluoretação das águas de abastecimento
público onde exista Estação de Tratamento de Água44.
XXI
43
custo benefício XXIV45. Embora essa relação seja positiva, muitas cidades brasileiras,
principalmente das regiões Norte e Nordeste, ainda não têm suas águas fluoretadas.
O modelo incremental preconizado pelo SESP, não se vinculou à unidade de
saúde, mas à escola e suas demandas46. Moysés4 complementa que, em alguns
municípios, a lógica assistencial foi a prioridade máxima aos escolares. As ações de
promoção à saúde bem como as educativas e preventivas foram raras. O autor critica
também esse modelo por não incluir o atendimento ao adulto, o que só ocorria em raras
situações de urgência, sob o argumento de custo elevado de insumos odontológicos e de
existência de profissionais pouco preparados para atuar no serviço público.
O modelo incremental, embora tenha recebido muitas críticas, organizou o
atendimento odontológico das crianças nas escolas por mais de 30 anos e foi
considerado um marco da programação no serviço público odontológico, por ter
quebrado a “hegemonia da livre demanda dos consultórios”. Deve-se ressaltar ainda
que, na época em que foi idealizado, os conhecimentos acerca de cariologia,
microbiologia e planejamento em saúde eram ainda incipientes42. Para Narvai43,
O sistema incremental tornou-se ineficaz à medida que foi transformado em
receita, em padrão a ser reproduzido acriticamente e, em contextos de
precariedade gerencial, falta de recursos e ausência de enfoque
epidemiológico dos programas (p. 143).
Assim, iniciou-se uma discussão voltada para a mudança do modelo de atenção,
já que, no início da década de 1970, o modelo incremental se mostrava superado, do
ponto de vista tanto de eficácia, quanto de cobertura. Entretanto, por apresentar uma
estrutura organizacional muito sólida, esse modelo foi a base para programações
posteriores, tais como a da odontologia simplificada e a da odontologia integral. Esses
modelos procuraram introduzir novas tecnologias, visando diminuir custos e aumentar a
produtividade por meio de simplificação de equipamentos e materiaisXXV, ênfase nos
métodos de prevenção e tentativas de desmonopolizaçãoXXVI do saber de odontólogos,
mediante a transferência de conhecimentos para Técnicos de Higiene Dental (THD) e
Segundo estudo realizado por Frias e cols45, no município de São Paulo o custo médio da fluoretação
per capita/ano foi de R$ 0,08 (oito centavos) em 2003. Nos 18 anos de implantação do sistema de
fluoretação, o custo acumulado foi de R$ 1,44 (um real e quarenta e quatro centavos) per capita.
XXV
A simplificação em odontologia constitui uma crítica ao modelo odontológico caracterizado por
utilizar tecnologia sofisticada e complexa. Segundo Garrafa (1981, apud Serra47,p.21) “a busca da
eliminação do desnecessário, daquilo que pode obstaculizar um trabalho e/ou que pode encarecê-lo, e a
procura, simultânea, do alcance de uma maior cobertura e melhoria na qualidade do atendimento (...). A
simplificação implica também em atuação crítica e criativa nos ambientes de trabalho odontológico, nos
instrumentais, nos materiais e drogas, nas técnicas e sistemas de atendimento e, consequentemente, sobre
os quadros de recursos humanos odontológicos, para produzir e aceitar somente aquilo que tenha valor
coletivo (...)”47.
XXVI
Já o conceito de desmonopolização traz uma crítica ao modo da prática e da assistência dos
odontólogos, por sua resistência a transferir conhecimentos aos profissionais de nível médio.
XXIV
44
Auxiliares de Consultório Dentário (ACD)47. Tais programações enfatizaram a mudança
dos espaços de trabalho48.
Todavia, esses modelos não romperam com a lógica programática do
incremental e não chegaram a se consolidar pelo País, evidenciando-se apenas em
algumas experiências pontuais. Essas propostas serviram de base para muitos
municípios que haviam adotado o modelo incremental e precisavam reestruturar o
planejamento das ações de saúde bucal49.
Entretanto, a odontologia integral fortaleceu a estruturação da odontologia no
Ministério da Saúde como um passo importante para sua consolidação na agenda da
saúde pública brasileira48.
No que concerne à odontologia integral, os conselhos de classe apresentaram
resistências em relação à incorporação do pessoal técnico auxiliar nas tarefas voltadas
para o paciente. As entidades de classe defendiam o controle e policiamento do
exercício da profissão pelos dentistas “práticos” XXVII. Consideravam que a atuação de
profissionais de nível médio poderia vir a configurar-se em exercício inadequado da
profissão47.
No que diz respeito ao contexto político, no final dos anos 1970 observava-se
que atores da área de odontologia se articularam, no contexto mais geral do Movimento
da Reforma Sanitária. O Movimento Sanitário Odontológico, assim designado por
Serra47, juntamente com os demais trabalhadores da saúde, lutou pela mudança do
modelo de atenção à saúde e pela sua democratização.
Nos Encontros Científicos dos Estudantes de Odontologia (ECEO), criticava-se
o monopólio do cuidado odontológico pelos segmentos de renda mais alta, com críticas
à omissão das entidades e lideranças da saúde bucal2. Essas críticas, de acordo com
Serra47, estendiam-se à prática odontológica vigente e ao perfil de formação de recursos
humanos. A prática hegemônica na área de saúde bucal apresentava caráter mercantil e
baseava-se na clínica particular e individualista, com privilégio das ações curativas em
detrimento das preventivas, principalmente as de cunho coletivo.
Com o fim da ditadura e as mudanças no sistema de saúde brasileiro, os novos
coordenadores de saúde bucal, nomeados junto com os governadores eleitos em 1982
em vários estados, sentiram necessidade de aproximação e intercâmbio a fim de
redefinir a agenda nacional para a área odontológica. Nessa época, os municípios não
eram centros de decisão relevantes sobre as ações e programas de saúde bucal2.
XXVII
A denominação de dentistas práticos diz respeito a profissionais sem a formação superior, prática
costumeira no século XVIII, em que os conhecimentos eram transferidos a quem se interessasse, sem a
exigência de curso de graduação.
45
Em 1984, o Movimento de Reforma Sanitária deu origem, entre os profissionais
de odontologia, ao Movimento Brasileiro de Renovação Odontológica (MBRO). Tal
movimento envolvia indivíduos do movimento estudantil, dentistas sanitaristas,
sindicalistas do setor, dentistas militantes de partidos e organizações políticas, que se
reuniam para lutar contra a ditadura. Os princípios que estruturavam esse movimento
baseavam-se em luta pela liberdade política, visando à melhoria das condições sociais
de
existência;
oposição
às
práticas
mutiladoras
odontológicas;
ênfase
na
municipalização; e aumento dos recursos destinados à assistência odontológica.
Defendia-se uma odontologia pública, gratuita, de boa qualidade e acessível a toda a
população, entre outros aspectos2. Os militantes entendiam que a saúde dependia da
melhoria das condições de vida e defendiam o setor público. Assim, a Saúde Bucal
Coletiva passou da teoria à prática política47.
Ainda em 1984, segundo Narvai2, foi realizado o I Encontro Nacional de
Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico (ENATESPO), em
GoiâniaXXVIII, que nasceu da luta pela democracia e pela justiça social. Em seus debates
defendia-se a construção e a indução de uma política nacional de saúde bucal. No
Encontro, foi aprovado o documento intitulado “Proposta de política odontológica
nacional para um governo democrático”. Entre outras proposições, recomendava-se que
os estados e municípios tivessem o direito e a obrigação de planejar e implementar
ações de saúde bucal, conforme suas realidades sociais e epidemiológicas.
Tais movimentos contribuíram para a constituição de propostas para uma nova
Política Nacional de Saúde Bucal que buscasse reverter o quadro de desigualdades e
exclusão social no acesso aos serviços odontológicos47.
Em 1986, foi realizado o primeiro levantamento epidemiológico de saúde bucal
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), pela Fundação SESP e pelas
secretarias de saúde, com o intuito de obter informações sobre a situação de saúde bucal
da população brasileira, que pudessem embasar a formulação de políticas2.
Ainda nesse ano, o Núcleo de Odontologia do Centro Brasileiro de Estudos de
Saúde (Cebes) publicou o documento Reforma Sanitária e Saúde Bucal no Sistema
Único de Saúde. Este documento abordava, entre outras questões, a necessidade de um
projeto de saúde bucal orientado para o SUS desenvolvido por meio de ações
integradas. O documento trazia a discussão sobre o direito à saúde e defendia a
XXVIII
Os ENATESPOs caracterizam-se por serem fóruns de discussão de teorias e práticas de ações e
serviços odontológicos em Saúde Pública. São patrocinados pelas instituições públicas e abertos à
participação de qualquer profissional dessa área, inseridos no serviço público, inclusive os de ensino e
pesquisa.
46
necessidade de o Estado assumir uma política de saúde bucal integrada às outras
políticas econômicas e sociais47.
No entanto, para que uma nova estrutura organizacional de serviços
odontológicos coordenados viesse a funcionar, seria necessário superar alguns pontos,
como as desigualdades sociais e regionais existentes, a ausência de prioridade para a
saúde bucal nas políticas de saúde, a inadequada formação de profissionais, técnicos e
auxiliares, entre outros47.
A I Conferência Nacional de Saúde Bucal (CNSB) foi realizada em 1986 e
enfocou a saúde bucal como direito de todos e dever do Estado. A saúde bucal foi
afirmada como parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo, relacionada
às condições de moradia, trabalho, alimentação, renda, transporte, lazer, meio ambiente,
liberdade, acesso e posse da terra, acesso aos serviços de saúde e à informação3.
Outras questões debatidas na I CNSB foram o financiamento da odontologia, a
adoção de critério epidemiológico para planejamento das ações de saúde bucal e a
reorientação das políticas odontológicas relativas a recursos humanos com ênfase na
formação, tecnologia e pesquisa em Saúde Bucal Coletiva 3,47.
As deliberações contidas no relatório da I CNSB não se traduziram com clareza
na prática. Nos anos seguintes foram construídas outras bases legais e normativas para a
política odontológica no Governo Federal4.
Em 1987, o INAMPS elaborou o Programa Nacional de Controle da Cárie
Dental com o uso de Selantes e Flúor (PNCCSF)50.
Em 1989, o Ministério da Saúde, por meio da Divisão Nacional de Saúde Bucal
(DNSB) definiu uma Política Nacional de Saúde BucalXXIX. Embora essa política tenha
fundamentado seus princípios na universalização, participação da comunidade,
descentralização, hierarquização e integração institucional, isso não foi observado na
prática50. Tal política propunha trabalhar com grupos etários prioritários e enfatizava
ações de educação para a saúde bucal, prevenção das doenças bucais, organização
setorial, formação de recursos humanos, atuação da comunidade, estudos e pesquisas.
Contudo, essa política nacional, nos anos subsequentes, não foi concretizada52.
A partir dessa política, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional da
Cárie Dental (Precad). Tanto o Programa Nacional de Controle da Cárie Dental com o
uso de Selantes e Flúor como o Programa Nacional da Cárie Dental foram instituídos
pelo Governo Federal de modo vertical e centralizado, em um momento em que se
reivindicava a descentralização e municipalização dos serviços de saúde. Naquele
XXIX
Aprovada pela Portaria GM n. 613, de 30 de junho de 198951.
47
momento, o Governo Federal demonstrou sua falta de sintonia com os anseios de
estados e municípios, além de ignorar as proposições feitas pelo ENATESPO durante o
encontro em 19842.
No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, devido às críticas ao modelo
incremental e à odontologia integral, surgiu a proposta de um novo modelo assistencial:
o Programa Inversão da Atenção (PIA)XXX. O modelo proposto integrou os avanços da
odontologia integral e adaptou seu marco teórico a uma estrutura organizativa da
doutrina do SUS. Caracterizou-se pelo controle epidemiológico da doença cárie por
meio da utilização de métodos preventivos baseados no preventivismo escandinavo.
Apresentou como princípios básicos a mudança do enfoque de “cura” para o de
“controle” das doenças bucais e a ênfase no autocuidado. Para isso, baseou-se em três
fases: a estabilização, a reabilitação e o declínio. Tal modelo espalhou-se por muitos
municípios brasileiros, mesmo sem a assessoria formal da empresa, influenciando a
programação em saúde bucal42, 49.
Conforme Narvai2, no início dos anos 1990, durante o governo do presidente
Fernando Collor de Mello, a Divisão Nacional de Saúde Bucal foi transformada em uma
coordenação técnica subordinada à Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. Com
isso, o Programa Nacional de Controle da Cárie Dental com o uso de Selantes e Flúor e
o Programa Nacional da Cárie Dental foram extintos. O Plano Quinquenal de Saúde
1990-1995, “A Saúde do Brasil Novo”, foi o documento que definiu a nova política
nacional de saúde, em que não constava uma política específica para a área de saúde
bucal.
Manteve-se o financiamento das ações e serviços de saúde pela transferência de
recursos por produção, mesmo com a incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde.
Os estados e municípios foram considerados prestadores estatais de serviços de saúde.
Nos vários órgãos públicos, a atuação na área era fragmentada e apresentava um
desempenho desordenado, sem contemplar uma rede articulada de ações2:
Esse modelo de atenção, que valorizava a quantidade de procedimentos
executados, acarretava conflito entre os setores público e privado,
superposição de ações, desperdício de recursos e mau atendimento à
população ( p. 9) 2.
XXX
Esse modelo surgiu inicialmente a partir de elaborações teóricas de Loureiro e Oliveira, professores da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e se constituiu na estratégia de uma empresa de
consultoria situada em Belo Horizonte, a Estação Saúde. Os idealizadores do Programa sofreram críticas
de alguns autores sob a acusação de vender “pacotes prontos” (mercantilização da odontologia) para
alguns municípios que procuravam reorganizar seus sistemas de saúde bucal e não dispunham de
conhecimento e tecnologia adequados49.
48
No ano de 1990 foi proposta a substituição da política de fluoretação das águas
de abastecimento público pela fluoretação do sal de cozinha50. Para Narvai2 essa
proposta enfrentou forte oposição do Conselho Nacional de Saúde, por parte dos
técnicos e especialistas da área, e não teve êxito. A fluoretação das águas de
abastecimento público já havia sido considerada como um dos pilares básicos para a
prevenção da cárie dentária no Brasil e reafirmada pela Política Nacional de Saúde
Bucal de 1988 e pelas entidades profissionais da odontologia.
Em 1992, de acordo com Narvai2, um passo importante nesse campo foi a
inclusão de procedimentos coletivos de saúde bucal na tabela de procedimentos do SIA/
SUSXXXI. Foram expandidas, além das ações de fluoretação das águas e de assistência
odontológica individual, atividades de caráter educativo e de proteção específica à saúde
bucal, como escovação supervisionada com dentifrício fluorado e bochechos com flúor.
Como aspectos positivos dessa inclusão, ressalte-se o impulso que as ações de
promoção e prevenção em saúde bucal deram a centenas de municípios brasileiros, sob
a forma de apoio financeiro. O principal legado foi à alteração do modelo de prática
odontológica, redirecionando-a para ações preventivas e de promoção da saúde54.
Entretanto, o repasse financeiro a estados e municípios pela vinculação dos
procedimentos
coletivos,
visto
inicialmente
como
um
avanço,
acabou
por
descaracterizar-se como um instrumento útil para a mudança do modelo de atenção à
saúde bucal54.
Em 1993, após a saída de Collor, foi realizada a II Conferência Nacional de
Saúde Bucal, com o tema “Saúde bucal é direito de cidadania”. Essa conferência
aprovou diretrizes e estratégias políticas para a saúde bucal no País, além de indicar
características de um novo modelo de atenção em saúde bucal. Foram propostas formas
de financiamento e controle social por meio dos Conselhos de Saúde e defesa da
descentralização das ações, “com garantia de universalidade do acesso e equidade da
assistência odontológica, interligados a outras medidas de promoção de saúde de grande
impacto social”55. (Brasil, 1994).
No entanto, durante o governo de Itamar Franco (1992-1994) e nos dois
governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) a área de saúde bucal não teve
destaque na agenda governamental federal. Sobressaiu no período um intenso processo
de descentralização, com indução de algumas políticas pela esfera federal2. Vale
XXXI
Os Procedimentos Coletivos foram inseridos por meio da Portaria n. 184, de 10 de outubro de
199153.
49
ressaltar que o número de gestores responsáveis pela atenção aos problemas de saúde
bucal foi ampliado graças a esse processoXXXII.
No ano de 1996, foi realizado o segundo levantamento epidemiológico em saúde
bucal pela coordenação de saúde bucal do Ministério da Saúde. Tal projeto limitou-se a
examinar as crianças de 6 a 12 anos de escolas públicas e privadas das capitais
brasileiras. A condução desse levantamento sofreu inúmeras críticas pelo seu
amadorismo, demonstrando a fragilidade da saúde bucal em relação a sua inserção
institucional e política durante a maior parte da década de 1990. O relatório final desse
levantamento nem chegou a ser publicado, entretanto os dados estão disponíveis no site
do DATASUS58.
Em 1998, houve uma mudança importante no financiamento das ações da
atenção básica à saúde, representada pela instituição do Piso da Atenção Básica (PAB).
Os municípios passaram a receber uma parcela fixa de acordo com o número de
habitantes e uma parcela variável referente a incentivos específicos repassados pelo
Ministério da Saúde mediante a implantação de programas recomendados XXXIII. Para
Castro59, a instituição do PAB modificou a lógica de transferência de recursos do
Governo Federal para a atenção básica e enfatizou a necessidade de se reorganizar o
modelo de atenção à saúde. A estratégia principal adotada pelo Ministério foi ampliar a
cobertura do Programa de Saúde da Família (PSF).
Segundo Narvai2, o PAB ajudou no fortalecimento da capacidade gestora local e
em propostas de planejamento e emprego de recursos baseadas nas necessidades de
saúde coletiva.
Em 2000 o Ministério da Saúde abriu uma nova perspectiva para a política
nacional de saúde bucal, ao estabelecer um incentivo financeiro para a reorganização da
atenção à saúde bucal prestada nos municípios por meio do PSF. Esse incentivo era
XXXII
A descentralização, uma das diretrizes organizativas do SUS, pressupõe que os estados e municípios
tenham maior autonomia e responsabilidade para decidir sobre suas ações e serviços de saúde e
implementá-los17. As Normas Operacionais Básicas (NOBs) editadas nos anos 1990 orientaram o
processo de descentralização no SUS. Essas NOBs eram portarias do Ministério da Saúde que reforçavam
o poder de regulamentação da direção nacional do SUS. Traziam aspectos relacionados à divisão de
responsabilidades entre as esferas de governo, assim como relações entre gestores e critérios de
transferências de recursos federais para estados e municípios56. Ainda que de forma lenta, gradual e
negociada, os municípios tornaram-se os principais responsáveis pela gestão da rede de serviços de saúde
no País e, portanto, pela prestação direta da maioria das ações e programas de saúde 57.
XXXIII
O repasse do PAB fixo é per capita, transferido pela União aos municípios para custeio das ações
básicas em saúde. O valor inicial do PAB fixo foi estipulado em R$ 10,00 (dez reais) per capita/ano,
tendo depois sofrido reajustes. Tais valores são repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo
Municipal de Saúde, por meio de transferências intergovernamentais diretas na modalidade “fundo a
fundo”59.
50
representado pelo financiamento de equipes de saúde bucal e foi regulamentado no ano
seguinteXXXIV 60,61.
Foram propostos pelo Ministério da Saúde dois tipos de Equipes de Saúde Bucal
(ESB)60.
ESB Modalidade I: composta por cirurgião-dentista (CD) e auxiliar de
consultório dentário (ACD). O município receberia inicialmente R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para implantação e R$ 13.000,00 (treze mil reais) por ano para custeio de cada
equipe.
ESB Modalidade II: composta por CD, ACD e técnico em higiene dental
(THD). O município receberia inicialmente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
implantação e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) por ano para custeio de cada equipe.
A inclusão da saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família (ESF) significou o
primeiro passo para a efetiva expansão da assistência odontológica no País. Essa
inclusão representou a possibilidade de se criar um espaço de práticas e relações a serem
construídas para a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da
saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde.
Esse processo aconteceu de forma parcial e não obrigatória, sendo inicialmente
proposta uma equipe de saúde bucal como referência para duas equipes de saúde da
família. Diante disso, uma equipe de saúde bucal deveria cobrir em média 6.900
pessoas, o que acarretava uma sobrecarga para os profissionais de saúde de
procedimentos clínicos curativos. Essa sobrecarga comprometia a incorporação da
filosofia da estratégia de Saúde da Família no processo de trabalho desses
profissionais62.
Em 2001, foram implantadas 2.248 equipes de saúde bucal, o que abrangeria,
segundo estimativas oficiais, 8% da população. Em 2002, esse número cresceu para
4.261 equipes, aumentando de forma expressiva nos anos subsequentes63.
Nesse mesmo ano, foi editada a Norma Operacional da Assistência à Saúde
(NOAS – SUS 01/2001) que, entre outros aspectos, definiu a regionalização do sistema
de saúde e ampliou a responsabilidade dos municípios na atenção básica28,64. Nesse
sentido, foram estabelecidas as seguintes responsabilidades no âmbito da saúde bucal: a
prevenção dos problemas odontológicos, prioritariamente na população de zero a 14
anos e nas gestantes; o cadastramento de usuários; o tratamento dos problemas
odontológicos, prioritariamente na faixa de zero a 14 anos e gestantes, e o atendimento
XXXIV
As equipes foram criadas pela Portaria GM/MS n. 1444, de 28 de dezembro de 2000 60, e
regulamentadas pela Portaria GM/MS nº 267, de 6 de março de 200161.
51
às urgências odontológicas. Além dessas responsabilidades, também foi incluído um
elenco de procedimentos de saúde bucal na atenção básica e na média complexidade.
Entre as ações da média complexidade, foram incluídas as relacionadas à endodontia,
indicando uma ampliação da atenção odontológica e uma preocupação em evitar a
extração dentária64.
Dessa forma, pode-se perceber que a saúde bucal começou a ter maior
importância e a fortalecer-se como política pública, fruto de um processo longo, de
muitos atores e movimentos ao longo de anos de luta para inseri-la na agenda
governamental.
No período correspondente ao Governo Lula, tal política ganhou mais destaque,
conforme será abordado no próximo tópico.
2.2 O Brasil Sorridente: A Política de Saúde Bucal no Governo Lula
No período correspondente ao governo Lula, a saúde bucal ganhou um novo
status na agenda política nacional. Para compreender isso é interessante recorrer ao
modelo de análise de conformação de agenda de Kingdon8.
Constata-se, pelo breve histórico anterior, que a saúde bucal já se configurava
como um problema de saúde pública demonstrado pelos altos índices de doenças bucais
encontrados nos levantamentos epidemiológicos anteriores, entre elas o câncer bucal,
que vinha provocando um grande número de óbitos com uma tendência crescente, e o
índice CPO-D elevado, pelo alto número de dentes cariados e perdidos1.
Tal problema já era altamente reconhecido pela comunidade de especialistas da
área odontológica e, em certo grau, pelos gestores da saúde, estes últimos por meio da
conformação dos vários programas implantados nos anos anteriores para controle da
cárie, embora de forma bastante pontual e limitada. Já os especialistas, vinham havia
décadas articulando-se por meio dos vários movimentos, encontros, conferências,
propondo soluções para a saúde bucal, representadas ao longo dos anos pelos vários
modelos de atenção discutidos para transformação da prática vigente.
Além disso, houve uma inflexão no período dos anos 1980 e 1990, quando se
observou uma mudança importante configurada pelo movimento da reforma sanitária,
que defendia uma proposta mais abrangente para a política nacional, com a
conformação de um sistema único de saúde. Mesmo assim, a saúde bucal mostrou uma
enorme defasagem em relação ao SUS, evidenciada pela sua entrada tardia nas equipes
de saúde da família.
52
Entretanto, todas essas justificativas de reconhecimento do problema da saúde
bucal e das propostas de enfrentamento de tal problema pelos especialistas e gestores da
saúde do Governo não tiveram força suficiente para inseri-la na agenda governamental
federal, mesmo no período de implantação do SUS.
Assim, a mudança de governo em 2003 com a eleição do presidente Lula foi
decisiva para que a política de saúde bucal ganhasse destaque na agenda governamental
federal.
A estratégia utilizada foi articular a política de saúde bucal com a política de
combate à fome, tida como de grande importância e prioridade no programa de
Governo. O documento “Fome zero e boca cheia de dentes”
XXXV
baseou-se no
argumento de que, para se ter uma boa alimentação, era necessário ter dentes para
mastigar adequadamente65, 66. Dessa forma abriu-se o que Kingdon8 chama de “janela de
oportunidade”, um momento propício para que o problema entrasse na agenda
governamental federal.
O grupo que elaborou o documento “Fome zero e boca cheia de dentes” vinha
estudando e reivindicando a entrada da saúde bucal na agenda governamental federal
havia muito tempo e já estava com a solução para o problema à mão, só esperando que a
janela de oportunidade surgisse para que pudesse usar a seu favor.
Pode-se considerar esse grupo, nesse caso, como os policy entrepreneurs, que,
de acordo com Kingdon8, aproveitaram a janela de oportunidade no sentido de trazer as
evidências do problema e propor as soluções, ou seja, uma política abrangente pautada
nos princípios do SUS.
Foram levantadas muitas críticas ao Governo anterior, entre elas a desarticulação
da saúde bucal com as demais políticas públicas de saúde, a debilidade de interlocução
entre a área de saúde bucal do Ministério da Saúde e as coordenações estaduais e a não
finalização do levantamento epidemiológico de saúde bucal de 2003. Tal levantamento
de caráter nacional seria fundamental para avaliar a situação da saúde bucal brasileira
diante das metas propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no ano 2000.
Além disso, apontavam-se fragilidades das ações no processo de formação de recursos
humanos odontológicos e demora na realização de outra Conferência Nacional de Saúde
Bucal. Até a elaboração desse documento, só haviam sido realizadas duas Conferências,
sendo a última em 199366.
XXXV
Esse documento foi elaborado por militantes do Partido dos Trabalhadores, militantes da saúde de
outros partidos que integraram a coligação da eleição presidencial de 2002 (PC do B), partidários aliados
aos trabalhadores ligados ao movimento sindical, trabalhadores dos serviços públicos odontológicos e os
relacionados ao ensino e à pesquisa65, 66.
53
Diante disso, foi ressaltada a importância de uma política específica para a saúde
bucal, que estivesse articulada com as demais políticas públicas de governo e com os
demais níveis de governo (estados e municípios)66.
Ainda em 2003, foi concluído o 3º. levantamento epidemiológico de saúde
bucal, por meio do qual foi retratada a situação da saúde bucal da população. Constatouse na ocasião que a ausência de dentes era um dos mais graves problemas de saúde
bucal dos brasileiros. Nesse momento, foi identificada a grande dívida social com
relação à saúde bucal, já que esse levantamento evidenciou o grande número de
adolescentes (13% dessa população) que nunca tinha ido ao dentista e o número de 30
milhões de desdentados existentes no Brasil. Esse levantamento, que apresentou dados
referentes à saúde bucal da população brasileira, serviu de base para a formulação da
Política Nacional de Saúde Bucal1.
Nesse mesmo ano, o Ministério da Saúde passou a financiar as ESBs na
proporção de 1:1 em relação às ESFsXXXVI67. Concedeu-se um aumento de 20% nos
valores dos incentivos de custeio, reajustando a ESB Modalidade I para R$ 15.600,00
(quinze mil e seiscentos reais) e a Modalidade II para R$ 19.200,00 (dezenove mil e
duzentos reais)XXXVII. Mesmo assim, os recursos repassados eram insuficientes e havia
necessidade de complementação pelos municípios2.
Em 2004, foi realizada a III Conferência Nacional de Saúde Bucal e lançada a
Política Nacional de Saúde Bucal52. Tal política, também conhecida como Brasil
Sorridente, colocou a saúde bucal como política pública de âmbito nacional, com seus
pressupostos apresentados no documento Diretrizes da Política Nacional de Saúde
Bucal5. O Brasil Sorridente tem como principal objetivo a reorganização da saúde bucal
em todos os níveis de atenção, no intuito de buscar o atendimento integral.
Nesse sentido, a integralidade, uma das diretrizes do SUS, foi colocada como
eixo central na Política Nacional de Saúde Bucal. Tal política apresenta como principais
estratégias a ampliação e a qualificação da atenção básica, integrando-a aos outros
níveis de atenção, e a articulação das ações de promoção, prevenção, recuperação e
reabilitação5.
O Brasil Sorridente inclui muitas frentes de trabalho para reorganização do
modelo de atenção, entre elas a fluoretação das águas de abastecimento público, a
Portaria GM nº 673, de 3 de junho de 200367.
Além do reajuste n. financiamento das ESBs, foi mantido o incentivo adicional no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por equipe implantada, já definido na Portaria GM/MS n. 1444, de 28 de
dezembro de 200060.
XXXVI
XXXVII
54
ampliação da atenção básica por meio da implantação das equipes de saúde bucal e a
ampliação da atenção secundária e terciária por meio da implantação do CEO.
O foco da política é a atenção à saúde, preconizando-se a prática clínica e,
consequentemente, o planejamento e a gestão dos serviços, entendendo-se a atenção a
um indivíduo como o resultado de um processo em que intervêm distintos profissionais,
situados em diversos pontos de atenção à saúde, com níveis de complexidade
diferenciados5.
A ampliação do acesso a todas as faixas etárias se daria por meio da organização
de linhas de cuidado que reconhecessem as especificidades de cada idade (saúde da
criança, do adolescente, do adulto e do idoso) e por condições de vida (saúde da mulher,
do trabalhador, dos portadores de necessidades especiais, de hipertensos, de diabéticos,
entre outros). Portanto o acesso deveria ser assegurado aos outros níveis de atenção,
com prioridade aos casos de dor, infecção e sofrimento5.
Essa proposta diferencia- se da situação anterior. A saúde bucal se havia baseado
por anos a fio em programas voltados somente à atenção escolar, para uma idade
restrita. Restava aos adultos o atendimento à livre demanda, com ações prioritariamente
curativas, que não favoreciam a integralidade.
O Brasil Sorridente propõe uma concepção de saúde centrada não somente na
assistência aos doentes, mas também na promoção da qualidade de vida e na
interferência nos fatores de risco, por meio da inclusão de ações programáticas mais
amplas e pelo desenvolvimento de ações intersetoriais de promoção da saúde, nas áreas
de educação, saneamento básico, trabalho, meio ambiente, assistência social, entre
outras5.
Nesse sentido, a integralidade está presente, já que orienta o desenho da política
englobando um conjunto abrangente de estratégias e ações, além do escopo restrito dos
serviços de saúde24. O usuário muitas vezes utiliza os diversos níveis tecnológicos e
pode precisar da cooperação de outros setores governamentais, dependendo da sua
necessidade em um determinado momento.
Assim, a política sistematiza as ações a serem desenvolvidas em três grupos5:
ações de promoção e proteção da saúde - que visam à redução dos
fatores de risco através da fluoretação das águas de abastecimento público,da educação
em saúde, da higiene bucal supervisionada eda aplicação tópica de flúor;
ações de recuperação – que compreendem o diagnóstico precoce e o
tratamento em todos os níveis de atenção;
55
ações de reabilitação – que visam reintegrar o indivíduo ao seu convívio
social e às suas atividades profissionais, por meio da recuperação parcial ou total das
funções perdidas como consequência da doença.
Essas ações compreendem um escopo amplo pautado pela perspectiva da
integralidade já que propõem articular os diversos pontos de atenção e abarcar as
necessidades de saúde em todas as suas dimensões.
A política coloca a ampliação da atenção básica como um pressuposto
fundamental, tendo a saúde da família como estratégia principal para uma organização
norteada pelos seguintes eixos o trabalho em equipe, o território, a população adscrita e
a intersetorialidade, além das visitas domiciliares. Todos esses preceitos favoreceriam o
conhecimento da realidade local pelas equipes, bem como o estabelecimento de vínculo
com a população adstrita5.
Além disso, com o objetivo de ampliar a oferta e a qualidade dos serviços
prestados, a política propõe a organização e o desenvolvimento de ações de
prevenção e controle do câncer bucal, pela realização de exames
preventivos para detecção precoce do câncer, pela garantia de atendimento em todos os
níveis de complexidade, pela identificação e acompanhamento dos casos suspeitos, pelo
estabelecimento de parcerias com Universidades e outras organizações para a
prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do câncer bucal.
implantação e aumento da resolutividade do pronto atendimento, por
meio da organização do pronto atendimento, de acordo com a realidade local, da
avaliação do risco na consulta de urgência e da orientação ao usuário quanto ao seu
retorno ao serviço para continuidade do tratamento;
inclusão de procedimentos mais complexos na atenção básica, com o
intuito de propiciar maior impacto e cobertura, por meio do aumento do vínculo, da
ampliação da credibilidade e do reconhecimento do valor de um serviço público
odontológico local;
inclusão da reabilitação protética na atenção básica XXXVIII , pelo
suporte financeiro e técnico do Ministério da Saúde para instalação de equipamentos em
laboratórios de prótese dentária, e pela capacitação de técnicos em prótese dentária e
auxiliares de prótese dentária na rede SUS, para a implantação desses serviços 5,68.
A Política Nacional de Saúde Bucal institui que as políticas de educação
permanente e de financiamento devem ser definidas com o objetivo de implementar
XXXVIII
Por meio da Portaria GM n. 74, de 20 de Janeiro de 2004 - inclui procedimento de moldagem para
prótese na atenção básica68.
56
projetos de mudança na formação técnica, de graduação e pós-graduação para que
atendam às necessidades da população e aos princípios do SUS. Destaque-se ainda a
importância de usar indicadores adequados para acompanhar o impacto das ações de
saúde bucal, por meio de registros fáceis, confiáveis e contínuos, entre outras
recomendações5.
No que concerne à fluoretação das águas de abastecimento público, em 2004,
visando à redução aos fatores de risco advindos desse processo, foi proposto um
indicador de monitoramento de fluoretação, que até então não existia, apesar de a lei
que trata desse assunto datar de 1974. Este indicador propõe a vigilância da potabilidade
da água2.
De acordo com o levantamento epidemiológico de 2003, o indicador CPO-D em
crianças de 12 anos foi 49% maior nos municípios que não disponham de água
fluoretada, em comparação com os demais1. Esse dado demonstra a importância de ter a
fluoretação das águas, já que foi comprovada sua eficácia. Entretanto não é o que
acontece ainda na maioria dos municípios brasileiros, embora o Governo Federal esteja
incentivando tal estratégia.
Entre 2005 e dezembro de 2008, em uma ação conjunta da Fundação Nacional
de Saúde (FUNASA) com as secretarias estaduais de saúde, por meio de convênios,
foram implantados 711 novos sistemas de fluoretação, que beneficiaram 7,6 milhões de
pessoas distribuídas em 503 municípios em onze estados69.
No sentido de ampliar e qualificar a oferta de serviços especializados de saúde
bucal que apresentavam baixa capacidade, e evitar comprometer o sistema de referência
e contrarreferência com a ampliação da atenção básica, fizeram-se necessários
investimentos para aumentar a oferta de serviços na atenção secundária e terciária. A
estratégia adotada foi a implantação dos CEOs5.
Os CEOs são unidades de referência para a atenção básica e no caso dos
municípios com Estratégia de Saúde da Família, para as Equipes de Saúde Bucal (ESB).
Os profissionais da atenção básica são responsáveis pelo primeiro atendimento e pelo
encaminhamento aos CEOs dos casos mais complexos. Esses Centros oferecem serviços
especializados nas áreas de periodontia e endodontia; atendem pacientes com
necessidades especiais; realizam diagnóstico bucal e procedimentos cirúrgicos5.
No que concerne à política de saúde bucal, os CEOs são um importante
instrumento para a consolidação do princípio da integralidade, já que ampliam o
atendimento a um nível secundário, de forma a assistir uma população excluída de
atendimento especializado por anos. Pressupõe-se que o CEO assegure o acesso a
57
serviços especializados às pessoas encaminhadas pelas unidades de atenção básica, já
que oferece um conjunto abrangente de ações.
Em 2003, de acordo com dados do SIA/SUS somente 3,3% do total de
procedimentos odontológicos executados no ano eram de especialidades. Já em 2008, o
número de procedimentos especializados foi de 17,5 milhões, o equivalente a 11,5% do
total. Entre 2003 e 2008, o número de procedimentos odontológicos especializados
cresceu 250%69.
Com relação ao financiamento, em 2004, foram efetuados novos reajustes dos
incentivos financeiros às ações de saúde bucalXXXIX. As ESBs Modalidade I passaram a
receber R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) e as ESBs Modalidade II, R$
26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) por ano para custeio. O incentivo
adicional para a aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos foi reajustado
para R$6.000,00 (seis mil reais). O Ministério da Saúde passou a fornecer um equipo
odontológico completo para as ESBs que se habilitassem na Modalidade II,
incorporando o THD XL . Além dos incentivos, a Portaria incluiu o procedimento de
moldagem para prótese na atenção básica e instituiu o pagamento de R$ 1.000,00 (mil
reais) para cada ESB implantada, para aquisição de materiais utilizados na confecção de
próteses dentárias68.
A implantação dos CEOs se deu a partir de um incentivo financeiro federal de
investimento, seguida de corresponsabilidade financeira das três esferas de governo para
a sua manutenção. O Ministério da Saúde70 instituiu três tipos de CEO e oferece
incentivos financeiros diferenciados para cada tipo XLI . O financiamento federal do
CEO71 prevê um recurso para implantação do Centro, repassado em parcela única, e
recursos mensais de custeio, que devem ser acrescidos por investimentos municipais e
estaduaisXLII. O porte de cada CEO e seu respectivo financiamento estão demonstrados
no Quadro 2.1.
Portaria GM nº 74, de 20 de janeiro de 200468.
O equipo odontológico completo compreende cadeira odontológica, mocho, refletor, unidade auxiliar e
peças de mão.
XLI
A Portaria GM n. 1.571, de 29 de julho de 2004, estabelece o financiamento dos CEOs 70.
XLII
A Portaria GM n. 599, de 24 de março de 2006, define a implantação dos CEOs e de Laboratórios
Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelece critérios, normas e requisitos para seu
credenciamento71. A Portaria GM 600, 24 de março de 2006, institui o financiamento dos CEOs de
acordo com as condições de credenciamento da Portaria 599/GM72.
XXXIX
XL
58
0-1 Quadro 2.1 – Tipos de CEO e formas de financiamento
Tipo de CEO
Porte
I
II
3 cadeiras odontológicas
4 ou mais cadeiras
III
7 cadeiras
Financiamento
Investimento
Custeio
R$ 40.000,00
R$ 6.600,00
R$ 50.000,00
R$ 8.800,00
R$ 80.000,00
R$ 15.400,00
Fonte: Portaria GM n. 1.571 de 29 de julho de 2004. Estabelece o financiamento dos Centros de
Especialidades Odontológicas70.
Além da implantação dos CEOs, houve também a implantação de Laboratórios
Regionais de Prótese Dentária (LRPD). Estes últimos são unidades próprias do
Município ou unidades terceirizadas credenciadas para a prestação de serviços, desde
que sejam registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Inicialmente, os LRPD eram financiados por produção, com recursos do Fundo
de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), por meio da Autorização de
Procedimento de Alto Custo/Complexidade (APAC)XLIII, 73. A partir de 2009, a forma
de pagamento aos LRPDs foi alterada, assim como o valor pago pelas prótesesXLIV. O
financiamento está incluído no Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC).
Os municípios/estados passaram a receber os repasses financeiros de acordo com sua
produção mensal, segundo critérios demonstrados no Quadro 2.2. Propõe-se também a
participação desses laboratórios na confecção de aparelhos ortodônticos removíveis74,75.
0-2 Quadro 2.2 – Produção mensal e tipo de repasse financeiro para LRPD
Produção mensal
Repasse Financeiro
Até 50 próteses/ mês
R$ 3.000,00 mensais
Entre 51 e 150 próteses/ mês
R$ 9.000,00 mensais
Acima de 151 próteses/ mês
R$ 12.000,00 mensais
Fonte: Portarias GM n. 2.374 e 2.375/09.
As Portarias que culminaram na alteração do financiamento para os LRPDs
foram assinadas durante a solenidade de abertura do I Encontro Nacional de Centros de
Especialidades Odontológicas e Equipes de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da
XLIII
Portaria GM/MS nº. 1.572 de 29 de julho de 2004, estabelece o pagamento de próteses dentárias
totais em LRPD. O Ministério da Saúde estipulou que cada LRPD precisava produzir, no mínimo, 48
próteses totais por mês e, no máximo, 242. No caso das próteses parciais removíveis, o Ministério da
Saúde preconizava quarenta peças. Para cada prótese total e prótese parcial removível confeccionada, o
LRPD recebia o valor de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 40,00 (quarenta reais)respectivamente 73.
XLIV
Por meio das Portarias GM/MS nº. 2.374 e 2.375, de 7 de outubro de 2009, que alteram o
financiamento para os LRPD, o valor da prótese total, da prótese parcial removível e das próteses
coronárias/intrarradiculares fixas/adesivas (por elemento) aumentou para R$ 60,00 (sessenta reais)74,75.
59
Família, no período de 7 a 10 de outubro de 2009, em Brasília. O Ministro da Saúde,
José Gomes Temporão, também anunciou na ocasião a realização da Pesquisa Nacional
de Saúde Bucal – 2010.
Nesse encontro estiveram reunidos mais de setecentos profissionais de saúde das
27 unidades federativas do Brasil. Foram discutidos temas como Redes de Atenção à
Saúde, Protocolos de Saúde Bucal, Gestão em Saúde, Processo de Trabalho em Saúde
Bucal e Formação dos Profissionais em Saúde Bucal.
Entre muitas proposições, os participantes do Encontro aprovaram priorizar a
saúde bucal no âmbito das políticas públicas, nas três esferas de governo, e defender o
Brasil Sorridente como política de Estado e não apenas de governo, de forma a
assegurar sua continuidade, expansão e qualificação76.
Foram
aprovadas
outras
proposições,
entre
elas as
relacionadas
ao
financiamento, à inclusão de códigos de procedimentos odontológicos para atendimento
em ambiente hospitalar na tabela SIA/SUS, à valorização dos profissionais de saúde,
por meio de planos de cargos e salários, e à viabilização de ações de educação
continuada para gestores e profissionais do CEO e da atenção primária em saúde. Além
disso, propôs-se a criação de novos espaços democráticos de discussão e formulação de
políticas de saúde bucal nas três esferas de governo e a garantia da realização do II
Encontro de Centro de Especialidades Odontológicas e Equipes de Saúde Bucal da
Estratégia de Saúde da Família76.
Ainda durante o Encontro, foi incorporado no âmbito da Política Nacional de
Atenção Básica, além dos CEOs e LRPDs, o Componente Móvel da Atenção à Saúde
Bucal, a ser desenvolvido por meio das Unidades Odontológicas Móveis (UOM)XLV. As
UOMs são consultórios odontológicos estruturados em veículos devidamente equipados
e adaptados para o desenvolvimento de ações de atenção à saúde bucal a serem
realizadas por Equipes de Saúde Bucal vinculadas à Estratégia de Saúde da Família77.
O Componente Móvel da Atenção à Saúde Bucal foi instituído, entre outras
razões, pela necessidade de expandir a cobertura de atenção à saúde bucal a toda a
população brasileira, de modo a facilitar o acesso aos serviços odontológicos nos
municípios menos favorecidos social e economicamente. Sua implantação considera a
definição do Programa Territórios da Cidadania
XLVI
,que visa à redução das
Tais unidades foram instituídas por meio da Portaria GM /MS n. 2.371, de 07 de outubro de 200977.
O Programa Territórios da Cidadania, instituído por Decreto Presidencial em 25 de fevereiro de
2008, é um programa de desenvolvimento regional sustentável e de garantia de direitos sociais voltados
às regiões mais necessitadas do País. Seu objetivo principal é superar a pobreza e produzir trabalho e
renda, levando ao desenvolvimento econômico. Baseia-se em um plano desenvolvido em cada território
com integração das ações do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais e participação da
XLV
XLVI
60
desigualdades sociais por meio do desenvolvimento econômico e da universalização dos
programas básicos de cidadania78.
Desde o lançamento do Programa Territórios da Cidadania, o Ministério da
Saúde já disponibilizou 387 consultórios odontológicos completos. Além disso, em abril
de 2010, já estavam implantadas 7.165 Equipes de Saúde Bucal em 1.732 municípios
abrangendo uma população de 25 milhões de pessoas nos 120 territórios do Programa.
Em relação aos CEOs, esse número totalizava 222 unidades atingindo oitenta
Territórios78.
Observa-se que, por meio do Programa Territórios da Cidadania e das UOMs, a
saúde bucal tem sido levada a regiões antes excluídas do acesso aos serviços
odontológicos, o que resultou em aumento no atendimento à população.
Em 2006, o Ministério da Saúde divulgou volume especial dos Cadernos de
Atenção Básica sobre saúde bucal, que apresenta os principais modelos de atenção na
área. O documento reitera a necessidade de fortalecimento da saúde bucal na atenção
básica, associada à garantia de acesso dos usuários aos serviços de média e alta
complexidade, de modo a assegurar a integralidade da atenção. Esse documento
também apresenta noções do planejamento local e destaca a importância de se conhecer
o território em que se trabalha, com as suas peculiaridades, de modo a proporcionar
mudanças das práticas de saúde, tornando-as mais adequadas aos problemas da
realidade local. Aborda ainda a importância da epidemiologia e dos sistemas de
informação como instrumentos fundamentais para conhecimento e enfrentamento dos
principais problemas de saúde bucal79.
Desde 2004, muitos documentos normativos têm regulamentado a ampliação da
atenção à saúde bucal, destacando-se a política de incentivos financeiros para a
implantação de CEOs, LRPDs e UOMs e a inclusão de procedimentos de prótese no
âmbito da atenção básica. No Quadro 2.3 é possível identificar as principais Portarias
apresentadas e as políticas preconizadas para a organização da saúde bucal.
Em síntese, o Brasil Sorridente abriu várias frentes de ação para abarcar as
necessidades da população de maneira abrangente com ações de promoção, prevenção e
reabilitação, visando facilitar o acesso a todos os níveis de atenção e assim melhorar os
índices de saúde bucal.
sociedade78. Para a implantação das UOMs é repassado o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais) em parcela única, para os municípios, para a aquisição de instrumentais e materiais permanentes
odontológicos, e valores mensais de R$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais) destinados ao
custeio dos serviços77.
61
Os dados de evolução da implantação da saúde bucal no território brasileiro,
assim como seus indicadores, serão apresentados no próximo tópico.
0-3 Quadro 2.3 – Principais portarias ministeriais relativas à saúde bucal editadas a partir de 2004 –
Brasil.
Controle e
Vigilância da
Água
PORTARIA
GM Nº 518/04 Estabelece os
procedimentos
e
responsabilidad
es relativos ao
controle e
vigilância da
qualidade da
água para
consumo
humano e seu
padrão de
potabilidade.
ESB
CEO
LRPD
PORTARIA
GM Nº 74/04 Reajusta os
valores dos
incentivos
financeiros às
Ações de Saúde
Bucal no âmbito
do Programa
Saúde da
Família, inclui
procedimento de
moldagem para
prótese e dá
outras
providências.
PORTARIA GM
Nº 1570/04 –
Estabelece critérios,
normas e requisitos
para a implantação
e habilitação de
Centros de
Especialidades
Odontológicas e
Laboratórios
Regionais de
Próteses Dentárias.
PORTARIA GM Nº
1572/04 - Estabelece o
pagamento de próteses
dentárias totais em
Laboratórios Regionais
de Próteses Dentárias –
LRPD.
PORTARIA
GM Nº3066/08
– Define valores
de
financiamento
do Piso de
Atenção Básica
Variável para a
ESF e Saúde
Bucal,
instituídos pela
Política
Nacional de
Atenção Básica.
PORTARIA
GM Nº 302/09 –
Estabelece que
profissionais de
saúde bucal da
ESF poderão ser
incorporados as
Equipes de
Agentes
Comunitários de
Saúde
PORTARIA
GM Nº 2372/09
– Cria o plano
de fornecimento
de
equipamentos
odontológicos
para as equipes
de saúde bucal
PORTARIA GM
Nº 1571/04 Estabelece o
financiamento dos
Centros de
Especialidades
Odontológicas –
CEO.
PORTARIA GM
nº283/05
regulamenta
adiantamento de
recursos para
implantação dos
CEO
PORTARIA GM
Nº 283/05 –
Antecipa do
incentivo financeiro
para Centros de
Especialidades
Odontológicas –
CEO em fase de
Implantação.
PORTARIA GM nº
599/06 – Define
CEO tipo III
PORTARIA GM
Nº 599/06 - Define
a implantação de
Especialidades
Odontológicas
(CEOs) e de
Laboratórios
Regionais de
Próteses Dentárias
PORTARIA GM Nº
562/04 – Define
alterações na tabela
Serviço/Classificação
dos Sistemas de
Informações (SCNES,
SIA e SIH/SUS) e
identifica no SCNES, o
serviço de odontologia
com as suas respectivas
classificações, e inclui,
no Subsistema de
Autorização dos
Procedimentos
Ambulatoriais de Alta
Complexidade/Custo APAC/SAI, a
operacionalização dos
procedimentos
realizados nos LRPD.
PORTARIA GM Nº
599/06 - Define a
implantação de Centros
de Especialidades
Odontológicas (CEOs)
e de Laboratórios
Regionais de Próteses
Dentárias (LRPDs) e
estabelece critérios,
normas e requisitos
para seu
credenciamento.
PORTARIA. Nº
2867/08 - Estabelece
recursos a serem
transferidos do Fundo
de Ações Estratégicas e
Compensação - FAEC
para o Teto Financeiro
Anual da Assistência
Ambulatorial e
Hospitalar de Média e
Alta Complexidade dos
Unidade
Odontológica
Móvel
PORTARIA
SAS/ MS no.
750/06 –
- Institui a Ficha
Complementar de
Cadastro das
Equipes de Saúde
da Família; Saúde
da Família com
Saúde Bucal –
Modalidade I e II
e de Agentes
Comunitários de
Saúde, no
Sistema de
Cadastro
Nacional de
Estabelecimento
de Saúde
PORTARIA SAS
Nº 334/09 Altera o § 2º. do
Artigo 1º. da
Portaria SAS/ MS
no. 750/06.
PORTARIA GM
Nº 2371/09 –
Institui no âmbito
da Política
Nacional de
Atenção Básica, o
Componente
Móvel da
Atenção à Saúde
Bucal – Unidade
Odontológica
Móvel UOM.
62
na ESF.
(LRPDs) e
estabelece critérios,
normas e requisitos
para seu
credenciamento.
PORTARIA GM
Nº 600/06 - Institui
o
Financiamento dos
Centros de
Especialidades
Odontológicas.
PORTARIA GM
Nº 2373/09 – Altera
a Portaria GM no.
599/06.
PORTARIA GM
Nº 2376/09 –
Define os recursos
financeiros
destinados ao
custeio dos Centros
de Especialidade
Odontológica.
PORTARIA GM
Nº 1032/10 – Inclui
procedimento
odontológico na
Tabela de
Procedimentos,
Medicamentos,
Órteses e Próteses e
Materiais Especiais
do SUS, para
atendimento às
pessoas com
necessidades
especiais.
PORTARIA GM
Nº 2898/10 –
Atualiza o Anexo
da Portaria No
- 600/GM,
de 23/03/06 que
dispõe de
monitoramento de
produção.
Estados,
Distrito Federal e
Municípios e redefine
o rol de procedimentos
da Tabela de
Procedimentos,
Medicamentos e
Órteses e Próteses e
Materiais Especiais OPM do SUS
financiados pelo
FAEC.
PORTARIA GM Nº
2374/09 – Altera os
valores dos
procedimentos da
Tabela de
Procedimentos,
Medicamentos,
Órteses, Próteses e
Materiais Especiais do
SUS realizados pelos
LRPD, segundo
critérios estabelecidos
pela Política Nacional
de Saúde Bucal.
PORTARIA GM Nº
2375/09 – Define os
recursos anuais para o
financiamento de
procedimentos de
prótese dentária.
PORTARIA GM Nº
870/10 – Estabelece
recursos a serem
incorporados
ao Teto Financeiro
Anual do Bloco de
Atenção de Média e
Alta Complexidade
dos Estados e
Municípios.
PORTARIA GM Nº
205/10 –
Excluir da Tabela de
Habilitações do
Sistema Nacional
de Cadastro de
Estabelecimento de
Saúde (SCNES), a
habilitação
de código 0402 Laboratorio Regional
de Prótese
Dentária.
Fonte: http://portal.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_pesq_consulta.cfm . Acesso em: 23 de novembro
de 2010.
63
2.3 A Implantação da Política de Saúde Bucal no Brasil
Neste tópico serão abordados os dados de implantação das Equipes de Saúde
Bucal, dos CEOs, dos LRPD, das UOMs e os indicadores de processo que conformaram
as várias frentes do Brasil Sorridente.
Equipes de Saúde Bucal
Como dito anteriormente, o primeiro passo para expansão da assistência
odontológica no Brasil foi a incorporação das equipes de saúde bucal na ESF a partir de
2001, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. Nesse ano, foram implantadas
2.248 equipes de saúde bucal (ESB), o que cobria 8% da população.
Nas figuras 2.1 e 2.2, observa-se a trajetória de crescimento e expansão dessa
proposta, seguindo o ritmo de implantação da própria ESF.
Em 2002, estavam implantadas 4.261 equipes de saúde bucal. Já em 2010, esse
número chegou ao total de 20.424 equipes (Figura 2.1), o que representa 379% de
aumento. O crescimento de implantação das equipes de saúde da família, embora tenha
sido constante, apresenta menor percentual (89%) que o das equipes de saúde bucal.
64
0.1 Figura 2.1- Evolução do número de Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal no
Brasil de 2002 a 2010.
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ESB
4.261
6.170
8.951
12.602
15.086
15.694
17.801
18.982
20.424
ESF
16.734
19.068
21.232
24.562
26.729
27.324
29.300
30.328
31.660
Fonte: Sítio do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica. Sala de Situação em Saúde
http://189.28.128.178/sage/
A abrangência populacional estimada manteve um crescimento constante,
subindo de um índice de 8,4% em 2002 para 37,1% em 2010, acompanhando o
crescimento das equipes de saúde da família (Figura 2.2)XLVII.
Esses dados demonstram a importância do Governo Federal em manter um
financiamento regular para os municípios implantarem tal estratégia.
XLVII
Para cálculo de abrangência populacional estimada, utilizou-se o número de equipes multiplicado
por 3.450 pessoas, visto que esse parâmetro foi adotado a partir de 2003. Tais dados podem diferir dos
apresentados na sala de situação do Ministério da Saúde, que manteve o parâmetro adotado anteriormente
de 6.900 pessoas até setembro de 2010. Como foram utilizados os dados de 2002 a 2010, optou-se por
empregar tal parâmetro todos os anos para fins de comparação. Esse parâmetro será mantido nos
próximos gráficos analisados.
65
0.2 Figura 2.2 – Evolução da Abrangência Populacional estimada das Equipes de Saúde da Família
e das Equipes de Saúde Bucal no Brasil – 2002 a 2010.
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ESB
8,4
12,0
17,2
23,6
27,9
28,8
32,4
34,5
37,1
ESF
31,9
35,7
39,0
44,0
46,3
46,8
49,5
50,7
52,8
Fonte: Cálculo realizado pela própria autora a partir do número de equipes de saúde bucal adquiridos no Sítio
do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica e de dados populacionais do IBGE.
Ao analisar os dados por região, observa-se que a Região Nordeste apresentou
um crescimento acelerado no número de equipes, seguida pelas Regiões Sudeste e Sul.
Quando foi calculado o percentual de crescimento de implantação dessas equipes, as
Regiões Norte e Sudeste apresentaram os maiores aumentos, em torno de 330%. As
outras regiões apresentaram aumentos menores que os do Brasil (Figura 2.3).
Com relação à abrangência populacional estimada, há destaque para a Região
Nordeste que, entre os anos de 2003 e 2010, passou de 21,3% para 62,9%. Essa Região,
junto com a Região Centro-Oeste, manteve-se acima da média nacional durante todo o
período. A Região que apresentou menor abrangência populacional foi a Sudeste, apesar
de ter havido um aumento no número de equipes. Atribui-se esse fato ao elevado
contingente populacional observado nessa região (Figura 2.4).
66
0.3 Figura 2.3 – Evolução das Equipes de Saúde Bucal implantadas por região no período de 2003 a
2010.
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
CentroOeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Brasil
2003
649
3.054
349
1.139
979
6.176
2010
1.651
9.690
1.531
4.917
2.635
20.424
Fonte: Sítio do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica. Sala de Situação em Saúde
http://189.28.128.178/sage/
0.4 Figura 2.4 - Abrangência Populacional Estimada das Equipes de Saúde Bucal por região nos
anos de 2003 e 2010.
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Centro-Oeste
Nordeste
2003
18,2
21,3
2010
41,6
62,9
Norte
Sudeste
Sul
Brasil
8,7
5,2
13,0
12,0
34,8
21,2
33,1
37,1
Fonte: Cálculo realizado pela própria autora a partir do número de equipes de saúde bucal adquiridos no Sítio
do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica e de dados populacionais do IBGE.
Constata-se um crescimento da abrangência populacional estimada em todos os
estados da Federação Brasileira entre os anos de 2003 e 2010 (Figura 2.5).
Destacam-se na região Nordeste os estados da Paraíba e do Piauí, com
abrangência populacional estimada em 100%, e os estados da Bahia, do Maranhão e do
Rio Grande do Norte, pela rápida ascensão (Bahia – de 9,0% em 2003 para 43,3% em
67
2010; Maranhão de 11,3% em 2003 para 68,2 % em 2010 e Rio Grande do Norte de
36,2% em 2003 para 94,7% em 2010) (Figura 2.5).
Na Região Norte, verifica-se que todos os estados, exceto Pará, Amazonas e
Rondônia, apresentaram no ano de 2010 abrangência populacional estimada acima da
média nacional. Destaca-se nesta região o estado do Amapá pelo seu rápido
crescimento, de um índice de 8,4% em 2003 para um de 61,3% em 2010. (Figura 2.5).
0.5 Figura 2.5 – Abrangência Populacional Estimada das Equipes de Saúde Bucal por Unidade
Federativa nos anos de 2003 e 2010.
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
DF
RJ
PA
SP
RS AM BA RO AP MG RR
ES MA PE
AC PR MT MS SC GO CE
SE
AL
RN TO
PB
PI
BR
2003 0,0 2,1 2,6 3,5 5,5 7,7 9,0 8,8 8,4 10,0 9,7 11,9 11,3 13,1 14,4 15,0 19,3 18,8 23,5 24,9 25,0 31,1 32,3 36,2 41,2 48,0 47,2 12,0
2010 3,1 16,0 23,4 12,2 21,2 32,4 43,3 33,5 61,3 40,5 44,3 40,5 68,2 51,8 47,7 38,9 44,4 63,9 44,1 48,0 57,7 62,5 62,0 94,7 84,9 100, 100, 37,1
Fonte: Cálculo realizado pela própria autora a partir do número de equipes de saúde bucal adquiridos no Sítio
do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica e de dados populacionais do IBGE.
As Regiões Sul e Sudeste sempre se apresentaram com abrangência
populacional abaixo da média nacional, principalmente a Região Sudeste, que sempre
esteve muito abaixo da média. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram
baixíssima abrangência populacional estimada, puxando a média da Região Sudeste
para baixo.
Centros de Especialidades Odontológicas
Os CEOs são unidades de atenção secundária em saúde bucal, nas quais se
oferece, entre outras ações, a reabilitação e a manutenção da dentição. Esses Centros
complementam o trabalho das equipes de saúde bucal, responsáveis pelo atendimento e
acompanhamento da população.
Desde o lançamento do Brasil Sorridente, observa-se uma propensa ampliação
do número de CEOs no país, pela indução e financiamento do Ministério da Saúde.
68
Com essa ampliação, o número desses Centros totalizou 808 unidades em todo o Brasil
no ano de 2009, indicando um crescimento de 709% em relação a 2004, quando havia
100 unidades. Já no ano de 2010, esse número chegou a 853 unidades (Figura 2.6).
0.6 Figura 2.6 – Evolução do número de Centros de Especialidades Odontológicas no Brasil no
período de 2004 a 2010.
900
853
808
800
674
700
604
600
498
500
400
336
300
200
100
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: Sítio do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica. Sala de Situação em Saúde.
http://189.28.128.178/sage/
Com isso, os procedimentos odontológicos especializados realizados no SUS,
considerados
ínfimos
antes
da
implantação
dos
CEOs,
têm
aumentado
consideravelmente. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre janeiro de 2005
e junho de 2009 foram realizados mais de 24,6 milhões de procedimentos
odontológicos. (Brasil, 2009a).
O maior número de CEOs do tipo I e II concentra-se nas Regiões Nordeste e
Sudeste (Figura 2.7).
69
0.7 Figura 2.7 – Número de Centros de Especialidades Odontológicas por tipo e região em Outubro
de 2010.
250
200
150
100
50
0
NORTE
CENTRO-OESTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CEO tipo I
26
12
145
92
47
CEO tipo II
27
36
161
194
47
CEO tipo III
6
5
32
14
8
Fonte: Sítio do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica. Sala de Situação em Saúde
http://189.28.128.178/sage/
Os estados que apresentam o maior número absoluto de CEOs no País são os de
São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia e Rio de Janeiro (Figura 2.8).
Os estados que apresentam Centros do tipo III são Ceará (12 unidades); Paraná (8
unidades); São Paulo e Sergipe (7 unidades); Bahia (6 unidades); Rio de Janeiro e Goiás (5
unidades); Pará (3 unidades); Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Paraíba (2 unidades);
Amazonas, Amapá, Tocantins, Maranhão, Pernambuco e Alagoas (1 unidade).
0.8 Figura 2.8 – Número de Centros de Especialidades Odontológicas por Unidade Federativa no
ano de 2010.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
SP MG BA CE RJ PR PB PE SC
PI MA PA GO RS RN AL MS ES AM TO RO MT DF SE AP AC RR
2010 149 77 69 75 65 46 43 41 38 26 25 28 27 20 21 20 15 11 11
7
8
6
6
13
Fonte: Sítio do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica. Sala de Situação em Saúde
.http://189.28.128.178/sage/
2
2
1
70
Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias
Do início do Programa a 2008, foram implantados 327 LRPD (Figura 2.9). A
partir de 2009, a forma de pagamento, o valor pago e o credenciamento mudaram,
conforme discutido anteriormente. Portanto tal parâmetro não pôde ser aplicado aos
anos de 2009 e 2010XLVIII.
De acordo com o Ministério da Saúde, são produzidas anualmente cerca de 480
mil próteses dentárias. Em setembro de 2010 havia LRPD implantados em 664
municípios80.
Segundo dados do último levantamento epidemiológico realizado em 2010, o
número de idosos entre 65 e 74 anos que necessitavam de prótese dentária total era de 3
milhões, enquanto o dos que precisavam de prótese parcial era de 4 milhões de
pessoasXLIX.
Observa-se pequena redução da proporção de idosos com necessidade de prótese
nos levantamentos feitos entre 2003 e 2010, o que pode ser explicado pelo estoque de
perdas dentárias acumuladas80.
Assim, verifica-se ainda uma necessidade muito grande de investimentos em
LRPD, no intuito de diminuir o número de desdentados e proporcionar mais saúde à
população.
0.9 Figura 2.9 – Evolução do número de Laboratórios de Prótese Dentária no Brasil no período de
2005 a 2008.
350
327
300
274
250
200
161
150
100
50
36
0
2005
2006
2007
2008
Fonte: DATASUS - SIA/SUS.
XLVIII
Os dados até 2008 se referem aos LRPDs habilitados, diferente da forma de credenciamento dos
LRPDs para os anos de 2009 e 2010, que passam a estar cadastrados no CNES.
XLIX
A prótese total é indicada quando o paciente não possui nenhum dente. Já a prótese parcial
recomendada é quando o paciente apresenta poucos dentes.
71
Unidades Odontológicas Móveis
Em 2009 e abril de 2010, foram distribuídas 160 UOMs em 21 estados. Os que
mais receberam UOMs foram o Rio Grande do Sul, a Bahia, o Pará, São Paulo e Minas
Gerais, com número de unidades acima de 19 (Quadro 2.4).
0-4 Quadro 2.4: Estados Beneficiados com as Unidades Odontológicas Móveis no ano de 2009
Estados Beneficiados
No. de UOM
Estados Beneficiados
No. de UOM
Rio Grande do Sul
32
Rondônia
3
Bahia
22
Amazonas
2
Pará
21
Maranhão
2
Minas Gerais
20
Santa Catarina
2
São Paulo
20
Sergipe
2
Paraná
7
Alagoas
1
Espírito Santo
5
Goiás
1
Pernambuco
5
Mato Grosso do Sul
1
Rio de Janeiro
5
Roraima
1
Mato Grosso
4
Tocantins
1
Paraíba
3
Fonte: Sítio do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica.
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/cnsb/cidades_atendidas. php.
De acordo com o Ministério da Saúde, a partir de abril de 2010 foram entregues
mais 51 UOMs (Quadro 2.5). Para 2011, está prevista a entrega de mais 160 unidades,
conforme definido no Programa Territórios da Cidadania, já abordados anteriormente80.
0-5 Quadro 2.5 - Estados Beneficiados com as Unidades Odontológicas Móveis no ano de 2010.
UF
Unidades
UF
Unidades
UF
Unidades
BA
10
RS
4
ES
1
PA
9
PR
3
MA
1
MG
5
SP
3
MS
1
PE
4
CE
2
MT
1
RO
4
RJ
2
RR
1
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sítio do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção
Básica. http://189.28.128.100/dab/docs/geral/apresentacao_SB2010.pdf
72
Indicadores de Monitoramento e Avaliação da Saúde Bucal
Em 2006, o Ministério da Saúde redefiniu os principais indicadores do Pacto da
Atenção Básica para a área de saúde bucal, os quais são apresentados no Quadro 2.679.
0-6 Quadro 2.6 - Indicadores de Saúde Bucal constantes no Pacto da Atenção Básica 2006.
Indicador
Descrição
Cobertura da primeira consulta odontológica
programática.
Percentual de pessoas que se submeteram a uma
primeira consulta odontológica programática, realizada
com finalidade de diagnóstico e, necessariamente,
elaboração de um plano preventivo-terapêutico (PPT)
para atender as necessidades detectadas. Não se refere
a
atendimentos
eventuais,
como
os
de
urgência/emergência, que não têm seguimento previsto.
Cobertura da ação coletiva escovação dental Percentual de pessoas que participaram da ação
supervisionada.
coletiva escovação dental supervisionada. Tal ação é
dirigida, necessariamente, a um grupo de indivíduos.
Não compreende uma ação individual, em que
atividades educativas são realizadas no âmbito clínico
para uma única pessoa. Expressa o percentual de
cobertura correspondente à média de pessoas que
tiveram
acesso
à
escovação
dental
com
orientação/supervisão de um profissional treinado,
considerando-se o mês ou meses em que se realizou a
atividade em determinado local e ano, visando à
prevenção de doenças bucais, mais especificamente
cárie dentária e doença periodontal.
Média de procedimentos odontológicos Consiste no número médio de procedimentos
básicos.
odontológicos individuais básicos, clínicos e/ou
cirúrgicos, realizados por indivíduo, na população
residente em determinado local e período. Possibilita
análise comparativa com dados epidemiológicos,
estimando-se, assim, em que medida os serviços
odontológicos básicos do SUS estão respondendo às
necessidades de assistência odontológica básica de
determinada população.
Proporção de procedimentos odontológicos Consiste na proporção de procedimentos odontológicos
especializados
em
relação
às
ações especializados em relação às demais ações individuais
odontológicas individuais.
odontológicas realizadas no âmbito do SUS. Possibilita
a análise comparativa com dados epidemiológicos,
estimando-se em que medida os serviços odontológicos
do SUS estão respondendo às necessidades da
população aos serviços odontológicos especializados,
ao grau de atenção e à integralidade do cuidado.
Fonte: Ministério da Saúde – Extraído do Relatório Científico Final do Projeto de Pesquisa intitulado o
“O papel da autoridade sanitária nacional na construção do SUS: a atuação do Ministério da Saúde no
governo Lula” (2010)81.
Além desses, há um indicador equivalente à proporção de exodontias em relação
às ações odontológicas básicas individuais, que possibilita analisar a orientação dos
modelos propostos para a assistência individual.
73
Entretanto tais indicadores, que constituíam instrumento nacional de
monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde bucal referentes à atenção
básica, apresentam muitas inconsistências, às vezes relacionadas à instabilidade na
pactuação.
Até 2007, os dados para cálculo dos indicadores estavam divididos por ações
básicas e ações especializadas em odontologia. No ano de 2007 houve nova pactuação,
e o indicador proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às
ações odontológicas individuais foi retiradoL, 82. A partir de janeiro de 2008, começou a
vigorar uma nova tabela, a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais do SUS, que alterou a vinculação dos procedimentosLI, 83.
Assim, alguns procedimentos em odontologia foram extintos ou mesmo
agregados. Os grupos 3 e 10 que vigoravam até 2007, para ações básicas e ações
especializadas, respectivamente foram extintos83.
Essa modificação na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses
e Materiais Especiais do SUS alterou a forma de cálculo dos indicadores. Assim, não foi
possível utilizar os dados de 2008 e compará-los com os dados de 2007, por ter ocorrido
mudança na agregação destes ao Sistema de Informações a partir de 2008 e por não
existir o indicador de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações
odontológicas individuais. Até 2007, foram utilizados os mesmos parâmetros para
análise dos dadosLII.
A Figura 2.10 mostra um pequeno aumento da cobertura de primeira consulta
odontológica programática na maior parte das regiões, o que pode indicar um aumento
do acesso da população ao atendimento odontológico. A exceção foi a Região Sudeste,
onde houve um decréscimo decorrente de uma diminuição em todas as unidades
federativas da Região.
L
A portaria GM n. 91, de 10 de janeiro de 2007, regulamenta a unificação do processo de pactuação de
indicadores e estabelece os indicadores do Pacto pela Saúde por municípios, estados e Distrito Federal82.
LI
Divulgada pela Portaria GM/MS n. 2.848, de 6 de novembro de 200783, essa tabela foi estruturada em
quatro níveis de agregação: Grupos, Subgrupos, Formas de Organização e Procedimentos, codificados em
dez posições numéricas, diferente da tabela que vigorava até 2007 com oito posições numéricas. Com as
mudanças introduzidas a partir de nova regulamentação, as tabelas de procedimentos ambulatoriais e
hospitalares do SIA/SUS e do SIH/SUS, respectivamente, perderam a sua utilidade, servindo apenas
como referência histórica, ratificando o estabelecido na Portaria GM/MS n. 321, de 08 de fevereiro de
200784.
LII
Para cálculo dos indicadores foram utilizados os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais do
SUS (SIA/SUS).
74
0.10Figura 2.10 – Evolução da Cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática por
região – 2002 a 2007.
15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Norte
10,7
11,0
10,8
11,1
11,3
12,3
Nordeste
12,2
12,2
11,8
12,5
14,3
13,7
Sudeste
11,4
11,4
10,7
10,8
10,1
9,8
Sul
13,0
13,3
12,9
13,6
12,8
13,6
Centro-Oeste
14,5
13,8
13,0
13,1
11,5
12,7
Total
12,0
12,0
11,5
11,9
11,9
11,8
Fonte: SIA/SUS. FIBGE. Indicador calculado a partir da produção ambulatorial e dados populacionais.
Relatório Científico Final do Projeto de Pesquisa intitulado o “O papel da autoridade sanitária nacional na
construção do SUS: a atuação do Ministério da Saúde no governo Lula” (2010)81.
Observa-se
um
aumento
expressivo
da
proporção
de
procedimentos
odontológicos especializados em relação às ações individuais, sugerindo que, em todo o
Brasil, aumentou o acesso da população a serviços públicos odontológicos
especializados, com inflexão clara a partir de 2005 em todas as regiões (Figura 2.11).
0.11Figura 2.11 – Evolução da Proporção de Procedimentos odontológicos especializados em
relação às ações odontológicas individuais por região - 2002 a 2007.
9,50
7,50
5,50
3,50
1,50
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Norte
7,06
7,64
7,03
6,61
7,30
9,22
Nordeste
3,80
3,67
3,78
3,90
5,30
5,85
Sudeste
3,32
3,62
3,91
4,14
6,98
7,88
Sul
2,13
2,32
2,52
3,02
4,13
4,50
Centro-Oeste
3,08
2,78
3,41
4,20
5,91
6,04
Total
3,33
3,50
3,75
4,04
6,04
6,74
Fonte: SIA/SUS. FIBGE. Indicador calculado a partir da produção ambulatorial e dados populacionais.
Relatório Científico Final do Projeto de Pesquisa intitulado o “O papel da autoridade sanitária nacional na
construção do SUS: a atuação do Ministério da Saúde no governo Lula” (2010)81.
75
Outro dado importante é a queda na proporção de exodontias em relação às
ações odontológicas básicas individuais, que demonstra uma mudança no modelo
proposto para a assistência individual (Figura 2.12).
De acordo com dados do Ministério da Saúde, previne-se anualmente a extração
de cerca de 400 mil dentes devido ao aumento da cobertura do Programa Brasil
Sorridente. De 2003, um ano antes do lançamento da política, até setembro de 2009, três
milhões de dentes deixaram de ser extraídos na população usuária do SUS69.
0.12Figura 2.12 – Evolução da Proporção de exodontias em relação às ações odontológicas básicas
individuais por região - 2002 a 2007.
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Norte
10,76
10,09
9,84
9,09
6,66
5,59
Nordeste
14,46
13,53
12,52
10,56
5,62
4,61
Sudeste
5,90
5,68
5,51
5,23
2,57
2,13
Sul
7,76
7,19
6,70
6,17
2,99
2,47
Centro-Oeste
9,05
8,17
8,05
7,28
3,20
2,98
Total
8,68
8,22
7,81
7,11
3,67
3,05
Fonte: SIA/SUS. FIBGE. Indicador calculado a partir da produção ambulatorial e dados populacionais.
Relatório Científico Final do Projeto de Pesquisa intitulado o “O papel da autoridade sanitária nacional na
construção do SUS: a atuação do Ministério da Saúde no governo Lula” (2010)81.
Em 2009, esses indicadores foram totalmente abolidos do Pacto pela Saúde, deixando a
saúde bucal sem indicadores durante o ano de 2010LIII, 85. Em dezembro de 2010, foram
incorporados dois novos indicadores de saúde bucal ao PactoLIV, 86.
cobertura populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal da
Estratégia de Saúde da Família, que consiste no percentual referente ao
número das equipes que foram implantadas, multiplicado pelo
quantitativo de 3.450 pessoas e dividido pela população do mesmo local
e período;
LIII
A Portaria nº 2.669, de 3 de novembro de 2009 - Estabelece as prioridades, objetivos, metas e
indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde, nos componentes pela Vida e de Gestão,
e as orientações, prazos e diretrizes do seu processo de pactuação para o biênio 2010 – 201185.
LIV
Instituído pela Portaria nº 3.840 GM/MS de 7 de dezembro de 2010 - Inclui a Saúde Bucal no
Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde, e estabelece as diretrizes, orientações e prazos do
processo de ajuste de metas para o ano de 201186.
76
média da ação coletiva de escovação dental supervisionada, que abrange
o percentual de pessoas participantes da ação coletiva de escovação
dental supervisionada, considerando-se os meses em que a atividade foi
realizada e a população em determinado local e período.
Tais indicadores demonstram uma fragilidade grande em relação à saúde bucal,
já que não possibilitam uma avaliação concreta das ações que estão sendo realizadas. A
cobertura populacional estimada, tal como definida, não significa que os usuários
estejam necessariamente recebendo tratamento que implique alterações em seu estado
de saúde. Nesse sentido, tais indicadores não são suficientes para um adequado
monitoramento da saúde bucal, principalmente com relação aos atendimentos básicos e
especializados. Assim, os gestores da área ficaram sem parâmetro de acompanhamento
para planejamento e gerenciamento das ações que interferem nos processos saúde e
doença.
Observa-se que a Política Nacional de Saúde Bucal, embora tenha pautado suas
diretrizes e pressupostos para efetivação da integralidade como princípio de organização
da atenção e tenha fornecido condições, por meio de recursos financeiros, para a sua
implementação, demonstra inadequado monitoramento e avaliação de suas ações quanto
à sua efetividade.
Em síntese, pode-se observar que a saúde bucal, após décadas de lutas sem se
configurar na agenda governamental federal, passou a ocupar um lugar de destaque com
a mudança de governo em 2003. O lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal
adotou a reorganização da saúde bucal em todos os níveis de atenção, no intuito de
buscar o atendimento integral. Tal política utiliza várias estratégias para aumentar o
impacto e ampliar o acesso da população aos serviços odontológicos. Entre elas, a que
obtém maior destaque é o Centro de Especialidades Odontológicas, por oferecer o
acesso à média complexidade, não disponibilizada no serviço público até então. O
Governo Federal utiliza os incentivos financeiros e as regras institucionais, tais como as
portarias, como principal recurso para induzir os municípios a implementarem tal
política. Portanto, considerado o contexto federativo de um país como o Brasil, de
extensas proporções, é de extrema importância analisar os contextos locais. Assim, no
próximo tópico será analisada a implementação dessa política no município de Vitória e
as suas especificidades em relação ao contexto nacional.
77
Capítulo 3 – Trajetória da Política de Saúde Bucal em Vitória
A análise da trajetória da política de saúde bucal no município de Vitória
permitiu identificar quatro períodos principais, com características distintas em termos
da condução da política, da organização do sistema de saúde e do modelo de atenção: o
período pré-SUS (1950-1988), o período de ênfase na municipalização (1989-1994), o
período de predomínio do Programa Sorria Vitória (1995-2003) e o período de
influência do Brasil Sorridente (2004-2010)LV.
3.1 O Período Pré-Sus (1950-1988)
Os primórdios da saúde bucal como política pública no município de Vitória
datam da década de 1950 e antecedem até mesmo a estruturação da Secretaria
Municipal de Saúde. Na ocasião, a saúde bucal estava vinculada à Divisão de Saúde e
Bem-Estar Social do Departamento de Educação, de Cultura e Saúde87.
A Divisão funcionava com um consultório dentário, onde eram realizados os
atendimentos curativos com predominância para as exodontias. O quadro de
funcionários era composto por quatro cirurgiões-dentistas. As ações de educação em
saúde nas comunidades eram realizadas pelo serviço social, por meio dos estagiários da
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), que encontravam índices elevados de
doenças bucais. Pode-se dizer que, entre os anos 1950 e 1970, a oferta das ações de
saúde bucal e o acesso da população do município a essas ações eram extremamente
limitados. O modelo de atenção predominante caracterizava-se pelo atendimento
curativo, imediatista e de livre demanda87.
A implantação de um complexo industrial na cidade de Vitória proporcionou o
deslocamento de grande contingente populacional do interior do Estado e de outras
regiões do País para o Município. Esse crescimento acelerado, sem a criação de
infraestrutura adequada para atender a demanda, trouxe problemas ao setor saúde. O
desenvolvimento desordenado do Município gerou aumento de agravos ambientais,
elevado número de acidentes de trabalho, insuficiência de escolas, violência, entre
outros fatores condicionantes do processo saúde-doença88.
LV
Essa periodização foi proposta pela pesquisadora a partir da análise da trajetória da saúde bucal do
município de Vitória, para fins deste estudo. Os períodos têm duração variável e não há a pretensão de
esgotá-los neste trabalho.
78
Na década de 1970, observou-se um aumento gradativo na oferta de serviços de
saúde, com ampliação da rede por meio da construção de unidades de saúde. Em 1978,
havia dez unidades de saúde, todas com consultórios odontológicos. Com isso, houve
um incremento na contratação de cirurgiões-dentistas87.
Também se implantou, ainda que de modo incipiente, o uso de novas
tecnologias, tais como amalgamadores e silicato para a realização de restaurações,
utilização de flúor de uso tópico para prevenção de cáries e distribuição de escovas para
trabalhos educativos.
Na unidade de saúde do Forte São João, que prestava atendimento odontológico
aos funcionários da Prefeitura Municipal de Vitória e seus dependentes, além do
atendimento clínico eram realizados procedimentos de odontopediatria87.
Em 1978, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória foi estruturadaLVI e em sua
organização constavam o Departamento Médico-Odontológico e Social e o
Departamento de Saúde Pública. Com a estruturação da Secretaria, a Divisão
Odontológica passou a ter maior autonomia e verbas para investir na ampliação dos
serviços87.
Em 1979, foi realizado o primeiro levantamento epidemiológico no Município,
que apontou altos índices de dentes cariados e perdidos. Os dados obtidos por meio
desse levantamento não foram satisfatórios; portanto foi formada uma equipe para
atendimento nas creches, a fim de realizar orientação educativa e tratamento curativo
por meio de equipamentos volantes87.
Entre 1980 e 1984, foi instituído na Prefeitura de Vitória, em conjunto com a
Secretaria de Educação, o Programa Saúde Escola, que se caracterizava pelo
atendimento às crianças na faixa etária de 6 a 14 anos em consultório odontológico
montado dentro das escolas. Cabe ressaltar que o Saúde Escola não fazia interface com
as unidades de saúde. O dentista era alocado dentro da escola, sem ter orientações
quanto à sua prática clínica, o que culminou em uma odontologia predominantemente
restauradora, reducionista e mutiladora. Existiam ainda os agentes de Saúde Escolar
que, junto com os cirurgiões-dentistas, eram responsáveis pelas ações educativas nas
creches e escolas. O número de profissionais nas unidades de saúde e no Saúde Escola,
em 1984, totalizava dezoito cirurgiões-dentistas e quinze atendentes de consultório
dentário87.
Entre 1984 e 1990, houve ampliação dos serviços, com abertura de novas
unidades, e aconteceram contratações durante os governos de dois prefeitos desse
LVI
A Secretaria Municipal de Saúde foi estruturada pela Lei n. 2548, de 15 de fevereiro de 197889.
79
períodoLVII. Assim, aumentou o número de profissionais para 46 cirurgiões-dentistas e
27 atendentes de consultório dentário. Muitos desses profissionais foram lotados no
programa escolar87.
O Programa Saúde Escola seguia a lógica do modelo incremental, adotado desde
1950 em todo o Brasil pela Fundação SESP LVIII . Pode-se dizer que esse modelo
predominou no município de Vitória durante toda a década de 1980.
A vertente preventiva do modelo incremental previa a fluoretação nas águas de
abastecimento público, obrigatória no Brasil desde 1974. Tal medida passou a vigorar
no município de Vitória somente em 1982, mas sem monitoramento do controle de
flúor, atividade que seria de responsabilidade do Laboratório Central do Estado. O
monitoramento só viria a ser adotado em 1998, quando o próprio Município passou a
comprar os kits e a realizá-lo em seu próprio laboratório, já que o Governo Estadual não
dava respostas quanto à sua execução.
No Brasil, esse modelo já estava em decadência pelas críticas que vinha
recebendo dos acadêmicos e dos movimentos estudantis, que se articulavam na luta pela
mudança do modelo de atenção à saúde. Entre os aspectos criticados estavam sua
prática essencialmente curativa e seu caráter excludente. Nessa época, já se estava
configurando no País a proposta de um modelo de odontologia integral.
Nesse sentido, durante a maior parte da década de 1980, o Município
apresentou-se relativamente passivo ou respondeu tardiamente às mudanças que vinham
ocorrendo em âmbito nacional. Isso se alterou um pouco a partir de 1987, quando
Vitória passou a fazer parte dos municípios ligados às Ações Integradas de Saúde (AIS).
Tal inclusão induziu o setor odontológico a ampliar ainda mais os serviços oferecidos
para a população87, 90.
Até essa data, o atendimento assistencial prestado pela Secretaria Municipal de
Saúde (SEMUS) limitava-se a distribuição de medicamentos, consultas médicas e
alguns procedimentos de enfermagem e odontologia. O atendimento odontológico era
ofertado em dezesseis das vinte unidades de saúde (chamadas de postos de saúde)
existentes no Município. A unidade central (Forte São João) oferecia atendimento em
algumas especialidades. As unidades de saúde muitas vezes funcionavam em sedes
comunitárias, na maioria das vezes inadequadas a esse tipo de serviço88.
LVII
Ressalte-se que no período não foi realizado concurso público. As contratações dependiam de decisões
dos prefeitos e dos vereadores.
LVIII
O modelo incremental adotado nessa época em todo o Brasil pela Fundação SESP era o do serviço
público odontológico, já abordado no capítulo anterior. O programa escolar era denominado no Município
como Saúde Escola, denominação que é utilizada neste trabalho.
80
Em síntese, no período anterior ao da instituição do SUS, dos anos 1950 aos
anos 1980, a atenção à saúde bucal no município de Vitória caracterizou-se pelo
aumento gradual da oferta de serviços, com a construção de unidades de saúde,
contratação de profissionais de saúde bucal e início da fluoretação das águas de
abastecimento público. No entanto, a atenção nessa área apresentava limitações
importantes no que concerne à população-alvo (ênfase nos escolares), à oferta de ações
e serviços, ao modelo de gestão (fragilidades no planejamento e organização) e ao
modelo de atenção, de caráter predominantemente imediatista, curativista e excludente.
3.2 O Período de Ênfase na Municipalização (1989-1994)
No ano de 1989, em consonância com as propostas da reforma sanitária
nacional, iniciou-se um processo de mudanças no setor saúde em Vitória. Segundo
Olisoa90, a implantação do SUS no Município constituiu-se na diretriz geral da política
de saúde, estruturando-se sob a municipalização de ações e serviços e na adoção de um
novo modelo de atenção à saúde.
Ainda de acordo com a autora90, a vontade política foi decisiva em Vitória para a
implantação do SUS. Nas eleições municipais de 1988, a vitória da coligação designada
“Frente Vitória”
LIX
teria sido fundamental. Nesse sentido, ocorreram mudanças
administrativas, econômicas e sociais de modo a estimular a participação popular no
poder público. Entre as metas previstas para 1989, estavam a implementação dos
programas municipais de assistência integral à saúde da mulher, da criança e do adulto,
de saúde bucal, de saúde escolar, de saúde mental e do trabalhador, além de serviços de
vigilância sanitária e epidemiológica, entre outros88.
Iniciou-se nesse período grande transformação para reorientar o modelo
assistencial e reorganizar os serviços da rede municipal de saúde. A Secretaria
Municipal de Saúde concentrou seus esforços na recuperação e ampliação de sua rede
física e na formação de técnicos especializados na área da Saúde Pública, além de ter
iniciado o seu processo de informatização90.
Em 1990, foi regulamentado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) o novo
Modelo Assistencial de Saúde do Estado do Espírito SantoLX, 91. De acordo com esse
A “Frente Vitória” era formada por um candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) coligado com
PCB, PC do B, PSDB, entre outros partidos de esquerda. O prefeito, o secretário de saúde e outros
profissionais de saúde nomeados eram militantes do Movimento Sanitário, e seu programa foi elaborado
em cima dos princípios desse Movimento. Além disso, havia o compromisso do PT, na época, de criar
condições para a implantação do SUS nas localidades em que ganhasse as eleições.
LX
Esse modelo foi regulamentado pela Lei n. 4317, de 4 de janeiro de 199091.
LIX
81
modelo, os municípios se responsabilizariam pelo nível um de complexidade (rede
básica) para organização de seus serviços de saúde90.
Como primeiro passo para essa reformulação foi realizado, juntamente com a
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, ainda nesse ano, o levantamento
epidemiológico em crianças da faixa etária de 6 a 12 anos de todas as escolas estaduais
e municipais de Vitória. Foram incluídas na pesquisa quarenta escolas municipais e
estaduais, totalizando 17.629 criançasLXI, 87.
Os dados obtidos nesse levantamento epidemiológico comparados com os do
levantamento realizado em 1979 indicavam pequena redução do índice de dentes
cariados, perdidos e obturados (CPO-D). Apesar disso, os índices apresentavam-se
distantes dos recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mostrando que
medidas preventivas suplementares deveriam ser adotadas. Foram identificadas
deficiências no tratamento curativo restaurador e constatada a necessidade de um
atendimento diferenciado, em que as ações de saúde fossem entendidas como um
conjunto de medidas que possibilitassem interferir diretamente sobre os condicionantes
da doença. Assim, buscar-se-ia evitar a instalação da doença e alcançar um impacto
efetivo sobre a coletividade, melhorando os índices do CPO-D87.
Com isso, segundo relatos de uma das ex-coordenadoras do serviço de saúde
bucal do Município, manifestou-se uma insatisfação muito grande com o programa
Saúde Escola. Entre os motivos estavam a grande carga de doença que permanecia nas
crianças e a insatisfação da escola pela presença do cirurgião-dentista, visto como uma
interferência no processo de educar, já que o profissional retirava as crianças da sala de
aula para o tratamento dentário. As escolas visitadas na época apresentavam
equipamentos defasados, serviços pouco efetivos, e as crianças tinham verdadeiro
“horror” ao tratamento dentário. A fala da entrevistada demonstra essas questões:
...Que odontologia era essa realizada dentro das escolas que mantinha os
índices altos de doença? Então começou a insatisfação com esses índices, a
questionar o pessoal (dentistas) que ficava nas escolas. Eles fizeram um
movimento para não sair das escolas. [...]. O fluxo da escola não tinha quem
coordenasse; tinha uma Saúde Escolar, mas que não conseguia dar conta de
todas as questões. A escola não tinha controle nenhum sobre o dentista, se ia,
se não ia, se produzia ou não. Tinha escola que estava com equipamento
quebrado há meses e o dentista não falava e ficava parado. Tinha um
controle muito incipiente, tinha muito problema (Coordenadora 3).
Os serviços de saúde passaram a desenvolver gradualmente uma política de
assistência odontológica voltada para a educação, com enfoque na promoção de saúde.
LXI
Conforme abordado no capítulo anterior, ressalte-se que o Governo Federal, em 1989, havia definido
uma Política Nacional de Saúde Bucal que instituiu o PRECAD, prevendo remessa de material para
aplicações de flúor tópico em escolares.
82
Assim, a clientela escolar passou a ser encaminhada para as unidades de saúde por meio
de um programa preventivo mais abrangente. Nesse período, a atuação do Saúde Escola
com equipes móveis e fixas foi interrompida, despertando resistências por parte dos
dentistas que não queriam sair da escola87.
As ações de saúde bucal foram redirecionadas, influenciadas pelo processo da
Reforma Sanitária em nível nacional, já que a SEMUS se adequava ao contexto da
descentralização e assumia novas responsabilidades.
Ainda em 1990, o município foi dividido em quatro regiões de coordenação de
vigilância epidemiológica, cujo objetivo era elaborar diagnósticos de saúde e
investigação epidemiológica nas suas áreas de abrangência88.
Durante esse ano, foi estruturado o atendimento à saúde bucal do adulto, voltado
para dois grupos prioritários: os hipertensos e os diabéticos. No entanto, o atendimento
à criança continuou a ser a principal prioridade. Nas unidades de saúde, sempre estavam
lotados clínicos e odontopediatras, pois, na época, havia esse olhar fragmentado de um
profissional específico para o atendimento ao adulto e outro para o atendimento à
criança.LXII
Em 1991, foram criados o Fundo Municipal de Saúde e o Conselho Municipal
de SaúdeLXIII, 92, 93. Também foi realizada a I Conferência Municipal de Saúde de Vitória
com o tema: “Saúde – a municipalização é o caminho”.
Nessa época, houve aumento da produtividade ambulatorial, favorecido pela
expansão da rede de serviços, implantação de programas do Ministério da Saúde,
municipalização das ações de vigilância sanitária e epidemiológica e criação de novos
programas, como o de controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e da Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida (DST/AIDS)90.
Outra prioridade para a secretaria municipal de saúde foi a questão dos recursos
humanos. Houve um incremento de cerca de 70% no número de profissionais lotados na
saúde devido ao concurso público municipal realizado no final de 1991LXIV. Além disso,
LXII
Isso só viria a se alterar a partir de 2004, quando começaram a se estruturar as equipes de saúde bucal
na ESF, com inserção do cirurgião–dentista generalista. Essa mudança gerou e gera insatisfação até os
dias atuais, pois, mesmo atuando na ESF como generalista, alguns cirurgiões-dentista preferem atender
uma determinada faixa etária.
LXIII
O Fundo Municipal de Saúde foi criado pela Lei n. 3711, de 10 de Janeiro de 199192 e o Conselho
Municipal de Saúde, pela Lei n. 3712 de 17 de janeiro de 199193.
LXIV
Além de propiciar o aumento do quantitativo de profissionais por meio da contratação de cirurgiõesdentistas clínicos, odontopediatras e atendentes de consultório dentário, esse concurso envolveu a criação
dos cargos de sanitarista, médico sanitarista, agente de saúde pública, engenheiro de alimento e
nutricionista.
83
foi realizado o Curso de Especialização em Saúde Pública, cujo objetivo foi elevar a
capacidade técnico-gerencial de profissionais da saúdeLXV, 90.
A cada ano eram apresentadas novas propostas de reorganização da assistência
no Município. Em 1992, foi aprovada pelo Conselho a proposta de nova divisão do
Município em sete regiões, denominadas “áreas de vigilância em saúde”90.
A Divisão Odontológica entendeu que competia ao Município implantar
unidades em todas as regiões de saúde para assegurar à população acesso aos serviços
com a consolidação da Atenção Básica. Nesse período, havia dezoito unidades de saúde
com consultórios odontológicos funcionando em três turnos de trabalho. O atendimento
clínico a adultos e crianças em atenção primária era garantido mediante ações que
visavam à conclusão dos tratamentos. As ações de prevenção, como palestras,
orientação à escovação e aplicação tópica de flúor, também eram desenvolvidas87.
Houve atividades de capacitação dos profissionais de odontologia e
principalmente dos atendentes, com envolvimento de professores da UFES. A
odontologia iniciou um processo de integração com os programas de saúde da mulher e
da criança já existentes, que compreendia a orientação de médicos (ginecologistas e
pediatras) e enfermeiros quanto à necessidade de ficar atentos aos problemas
relacionados à saúde bucal e de informar os pacientes sobre esses problemas87.
Nesse período foram encontradas muitas dificuldades para consolidação da
odontologia integral, que se sustentava na simplificação, ênfase na prevenção e na
desmonopolização do saber odontológico LXVI . Como a nova proposta incorporava a
necessidade de mudança da prática tradicional, uma das maiores dificuldades foi a
resistência por parte de cirurgiões-dentistas, principalmente dos que estavam na rede
havia mais tempo.
Para a efetivação da odontologia integral foram necessárias algumas adaptações.
Nesse sentido, durante esse período a Prefeitura construiu clínicas em Roseta LXVII e
LXV
Tal curso foi realizado em 1992, promovido pela Prefeitura Municipal de Vitória em parceria com a
SESA, a UFES e a ENSP/FIOCRUZ, e contou com a participação de 28 profissionais90.
LXVI
A odontologia simplificada definia uma prática profissional, que por meio de padronização, da
diminuição de passos e elementos e da eliminação do supérfluo, buscava tornar a odontologia mais
simples, barata, e produtiva e, consequentemente, viabilizar o aumento da cobertura. Com isso procurouse simplificar instrumentais odontológicos, equipamentos, materiais de consumo, recursos humanos,
técnicas de trabalho e espaço físico. A ênfase na prevenção compreendia a adoção do conceito de risco
biológico, segundo trabalhos da escola escandinava para a prevenção das doenças bucais. A
desmonopolização do saber envolvia a valorização da equipe de saúde bucal com a transferência de
informações e de atribuições para os atendentes de consultório odontológico94.
LXVII
A clínica em Roseta adota uma concepção ergonômica de bancada em círculo, em que há três, quatro
ou mais consultórios odontológicos próximos a uma bancada central de apoio. A principal finalidade é a
racionalização e a agilidade na distribuição de suprimentos indispensáveis à atenção e ao trabalho em
equipe95. Esse tipo de clínica tem como proposta a absorção do pessoal auxiliar e como objetivo maior a
84
escovários anexos aos consultórios odontológicos em três unidades de saúde, para
realização de práticas educativas. Outras medidas foram tomadas como a contratação de
serviços para manutenção rigorosa dos equipamentos odontológicos, que até então não
existia; a padronização dos materiais odontológicos com introdução de selante oclusal; a
implantação dos procedimentos coletivos para os escolares e demais usuários dos
serviços de saúde87.
No entanto, a odontologia teve enormes dificuldades no processo de
incorporação do pessoal auxiliar. Segundo uma das entrevistadas, as entidades de classe
apresentavam resistências à capacitação do nível médio, pois temiam uma invasão ao
espaço ocupado pelo cirurgião-dentista. Entre os argumentos levantados pelos conselhos
de classe, ressalte-se o de necessidade de controle sobre o exercício profissional, em
face da atuação de profissionais não habilitados, conhecidos como “dentistas práticos”
LXVIII
.
Vale destacar que os movimentos estudantis e acadêmicos da odontologia já
vinham travando esse debate com os conselhos de classe em nível nacional desde a
década de 1980. Segundo relato de uma ex-coordenadora de saúde bucal municipal,
houve muitas discussões sobre esse ponto, inclusive com participação da UFES, mas
foram muitos anos de embates até se conseguir um acordo. Segundo a entrevistada:
A gente teve muitas críticas, porque, segundo as entidades de classe, o THD
não podia atuar sozinho, tinha que ter a supervisão do dentista, supervisão do
dentista que era entendida como se o dentista tivesse que ficar colado com o
THD o tempo inteiro. Para ficar colado, a gente colocava o dentista logo para
fazer e não era isso que a gente queria. Você não dá conta do nó que era.
‘Vocês estão colocando o THD para fazer o trabalho do dentista, daqui a
pouco estão colocando dentista prático no mercado, estão fortalecendo o
dentista prático’. O CRO já vinha com aquela política de polícia com o
dentista prático e aí a conversa era sempre muito quadrada. Era uma coisa
que não avançava muito (Coordenador 3).
Embora a inserção dos profissionais de nível médio na saúde bucal tenha sido
preconizada para as unidades de saúde de Vitória, a proposta não chegou a ser
concretizada, pois, além da resistência das entidades de classe, não existia no mercado o
profissional THD. A secretaria municipal não conseguia os profissionais e não tinha
autorização para formá-los.
Esse foi um dos grandes problemas para a ampliação da cobertura e efetivação
do modelo de odontologia integral. Em um contexto de mudanças do modelo de atenção
e de discussão pela simplificação da odontologia, a decisão política do gestor municipal
ampliação da cobertura. Tal construção teve assessoria da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais pelo trabalho desenvolvido em conjunto com Jorge Cordón e Volnei Garrafa.
LXVIII
Os conselhos de classe vinham combatendo, inclusive com poder de polícia, os dentistas práticos
pelo exercício ilegal da profissão.
85
da saúde não foi suficiente para transformar as práticas vigentes. Outras questões, como
interesses de alguns atores e escassez de mão de obra qualificada, dificultaram a
incorporação dos THDs na rede de serviços, limitando as perspectivas de criação de
novos postos de trabalho, de aumento de cobertura e de melhoria da atenção à saúde
bucal.
Em 1993, a SEMUS passou por uma reforma administrativa, que envolveu uma
ampla reflexão sobre suas práticas e reformulação do modelo assistencial. O principal
objetivo da reestruturação da Secretaria foi redimensionar seus serviços para atender a
nova proposta de atenção à saúde, relacionada ao processo de municipalizaçãoLXIX, 88.
No documento da reforma administrativa de 1993LXX, observa-se a preocupação
em zelar pela saúde bucal, expressa em um tópico específico dedicado à área. Entre as
ações propostas estavam o atendimento ambulatorial, a alocação de recursos humanos
para a realização das atividades odontológicas, a garantia de recursos para a área de
odontologia e o controle da manutenção dos equipamentos. O último item foi
considerado um grande avanço, dada a dependência tecnológica do trabalho
odontológico. A partir dessa data, o Município passou a ter contrato firmado para
manutenção dos equipamentos odontológicos, evitando a suspensão do atendimento96.
Todas essas ações demonstram a preocupação em mudar as práticas sanitárias
vigentes. Nesse sentido, mesmo após a entrada do PSDB na administração municipal
em 1993, as diretrizes básicas da política de saúde do Município mantiveram-se.
Em 1994, o Município foi habilitado na condição de gestão incipiente prevista
na NOB de 1993, por meio de convênio assinado entre governo municipal, estadual e
federal, que previa a transferência inclusive de unidades ambulatoriais estaduais97.
Cabe destacar que o período de ênfase na municipalização caracterizou-se por
muitas transformações, no intuito de preparar o Município para assumir a gestão das
ações e serviços de saúde. Assim, ocorreram investimentos em estrutura e em
capacitação, visando oferecer condições para o aumento da cobertura. Foi um momento
de muita insatisfação com a prática vigente e de tentativas de mudança. Apesar disso,
várias propostas relevantes para a modificação do modelo de atenção em saúde bucal
LXIX
Nessa reforma criou-se o Departamento de Administração em Saúde, cujo principal objetivo era
coordenar a assistência à saúde prestada no Município. Com isso, a odontologia deixou de ter uma
estrutura centralizada (Divisão) e passou a estar integrada ao todo (Departamento), ficando as consultas
odontológicas sob a gerência dos coordenadores das unidades, conforme orientação central do
Departamento96.
LXX
Instituída pela Lei n. 3983, de 8 de novembro de 1993, que dispõe sobre a nova estrutura
organizacional da SEMUS96.
86
não puderam ser sistematicamente implementadas, devido à resistência dos profissionais
e dos conselhos de classe ou à escassez de profissionais de nível técnico qualificados.
Assim, o processo de implementação do modelo de odontologia integral ficou
prejudicado, pois, mesmo existindo decisão política, recursos financeiros, investimentos
em estrutura, não havia mão de obra qualificada nem apoio suficiente dos profissionais
e entidades de classe para sua concretização. Nesse sentido, ressalte-se a importância de
considerar as relações de poder e os interesses dos vários atores envolvidos na
implementação das políticas, entre os quais se destacam os profissionais de saúde.
Segundo os entrevistados, nesse período o apoio das esferas federal e estadual à
implementação de ações de saúde bucal no Município era muito limitado. Não havia o
reconhecimento de uma política de saúde bucal integrada e os mecanismos de
articulação intergovernamental eram frágeis:
...a questão de saúde bucal com o Ministério era muito frágil, a gente ficava aqui
no Município meio que buscando aonde tinha referência. Pelo Ministério não
tinha praticamente nada, era fraquíssimo... Porque coordenador de saúde bucal
do Ministério, a gente só ouvia falar que existia, mas a gente não tinha muito
contato com eles não. Era tudo muito solto. [...] A Secretaria de Estado se
perdeu, perdeu muito o papel de gestor mesmo, da competência dela, do plano de
execução, de ações mais de dar apoio técnico aos municípios, ela se perdeu
completamente. Para se ter ideia, quem coordenou a Conferência Estadual foi eu
(Coordenadora 4).
Mesmo assim, parte das propostas e mudanças que ocorreram no Município no
período acompanharam os debates e transformações que vinham ocorrendo em nível
nacional.
3.3 O Período de Predomínio do Programa Sorria Vitória (1995-2003)
A trajetória da política de saúde bucal em Vitória no período de 1995 a 2003 foi
caracterizada por uma série de iniciativas de mudança no modelo de atenção até então
vigente. Criticava-se a baixa cobertura das ações odontológicas, a subutilização da
capacidade instalada e das equipes, o privilegiamento da atenção individual e a limitada
consideração do conceito de promoção da saúde, o que não favoreceria a mudança
efetiva dos indicadores de saúde bucal87.
As propostas na área de saúde bucal no período relacionaram-se com
transformações mais amplas do sistema de saúde e expressaram-se sobretudo na
configuração do Programa Sorria Vitória.
No sistema de saúde municipal ocorreram mudanças para reorganizar a atenção.
Iniciou-se o processo de territorialização, com o objetivo de implantar o novo modelo
87
de atenção à saúde, baseado na concepção dos Sistemas Locais de SaúdeLXXI. Para a
definição dos territórios, realizou-se o diagnóstico situacional das sete áreas de
vigilância em saúde e identificaram-se os problemas de saúde de cada região para
subsidiar o planejamento local das ações em saúde98.
O processo de reconhecimento das áreas por meio dos diagnósticos da saúde fez
com que as equipes técnicas conhecessem melhor as questões sociais e de qualidade de
vida da comunidade, assim como o perfil epidemiológico local. A Vigilância à Saúde
avançou na área médica e de enfermagem, mas a odontologia pouco participou. O
caráter técnico da prática odontológica e o perfil dos profissionais serviram de pretexto
para que os profissionais de odontologia não participassem ativamente do processo de
territorialização87.
Assim como os outros setores da saúde, a odontologia necessitava reestruturar
sua atenção. A estratégia adotada foi a implantação do Programa de Saúde Bucal Sorria
Vitória, a partir de outubro de 1995. Tal programa, baseado no modelo de “inversão da
atenção”
LXXII
, envolvia ações coletivas de educação em saúde e medidas preventivas
com o objetivo de ampliar a atenção odontológica no Município e contribuir para a
modificação dos indicadores de saúde bucal.
O Programa Sorria Vitória constituía-se de fases operacionais distintas, mas
articuladas, de modo a integrar ações preventivas e curativas. Entretanto, utilizou-se
principalmente de tecnologias preventivas para o controle das doenças bucais. O
trabalho foi desenvolvido em parceria com instituições de ensino público e particulares
(creches e escolas), organizações não governamentais e movimentos comunitários. A
população escolhida compreendia crianças na faixa etária de zero a 14 anos e gestantes.
Entre os fatores para tal escolha estavam:
LXXI
Os Sistemas Locais de Saúde foram implantados sob assessoria da professora Carmen Unglert, que
pertencia ao Núcleo de Estudos sobre Práticas de Saúde Coletiva, da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade Federal de São Paulo. O Município chegou à professora por indicação de Eugênio Vilaça
Mendes, um dos criadores da proposta de Distritos Sanitários. Os dois professores à época eram membros
da coordenação da área de infraestrutura de Sistemas de Saúde da Representação OPS/OMS no Brasil.
Segundo os professores, a concepção de SILOS convergia para a implantação do SUS, dentro dos
princípios norteadores da Reforma Sanitária. Adotava-se como ponto central da proposta a apropriação do
espaço local por meio de “planejamento ascendente” com participação da população, baseado nas
“distintas realidades locais, onde atores sociais se transformam em autores de um processo, no qual se dá
a apropriação do território numa lógica voltada à saúde” (Unglert apud Olisoa, p.51)90. Dessa forma, os
distintos atores sociais (profissionais de saúde e população) se apropriariam do espaço local pela
construção de uma área de responsabilidade de uma unidade de saúde (território), movida por uma lógica
de vigilância à saúde.
LXXII
A SEMUS contratou, em 1995, a Estação Saúde – Assessoria e Pesquisa em Saúde Bucal para
implantação do modelo de inversão da atenção, que visava transformar a prática odontológica de um
modelo de atenção cirúrgico-restaurador para um modelo que priorizasse a promoção da saúde, levando
em consideração as necessidades da comunidade e seu perfil epidemiológico. O modelo de inversão da
atenção42 organiza-se em fases ordenadas de procedimentos com objetivos predefinidos de estabilização,
reabilitação e declínio.
88
a maior incidência da doença cárie observada na faixa etária informada;
a facilidade de introdução de novos hábitos nessa faixa etária;
a influência dos cuidados da gestante na dentição do bebê e da criança.
Nesse sentido, quanto mais atenção fosse dada à mãe, mais saúde o filho teria99.
Esse Programa objetivava, entre outros aspectos, prevenir a instalação e
evolução das doenças bucais (cárie e doença periodontal); criar hábitos de higiene bucal
adequados; estimular a participação ativa da comunidade no desenvolvimento das
ações; elevar o nível de consciência e responsabilidade da população em relação à saúde
bucal, fortalecendo condutas de autocuidado e baixar os custos com procedimentos
assistenciais individuais pela redução do acúmulo de necessidades de tratamento. Como
objetivos específicos, o Programa previa uma integração entre secretarias de saúde e de
educação, ações preventivas e restauradoras e envolvimento dos pais ou responsáveis
para abordar temas, como a importância da saúde bucal e noções de nutrição e higiene99.
Os critérios para a realização dos procedimentos coletivos100 foram estabelecidos
conforme tabela de procedimentos do SIA/SUSLXXIII.
O funcionamento do Sorria Vitória previa o cadastramento dos estabelecimentos
de ensino e a realização de uma visita técnica à escola. Após essa etapa, iniciavam-se as
atividades educativas para professores, alunos e pais. O principal objetivo do Programa
era estimular a adoção de hábitos adequados de higiene bucal, reduzindo a necessidade
de tratamento odontológicoLXXIV.
As ações eram divididas e distribuídas em períodos semanais, trimestrais e
anuais, com as atividades realizadas nas escolas, nas unidades de saúde e em outras
instituições voltadas para a infância. Como havia uma expressiva parcela de crianças
fora das escolas, o envolvimento dos movimentos comunitários foi importante para a
captação das crianças. As atividades realizadas nas escolas eram de responsabilidade do
nível técnico sob supervisão do dentista, mas contavam com a ajuda de mães
voluntárias, de professores, de pedagogos das instituições e de Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) para realizar as atividades semanais de bochecho e escovação
orientadaLXXV. Trabalhava-se com adscrição de clientela e com base no grau de risco de
LXXIII
O Ministério da Saúde, em 1992, inseriu na tabela de procedimentos do SIA/SUS os procedimentos
coletivos100.
LXXIV
As atividades compreendiam ações de educação em saúde, higiene bucal supervisionada,
distribuição de escova e creme dental, bochechos fluoretados, exame epidemiológico realizado
anualmente, exame clínico diagnóstico, terapêutica intensiva com flúor, além de procedimentos clínicos
preventivos, como aplicação de selante e remoção de tártaro99.
LXXV
A distribuição de creme dental e escova de dente às escolas era realizada a cada quatro meses, além
de flúor em pó para a realização dos bochechos semanais.
89
cada participante. As crianças eram examinadas anualmente no próprio espaço escolar e
encaminhadas à unidade de saúde de seu território de acordo com sua necessidade
clínica. O paciente só teria acesso efetivamente à ação restauradora se estivesse
integrado ao programa preventivo99.
As gestantes eram consideradas prioridade pela importância da educação em
saúde para a futura mãe e a captação precoce da nova geração. Tal grupo era captado
por meio da interação com o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. O
profissional de odontologia realizava palestras abordando temas relacionados a dieta,
aleitamento materno, hábitos viciosos, como chupeta e dedo, higiene bucal dos bebês,
riscos da ingestão de creme dental, entre outros. Além das palestras, as mães recebiam
orientação prática sobre higienização e eram submetidas a exames de avaliação de risco
de cárie e adequação ao meio bucal. As gestantes eram ainda orientadas a retomar o
atendimento após o parto.
Entre as dificuldades enfrentadas pelo Programa, destacaram-se: insuficiente
apoio da Secretaria Municipal de Educação; ausência de THD para compor a equipe de
saúde bucal, pelos motivos já descritos; inadequação de estrutura física de algumas
escolas públicas, o que dificultou o desenvolvimento das atividades coletivas; ausência
dos responsáveis para agendamento do comparecimento da criança na unidade de saúde
e continuidade do tratamento; fragilidade do vínculo entre escola e unidade de saúde,
com limitada apropriação da realidade territorial99.
Nessa época, segundo relato de uma entrevistada, a Prefeitura Municipal de
Vitória já havia criado o cargo de THD, mas não existia no mercado esse tipo de
profissional. Esse foi um problema sério, pois havia a perspectiva de se aumentar a
cobertura por meio da atuação desse profissional.
Apesar das dificuldades descritas, em 1996, quando foi realizado o I
Levantamento Epidemiológico, foram encontrados índices que demonstraram avanços e
identificaram novas necessidades. Encontrou-se um CPO-D médio aos 12 anos igual a
1,8, bem abaixo do encontrado pelo levantamento realizado em 1990, que era 6,0. Além
disso, identificou-se um grande estoque de doença cárie na dentição decídua (lesão com
cavidade), o que reforçou ainda mais a entrada de crianças menores de 5 anos nas
atividades do Programa99.
Com relação às condições periodontais, constatou-se que 99,9% das
necessidades por atenção periodontal poderiam ser resolvidas de modo adequado por
profissionais auxiliares (THD e ACD), enquanto 0,1% dos indivíduos necessitariam de
90
atenção de um cirurgião-dentista com perfil de clínico geral. Diante disso, ficou clara a
necessidade de incorporação do pessoal auxiliar na odontologia.
Cabe ressaltar que o Sorria Vitória tinha uma metodologia diferenciada em
relação ao Programa Saúde Escola, anteriormente citado. O Programa Saúde Escola
baseava-se no sistema incremental e vinculava-se a uma prática individualista e
curativa. Embora os profissionais utilizassem atividades preventivas, o enfoque maior
era no tratamento curativo, que não mudava padrões epidemiológicos. Já o Sorria
Vitória incorporava ações de promoção e prevenção em saúde integradas às curativas.
Os avanços da odontologia dessa época foram favorecidos pelo apoio do
secretário municipal de saúde, segundo duas profissionais da Secretaria entrevistadas:
Foi uma época que a odontologia deu um salto, pois foi muito apoiada, muito
mesmo. Falar em política de saúde, a odontologia estava presente, não era
dissociada. Falar em construir unidade de saúde, nem se questionava se ia
construir consultório odontológico ou não, pois já era padrão. E a gente podia
ousar... ousar mesmo. Então assim, se ele [o secretário] ia falar de campanha
de cachorro ele falava de Sorria Vitória [...] Ele incorporava aquilo [a
odontologia] como uma coisa importante, que tinha que avançar
(Coordenadora 4).
Além disso, havia uma grande preocupação em minimizar conflitos sempre que
mudanças estavam previstas. Ainda que a Secretaria fizesse muitas reuniões com as
entidades de classe, houve resistência por parte dos profissionais relativa à incorporação
de pessoal auxiliar nas equipes e às mudanças no processo de trabalho voltadas para o
aumento da produção, do acesso e da qualidade dos serviços. Isso porque até então os
dentistas atuavam em uma lógica de consultório particular, controlando a própria
agenda, sem monitoramento ou cobranças quanto à produção.
Além da atuação nas escolas, nesse período foram inauguradas muitas unidades
de saúde para ampliar o atendimento. Uma delas foi a Unidade de Jardim Camburi, tida
como modelo, pois apresentava uma estrutura excelente e foi a primeira a dispor de
serviço de radiologia odontológica na rede municipal. Novas unidades foram
construídas gradativamente em bairros de melhor poder aquisitivo e com isso iniciou-se
a entrada no sistema público de saúde de pessoas da classe média. Essa entrada foi
considerada por uma das entrevistadas como um fator positivo, já que cobrava
qualidade e pressionava no sentido da melhoria e expansão do atendimento.
Nessa mesma unidade, foi implantado, em 1999, o serviço de endodontia, depois
transferido para a Unidade do Forte São João, onde permanece até os dias de hoje. Os
profissionais que executavam esse serviço eram em número reduzido e a ideia era
preservar os dentes comprometidos que necessitavam de endodontia, de forma que os
clínicos da rede pudessem restaurar posteriormente. De certa forma, começou a existir
91
uma referência, mas somente para a especialidade de endodontia e, mesmo assim, de
maneira bastante reduzida. Essa especialidade até hoje apresenta uma demanda
reprimida enorme, com longas filas de espera para atendimento.
Ainda em 1999, foi inaugurado o Pronto Atendimento da Policlínica São Pedro,
contando com um serviço específico de urgência odontológica. Até então, no
Município, as urgências odontológicas eram atendidas nas unidades básicas, por meio
da distribuição de uma ou duas “fichas” para atendimento, apesar da enorme demanda.
Havia nessa época uma grande preocupação em ampliar o acesso, mas a cobertura teria
que ser na atenção básica, com ênfase na prevenção, já que a ausência de especialidades
configurava um limitador da integralidade.
Outro fator que contribuiu muito para que a saúde bucal avançasse estava
voltado para os recursos humanos. Nesse período, deu-se ênfase à capacitação, o que
motivava os profissionais. A Prefeitura investiu muito em educação continuada,
principalmente porque estava com um contingente de profissionais novos, após o
concurso realizado em 1991. Uma das entrevistadas comenta:
A educação continuada foi fundamental [...]. Os profissionais tinham a
oportunidade de discutir questões fechadinhas que um pensava de uma forma,
outro de outra forma e quando você nivelava a discussão e colocava para
reflexão, do profissional refletir, sair daquele lugar de como ele estava [...],
isso incomodou muita gente, muita gente nova, então assim foi uma coisa
interessante, foi que nem fermento, só crescendo (Coordenadora 3).
Em 1998, o município de Vitória se habilitou na condição de Gestão Plena da
Atenção Básica, responsabilizando-se pelas ações de toda a rede primária de atenção em
saúde. A partir da implementação do Piso de Atenção Básica, iniciou-se no Município
um processo de ampliação do acesso a esse tipo de atenção, por meio da ESF101. A ESF
consolidou-se como base para a organização de um projeto estruturante que organizaria
a atenção à saúde no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 – o Sistema Integrado
de Serviços de Saúde (SISS)102.
O Sistema Integrado de Serviços de Saúde trouxe como proposta a
reestruturação do modelo de saúde vigente por meio de uma oferta integrada de serviços
nos vários pontos de atenção à saúde, para uma população definida. A atenção básica
orientaria essa integração, por meio de tecnologias de gestão da clínica, o que
favoreceria a continuidade do cuidado em saúde103.
A instituição do SISS acarretaria mudanças profundas na forma convencional
que prevalecia na organização da saúde. Essas mudanças implicavam passar da cura ao
cuidado, da atenção hospitalar à atenção ambulatorial, da intuição clínica à evidência,
da liberdade clínica total a uma liberdade restringida por protocolos clínicos, e de uma
92
atenção primária inexistente ou ineficaz a uma atenção primária eficaz, entre
outras102,103.
O Sistema Integrado de Serviços de Saúde impôs algumas mudanças para a
adequação pelo Município, entre elas o fortalecimento da ESF, para coordenação de
toda a rede de serviços; a normalização dos processos de trabalho por meio da
implantação de protocolos e linhas-guia; a implantação de centrais de marcação de
consultas e exames especializados e de centrais de regulação de internações, com
monitoramento de filas de espera e mecanismos para sua redução; a adoção de medidas
de garantia e controle para a referência e contrarreferência, como guias de
encaminhamentos formais, contratos de gestão e outros, entre os diferentes níveis do
Sistema de Saúde103.
Diante da nova concepção de sistema integrado, foi criado, em 2002, o
Departamento de Assistência à Saúde (DASS), que concentrou todas as ações de
assistência em três divisões: atenção básica, atenção especializada e atenção hospitalar,
de urgência e emergência. Essa reestruturação visava aproximar os diversos programas,
contribuir para um planejamento mais integrado das ações de saúde e preparar o
Município para assumir a Gestão Plena do Sistema MunicipalLXXVI, 103.
O município continuou organizando suas ações a partir da atenção básica e foi
gradativamente aumentando sua rede de serviços para estruturar a média e alta
complexidade ambulatorial e hospitalar. Segundo Silva103, o Município estava
adaptando-se às mudanças impostas pela concepção do SISS.
Entre essas mudanças estava a normalização dos processos de trabalho por meio
da implantação de protocolos e linhas-guia. Nesse sentido, foram priorizados os
protocolos relacionados às competências estabelecidas na NOAS/2002 para a atenção
básica ampliada: saúde da mulher e da criança, doenças crônicas, saúde bucal e saúde
mental. Uma das grandes dificuldades apresentadas para a efetivação do SISS foi a
demora do Município em se habilitar à condição de Gestão Plena da Atenção Básica
Ampliada, de acordo com a NOAS/2002, o que só viria a ocorrer em 2003 LXXVII,
103,104,105
.
Antes da criação do DASS, havia fragmentação da assistência à saúde acompanhada de fragmentação
institucional. Assim, no Departamento da Administração em Saúde (DAS), que zela pela manutenção
predial das unidades de saúde, estavam as ações de assistência, enquanto no Departamento de Ações
Integrais em Saúde (DAI) estavam instaladas as vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental. Dessa
forma, enquanto o PSF estava vinculado ao DAI, a saúde bucal, a saúde da criança e outras ações estavam
vinculadas ao DAS.
LXXVII
O município de Vitória habilitou-se para a Gestão da Atenção Básica Ampliada, de acordo com os
critérios definidos na Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS/2002, Portaria n. 101, de 11 de
fevereiro de 1998104, e Portaria GM n.1510, de 5 de agosto de 2003105.
LXXVI
93
Esse período foi marcado por muitas mudanças, que tiveram o intuito de
estruturar a rede municipal de serviços e ampliar a cobertura das diversas ações e
serviços de saúde, com o propósito de proporcionar aos usuários um atendimento
integral.
Na área de saúde bucal, o Município mantinha o Programa Sorria Vitória e
continuava investindo em ampliar a rede de serviços em estrutura e capacitação. Nesse
período, marcado pela preponderância do Programa Sorria Vitória (de 1995 a 2003),
segundo uma das entrevistadas, a saúde bucal, dentro do contexto político tinha
[...] total integração com as políticas municipais de saúde, a odontologia tinha
destaque. A odontologia estava no mesmo patamar da área médica, da
enfermagem [...] (Coordenadora 4).
Segundo algumas entrevistadas, foi um período de avanços para a saúde bucal,
favorecidos pelo apoio político dos gestores municipais. O secretário municipal
disponibilizava os recursos financeiros para que a odontologia avançasse. Além da
expansão dos serviços, investiu-se na compra, padronização, gestão de materiais e
manutenção de equipamentos odontológicos, evitando-se a falta de materiais e a
suspensão dos atendimentos.
No entanto, no que concerne ao atendimento integral, permaneciam limitações
importantes. O Programa Sorria Vitória procurava mudar o modelo de atenção por meio
de promoção da saúde associada às ações curativas e de reabilitação. Porém, mantinha o
foco em alguns grupos da população, como as gestantes e a população de zero a 14
anos, como destaca uma das entrevistadas:
Vitória sempre fez um grande investimento, inicialmente, no atendimento à
criança e à gestante, com um atendimento muito voltado à criança, com o
projeto Sorria Vitória. Iniciou esse projeto e ficou muitos anos atendendo
realmente a rede básica, com a preocupação na questão preventiva mesmo
nessa faixa etária (Gerente 1).
Outra limitação era a ausência de referência para as especialidades, a não ser
para a endodontia, de modo muito incipiente. Em 2003, uma equipe foi capacitada para
fazer intervenção precoce em ortodontia, pois havia um projeto para implantação desse
serviço na rede, que não foi concretizado devido às mudanças políticas.
O problema de acesso às ações de saúde bucal, principalmente às especialidades
odontológicas, existia em todo o País, pois até essa data não havia uma política nacional
de saúde bucal estruturada na perspectiva da integralidade, conforme discutido no
capítulo anterior.
A saúde bucal ganhou maior destaque nacionalmente a partir de 2001, quando
foram instituídas as equipes de saúde bucal, vinculadas à Estratégia de Saúde da
94
Família. No entanto, a estratégia nacional de indução da conformação de equipes de
saúde bucal não teve repercussão imediata em Vitória, visto que o município só passou
a adotá-la em 2004, três anos depois. Esse atraso em inserir as equipes de saúde bucal
pode apresentar como explicação a força do Programa Sorria Vitória.
Tal Programa começou a ser profundamente questionado no período 2003-2004.
Segundo três entrevistadas, nesse período o Sorria Vitória passou por uma crise séria,
desencadeada pela contestação de professores da UFES quanto à utilização dos
bochechos fluorados. A busca pelo alinhamento conceitual entre a academia, o
Ministério da Saúde, as secretarias de saúde e profissionais da odontologia foi o motivo
desencadeante para a realização do Primeiro Fórum Municipal de Saúde Bucal Coletiva,
ao final de 2004.LXXVIII.
No Fórum106 foram discutidas as ações realizadas no Programa Sorria Vitória,
particularmente a utilização de bochechos semanais com solução de fluoreto de sódio
em uma população cujo índice de cárie era baixoLXXIX e que recebia trimestralmente
insumos para higiene oral, como escova e creme dental. Os representantes da Academia
mostraram estudos que evidenciavam que a manutenção dos bochechos fluorados seria
desnecessária em populações que utilizavam regularmente o creme dental com flúor. Já
a Prefeitura mostrou dados relativos à redução de necessidades por atenção clínica na
população acompanhada desde 1996, demonstrados no Quadro 3.1, atribuindo tais
resultados à utilização de bochechos fluorados.
Não houve clareza nem consenso quanto aos métodos que teriam sido
responsáveis por essa redução das necessidades de atendimento, o que dependeria de
investigações específicas LXXX. Diante da controvérsia, os bochechos fluorados foram
suspensos do rol de atividades coletivas realizadas no Município.
LXXVIII
O Fórum foi realizado na cidade de Vitória e contou com a participação de representantes do
Ministério da Saúde (Dr. Gilberto Pucca – coordenador nacional de saúde bucal), da SESA, das
secretarias municipais da região metropolitana, da UFES, da Faculdade de Administração EspíritoSantense (FAESA), das entidades de classe, dos profissionais da rede municipal de saúde e do Dr. Jaime
Cury, professor da Universidade de Campinas e autoridade nacional em pesquisas sobre uso de fluoretos
em odontologia106.
LXXIX
O Município apresentava um CPO-D igual a 1,47 aos 12 anos, de acordo com o último
levantamento epidemiológico realizado em 1996. O índice da OMS recomendado para o ano 2000 era
CPO-D igual a 3,0.
LXXX
Nesse sentido, outra questão discutida no Fórum foi a necessidade de maior integração entre as
secretarias de saúde e as Universidades para estímulo às pesquisas nos serviços públicos, assim como a
aproximação entre a saúde e a educação com envolvimento dos professores na ações educativas do
Programa106.
95
3-1 Quadro 3.1 – Percentual de crianças com necessidade de atenção clínica em saúde bucal
examinadas no município de Vitória no período de 1996 a 2004 (Programa Sorria Vitória).
Região de Saúde
1996
1999
2001
2002
2003
2004
Continental
48
29
24
22
19
17
Maruípe
46
42
37
37
35
32
Centro
53
43
34
34
36
29
Sto Antônio
64
43
45
49
40
20
São Pedro
60
53
46
35
35
26
Forte São João
62
40
43
40
38
27
TOTAL
56
42
38
36
34
25
Fonte: SEMUS. Relatório de saúde bucal, de 2004.
A partir de 2004, diante das mudanças no cenário nacional, de questionamentos
de atores locais e do início de outras estratégias, como a implantação das equipes de
saúde bucal, o Programa Sorria Vitória perdeu força. Ainda assim, continuou a ser
executado no Município como um programa de ações coletivas, que abrangia
principalmente os escolares.
Segundo uma das entrevistadas, o Programa teve uma perda de “ideologia” e
atualmente está mais focado em cumprir as exigências feitas pelo Ministério da Saúde
em relação às atividades coletivas do que propriamente em efetuar uma proposta de
promoção e prevenção para as crianças do Município. Além disso, embora os exames
para diagnóstico sejam feitos anualmente para detectar necessidades, não há
padronização quanto à forma de captação das crianças. Alguns cirurgiões-dentistas
captam as crianças pelo Sorria Vitória, outros pela Estratégia de Saúde da Família,
havendo muitas fragilidades na integração entre as estratégias.
Uma das entrevistadas lamentou o esmorecimento do Programa Sorria Vitória:
O Sorria Vitória foi uma coisa que, pessoalmente, me fez sofrer muito
quando eu vi acabar porque, na época, eram cinquenta e duas mil crianças
assistidas. Era um programa que tinha muitas dificuldades, muitas
deficiências, mas que acontecia e que a gente via os exames, ano a ano, na
sua totalidade, ir melhorando o perfil da saúde bucal das crianças. Então foi
uma coisa que eu fiquei muito triste quando vi acabar. Hoje em dia é uma
coisa muito mais de burocracia, vamos fazer o exame inicial [...] Ele acabou
se tornando muito mais uma questão de cumprir exigências que o Ministério
faz em relação às atividades coletivas do que propriamente uma vontade de
oferecer um programa com uma proposta de promoção, de prevenção para as
crianças do Município. (Coordenadora 5).
A partir de 2004, configura-se, portanto, um novo momento da política de saúde
bucal no município de Vitória, conforme abordado no próximo item.
96
3.4 O Período de Influência do Brasil Sorridente (2004-2010)
O período de 2004 a 2010 é caracterizado por mudanças efetivas na política de
saúde bucal no município de Vitória, sob influência das transformações na política
nacional. As principais mudanças são o início da implantação das equipes de saúde
bucal, em 2004 (existentes no País desde 2001) e a inauguração de um Centro de
Especialidades Odontológicas, em 2005. No que concerne ao modelo de atenção, tais
serviços representam um movimento de ampliação do acesso às ações básicas e
especializadas na área de saúde bucal, para os diversos grupos da população, buscandose superar a lógica de programas delimitados a grupos etários ou sociais específicos.
No que se refere ao contexto nacional, em 2004 foi lançada a Política Nacional
de Saúde Bucal (PNSB), que trouxe novas propostas para a reorganização da área
odontológica por meio da ampliação e qualificação da atenção básica e da atenção
especializada, no intuito de buscar o atendimento integral5.
Tal política reitera a ESF como fundamental na reorganização das ações e
serviços de saúde bucal, norteada por eixos estruturantes, como o trabalho em equipe, a
valorização do território, a adscrição da população e a intersetorialidade.
Os eixos propostos na PNSB de certa forma são consoantes com as diretrizes de
implantação do SISS no Município, que previam a territorialização e a adscrição da
clientela como estratégias relevantes para organizar a atenção à saúde.
A inserção das Equipes de Saúde Bucal na ESF a partir de 2004 levou
inicialmente em consideração as regiões de maior risco social. Assim foram implantadas
dezessete equipes nas regiões de Maruípe, Santo Antônio e na unidade de saúde da Ilha
do Príncipe. Todas as equipes eram da Modalidade I, compostas por um cirurgiãodentista e um auxiliar de consultório dentário. Oito técnicos de higiene dental foram
distribuídos em cada um dos oito territórios de saúde. Todos os profissionais realizaram
treinamentos antes de se inserir.
As dificuldades encontradas no processo de inclusão das equipes relacionaramse principalmente à forma de inserção dos profissionais que, de acordo com a
regulamentação federal, é de responsabilidade do MunicípioLXXXI. Diante disso, o gestor
municipal optou pela priorização dos efetivos para ocuparem os cargos nas equipes de
saúde bucal. Em meio a muitas críticas, foi realizado um processo seletivo interno com
LXXXI
Portaria GM/MS no. 1444, de 28 de dezembro de 200060.
97
provas para seleção dos profissionais (cirurgiões-dentistas e atendentes de consultório
dentário) que atuariam nas equipesLXXXII.
A segunda dificuldade foi com relação à inserção do THD, já que não havia
recursos federais para implantar um técnico por equipe. Mesmo assim, a Prefeitura
conseguiu assumir o financiamento e contratar um THD por unidade de saúde por
período de 8 horas.
Outra questão colocada dizia respeito ao processo de trabalho das equipes de
saúde bucal inseridas na ESF. Segundo três entrevistadas, a odontologia não alterou sua
prática de atendimento para atender na ESF, pois os cirurgiões-dentistas têm muita
dificuldade de trabalhar em equipe. Em vista disso, a equipe de saúde bucal trabalha
muito distanciada do resto da equipe de saúde da família. As entrevistadas atribuem isso
à própria formação profissional, altamente tecnicista e individualista. Dessa forma, há
limitações para transformar a prática de trabalho dos dentistas. Em várias entrevistas
foram levantadas as dificuldades de os dentistas se manifestarem nas reuniões de
equipe, trazerem os problemas e as especificidades da odontologia para a discussão. A
fala de três entrevistadas demonstra tal situação:
Eu não considero que a odontologia no Município tenha efetivamente
transformado a sua prática para uma prática de saúde da família como a gente
pensa [...] eu não vejo a odontologia , quando acontece, pautar assunto nessas
reuniões de equipe. Então, às vezes, eu vejo a odontologia com problema e
eles não levam para a reunião de equipe (Coordenadora 2).
Eu acho que ainda tem que avançar muito na organização do trabalho
odontológico. Sair do quadrado da odontologia, de inserir realmente numa
equipe de saúde (Coordenadora 4).
Muito distanciado... Eu acho que ainda falta ao dentista uma formação
mesmo em relação ao papel dele (Coordenadora 5).
Nesse sentido, a equipe técnica da saúde bucal, com apoio da secretaria tem feito
um grande esforço em articular a odontologia com o resto da unidade de saúde. Assim,
a agenda que ficava dentro do consultório foi para a recepção, a esterilização da
odontologia foi para a central de esterilização da unidade, o paciente que vem para a
consulta deve passar pelo preparo realizado pelo enfermeiro, entre outras ações.
Resistências foram encontradas tanto por parte do profissional de odontologia, quanto
pelos outros profissionais da unidadeLXXXIII.
LXXXII
Apesar de ter sido contratada consultoria externa para a realização do processo, houve críticas
inclusive em relação à isenção e à idoneidade do processo.
LXXXIII
Tal dificuldade de integração ficou evidente pelo relato de uma das entrevistadas em relação a um
projeto piloto da Secretaria de informatização das unidades de saúde. Os profissionais de odontologia
apresentaram maior resistência quanto a esse projeto, pois, entre outras questões, não queriam
disponibilizar a agenda para a recepção.
98
Concomitante ao processo de implantação das equipes de Saúde da Família
foram elaborados e revisados os protocolos de saúde bucal, com o objetivo de organizar
o processo de trabalho e ampliar o acesso aos serviços. Os principais pontos foram:
estruturação da atenção programada, organização da livre demanda relacionada às
urgências e intercorrências, expansão da atenção à promoção da saúde e reestruturação
do Pronto Atendimento.
No ano de 2004, nove unidades passaram por ampliação ou reforma, o que levou
ao aumento do número de consultórios, da produção e, consequentemente, do acesso.
Em todo o Município foram disponibilizadas estratégias para a melhoria nas instalações
e ampliação do horário de atendimento. O acesso à atenção básica sempre foi uma das
grandes preocupações da equipe técnica da saúde bucal, mas o acesso às especialidades
permanecia como um dos grandes nós críticos da atenção odontológica.
Até 2004, a oferta de atendimento às especialidades era limitada. Nesse ano, a
Unidade de Saúde Vitória foi inaugurada com três consultórios e passou a oferecer
também o serviço de endodontia, que já era oferecido pela Policlínica São Pedro e a
Unidade de Saúde do Forte São João.
Em relação às outras especialidades, segundo uma das entrevistadas, os
pacientes portadores de necessidades especiais, quando precisavam de algum
atendimento que extrapolava as condições oferecidas pela rede básica, eram absorvidos
pela Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio-Palatal (PROFIS), pela
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e pela Faculdade de
Administração Espírito-Santense (FAESA), embora o número de vagas fosse
insuficiente. Já os pacientes com necessidades de cirurgia oral menor eram
encaminhados para a UFES e a FAESA.
A partir de 2005 ocorreu uma mudança mais expressiva nesse sentido, por meio
da implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), expressando a
estratégia defendida na Política Nacional de Saúde Bucal. Iniciou-se a construção de
uma rede de atenção à saúde bucal com acesso às especialidades. Essa rede ainda está
muito incipiente, pois o Município conta com um único CEO e mais duas unidades
especializadasLXXXIV.
Segundo uma das entrevistadas, embora Vitória já comportasse em sua rede uma
especialidade odontológica (a endodontia, oferecida em três unidades) para ampliar a
LXXXIV
As unidades que funcionam com especialidades são a Policlínica São Pedro e a Unidade de Saúde de
Forte São João.
99
oferta de serviços especializados, a indução pelo Governo Federal impulsionou a
Secretaria Municipal a montar um CEO. Essa visão fica clara na fala a seguir:
Em toda a política nacional, o CEO fica muito evidente, porque é o grande
diferencial. O olhar diferenciado, [O Ministério] colocou umas discussões a
nível nacional que, por exemplo: o tempo que nós ficamos tentando
implementar o trabalho que foi, se fosse nos tempos de hoje seria muito mais
fácil, muito mais tranquilo, porque vem de lá [do Ministério] como política.
Isso facilita muito, porque, também, o próprio gestor com um olhar para a
saúde bucal, porque geralmente são médicos, não é tão simples. Acho que
Vitória veio em um crescente, porque as pessoas que aqui estiveram, veio só
somando[...] Isso colaborou muito, a postura do gestor (Coordenadora 4).
O ano de 2006 foi marcado por reestruturação na organização da Secretaria
Municipal de Saúde e por enormes investimentos em estrutura, tais como inauguração
de três novas unidades de saúde com a Estratégia de Saúde da Família; inauguração do
Pronto Atendimento Municipal da Praia do Suá; reforma de três unidades de saúde;
ampliação do horário de atendimento em várias unidades; ampliação do acesso a
consultas e exames especializados por meio de convênio firmado com alguns hospitais,
entre outras ações107.
No ano de 2007, continuaram os investimentos em estrutura, com construção e
reforma de unidades de saúde, ampliação de horário de atendimento, início das obras do
Centro de Especialidades de São Pedro, entre outras ações. Além de investimentos em
capacidade física, foi realizado um concurso público para preenchimento de vagas na
Prefeitura, em substituição aos contratados. Nesse ano, o número de cirurgiões-dentistas
da rede municipal era de 110 profissionais108.
O Município iniciou o ano de 2008 sob a vigência do Pacto pela Saúde,
assumindo a responsabilidade pela média e alta complexidade ambulatorialLXXXV, 109.
Ainda neste ano, implantou a central de regulação de consultas e exames especializados
por meio do sistema informatizado de regulação (SISREG). Além disso, ampliou o
acesso a serviços especializados por meio de atendimento no horário noturno no CEO.
Como investimento em estrutura, adquiriu um hotel no centro da cidade para a
instalação de novo centro municipal de especialidades110.
Em 2009, o Município continuou investindo na rede física, como vinha fazendo
desde 2006, no intuito de estruturar sua rede, com destaque para as seguintes ações:
continuidade nas obras em várias unidades de saúde, CAPS e Centro de Especialidades
de São Pedro; inauguração de uma unidade de saúde; ampliação do acesso a consultas e
exames especializados por meio de convênios com hospitais; desapropriações para
construção de unidades básicas de saúde, Centro de Referência DST/AIDS e Centro
LXXXV
O Termo de Compromisso de Gestão (TCG) assinado pelo Município foi homologado pela Portaria
Ministerial n. 13, de 8 de janeiro de 2008109.
100
Municipal de Especialidades. Outras ações, como a implantação do atendimento
odontológico de urgência 24 horas; a implantação de serviço de radiologia na Unidade
de Saúde de Bairro República; a ampliação do número de agendamentos por turno de
trabalho, foram inseridas no intuito de aumentar o acesso e representaram avanço para a
saúde bucal. Entretanto, o Município apresentou dificuldades relacionadas ao número
excessivo de faltas às consultas agendadas tanto nas unidades de saúde como nos
Centros de Referência, na referência de escolares para tratamento nas unidades de saúde
e no acesso a dados e informações que propiciem acompanhar os indicadores em tempo
oportuno para ação111.
Em relação a recursos humanos, foi realizada capacitação do quadro gerencial da
Secretaria por meio do Curso de Especialização em Gerenciamento de Unidades
Básicas do SUS (GERUS)LXXXVI. Além deste, outros cursos foram realizados, entre eles
o curso “Aspectos Éticos da Odontologia”111.
Continuaram os investimentos para ampliação da cobertura populacional e
implantação das equipes de saúde bucal. Houve capacitações com a oferta do curso
básico de saúde da família destinado a técnicos e auxiliares de saúde bucal e de
enfermagem, das equipes de saúde da família110.
Observa-se por meio da análise desses quatro momentos que o Município
apresentou um crescimento permanente da oferta de serviços e ações em saúde bucal e
que o posicionamento político do gestor municipal da saúde teve grande importância
para a expansão das políticas nessa área. Em todos os momentos, pode-se perceber a
influência dos debates e acontecimentos em nível nacional, que repercutiram na
implantação de propostas no Município. Um período de grande importância para o
Município foi o de predominância do Programa Sorria Vitória, que apresentava em sua
estrutura uma prática voltada para a perspectiva da integralidade quando aliava as ações
de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, embora ainda estivesse restrito a um
grupo etário de crianças e de gestantes. A força do Programa Sorria Vitória pode
justificar o atraso do Município em implantar as equipes de saúde bucal.
No período designado como de influência do Brasil Sorridente (2004-2010),
observa-se um peso importante do Ministério da Saúde na indução de políticas, pela
implantação de uma Política Nacional de Saúde Bucal, inexistente até então. O papel da
esfera federal expressou-se por meio do financiamento e da regulamentação dessa nova
política.
LXXXVI
O curso foi resultado da parceria entre o Município, o Ministério da Saúde e a Universidade de
São Paulo (USP).
101
No próximo capítulo é dada continuidade à análise da implementação da saúde
bucal, abrangendo a situação atual do sistema de saúde no Município e a implantação do
CEO.
102
Contexto Nacional do Sistema de Saúde
Variáveis
3-2Quadro 3.2 – Síntese da evolução da Política de Saúde Bucal no Município de Vitória- 1950 a 2010.
Evolução da Política de Saúde Bucal no Município de Vitória
Período Pré- SUS ( 1950 - 1988)
• Anos 50 a 70 - Medicina
previdenciária e saúde pública.
• Anos 70 - Movimento de
Reforma Sanitária.
•1974 - Fluoretação das águas
de abastecimento público no
Brasil.
• Anos 80 - Implementação das
AIS e SUDS.
• 1986 - VIII CNS e I CNSB
1o. Levantamento
Epidemiológico de Saúde Bucal
no Brasil.
• 1988 - Constituição Federal.
• Modelo predominante na
Saúde bucal - modelo
incremental.
Período de Ênfase na Municipalização
(1989 - 1994)
Período de Predomínio do Programa
Sorria Vitória (1995 - 2003)
Período de Influência do Brasil
Sorridente (2004 - 2010)
• 1990 - Implantação do SUS. Princípios e
diretrizes - universalidade, integralidade,
participação da comunidade e
descentralização política administrativa.
• Regulamentação do SUS pelas NOB 91
(responsabilização pelos municípios das
ações e serviços) e 93 (estabeleceu três
condições da gestão municipal).
• Período marcado pela municipalização,
descentralização das ações e serviços de
saúde e pela disseminação dos conselhos
de saúde em todo o Brasil.
• 1993 - II CNSB
• Normatização do SUS pela NOB/ 96
- mudanças no modelo assistencial e
na organização dos serviços.
- Incentivos ao PACS e PSF
• 1998 - instituição do PAB.
• 2000 - MS estabelece
financiamento para as equipes de
saúde bucal.
• 2001 - Inclusão das ESB na ESF.
Normatização pela NOAS 01 regionalização do sistema de saúde.
Inclusão na saúde bucal de um
elenco de procedimentos na atenção
básica e na média complexidade
(endodontia).
• NOAS/2002 - Redefine
procedimentos da atenção de média
complexidade.
• Lançamento da Política Nacional de
Saúde Bucal.
• Período caracterizado pela pactuação
de responsabilidades entre os três níveis
de gestão do sistema e da atenção à
saúde.
• 2006 - Normatização realizada pelo
Pacto da Saúde - reorganiza o
financiamento por meio da transferência
de recursos em cinco grandes blocos, de
acordo com o nível de atenção à saúde e
o tipo de serviço e estabelece acordos
entre gestores por meio da assinatura
de termos de compromisso de gestão.
Modelo de Atenção
Preponderante
Contexto do Sistema de Saúde Municipal
103
•Anos 50 e 60 - Saúde Bucal
vinculada à Divisão de Saúde e
Bem Estar Social.
•1978 - Estruturação da
Secretaria Municipal de Saúde
composta pelo Departamento
Médico-Odontológico e Social e
o Departamento de Saúde
Pública. Divisão Odontológica
com mais autonomia e verbas
para ampliação de serviços.
•1987 - Integração no Programa
AIS - Ações Integradas de
Saúde.
•1989 - Municipalização da saúde.
Reorientação do modelo assistencial e
reorganização dos serviços da rede
municipal de saúde.
•Em 1990 - regulamentação do "Modelo
Assistencial de Saúde do ES.
Realização do primeiro concurso público.
• 1991 - Criação do Conselho Municipal de
Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a I
Conferência Municipal de Saúde.
•1992 - Divisão do município em 7 regiões
de vigilância em saúde.
•1993 - Reforma Administrativa da
SEMUS. A saúde bucal passou a estar
integrada a todo o Departamento de
Administração em Saúde e não mais ter
uma Divisão.
•1994 - Habilitação na Gestão Incipiente
(NOB SUS 01/93).
•1995 -Territorialização pela
Implantação dos Sistemas Locais de
Saúde (SILOS).
•1998 - Habilitação na Gestão Plena
da Atenção Básica (NOB/SUS 01/96).
Início da implantação da ESF.
•2000 - Implantação do Sistema
Integrado de Serviços de Saúde -.
•2002 - Criação do Departamento de
Assistência à Saúde (DASS): divisão
das ações em atenção básica,
especializada e hospitalar, de
urgência e emergência.
•2003 - Habilitação na Gestão da
Atenção Básica Ampliada
(NOAS/2002).
• Anos 50 e 70 - Baseado em
cuidados imediatistas e
curativos, com destaque para a
exodontia.
• Anos 80 - Predomínio do
modelo incremental,
responsável pelas ações
educativas e curativas nas
creches e escolas, em crianças
de 06 a 14 anos.
• 1990 - Insatisfação com o modelo
vigente (incremental). A clientela escolar
passou a ser referenciada para as
unidades de saúde, por meio de um
programa preventivo mais abrangente.
• Tentativa de mudança do modelo com a
consolidação da odontologia integral,
marcado pela grande resistência dos
profissionais e entidades de classe.
• Implantação do Programa Sorria
Vitória - de ações de promoção,
prevenção e reabilitação. Limitação:
foco em grupos delimitados população de 0 a 14 anos e
gestantes.
• Preocupação em mudar o modelo
de atenção para o atendimento
integral, dificultado pela inexistência
de referência às especialidades,
exceto a endodontia de modo muito
limitado.
•2006 - Reestruturação da SEMUS.
Criação da Gerência de Assistência à
Saúde com a coordenação de atenção
básica, coordenação de atenção
especializada e coordenação de urgência
e emergência.
•2007 - Realização de Concurso público.
•2008 - Vigência do Pacto pela Saúde responsabilidade pela média e alta
complexidade ambulatorial.
Implantação do Sistema de regulação.
•2009 - Investimentos em infraestrutura para ampliar acesso a serviços
de saúde.
Rede de serviços organizada para dar
acesso aos indivíduos na atenção básica,
especializada, urgência e emergência,
assistência farmacêutica e laboratorial.
Divide-se em 6 regiões e 27 territórios
de saúde.
• Modelo voltado para o atendimento
integral ao indivíduo, com referência e
contrarreferência às especialidades.
• Mudança no modelo de atenção de
grupos prioritários para saúde da
família.
Marcos Gerais da
Política Local
Recursos Humanos em
Saúde Bucal
Oferta de Serviços de Saúde Bucal
104
• Ações de educação em saúde
nas comunidades realizadas
pelo serviço social por meio de
estagiários da UFES.
• Oferta de serviços a
população caracterizada pela
livre demanda.
• Atendimento às crianças na
faixa etária de 06 a 14 anos escolas e creches, baseado no
modelo incremental.
•. Na década de 1980 atendimento odontológico
realizado em 16 das 20
unidades de saúde.
• 1990 - Estruturação do atendimento ao
adulto por meio dos grupos prioritários
(hipertensos e diabéticos).
• O atendimento à criança nas escolas
prioritário, mas com referência para as
unidades de saúde.
• Em 1992 - oferta de atendimento clínico
à criança e ao adulto nas unidades de
saúde, com realização de ações educativas
e de prevenção.
• 1993 - Implantação dos procedimentos
coletivos em Saúde bucal.
• Número elevado de
contratações de profissionais
de odontologia,
Número de cirurgiõesdentistas: década de 50 - 4 CD.
Ao final da década de 80 - 46
CD; 27 atendentes de
consultório dentário.
• 1991 - Contratação de CD clínicos e
odontopediatras e atendentes de
consultório dentário por meio de
concurso público.
• 1992 - Curso de Especialização em Saúde
Pública para profissionais. Capacitação
dos profissionais de odontologia,
principalmente atendentes de consultório
dentário.
• 1990 - Levantamento Epidemiológico
em crianças na faixa etária de 06 a 12
anos em todas as escolas estaduais e
municipais.
• 1979 - 1o. Levantamento
Epidemiológico no município.
• 1982 - Fuoretação das águas
de abastecimento público no
município.
Fonte: Elaboração da autora.
• Ações de educação em saúde e
procedimentos preventivos e
curativos realizados nas escolas e
unidades de saúde com prioridade
para crianças e gestantes.
• Adultos atendidos nas unidades de
saúde por meio de grupos
prioritários (hipertensos, diabéticos,
programa da mulher).
• Atendimento das urgências
odontológicas com a inauguração da
Policlínica de São Pedro.
• Atendimento à especialidade de
endodontia na US Forte São João.
• Oferta de serviço de radiologia na
US de Jardim Camburi.
• Capacitação de Profissionais da
odontologia e de educadores,
auxiliares de serviços gerais e
voluntários das comunidades para
atuarem no Programa Sorria Vitória.
• 2004 - Inserção das Equipes de Saúde
Bucal na ESF.
• Aumento no número de ESB no
período.
• 2005 - Implantação do CEO.
• Atendimento às especialidades em
outras duas unidades US Forte São João
e Policlínica São Pedro.
• Implantação do serviço de urgência
odontológica 24 horas.
• Ampliação da oferta de serviços
básicos de saúde bucal por meio de
horários noturnos.
• Ampliação do número de
agendamentos por turno de trabalho,
passando de 04 para 06.
• 2004 - Capacitações para os
profissionais de odontologia atuarem
nas ESB. Realização de cursos para todos
os profissionais da rede em
urgência/emergência odontológica e
prescrição odontológica.
• 1996- Levantamento
Epidemiológico baseado na
metodologia do programa de
inversão da atenção.
• 1998 - Monitoramento do controle
de flúor nas águas de abastecimento
público.
• 2004 - I Fórum Municipal de Saúde
Bucal Coletiva.
• 2005 - Inauguração do Centro de
Especialidades Odontológicas.
• 2009 - VI Conferência Municipal de
Saúde.
105
Capítulo 4 – A Saúde Bucal no Município de Vitória: Configuração Atual e
Inserção do Centro de Especialidades Odontológicas
A análise da trajetória da saúde bucal no Município foi importante para se
reconhecerem os aspectos que contribuíram para a configuração atual desta área no
sistema municipal de saúde, ou a dificultaram. Assim, neste capítulo, é discutida a
conformação da saúde bucal dentro do sistema de saúde e o papel que o CEO
desempenha no Município para o princípio da integralidade.
4.1. A Organização da Saúde Bucal no Sistema Municipal de Saúde
Como falado anteriormente, o município de Vitória encontra-se atualmente sob a
vigência do Pacto pela Saúde, tendo assumido a responsabilidade pela gestão da média e
alta complexidade ambulatorial.
A Política de Saúde no Município está ancorada em um “tripé de governança”
representado pela Atenção Integral à Saúde do Cidadão, pela Vigilância em Saúde e
pela Gestão do SUS. Esse tripé é entendido como “[...] padrões de articulação e
cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e
regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema”32.
Essas três linhas que sustentam o sistema de saúde municipal correspondem
sinteticamente aos princípios propostos pelo SUS. Os gestores devem estar articulados
nos três níveis de governo e devem responsabilizar-se para proporcionar aos cidadãos o
atendimento integral, bem como o controle de doenças e o monitoramento de sua
situação de saúde32.
Assim, no que concerne ao modelo de atenção, o município de Vitória tem a
Vigilância em Saúde e a Estratégia Saúde da Família como eixos estruturantes para a
atenção à saúde. Para configurar tal estratégia, Vitória encontra-se dividida em seis
regiões e 27 territórios de saúde, conforme demonstrado na figura 4.1.
106
4.1 Figura 4.1 – Mapa da regionalização da saúde em Vitória
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Vitória – Plano Municipal de Saúde 2010/201332.
http://www.vitoria.es.gov.br
Na cidade há 28 unidades básicas de saúde, entre as quais 21 apresentam a
Estratégia de Saúde da Família, quatro unidades sem Estratégia de Saúde da Família e
três unidades com Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Cinco das
21unidades funcionam em horário diferenciado, variando entre as 19 e as 22 horas.
Os serviços oferecidos nas unidades básicas compreendem consultas médicas e
de enfermagem, ações de educação em saúde, visitas domiciliares, atendimento
psicológico, odontológico, fonoaudiológico e de serviço social, atividade física
orientada, ações de promoção da saúde, vacinação, nebulização, curativos, coleta de
exames laboratoriais, serviços de enfermagem, dispensação de medicamentos, marcação
de consultas e exames especializados32.
Atualmente, das 28 unidades de saúde do Município, somente duas unidades não
oferecem atendimento odontológico, por não possuírem infraestrutura adequada.
Segundo uma das entrevistadas, a população dessa região é atendida nas unidades
próximas, mediante um fluxo de encaminhamentos de referência bem definido.
Nas outras unidades, o atendimento odontológico compreende ações de
promoção da saúde e prevenção, além de ações curativas, como restaurações,
107
exodontias, profilaxias, terapia periodontal, entre outras. Algumas das unidades de
saúde funcionam em horário estendido até às 22 horas, para atender a demanda dos
usuários que trabalham. O CEO e as unidades especializadas também atendem em
horário expandido, que pode prolongar-se das 19 às 21 horas.
Além das unidades básicas de saúde, o Município conta ainda com32
dez serviços de referência: atenção ao idoso (CRAI), DST/AIDS, atenção
psicossocial ao adulto (CAPS II), atenção psicossocial infanto-juvenil (CAPSi), atenção
psicossocial para usuários do álcool e outras drogas (CAPS-AD/CPTT), centro de
controle de zoonoses (CCZ) e quatro centros de especialidades: Centro Municipal de
Especialidades (CME), Policlínica São Pedro, Santa Luíza e o Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) – funcionando no Centro Municipal de
Especialidades,
dois pronto atendimentos funcionando 24 horas (São Pedro e Praia do Suá);
um serviço de orientação ao exercício (SOE)LXXXVII;
um laboratório central municipal;
um serviço de vigilância sanitária (VISA);
um serviço central de insumos de saúde;
uma farmácia popular.
O Município dispõe ainda de uma rede conveniada de hospitais cujo objetivo é
ampliar e garantir o acesso da população a serviços ambulatoriais e hospitalares
mediante repasses financeiros para investimentos em estrutura física, equipamentos e
oferta de serviços de saúdeLXXXVIII.
Vale ressaltar que existe em Vitória uma rede privada de atenção à saúde, não
vinculada ao SUS, e que nesta capital a parcela da população que apresenta planos
privados de saúde é maior do que nas outras capitais da Região Sudeste, conforme se
pode visualizar na Figura 4.2. Ao analisar os planos privados que oferecem cobertura
odontológica, observa-se que a proporção da população beneficiária desses planos em
Vitória é similar a de outras capitais. Entretanto, ao ser comparada com os dados do
Espírito Santo, da Região Sudeste e do Brasil, esta proporção se apresenta muito maior
(Figura 4.3).
LXXXVII
O SOE é composto por doze módulos de orientação ao exercício, localizados em praças, parques e
praias, por um carro volante - o SOE-Móvel -, que realiza visitas quinzenais a regiões onde não existe
módulo de orientação ao exercício, e por duas academias populares em parceria com a Secretaria
Municipal de Esportes.
LXXXVIII
Os hospitais conveniados são: Maternidade Pró-Matre, Hospital Santa Casa de Misericórdia de
Vitória, Hospital Santa Rita de Cássia e Hospital Cassiano Antônio de Moraes (Hucam).
108
4.2 Figura 4.2 – Percentual da população beneficiária de planos de saúde e de planos odontológicos
nas capitais da Região Sudeste no ano de 2009
55,7%
São Paulo
15,4%
Cobertura Médica
Cobertura Odontológica
52,2%
Rio de Janeiro
15,9%
53,8%
Belo Horizonte
14,9%
74,7%
Vitória
14,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados da Agência Nacional de Saúde e IBGE.
http://www.ans.gov.br/main.jsp?lumChannelId=8A9588D425FEC1700126057D981F0EF1. Acesso em
27/12/10.
4.3 Figura 4.3 – Percentual da população beneficiária de planos de saúde e de planos odontológicos
em Vitória, Espírito Santo, Região Sudeste e Brasil no ano de 2009.
Cobertura Médica
Brasil
21,9%
Cobertura Odontológica
6,3%
34,1%
Região Sudeste
9,5%
28,5%
Espirito Santo
5,1%
74,7%
Vitória
14,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados da Agência Nacional de Saúde e IBGE.
http://www.ans.gov.br/main.jsp?lumChannelId=8A9588D425FEC1700126057D981F0EF1. Acesso em
27/12/10.
Essa questão é importante na discussão sobre a saúde bucal no Município, já
que o peso do setor privado é importante e existem por vezes relações imbricadas entre
os serviços públicos e privados.
109
A saúde bucal no município de Vitória está organizada para proporcionar ao
usuário o atendimento integral à saúde. O modelo de atenção está voltado para a
estruturação da saúde bucal por meio da Estratégia de Saúde da Família e da
Vigilância em Saúde. Assim, as equipes de saúde bucal devem basear suas ações nos
princípios e diretrizes do SUS. Tais ações estão estruturadas sob as diretrizes de
adscrição da clientela sob a responsabilidade da unidade básica de saúde; a
integralidade da atenção; a articulação da referência e contrarreferência aos serviços de
maior complexidade do sistema de saúde; a intersetorialidade; a abordagem
multiprofissional, entre outras111.
Atualmente, a rede de saúde do Município já dispõe de 47 equipes de saúde
bucal modalidade I, para 77 equipes de saúde da família. Embora as equipes de saúde
bucal estejam cadastradas como de modalidade I, em cada uma das unidades há um
técnico de higiene dental. A relação das equipes de saúde bucal para as de saúde da
família varia nas unidades, em geral de um para um, ou de um para dois. Entretanto,
em duas unidades, há uma relação de uma equipe de saúde bucal para três equipes de
saúde da família e de uma para quatro. Tal fato demonstra uma inadequação das
equipes e uma sobrecarga para as equipes de saúde bucal, o que pode dificultar o
acesso ao tratamento e provavelmente gerar uma demanda reprimida grande.
As 77 Equipes de Saúde da Família e as 47 de saúde bucal de que o Município
dispõe proporcionam uma abrangência populacional estimada de 84% e 51%
respectivamente LXXXIX. Os anos de 2006 e 2007 apresentaram a mesma abrangência
populacional estimada, pois não foi implantada nenhuma equipe nesse período,
podendo-se considerar, entre as razões, a mudança de governo XC . Em 2008 esse
quantitativo voltou a aumentar, pois foram implantadas 29 equipes de saúde bucal. Esse
crescimento manteve-se nos anos seguintes (Figura 4.4).
LXXXIX
Utilizou-se o mesmo parâmetro já especificado anteriormente para cálculo de abrangência
populacional estimada: multiplicou-se o número de equipes por 3.450 pessoas, parâmetro adotado a partir
de 2003. Portanto, tais dados podem diferir dos apresentados na sala de situação do Ministério da Saúde,
que manteve o parâmetro adotado anterior de 6.900 pessoas até setembro de 2010.
XC
Apesar de a abrangência populacional ter-se mantido o mesmo no ano de 2007, a Sala de Situação em
Saúde do Ministério da Saúde traz um número bem menor, devido a erro na digitação das informações.
110
4.4 Figura 4.4- Abrangência populacional das Equipes de Saúde da Família e das Equipes de Saúde
Bucal.
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ESB
0,0
0,0
19,2
18,7
17,4
17,4
31,5
47,8
51,0
ESF
49,0
56,5
71,8
72,2
65,0
60,9
77,3
81,4
83,6
Fonte: Cálculo realizado pela própria autora a partir do número de equipes de saúde bucal adquiridos no Sítio
do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica e de dados populacionais do IBGE.
Embora Vitória tenha implantado as equipes de saúde bucal somente em 2004,
atualmente o Município apresenta uma abrangência populacional estimada das equipes
de saúde bucal bem superior em relação à do Espírito Santo, à da Região Sudeste e à do
Brasil no ano de 2010, conforme demonstra a figura 4.5.
4.5 Figura 4.5- Abrangência populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal em Vitória, Espírito
Santo, Região Sudeste e Brasil no ano de 2010.
60,0
50,0
40,0
30,0
51,0
40,5
20,0
37,1
21,2
10,0
0,0
Vitoria
ES
Sudeste
Brasil
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do Sítio do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção
Básica. Sala de Situação em Saúde. http://189.28.128.178/sage/
111
Entre as atribuições das equipes de saúde bucal estão o planejamento, o
acompanhamento e a avaliação das ações desenvolvidas no território de abrangência das
unidades básicas de saúde da família; o estímulo e a execução das medidas de promoção
da saúde, prevenção e atividades educativas; a sensibilização das famílias quanto à
importância da saúde bucal para a manutenção da saúde, entre outras111.
Para compor o quadro de pessoal, a rede municipal de saúde compõe-se de:
133 cirurgiões-dentistas, 119 atendentes de consultório dentário e 37 técnicos de
higiene dental. Desse quantitativo, as equipes de saúde bucal compreendem ao todo 47
cirurgiões-dentistas em regime de 40 horas. Além disso, o Município dispõe de sete
unidades básicas de saúde com 29 dentistas trabalhando com carga horária de 20 horas
semanais. Os outros profissionais estão distribuídos nos outros serviços da Secretaria
Municipal de Saúde112.
A organização do acesso à saúde bucal compreende o atendimento às urgências
e as intercorrências, o atendimento à livre demanda, à atenção programada vinculada ao
território de abrangência e ainda uma atenção extraclínicaXCI, 111.
O atendimento às urgências é realizado em qualquer unidade de saúde ou de
pronto atendimento, sem necessitar de agendamento prévio. De preferência tal
atendimento deve ser realizado na unidade básica de saúde do território de moradia do
paciente. Após o atendimento emergencial, o usuário deve ser informado sobre as
formas de acesso à continuidade do tratamento e contrarreferenciado à unidade básica
do seu território.
O atendimento à livre demanda destina-se a responder à queixa principal do
usuário ou a uma necessidade percebida pela ESB. O acesso do usuário não pertencente
a grupos priorizados é possibilitado para a resolução de sua queixa principal, desde que
seja cadastrado na unidade de saúde. Após o atendimento, o usuário deve ser informado
sobre suas necessidades e sobre as formas de acesso ao tratamento111.
O atendimento programado é disponibilizado ao usuário desde que este esteja
cadastrado no seu território. Assim, sua consulta será priorizada por meio do
agendamento prévio. Tal atendimento deve estar baseado no princípio da integralidade,
por meio das ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação do indivíduo.
Nesse sentido, os profissionais responsabilizam-se pela população adscrita. Ao término
do tratamento clínico, o usuário deve ser mantido em acompanhamento periódico com
reforço do autocuidado.
XCI
A atenção extraclínica é assim denominada no protocolo de saúde bucal do Município por
compreender a assistência realizada fora dos espaços dos serviços de saúde, como domicílios e escolas.
112
A atenção dita extraclínica é realizada em domicílios ou em ambientes
institucionais, como escolas, asilos, por exemplo, às pessoas após identificação de
necessidades pelos agentes comunitários. O atendimento domiciliar deve priorizar as
pessoas acamadas e sem condição de locomoção até à unidade de saúde.
Conclui-se por essa descrição da organização da rede de saúde bucal, que o
Município procura organizar sua atenção baseando-se no atendimento integral, com
oferta de serviços nos vários níveis de atenção e apresentando várias portas de entrada
para atendimento. Entretanto foram identificados alguns problemas, entre eles o baixo
acesso à atenção básica, o excesso de outros munícipes nos prontos atendimentos,
limitações no processo de trabalho das equipes de saúde bucal e a baixa produção.
Uma das maiores preocupações continua sendo com relação à ampliação do
acesso, pois o Município apresenta uma cobertura pelo indicador de primeira consulta
de apenas 8%. Embora esse percentual esteja aumentando ao longo dos anos, ainda é
muito pequeno. Essa questão será abordada ao final deste tópico, quando serão
apresentados os dados de produção.
No intuito de aumentar o acesso à atenção básica, o Município tem investido na
ampliação de sua rede física e na reorganização do processo de trabalho, priorizando
famílias com maior risco social.
Nesse sentido, foi realizado um projeto piloto na Unidade de Saúde Jesus de
Nazaré para reorganização dos acessos. Essa Unidade foi escolhida por apresentar um
território bem fechado, sem invasão de clientela de outros bairros, ter uma relação de
uma equipe de saúde bucal para uma Equipe de Saúde da Família, com uma proporção
de um dentista para menos de 3.000 habitantes, além de os profissionais estarem
inseridos nessa unidade há algum tempo, o que pressupõe já apresentarem um vínculo
estabelecido. Os domicílios foram escolhidos de acordo com a classificação de maior
risco social e epidemiológico pelas equipes de saúde da família. A atendente de
consultório dentário realizou os exames baseando-se na classificação de risco para
odontologia usada na Prefeitura. Os resultados indicaram necessidades nunca percebidas
pelas equipes de saúde bucal, pois essas pessoas normalmente não buscavam a unidade,
só em caso de dor, e não foram captadas pelas equipes. Daí, a preocupação do
Município em reorganizar o processo de trabalho e começar a trabalhar com as famílias
de maior risco social, até mesmo porque são as pessoas que possivelmente apresentem
maior necessidade. A situação relatada demonstra o insuficiente acesso e vínculo dos
profissionais com o território e uma falha na captação desses pacientes para tratamento,
113
quando se submeteram à consulta de urgência. Por esse motivo o atendimento integral
preconizado não está sendo proporcionado.
A preocupação com o acesso estende- se à atenção especializada, que apresenta
um único CEO. Assim, o Município está construindo um novo Centro, anexo à
Policlínica São Pedro. Além disso, está em fase de construção de uma nova sede do
CEO, com proposta de aumento no número de profissionais e na oferta de serviços.
O excesso das consultas de urgência no pronto atendimento, segundo uma das
entrevistadas, estaria relacionado em parte ao grande fluxo de pacientes provenientes de
presídios. Segundo relato de uma coordenadora, o pronto atendimento da Praia do Suá
apresenta um quantitativo de pessoas de presídios de outros municípios na ordem de 60
a 70%. Cabe ressaltar que o paciente de presídio é de responsabilidade da esfera
estadual, que, entretanto, não tem proporcionado a esse paciente a devida atenção,
segundo a fala a seguir:
Outra questão que é uma discussão que nunca tem fim: o paciente de
presídio. É responsabilidade do estado. O estado não tem onde atender e cai
tudo no meu PA. Todo dia que você chegar no meu PA tem cinco, seis
detentos, tudo algemado no corredor para ser atendido. Então, quando eles
vêm, eles enchem o carro e trazem todo mundo. E esse preso acaba sendo de
ninguém. Aí bate no meu PA e eu tenho que atender. O meu PA da Praia do
Suá, o número de atendimento de munícipes é de 30%, 60%, 70% de outros
municípios. Depende do mês. Vitória está em 38%, nessa faixa. É muita
gente de presídio. E o Estado tem falhado muito nisso (Coordenador 1).
Esta fala evidencia a insuficiente atenção do governo estadual em relação à
saúde bucal.
Outro problema detectado tem relação com o processo de trabalho das equipes
de saúde bucal, particularmente as dificuldades de inserção do odontólogo, abordada no
capítulo anterior.
A baixa produção dos profissionais tem sido um grande problema na rede,
porque compromete ainda mais a oferta de serviços e o acesso da população, além de
não proporcionar resolutividade.
Observou-se que a produção de procedimentos odontológicos em Vitória,
analisada a partir dos dados obtidos do DATASUS, de fato, encontra-se muito baixa.
Apurou-se que entre os procedimentos totais realizados os principais foram os
procedimentos coletivos. Dos procedimentos individuais, os que apresentaram maior
produção foram a raspagem, o alisamento e o polimento supragengivais. Observa-se
uma queda no número de procedimentos totais em 2010 quando comparado com os
dados de 2008 e 2009, que apresentaram respectivamente 617.980 e 601.509
114
procedimentos. A figura 4.6 mostra o número de procedimentos realizados pelos
dentistas na rede municipal de saúde.
4.6 Figura- 4.6 Número de Procedimentos dos Cirurgiões-dentistas de Vitória no ano de 2010 por
tipo.
583.100
214.607
70.587
Total
Ação Coletiva de
Escovação
Supervisionada
Raspagem
Alisamento e
Polimento
Supragengival
44.554
26.302
23.659
Ação Coletiva de
Restauração em Primeira Consulta
Aplicação Tópica de Dente Permanente
Programática
Flúor
Posterior
Fonte: SIA/SUS.
Tais procedimentos, em sua maioria, poderiam ter sido realizados pelo THD, já
que são colocados no rol dos de sua competência. O relato de uma entrevistada
demonstra bem tal situação:
O número de procedimentos de um profissional dentro da estratégia saúde da
família é menor ou igual a um profissional de 20 horas, ou seja, um
profissional de 40 horas tem uma produção igual ou menor [...] Então é uma
preocupação muito grande porque hoje a nossa necessidade é a atenção
clínica. (Coordenador 1)
Com isso, o município tem realizado oficinas no intuito de trabalhar o boletim
de produção ambulatorial individualizado (BPAI), para que as ações coletivas, as
raspagens e os selantes sejam realizadas pelos THDs, e sua produção seja inserida em
um BPAI separado. Entretanto a entrevistada relatou a dificuldade de qualificar melhor
essa mão de obra, um problema já discutido neste trabalho que se vem arrastando há
muitos anos no Município. Assim, os cirurgiões-dentistas poderiam ficar mais livres
para executar procedimentos mais complexos e, portanto aumentar a produtividade e
consequentemente proporcionar maior acesso. Diante de tal fato fica evidente a
importância da utilização do pessoal de nível médio e a dificuldade com que esse
assunto é abordado pelas entidades e profissionais. Ainda permanece certa resistência
para a incorporação desse profissional.
Ao se analisar o indicador de cobertura de primeira consulta odontológica
programática, verifica-se que este se manteve em um crescimento constante até 2007.
115
Em 2008, apresentou uma ligeira queda e voltou a aumentar em 2009 e em 2010,
embora esta elevação tenha se revelado pequena (Figura 4.7).
4.7 Figura- 4.7 Evolução da Cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática em Vitória
2004 a 2010
9,00
7,00
6,00
8,00
7,61
8,00
5,80
6,85
6,98
2008
2009
6,22
5,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2004
2005
2006
2007
2010
Fonte: SIA/SUS. FIBGE. Indicador calculado a partir da produção ambulatorial e dados populacionais.
O indicador de proporção de procedimentos odontológicos especializados em
relação às ações odontológicas individuais no Município demonstra índice elevado em
relação ao Espírito Santo e Brasil, com um aumento acentuado a partir de 2005,
favorecido pela implantação do CEO (Figura 4.8).
4.8 Figura- 4.8 Evolução da Proporção de Procedimentos odontológicos especializados em relação
às ações odontológicas individuais em Vitória - 2002 a 2007
40
35,84
35
31,88
30
25,66
25
26,77
23,77
20,64
20
15
10
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fonte: SIA/SUS. FIBGE. Indicador calculado a partir da produção ambulatorial e dados populacionais
116
Nas entrevistas com os coordenadores de saúde bucal, três reclamaram da
questão dos indicadores de saúde bucal que não favorecem um monitoramento
adequado para essa área.
A análise dessas informações permite questionar até que ponto a organização da
atenção no Município tem contribuído efetivamente para melhorar os indicadores
relativos à saúde bucal. Observa-se que Vitória tem procurado investir em estrutura
física e capacitação profissional, mas ainda existem problemas no âmbito do acesso, da
produção, dos processos de trabalho e dos mecanismos de coordenação entre serviços.
4.2 O Centro de Especialidades Odontológicas no Sistema de Atenção à Saúde
Bucal
Um dos grandes problemas da saúde bucal no Brasil sempre foi a precariedade
de acesso aos serviços odontológicos, principalmente aos de atenção especializada. Esse
panorama começou a se alterar a partir de 2004, com o início da implantação da Política
Nacional de Saúde Bucal, com vistas à reorientação do modelo de atenção na área.
Tal reorientação apresentou como pressupostos a ampliação e a qualificação da
atenção básica, possibilitando o acesso de todas as faixas etárias, e a oferta de serviços
nos níveis secundários e terciários de modo a garantir o atendimento integral ao
indivíduo.
Os CEOs configurados como importantes instrumentos para a consolidação da
política de saúde bucal, foram instituídos com vistas a ampliar a oferta de serviços
especializados nessa área e servir de referência para a atenção básica5.
O acesso às especialidades odontológicas já era uma preocupação do município
de Vitória antes mesmo do lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal e da
implantação do CEO. Em 2004, o Município já possuía na sua rede de atenção, o
atendimento especializado na área de endodontia em três unidades de saúde – US Forte
São João, Policlínica São Pedro e US Vitória, embora de forma bastante incipiente,
como discutido no capítulo anterior.
A US Vitória, localizada no centro da cidade, funcionava no mesmo local do
Centro Municipal de EspecialidadesXCII. Tal Unidade prestava atendimento de atenção
básica e de especialidade na área de endodontia, funcionando em dois turnos. O espaço
XCII
O Centro Municipal de Especialidades oferece atendimento nas várias especialidades médicas.
117
onde funcionava a odontologia da US Vitória foi adaptado para se conformar como o
CEO de Vitória, inaugurado em 2005 como um CEO do tipo IIXCIII.
Características
do
Centro
de
Especialidades
Odontológicas:
Estrutura
e
Funcionamento
Quanto à estrutura, o CEO de Vitória dispõe de quatro cadeiras odontológicas,
distribuídas em duas salas. Uma sala comporta um único consultório odontológico com
aparelho de radiologia para o atendimento na área de endodontia. Esta sala é separada
para evitar a exposição radiológica a que os pacientes atendidos nas outras
especialidades ficariam sujeitos, já que os profissionais precisam realizar radiografias
durante os procedimentos de endodontia. Na outra sala estão dispostos os outros três
consultórios odontológicos, organizados em forma de rosetaXCIV. Essa disposição gera
muitas críticas por parte dos profissionais que consideram o sistema inapropriado para o
tipo de atendimento que é oferecido no CEO, em um espaço físico pequeno. Entre os
problemas citados estão a falta de individualidade dos profissionais para com seus
pacientes e a questão da biossegurança, prejudicada pelo grande número de pessoas
dentro de uma mesma sala, cada um na sua especialidade, com sua atendente de
consultório dentário fazendo procedimentos distintos, entre outros. Segundo uma das
entrevistadas,
[...] é esse sistema de rosetas, que eu acho que é um sistema que te priva um
pouco de liberdade com o paciente. Muitas vezes, o paciente, por vergonha,
ele vai deixar de te dizer alguma complicação que ele tenha de saúde porque
o outro do lado vai ouvir. A questão da biossegurança, eu acho que fica
comprometida [...] Então, esse sistema de roseta eu acho que é uma coisa que
não cabe mais. (Cirurgião-dentista 1)
O sistema de roseta já estava implantado na unidade de saúde quando esta foi
adaptada para comportar o CEO. Segundo uma das entrevistadas, quando as portarias do
Ministério da Saúde foram emitidas, houve urgência política para a implantação, e a
gerência teve que improvisar situações inadequadas. Por isso, até hoje configura-se com
muitas críticas a disposição de três consultórios em forma de roseta na mesma sala.
Por esse motivo, a Secretaria Municipal de Saúde está reformulando os projetos
arquitetônicos dos consultórios odontológicos para adequá-los à nova proposta de
XCIII
O Centro de Especialidades Odontológicas foi habilitado pela Portaria SAS n. 132, de 08 de março
de 2005113.
XCIV
Como citado no capítulo anterior, essa disposição ergonômica em forma de roseta foi adotada na
década de 1990 na Prefeitura Municipal de Vitória. Essa distribuição, na época em que foi implementada,
tinha o sentido de inserir o THD sob coordenação do dentista, pressupondo o trabalho em equipe e a
racionalização do atendimento odontológico.
118
trabalho e às normas da Vigilância Sanitária. Assim, os novos CEOs (São Pedro e a
nova sede do atual) que estão sendo construídos não serão configurados com o sistema
de rosetas.
Apesar dessa crítica com relação à organização do espaço físico, a estrutura do
CEO em termos de equipamentos é muito boa; inclusive alguns dos entrevistados se
disseram impressionados pela estrutura compatível com a de um consultório particular,
conforme o depoimento abaixo:
Eu já fiquei impressionada com a estrutura que tem aqui, quando eu cheguei.
Isso foi uma coisa que me impressionou muito. Eu faço praticamente tudo
que faço no consultório particular. [...] tenho ultrassom de última geração, do
melhor que tem. (Cirurgião-dentista 6).
Com relação aos instrumentais e materiais de consumo odontológicos, houve
reclamação de três odontológos quanto às especificações corretas e à restituição dos
materiais. A questão do sistema de compras é um problema comum do serviço público,
que usa muitas vezes um processo de licitação de compras complicado, demorado e nem
sempre satisfatório àquilo que foi solicitado. Assim, um instrumental ou material
inadequado gera maior tempo operatório, maior esforço do profissional, menor
qualidade e consequentemente menor produção. Uma das entrevistadas complementa:
O meu instrumental era muito ruim para trabalhar. [...] Fiz vários pedidos, vi
tudo pela internet para pesquisar códigos das coisas, para deixar tudo
certinho, especificar os tipos de broca. E a gente não teve acesso a isso. [...]
mas eu precisava de materiais que realmente fossem bons. [...] a gente
especifica tudo. [...] e se eles não vão comprar exatamente nada de
especificação, então não pede, porque eu não gasto meu tempo fazendo isso.
[...] O serviço público é muito complicado com esse negócio de compra de
material. É muito complicado. E como quem compra é a tristeza de um
administrador, que não conhece a nossa área... Eu acho que você compra
barato e acaba saindo caro. (Cirurgião-dentista 8)
Com relação ao funcionamento, o CEO disponibiliza para a população as
especialidades de endodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilo facial, diagnóstico oral,
prótese e atendimento a pacientes com necessidades especiais. Essas especialidades são
ofertadas em três turnos de trabalho, no horário das 7 às 21 horas.
Há doze cirurgiões-dentistas lotados no CEO, todos admitidos por meio de
concurso público e pós-graduados nas suas respectivas áreas de atuação. Atualmente há
um profissional contratado, pois uma das cirurgiãs-dentistas concursadas pediu
exoneração para assumir um cargo na Universidade Federal do Espírito SantoXCV. Além
dos cirurgiões–dentistas há doze atendentes de consultório dentário distribuídos nos três
turnos de atendimento.
XCV
Esta profissional foi incluída na pesquisa, pois se manteve no CEO por três anos e poderia contribuir
com informações relevantes, enquanto o novo profissional estava somente havia três meses no cargo.
119
O CEO também comporta o Laboratório Regional de Prótese Dentária, que atua
com dois técnicos e dois auxiliares de prótese dentária, e um serviço de radiologia, que
funciona com duas técnicas de higiene dental.
Observou-se no CEO a logomarca do Brasil Sorridente distribuída nas placas de
identificação da fachada, de identificação de consultórios, de inauguração, nos jalecos e
móbiles. Tal marca tornou-se imprescindível nos CEOs espalhados por todo o território
nacional.
Para o melhor entendimento do funcionamento do CEO, será abordada cada
especialidade separadamente, considerando-se suas respectivas especificidades, tais
como número de profissionais, taxas de absenteísmo, demandas reprimidas, processo de
trabalho e produção.
A especialidade de endodontia, assim como a de periodontia, é oferecida por
três profissionais cada, distribuídos nos três turnos de atendimento. A endodontia é uma
das especialidades que apresentam a maior demanda de usuários. De acordo com o
sistema de regulação, no ano de 2010, a fila de espera para tal especialidade comportava
1.037 pessoas, envolvendo um tempo de espera para atendimento em torno de seis
meses a dois anos. No entanto, houve, no período de julho a dezembro de 2010, um
percentual de faltas às consultas em torno de 33,3% para as consultas de primeira vez e
de 33,9% para as consultas de retorno. Tal absenteísmo foi abordado pelos profissionais
como um problema, primeiro por provocar ociosidade, segundo por impactar ainda mais
na fila de espera existente, gerando uma quantidade grande de pacientes com problemas
sem resolução. Os entrevistados relataram que o maior número de ausências acontecia
nas consultas de primeira vez, entretanto, de acordo com os dados obtidos do sistema de
regulação, o índice de faltas foi ligeiramente maior nas consultas de retorno,
contradizendo o relato (Quadro 4.1).
Já a periodontia, segundo dados do SisReg, não apresenta fila de espera, e a
marcação de atendimento está em torno de quinze a vinte dias. Considerando que as
doenças periodontais são muito prevalentes na população, a baixa procura tem gerado
preocupação nos dirigentes, pois esses pacientes podem não estar sendo captados ou não
estar conseguindo acesso nas unidades, como relatou uma entrevistada:
Eu fui informada que a periodontia hoje não tem fila de espera. Na verdade, é
o que mais me preocupa, porque quando eu sei que tem uma fila de espera
para a endodontia, eu sei que realmente tem uma doença que está ali e que
esse usuário está sendo captado. Na periodontia, por ser uma doença bucal
que a gente tem uma expectativa de que ela realmente está presente na
população adulta, para mim essa preocupação é maior porque significa que
esse adulto não está tendo acesso nas unidades básicas. [...] Então para mim é
um agravante. [...] Mas quando falam para mim que não tem fila de espera
para a periodontia, para mim, o olhar é outro. Ou o paciente está entrando e o
120
diagnóstico não está sendo bem realizado, até porque o paciente, para
tratamento de canal, também é adulto, está lá, na fila, esperando. (Diretora 1).
Uma das hipóteses possíveis para explicar essa baixa demanda na periodontia
pode ser atribuída ao curso de capacitação realizado pelos profissionais de tal
especialidade para os cirurgiões-dentistas da atenção básica. Tal curso ocorreu com o
apoio da área técnica odontológica e proporcionou uma melhora em torno de 80% nos
encaminhamentos ao CEO, além de ter propiciado maior aproximação dos profissionais
dos dois níveis. Isso será mais bem discutido no item relativo à integração do CEO na
rede de serviços.
Embora o curso de capacitação tenha possibilitado uma melhora nos
encaminhamentos ao CEO, o índice de faltas permaneceu alto, em torno de 27,8% para
as consultas de primeira vez, enquanto as consultas de retorno apresentaram um índice
de faltas menor, 20,1%.
Tanto a endodontia como a periodontia apresentaram dados de produção que
cumpriam o parâmetro preconizado pelo Ministério da Saúde até o ano de 2009.
Entretanto, no ano de 2010, quando esses parâmetros mudaram, as especialidades
apresentaram sua produção abaixo dos parâmetros recomendados. Tal fato ocorreu
devido à retirada de alguns procedimentos que impactaram sobremaneira na produção,
como foi o caso da endodontia, pela retirada de procedimentos relacionados às
interconsultas. Essa medida adotada pelo Ministério da Saúde demonstra uma
preocupação com maior controle e monitoramento dos tratamentos que efetivamente
foram concluídos. Tais dados são apresentados na Figura 4.2 no final deste itemXCVI.
As especialidades de cirurgia bucomaxilo facial e de diagnóstico oral de
lesões com suspeita de câncer são exercidas pelos mesmos profissionais do CEO. Tais
especialidades apresentam um número menor de cirurgiões-dentistas (somente dois) em
relação às outras especialidades.
Para a especialidade de diagnóstico oral não existem filas de espera, e o
agendamento é realizado imediatamente, até porque não existe uma grande demanda.
Quando é detectada alguma lesão cancerígena, o paciente é encaminhado para o
Hospital Santa Rita, mas não há um fluxo definido de referência e contrarreferência.
Esse assunto será mais bem discutido, no item referente à integração do CEO na rede de
serviços.
XCVI
A Portaria GM n. 600/06 instituiu inicialmente os padrões de monitoramento da produção das várias
especialidades72. Já a Portaria GM/MS nº 2.898, de 21 de setembro de 2010 atualiza o anexo da portaria
que dispõe sobre tal produção114. Essas portarias trazem o número necessário de procedimentos e a
discriminação de cada um deles nas várias especialidades especificadas.
121
Já a especialidade de cirurgia bucomaxilo facial apresenta, assim como a
endodontia, uma fila grande para atendimento, em torno de 853 pessoas, com um tempo
de espera variando entre seis meses a mais de um ano. O absenteísmo foi um dos
maiores problemas relatados pelos profissionais dessa especialidade, tendo apresentado
um percentual de 26,2% para as consultas de primeira vez e de 14,8% para as de
retorno, no período de julho a dezembro de 2010, segundo dados do SisReg. De acordo
com os profissionais, as faltas podem estar relacionadas primeiro com o longo tempo de
espera do paciente para a consulta e segundo com a própria ansiedade do paciente,
desencadeada pela necessidade de procedimento cirúrgico. Um dos entrevistados
descreveu essa situação:
Então, os pacientes que vêm de primeira vez chegam muito ansiosos. A gente
tenta, na consulta inicial, conversar e tal. Depois que você conversa, você
consegue levar, mas realmente tem uma parcela disso que está relacionada à
ansiedade.[...] Então se ele [paciente] não tiver a necessidade extrema, ele
deixa para lá. É associado também ao tempo. Então, vamos supor que a
pessoa teve uma dor, um ano atrás, e foi encaminhada. Essa dor, com um ano,
já deu jeito. Ou ele foi em alguém para resolver, ou já pagou particular. Ou
era uma coisa que resolveu sozinha. E aí ele esquece da consulta. E, quando
ele lembra, se ele não tiver sentindo muita coisa, ele deixa para lá.
(Cirurgião-dentista 7)
Os motivos narrados acima, associados ao número reduzido de profissionais,
podem justificar a baixa produção nessa especialidade, que não consegue cumprir a
meta proposta pelo Ministério da Saúde. Em 2009, a produção apresentada foi de 640
procedimentos no ano, enquanto o preconizado pelo Ministério para o CEO tipo II é de
90 procedimentos/mês. Portanto, observa-se um percentual muito pequeno em
comparação com o estabelecido pelo Ministério.
No CEO, há somente um profissional para atendimento aos pacientes com
necessidades especiais, cuja demanda não é grande. Segundo uma das entrevistadas,
isso pode ser atribuído a uma falha na busca ativa desses pacientes na atenção básica,
pois esses usuários em geral só procurariam a unidade para tratamento no último
estágio, quando já apresentam dor.
É uma especialidade que apresenta algumas peculiaridades em virtude de o
paciente com necessidades especiais ser de difícil cooperação ao tratamento. Assim, em
grande parte dos casos os pacientes são encaminhados ao CEO sem ter sido executado
sequer o exame clínico na atenção básica. Por essa dificuldade de atendimento, o
paciente é mantido no próprio CEO e, após finalizado o tratamento, é submetido a
acompanhamentos mensais, no intuito de controlar os seus problemas de saúde bucal.
O índice de faltas nos agendamentos é alto, de acordo com os dados fornecidos
pelo SisReg. Para as consultas de primeira vez, o índice foi de 41,7%, e, para as de
122
retorno de 28,5%, no período de julho a dezembro de 2010. Atribui-se esse alto
absenteísmo à própria incapacidade de locomoção do paciente e dependência a outras
pessoas para seu transporte.
A estrutura do CEO não é adequada ao atendimento do paciente com
necessidades especiais. Primeiro, porque o espaço físico é pequeno, impossibilitando a
entrada de maca ou de cadeira de rodas; segundo, porque o sistema de rosetas adotado,
discutido anteriormente, não oferece privacidade aos atendimentos. O paciente especial
muitas vezes precisa ser contido fisicamente e pode gritar, gerando um desconforto para
todos da sala.
Outra limitação ao atendimento é a ausência de equipamentos de suporte, tais
como cadeira de rodas, maca, sala de repouso, carrinho de urgência e ambulância. O
paciente com necessidades especiais é um paciente difícil e pode apresentar
complicações durante o tratamento, necessitando desse suporte. Há carência de recursos
humanos também, como médicos, cirurgião bucomaxilo facial e até mesmo outros
odontólogos para ajudar no atendimento. Uma das entrevistadas comenta:
Eu acho que tinha que ter um buco no horário do PNE, que é muito
importante, porque há muitas complicações nas extrações por causa do dente
não estar em atividade funcional. [...] E eu acho que PNE tem que ser dois
dentistas. Não pode ser um sozinho porque há muitas complicações. Assim
poderia aumentar para um maior número de pacientes, que é só quatro.
Poderia aumentar o fluxo de pacientes e ter maior resolutividade. Com dois
dentistas juntos você pode atender dez PNEs em um horário de quatro horas.
(Cirurgião-dentista 9)
Mesmo com todas as dificuldades apresentadas, a entrevistada relatou que o seu
grau de resolutividade é grande, visto que consegue resolver a maioria dos casos,
principalmente os de crianças, pois são mais fáceis de conter fisicamente. Os casos mais
complexos são atendidos junto com a cardiologista infantil, que trabalha no CEO no
mesmo horário da profissional de PNE. Essa ação conjunta evitou a internação de vários
pacientes. Entretanto as profissionais não puderam dar continuidade a esse atendimento
conjunto pelo inadequado suporte técnico e de estrutura física, já relatado
anteriormente.
Segundo uma das entrevistadas, durante quase cinco anos não havia referência
definida para o atendimento hospitalar aos pacientes com necessidades especiais. No
início de 2010, foi organizado o atendimento para as crianças de até 16 anos em um
hospital da rede pública estadual. O paciente adulto ainda permanecia sem referência no
momento da pesquisa. Esse atendimento ao paciente especial adulto estava sendo
organizado pela Secretaria Estadual, mas o Município ainda não estava com esses
fluxos predeterminados. Houve diferentes opiniões entre os entrevistados sobre as
123
referências para atendimento hospitalar de pacientes com necessidades especiais.
Seguem algumas falas de entrevistados:
E agora, recentemente, tem uns 6 ou 8 meses, foi feita uma organização para
as crianças em um hospital da rede pública estadual. Então, essa faixa etária,
até 16 anos, está sendo atendida. O adulto ainda está sem referência.
(Diretora 1)
Agora, os pacientes mais complexos que o CEO não resolveria, hoje têm um
atendimento especializado, com anestesia geral, de zero a dezessete
anos.[...]O que não resolve aqui [CEO],vai para o hospital infantil de Vila
Velha. Isso existe. O paciente adulto não tem. Isso é uma grande falha.
(Cirurgião-dentista 9)
A princípio era só de zero a 14, mas agora a gente já conseguiu para adulto.
Agora não tem mais. Já acabou essa faixa prioritária. (Coordenador 6)
Pode-se observar por essas falas de diferentes pessoas, que ocupam cargos
distintos, uma ausência de coordenação desse fluxo de referência, sem se saber a idade
determinada e sem ter uma referência definida com fluxo estabelecido.
A produção da especialidade de pacientes com necessidades especiais apresentase dentro dos parâmetros preconizados pelo Ministério da Saúde.
Os profissionais que trabalham na área de prótese dentária do CEO são em
número de três, distribuídos nos três turnos de atendimento. Alguns entrevistados
relataram que a prótese, assim como a endodontia e a cirurgia bucomaxilo facial,
apresenta uma fila de espera longa para as consultas, com um tempo de espera variando
entre oito meses e um ano. Entretanto os dados obtidos pelo SisReg contradisseram tal
informação. A fila de espera no ano de 2010 apresentava 75 pessoas, número bem
abaixo do apresentado para as outras especialidades referidas. Outro dado que se
mostrou contrário ao falado pelos entrevistados foi com relação ao índice de
absenteísmo. A ausência às consultas apresentou um índice de 22,2%, o menor
percentual obtido em comparação ao das outras especialidades, mesmo com uma alta
proporção de atendimentos realizados em pacientes idosos, que apresentam uma
tendência grande de ausência às consultas.
O atendimento nessa área está vinculado à produção do Laboratório de Prótese
Dentária que funciona dentro do Centro de Especialidades Odontológicas.
Uma das maiores dificuldades relatadas pelos profissionais desta especialidade é
com relação à capacidade de produção do Laboratório, que não acompanha o
desenvolvimento técnico dos profissionais, causando, com isso, uma demora na
elaboração da prótese. Assim, a produção é baixa e não consegue atingir a meta
preconizada pelo Ministério da Saúde.
124
Essa questão será retomada no item referente ao Laboratório de Prótese
Dentária.
O Quadro 4.1 abaixo compila os dados relativos ao absenteísmo e às filas de
espera para as diversas especialidades. Tais assuntos estão inter-relacionados, pois as
longas filas de espera contribuem para aumentar as ausências às consultas.
4-1 Quadro 4.1 – Índice de absenteísmo e filas de espera no CEO e unidades especializadas, por
especialidades. Município de Vitória, Julho a Dezembro de 2010
% de Faltas às Consultas Agendadas
Especialidade
Média de Julho a Dezembro de 2010
CEO
São Pedro
Forte São João
Prótese Dentária
22,2%
-
-
Periodontia
27,8%
34,7%
-
Periodontia - Retorno
20,1%
8,8%
-
Endodontia
33,3%
35,6%
33,6%
Endodontia - Retorno
33,9%
10,9%
14,1%
Portadores de Necessidades Especiais
41,7%
-
-
Portadores de Necessidades Especiais - Retorno
28,5%
-
-
Cirurgia Buco Maxilo / Diagnostico Oral
26,2%
39,5%
-
Cirurgia Buco Maxilo / Diagnostico Oral - Retorno
14,8%
33,1%
-
Fila de
Espera
2010
75
1.037
853
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados obtidos do Sistema de Regulação do município.
O Quadro 4.2 compila os dados de produção por especialidades do Centro de
Especialidades odontológicas. Observa-se um número baixo de procedimentos
executados pela cirurgia bucomaxilo facial.
4-2 Quadro 4.2 - Produção do Centro de Especialidades Odontológicas por Especialidade.
Produção do Centro de Especialidades Odontológicas
Especialidade
Total de Procedimentos
2008
2009
Prótese Dentária
1.583
3.139
Periodontia
2.130
3.275
Endodontia
1.232
1.597
Pacientes com Necessidades Especiais
613
1.534
Cirurgia Buco Maxilo / Diagnostico Oral
770
640
Fonte: SIA/SUS.
125
4.3 O Laboratório Regional de Prótese Dentária
O laboratório de prótese dentária funciona dentro do CEO, em um espaço
adaptado que não foi originalmente concebido para essa finalidade. Sua estrutura não é
adequada, compreendendo uma sala estreita, sem exaustor para remover o cheiro de
resina e sem espaço apropriado para guardar as próteses, entre outras limitações. O
laboratório apresenta uma produção pequena, não justificada pelas limitações do espaço
físico nem pelos materiais utilizados, já que são de boa qualidade, segundo os
profissionais.
A especialidade de prótese dentária apresenta uma relação direta com o
laboratório por serem interdependentes. Essa especialidade apresenta muitas
especificidades, pois demanda muitas etapas laboratoriais (em torno de cinco) para a
confecção de uma prótese. Portanto, o fluxo entre o cirurgião-dentista protesista e o
técnico do laboratório deve estar bem ajustado, pois, a cada etapa de confecção da
prótese, é necessária a atuação tanto do protesista, quanto do protético, atrelada à
presença do usuário. Entretanto todo esse processo para confecção da prótese tem
apresentado dificuldades, gerando um grande impacto na produção dessa especialidade.
O laboratório de prótese tem apresentado um ponto de estrangulamento importante no
que diz respeito ao processo de trabalho. Sua produção não tem sido compatível com os
atendimentos realizados na prótese. Com isso aumenta o tempo operatório entre uma
etapa e outra, e todo esse processo encadeado fica comprometido.
Segundo uma das entrevistadas, esse estrangulamento ocorreu devido a entrada
de um número excessivo de pacientes de primeira vez, à contratação de mais um
profissional protesista na rede no horário noturno e ao aumento no número de
agendamentos para os cirurgiões-dentistas. Esses fatores suscitaram maior demanda ao
laboratório, que não conseguia finalizar as próteses por estar com um contingente de
pacientes de primeira vez muito grande. Mesmo após a regulação ter suspendido as
consultas de primeira vez para resolver o problema, o laboratório continuou sem
conseguir produzir uma quantidade suficiente de próteses para atender os especialistas.
Além disso, outras questões, como as faltas às consultas pelos usuários e o tempo de
espera longo entre as marcações das consultas subseqüentes, dificultaram muito o fluxo
dos trabalhos. Segundo uma entrevistada, o tempo de espera entre uma consulta e outra
é de 15 a 20 dias, o que resulta, consequentemente, num prazo longo para a entrega da
prótese.
126
Entretanto, mesmo que esses fatores favoreçam tal estrangulamento, eles
sozinhos não são suficientes para explicar a baixa produção. Nesse caso, o problema
referente à baixa produção poderia estar associado a uma capacitação insuficiente ou
mesmo a uma coordenação inadequada do processo de trabalho. Por sua vez, não se
pode atribuí-lo a uma capacidade instalada pequena. Uma entrevistada relatou que
procurou visitar outros laboratórios de prótese para detectar o problema da baixa
produção e verificou que, com o mesmo quantitativo de profissionais, um laboratório
privado realiza muito mais próteses que o laboratório do CEO. Enquanto este realiza
100 próteses por mês, um laboratório particular realiza de 400 a 500 nesse mesmo
tempo, com o mesmo número de técnicos e muitas vezes com um espaço físico muito
similar. Uma das situações detectadas pela entrevistada foi que a produção da prótese
em um laboratório privado não está atrelada ao atendimento do usuário pelo protesista,
enquanto a produção do CEO está atrelada à consulta ao protesista:
Eu fiz visita a alguns laboratórios privados e eles colocaram. Com o mesmo
quantitativo de técnicos que nós temos, a produção deles é muito maior que a
nossa. Então, onde é que está esse gargalo? [...] O problema está no processo
de trabalho. [...] não se consegue fazer mais de 100 próteses durante o mês
com quatro profissionais,enquanto que, no privado, eles fazem 400, 500, com
a mesma quantidade de técnicos e, às vezes, com o mesmo espaço que nós
temos lá, [...] Porque ele não está atrelado ao atendimento do protesista. Ele
está atrelado só à produção do laboratório. E nós, no CEO, não. Nós temos
que estar atrelados ou à consulta do protesista, naquele dia que o usuário vai,
junto com o laboratório.( Gerente 1).
O relato da entrevistada quanto à confecção de um número inferior a 100
próteses no mês confirma-se quando se observa a Figura 4.9, que mostra a produção do
laboratório durante o ano de 2010. Cabe salientar que, se a produção do laboratório é
baixa, consequentemente, a produção da especialidade também é, já que esses serviços
são interdependentes.
127
4.9 Figura 4.9 – Produção do Laboratório de Prótese no ano de 2010.
78
80
71
70
60
51
48
50
48
43
41
39
40
32
30
30
25
21
20
10
0
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados cedidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas.
Outro grande problema relativo à prótese é a baixa oferta diante da grande
demanda de pacientes. O relato de uma das profissionais com relação a este último item
refere-se à impressão que ela tem de estar “enxugando gelo”, pois, por mais que se faça,
a fila de espera não diminui, mesmo sabendo que esse é um problema que vem da base,
de anos de exclusão de tratamento. Apesar de todos os profissionais protesistas, assim
como de gerentes do CEO relatarem a grande demanda para a prótese, os dados do
SisReg, no ano de 2010, demonstrados anteriormente, contradizem as falas, já que a fila
de espera inclui um número de somente 75 pessoas.
A não realização da prótese parcial removível (PPR) foi outro ponto levantado
como um limitador do tratamento e uma lacuna muito grande. No CEO só é realizada a
prótese total, entretanto, há uma demanda grande para a prótese parcial, que é um
procedimento mais elaborado e mais caro. A não realização desse tipo de procedimento
cria um problema funcional, pois o paciente, na maioria das vezes, coloca na arcada
superior uma prótese total e tem necessidade de uma parcial na arcada inferior, que não
é realizada. Desse modo, a prótese superior não vai apresentar uma estabilidade
adequada pela ausência de dentes inferiores. O paciente, nesse aspecto, tem uma
reabilitação parcial, não recebendo um atendimento integral. A esse respeito uma das
entrevistadas comenta:
Nós só fazemos prótese total. E existe uma demanda muito grande para fazer
PPR, que é a prótese parcial.[...] Além de ter uma demanda muito grande,
128
existe um problema que a gente fica com um problema funcional, que você
entrega uma prótese total superior e o paciente só tem quatro dentes
inferiores, que ele não vai tirar porque não há necessidade. Então acaba me
atrapalhando, porque a prótese que eu fiz perde a função, porque ela não tem
estabilidade. Em alguns casos, a gente encaminha e diz para o paciente que
ele tem que tentar resolver sozinho, fazer em particular, para que se mantenha
funcional. Mas a maioria dos pacientes não tem condições de pagar esse tipo
de trabalho. Então isso é uma lacuna muito grande que o Governo, não sei,
precisa analisar, porque há demanda e acaba atrapalhando o andamento do
trabalho mesmo. Porque não é só a estética do paciente que está sem dente.
(Cirurgião-dentista 12)
Esse relato evidencia a ausência de oferta de um serviço que proporcionaria ao
paciente a sua reabilitação total, e aponta limites para a garantia do atendimento
integral.
Em síntese, o atendimento e a produção de próteses apresentam muitas
limitações relacionadas ao processo de trabalho, à oferta insuficiente ante a demanda e à
ausência de oferta de certos serviços, como a prótese parcial. Esses fatores causam uma
assistência demorada, limitada e fragmentada, comprometendo o atendimento integral
ao paciente.
4.4 A Integração do CEO na Rede de Serviços: Fluxos e Regulação Assistencial
Desde a inauguração do CEO em 2005, a SEMUS procura estruturar o sistema
de referência da atenção básica para as especialidades odontológicas. Para isso adota
uma série de estratégias e instrumentos, dentre os quais se destacam as fichas de
encaminhamento (referência e contrarreferência), os protocolos clínicos e a implantação
do sistema de regulação a partir de 2008.
As fichas de encaminhamento constituem-se em importantes instrumentos para a
organização da rede de atenção e garantem ao usuário o acesso a todos os níveis de
complexidade de serviços. Entretanto, segundo Pinheiro115, o sistema de referência e
contrarreferência, deve ser considerado não somente como um fluxo de pacientes, mas
também como um meio pelo qual os conhecimentos possam ser difundidos para a
melhoria da qualidade da atenção.
Assim como as fichas de encaminhamento, os protocolos clínicos são
importantes ferramentas para a gestão e auxiliam na organização do fluxo, tornando-se
um valioso instrumento para a solução de problemas que envolvem as competências dos
vários níveis de atenção, exemplificados pelos limites que se impõem entre as
responsabilidades da atenção básica e as do CEO.
129
Já o SisReg constitui-se em um sistema informatizado para regulação da oferta
de serviços. A central de regulação de consultas e exames especializados foi implantada
com o intuito de organizar e garantir o acesso dos usuários às ações e serviços do SUS.
Para tanto, utiliza protocolos, critérios de encaminhamento, entre outros meios
padronizados e pactuados entre os serviços. Atualmente esse sistema está implantado
nas unidades básicas de saúde e no CEO. (PMV, 2009a)
O fluxo entre atenção básica e CEO, antes de o SisReg ser implantado, pode ser
mais bem visualizado na Figura 4.10. Entretanto tal fluxo apresentava algumas
limitações, entre elas a de não indicar um fluxo constante de pacientes para o tratamento
e não ter uma regulação adequada. Cada unidade ficava com uma listagem de pacientes,
e, quando as vagas surgiam, os usuários eram agendados. Além disso, as consultas de
retorno eram realizadas pelos próprios especialistas do CEO, que tinham a liberdade de
readequá-las na agenda de acordo com a sua necessidade.
4.10 Figura 4.10 - Fluxo de Atendimento do Usuário pela Central de agendamento antes do sistema
SISREG.
UNIDADES
Central de Agendamento
CEO
Início
Identificar
necessidade de
atendimento
Realizar consulta
de avaliação
Lista de
Pacientes
Disponibilidade
de Vagas?
S
Agendar de 15 a
20 pacientes
mensais
Verificar/Validar
condições
sistémicas e
documentações
N
Lista de Espera
Realizar
tratamento
Realizar
acompanhamento
periódico
Fim
Fonte: Elaboração da autora a partir das entrevistas.
Após a implantação do SisReg, esse fluxo de agendamento mudou, e os usuários
passaram a ser agendados e regulados pelo sistema conforme sua necessidade de
tratamento nas especialidades, o que se observa melhor na Figura 4.11.
130
4.11 Figura 4.11 - Fluxo de Atendimento do Usuário pelo SISREG.
UNIDADES
SISREG
CEO
Início
Identificar
necessidade de
atendimento
Cadastrar
paciente no
sistema
Disponibilidade
de Vagas?
S
Agendar
paciente
diariamente
Realizar
tratamento
N
Lista de Espera
Realizar
acompanhamento
periódico
Fim
Fonte: Elaboração da autora a partir das entrevistas.
Atualmente as marcações não estão sendo mais realizadas pela central de
regulação, e sim diretamente, pelas unidades de saúde, que foram informatizadas, mas a
regulação é realizada pelo SisReg.
O paciente com necessidades especiais dispõe de um fluxo diferente, já discutido
anteriormente. Geralmente esses pacientes são captados pela atenção básica, mas
encaminhados diretamente ao CEO, que é responsável por todo o seu tratamento e
acompanhamento (Figura 4.12 ).
131
4.12 Figura 4.12 - Fluxo de Atendimento do Paciente com Necessidades Especiais.
UNIDADES
CEO
HOSPITAL
Início
Identificar necessidade
de Tratamento em
Paciente Especial
S
Coopera com o
atendimento?
N
Realizar Tratamento
Necessidade de
Atendimento
Hospitalar?
S
Realizar Tratamento
N
Realizar Tratamento
Realizar
monitoramento
periódico
Fim
Fonte: Elaboração da autora a partir das entrevistas e do protocolo de saúde bucal.
Além desse fluxo com a atenção básica, o CEO apresenta outros tipos de fluxos.
Por exemplo: dentro do próprio CEO há aqueles relacionados ao encaminhamento entre
especialidades. Nesses casos, o agendamento é realizado dentro do próprio CEO por
meio do SisReg, existindo vagas reservadas para essas situações. A gerente da unidade
solicita à regulação a vaga para a especialidade necessária e o paciente é agendado,
visando a um atendimento oportuno e resolutivo, sem precisar retornar à unidade para
novas aquisições de encaminhamento. Tal fluxo é respaldado pelo Ministério da Saúde
que faz a seguinte recomendação:
As necessidades encaminhadas que incluam duas ou mais especialidades para
sua resolução devem ser resolvidas através de inter-consultas no CEO
(Ministério da Saúde, 2006).
Segundo alguns entrevistados, os fluxos internos no CEO são bem estabelecidos,
há boa interação entre profissionais, troca de informações e facilidade de acesso aos
médicos. Observa-se com isso a facilidade de comunicação entre os profissionais dentro
do CEO, proporcionando maior resolutividade no atendimento aos usuários.
Apesar de esses fluxos de atendimento, em tese, estarem bem definidos, os
profissionais entrevistados citaram muitas dificuldades na sua operacionalização.
A primeira dificuldade diz respeito ao alto índice de faltas de pacientes às
consultas de primeira vez. A maioria dos entrevistados relatou que tal fato piorou após a
132
implantação do Sisreg. Uma das entrevistadas atribui o problema aos limites de
comunicação entre os pacientes e as unidades de saúde:
Nem sempre a unidade de saúde consegue ter acesso a vagas em tempo hábil
de marcar e entrar em contato com o paciente para avisar da vinda dele aqui
[CEO]. Então, o paciente é marcado, mas não é avisado e não consegue
chegar aqui [CEO]. (Cirurgião-dentista 1)
As faltas geram ociosidade dos profissionais, atraso no tratamento clínico,
impacto na fila de espera e consequente prejuízo financeiro. Entre as possíveis causas
para o alto índice de faltas pode-se citar a ausência de monitoramento das filas de
espera, que não são revisitadas constantemente para se detectar qual a situação bucal
dos usuários. Muitas vezes o tempo do usuário na fila de espera é tão grande que o
paciente muda de endereço e não consegue contato, ou perde o dente ou recorre a um
serviço privado, entre outras razões. Isso foi bem identificado no relato de uma das
entrevistadas ao revisitar uma lista de espera de cinquenta pessoas que aguardavam para
tratamento. Ao ligar para confirmar se ainda havia a necessidade do tratamento,
restaram na fila somente dez pessoas. Para algumas especialidades, o tempo de espera
pode chegar a um ano ou mais; cabe ressaltar que as faltas estão aliadas à longa fila de
espera e à demora no encaminhamento e expressam uma coordenação insuficiente das
filas.
Daí a necessidade de maior acompanhamento dessas filas de espera pelas
unidades básicas. Nesse sentido, os agendamentos retornaram às unidades, ou seja, as
unidades é que vão agendar os pacientes dentro do próprio SisReg, e não mais a central
de regulação. Tal central fazia os agendamentos baseada em uma lista de usuários que
aguardavam vaga em determinada especialidade, cujos nomes eram registrados num
papel, mas não tinha contato com o paciente para saber de sua necessidade. Com o
agendamento realizado dentro da própria unidade, prevê-se que a fila de espera seja
revisitada e o paciente seja atendido nas suas necessidades. Dessa forma, procura-se
diminuir o índice de faltas às especialidades por meio de um monitoramento mais
adequado.
Outra dificuldade relatada pelos profissionais no que diz respeito à implantação
do SisReg foi com relação à marcação de consultas de pacientes de primeira vez, que
fez aumentar o tempo de espera de consultas de retorno, gerando uma diminuição na
produção, já que o tratamento não estava sendo finalizado em um prazo adequado. É
importante ressaltar que o SisReg, ao ser implantado, passou a inserir na agenda dos
especialistas, pacientes de primeira vez com uma frequência variando de diária a
semanal, dependendo da especialidade. Isso pode ter gerado um impacto inicial muito
133
grande na agenda dos profissionais, que estavam habituados ao agendamento mensal,
causando mesmo maior número de agendamentos de primeira consulta.
As dificuldades relatadas pelos profissionais, no que concerne aos agendamentos
após a implantação do SisReg, também podem ter como explicação a perda de
governabilidade desses profissionais em relação à própria agenda, que reduziu sua
flexibilidade em manejá-la.
Embora tenham sido levantados esses problemas quanto ao agendamento
mediado pelo SisReg, alguns profissionais relataram que tal sistema constitui uma
ferramenta importante, já que possibilita um fluxo constante de pacientes,
confiabilidade em relação à marcação das consultas dos pacientes e a própria regulação
do sistema.
Observa-se na realidade que o problema não está no sistema de regulação em si,
mas na utilização da ferramenta, por inadequada capacitação ou mesmo insuficiente
conhecimento do processo de trabalho das especialidades quando da implantação do
sistema.
Já em relação às fichas de encaminhamento, constatou-se pelos relatos que
pacientes chegam ao CEO sem a guia de referência. Isso pode ser explicado ou pelo fato
de o paciente tê-la perdido, ou mesmo não lhe ter sido entregue na unidade básica. De
acordo com o protocolo de saúde bucal, essas guias devem ficar com o paciente.
Entretanto, entre as unidades, não há uma uniformidade de conduta. Muitas vezes o
paciente fica esperando tanto tempo na fila que as guias se perdem. Os profissionais do
CEO não deixam de atender o paciente, mas isso gera dificuldade no processo de
trabalho, pois muitas vezes o usuário chega totalmente sem informação, por exemplo,
não sabe qual foi o tratamento recomendado ou qual o dente com problemas, conforme
relataram duas entrevistadas:
Não existe uniformidade de conduta com relação às guias de referência. [...]
Por exemplo, às vezes chega um paciente: ‘Olha, a guia de referência eu
perdi’. Elas [atendentes da ESF] não seguram a guia de referência que pegam
do paciente. Eu acho que o protocolo é que o paciente entrega a guia só para
cair no sistema, para constar no sistema, e leva para casa. Essas guias não
ficam aqui [Unidade básica]. Elas passaram a ficar quando surgiu o problema
da perda das guias. [...] Mas dentro do protocolo você entrega ao paciente.
Mas eu não tenho nada formalizado com relação a isso. Tem hora que dizem
que a guia tem que ficar com a menina da marcação, tem hora que diz que é
com o paciente. (Cirurgião-dentista 3)
Se a gente for olhar o que vem na referência e contrarreferência, isso na
realidade nunca ficou uma coisa muito especificada. Vinha a referência,
aquela guia de preenchimento; na maioria das vezes não estava preenchido
certo; na maioria das vezes, quantos pacientes eu peguei que não sabiam o
que estavam fazendo lá e até a forma de como a gente conduzia aquilo. Uma
hora eu tinha uma informação, uma outra hora eu tinha outra informação.
(Cirurgião-dentista 8)
134
Tal fato gera maior tempo operatório e demonstra ausência de coordenação
desse usuário na rede de serviços.
Ainda em relação aos fluxos entre a atenção básica e a especializada, observouse na fala dos entrevistados que a integração entre esses dois níveis se limita ao
preenchimento de papel, configurando–se como níveis estanques, segundo Cecílio116,
como “peças soltas” dentro do sistema. Isto pôde ser constatado nos relatos de alguns
profissionais quanto às dificuldades encontradas:
A comunicação é feita só mesmo através da folha de referência e
contrarreferência. Mas eu não tenho nenhum acesso ao dentista. [...] Eu acho
que se a referência acontecer, só de você preencher aquilo já é uma
articulação que você está fazendo. Mas eu acho que ainda falta uma
articulação maior. (Cirurgião-dentista 5)
A lacuna, eu acho que é esse distanciamento da atenção básica, que isso
acaba criando uma visão da atenção básica não realista com relação à gente.
(Cirurgião-dentista 6)
Eu sinto como se fosse uma coisa totalmente isolada. [...] Eu não vejo
articulação nenhuma. (Cirurgião-dentista 2)
A gente tem muito pouco contato com o pessoal da atenção básica. A troca de
ideias ainda é uma coisa bem restrita. (Cirurgião-dentista 1)
Essa ausência de integração pôde ser observada também no retorno dos
pacientes à atenção básica, dentro do mesmo nível de complexidade. Apesar da
existência das guias de contrarreferência, na prática sua utilização é inadequada, pois
elas não voltam para o setor odontológico que encaminhou o paciente. Segundo relato
de uma entrevistada, o documento chega à unidade no setor administrativo ou na
coordenação e não é passado para a odontologia, ou só é entregue depois de muito
tempo. Observou-se com isso, uma insuficiente responsabilização com relação ao
paciente, principalmente na atenção básica, que já deveria ter um vínculo estabelecido.
Portanto, o atendimento, que deveria ser integral, ocorre de forma fragmentada em cada
nível. A entrevistada comenta:
A equipe de referência da secretaria com a regulação tem ido, tem feito
reuniões e orientado, mas, mesmo assim, não tem sido suficiente. A
impressão que a gente tem é essa mesmo: a equipe [de saúde bucal], depois
que ela faz esse atendimento e encaminha para a especialidade, ela não se
sente mais responsável por esse usuário. (Diretora 1)
No intuito de melhorar os fluxos e de organizar os processos de trabalho, a
SEMUS tem adotado protocolos clínicos. Esses instrumentos são utilizados por toda a
rede de atenção e considerados pelos profissionais do CEO como de extrema
importância para agilizar o atendimento, evitando encaminhamentos desnecessários,
entre outras questões.
135
Entretanto muitas limitações foram encontradas com relação à sua utilização.
Segundo os profissionais do CEO, os cirurgiões-dentistas da atenção básica não
conseguiram incorporar a importância dos protocolos. Muitos encaminhamentos ainda
são realizados de maneira incorreta, com guias de referência incompletas, adequação
bucal indevida, solicitação de procedimentos que poderiam ser resolvidos na atenção
básica. Isso gera um tempo operatório maior, muitas vezes com necessidade de retorno
do paciente para adequação bucal.
Nesse sentido, foram realizadas algumas capacitações para os profissionais da
atenção básica nas especialidades de periodontia e cirurgia oral menor. Esses encontros
tiveram como objetivo mostrar aos profissionais a importância dos protocolos e do que
pode ou não ser feito em cada um dos níveis de atenção, segundo afirma uma
entrevistada:
Foi ótimo. Foi uma maneira de a gente levar até o profissional da atenção
básica como nós trabalhamos e mostrar para ele que a gente é uma equipe,
independente se a gente trabalha no mesmo local ou não, ou na mesma
hierarquia, vamos dizer, atenção básica,[...] nível primário, secundário ou
terciário. Não interessa, a gente é uma equipe[...]Uma coisa que foi muito
legal nessa capacitação que a gente fez, que o melhor de tudo não foi o
conhecimento técnico que eles adquiriram. Eu acho que foi a aproximação...
Ele saber qual a dificuldade que eu tenho aqui quando ele manda o paciente
fora do protocolo, e eu saber a dificuldade que ele tem lá. (Cirurgião-dentista
6)
A fala da profissional evidencia a importância de maior integração entre os
serviços. Assim como outros profissionais, ela relata que após a capacitação, os
encaminhamentos ao CEO melhoraram em cerca de 80%. Daí a necessidade de
realização de cursos de capacitação frequentes em todas as especialidades,
proporcionando mais momentos de interação entre os profissionais da rede básica e os
da especializada.
De acordo com alguns deles, a execução dos protocolos pelos cirurgiõesdentistas da atenção básica também está muito relacionada ao perfil do profissional e ao
aspecto cultural. Há alguns profissionais que, mesmo após a capacitação, continuam
encaminhando os pacientes sem seguir os protocolos.
Conforme analisado, existe um fluxo entre a atenção básica e a atenção
especializada, no caso a média complexidade ambulatorial. Com relação à atenção
hospitalar, esse fluxo só é determinado para os pacientes com necessidades especiais,
como já discutido anteriormente. Para as outras especialidades não há previamente
definido um fluxo para atendimento hospitalar. Os profissionais da cirurgia relataram
que encaminhavam os usuários que apresentavam necessidade para os hospitais por
conhecerem pessoalmente os que ali prestam serviços. Mesmo assim, não é um fluxo
136
predeterminado, o paciente vai por conta própria. Isso restringe o acesso dos pacientes
aos atendimentos terciários em hospitais.
O fluxo de referência entre Vitória e alguns municípios da Região Metropolitana
(Viana, Cariacica e Santa Leopoldina) também mostra dificuldades em relação à
execução dos protocolos de encaminhamento.
4.5 As Outras Unidades Especializadas do Município
Além do CEO, existem no Município duas unidades que compreendem serviços
especializados: a Unidade Forte São João e a Unidade São Pedro.
A Unidade Forte São João é uma unidade básica de saúde que está funcionando
com a estratégia de saúde da família há um ano. Dispõe de quatro equipes de saúde da
família e três de saúde bucal. Além disso, por falta de espaço no CEO, tem apenas uma
profissional para o serviço de endodontia. Conforme já discutido no capítulo anterior, já
funcionava essa especialidade de endodontia antes da implantação do CEO.
A gerente do serviço diz que a unidade só cede o espaço físico para o
funcionamento da especialidade até o novo CEO ficar pronto. O agendamento e a
regulação das filas são realizados pelo SisReg. Assim, todo o fluxo para atendimento
especializado dessa unidade é feito de acordo com o que foi descrito anteriormente para
o CEO.
O absenteísmo foi uma das dificuldades apontadas pela gerente. No período de
julho a dezembro de 2010, a especialidade de endodontia nesse local apresentou um
percentual de faltas às consultas de primeira vez de 33,6 %, praticamente o mesmo
encontrado para o CEO. Entretanto, o absenteísmo relativo às consultas de retorno foi
mais baixo (14,1%) do que os referentes à primeira consulta na unidade e às consultas
de retorno do CEO. A gerente relatou como outra dificuldade a grande demanda para a
endodontia e a pouca oferta desses serviços. Esse é um problema detectado em todas as
unidades especializadas.
Já a Unidade de Saúde São Pedro, hoje denominada de Centro Municipal de
Especialidades de São Pedro, comporta uma unidade especializada odontológica, ainda
não habilitada como CEO por não estar adequada totalmente às normas federais,
embora esteja em processo de transição para issoXCVII.
XCVII
Apesar de ainda não estar habilitada, os gestores e profissionais já têm denominado essa unidade
como Centro de Especialidades Odontológicas.
137
Existem cinco profissionais atuando nas especialidades de periodontia,
endodontia e cirurgia bucomaxilo facial. Os fluxos de atendimento bem como o
agendamento são geridos pela Central de Regulação, da mesma forma como são feitos
para o CEO. Nessa unidade, também está implantado o serviço de urgência
odontológica.
Uma das dificuldades descritas pela entrevistada relaciona-se aos dois tipos de
serviços – urgências e especialidades – que funcionam no mesmo espaço físico. Nesse
sentido, os pacientes que são atendidos na urgência não conseguem diferenciar entre um
serviço e outro e compreender a existência de um fluxo de atendimento que deve ser
respeitado. Os usuários, após serem atendidos na urgência, são encaminhados para
tratamento na atenção básica e daí para ao CEO.
Outra dificuldade é com relação ao alto percentual de faltas às consultas
especializadas de primeira vez, que está entre 35 e 39% dos agendamentos, dependendo
da especialidade. Em relação às consultas de retorno, esses índices são bem mais baixos,
conforme já demonstrado no Quadro 4.4. Tal problema já foi discutido em item anterior
e demonstra que toda a rede está comprometida devido à ausência de um
monitoramento adequado e à coordenação da fila inadequada para organização da rede.
Entre os avanços relatados pela gerente, a efetivação dos profissionais por meio
de concurso público foi um enorme ganho para o Município, pois antes havia uma
rotatividade muito grande. Outro avanço diz respeito ao quantitativo de profissionais. O
número de plantonistas e de especialistas aumentou de um e dois, respectivamente, em
2005, para seis e cinco em 2010, possibilitando a ampliação da oferta de serviços.
Em síntese, a abertura do Centro de Especialidades Odontológicas no município
de Vitória representou uma estratégia importante para favorecer o acesso ao
atendimento especializado e a continuidade da atenção em saúde bucal, contribuindo
para a integralidade. Ressalte-se que o Município já apresentava tal preocupação,
principalmente pelas propostas de implantação do Sistema Integrado de Serviços de
Saúde. Nesse sentido, a atenção especializada na saúde bucal constituía-se em uma
lacuna muito grande para efetivação do atendimento integral. A proposta do CEO era
criar uma rede de atenção integral à saúde bucal com acesso às especialidades. Isso
ainda não acontece de forma satisfatória por limitações de acesso, já que a oferta ainda é
muito reduzida, e por problemas de coordenação entre os serviços.
Ainda persistem muitos problemas no atendimento especializado quanto à
integração dos fluxos da rede que embora estejam instituídos formalmente, na prática,
estão construídos de maneira muito frágil. O alto índice de absenteísmo às consultas, a
138
longa fila de espera para atendimento, a demanda excessiva, assim como
encaminhamentos inadequados, capacitação insuficiente dos profissionais da atenção
básica, escassez de momentos de articulação entre profissionais do nível básico e os da
especializada, indefinição de fluxo para o atendimento hospitalar constituem algumas
limitações que impactam para um efetivo atendimento integral.
Outra limitação diz respeito à produção das próteses dentárias, que se constituiu
em um nó crítico da atenção à saúde bucal da população no Município. Entretanto a
maior dificuldade continua sendo a oferta de serviços, que se apresenta baixa.
139
Considerações Finais
A pesquisa desenvolvida teve como propósito a análise da política de saúde
bucal no município de Vitória, considerando a trajetória local e as influências da política
nacional, com particular destaque para uma de suas estratégias, o CEO, como um
dispositivo crítico da Política Nacional de Saúde Bucal na perspectiva da integralidade.
A análise das diretrizes nacionais permitiu identificar os marcos legais e institucionais
para a conformação dessa política, assim como as influências da sua implementação no
Município. O objetivo da análise de implementação dessa política foi identificar o
contexto político em que foi configurada, os atores envolvidos e as estratégias utilizadas
que desenharam a sua configuração atual.
O estudo permitiu constatar que o município de Vitória, nas últimas décadas,
tem passado por transformações para melhorar seu sistema de saúde. A análise da
trajetória histórica da política de saúde bucal no Município sugere que, ao longo dos
quatro períodos identificados, foram adotadas diversas estratégias para ampliar o acesso
da população aos serviços. Além disso, em vários momentos, houve iniciativas de
mudanças no modelo de atenção. Dos anos 1950 aos anos 1980, o Município
apresentava um modelo de atenção à saúde bucal baseado na prática imediatista e
curativista, voltado para o atendimento a uma faixa etária específica, sem implicar
mudança no estado de saúde do conjunto dos cidadãos, expressando o modelo
predominante na área em todo o Brasil.
No início dos anos 1990, denominado de período de ênfase na municipalização,
houve no município de Vitória questionamentos e críticas em relação ao modelo de
atenção vigente. Tal descontentamento refletia um debate mais amplo que se travava em
âmbito nacional, relacionado ao início da implantação do SUS. Assim, sob os princípios
e diretrizes do SUS, o Município passou a ser responsável pelas ações e serviços de
saúde e iniciou um processo de mudanças para que a esfera municipal pudesse assumir
efetivamente a gestão do sistema de saúde. Com isso o Município passou por uma
divisão em regiões, houve uma reestruturação da Secretaria Municipal de Saúde e
investimentos em infraestrutura e capacitação no intuito de preparar a cidade para a
reorganização do sistema de saúde, sob um novo modelo de atenção.
Pode-se observar que, durante esse período, a assistência odontológica se voltou
mais para a prevenção, houve a implantação dos procedimentos coletivos em saúde
bucal e iniciou-se o atendimento ao paciente adulto nas unidades de saúde. Entretanto
permanecia a baixa cobertura das ações de saúde bucal, o atendimento baseado na
140
atenção individual e a incorporação reduzida do conceito de promoção de saúde que não
se traduziam em modificações nos indicadores de saúde bucal (Beltrame e Silva, 2000).
O Município, a partir de 1995, continuou avançando na reestruturação do
sistema e do modelo de atenção à saúde. A territorialização, fundamentada na
concepção dos Sistemas Locais de Saúde, foi uma das estratégias adotadas. O
reconhecimento das áreas e do perfil epidemiológico da população era considerado
fundamental para o planejamento das ações de saúde.
As transformações mais amplas no sistema municipal de saúde influenciaram de
certa forma as propostas para a área de saúde bucal. Configurou-se no período o
Programa Sorria Vitória, que procurava incorporar ações educativas, preventivas e
curativas articuladas entre si. Tal Programa previa ações intersetoriais pela integração
com a Secretaria de Estado da Educação e com o programa de atenção integral à
mulher, além de estimular a participação da comunidade. Ressalte-se que, se, por um
lado, o Programa apresentava um enfoque de atenção integral por buscar articular as
ações preventivas e curativas e envolver ações intersetoriais, por outro, restringia-se a
faixas etárias específicas, com destaque para as crianças até 14 anos e as gestantes. Aos
poucos, ações voltadas aos pacientes adultos foram configurando-se, porém de forma
limitada.
Esse Programa apresentou uma série de dificuldades relacionadas à ausência de
técnicos de higiene dental (THDs) para compor as equipes, à inadequação de unidades
de saúde para efetivação das atividades coletivas, ao apoio insatisfatório da Secretaria
de Estado da Educação, entre outras. Apesar disso, o Programa proporcionou mudanças
no índice CPO-D e diminuição nos percentuais de crianças com necessidades clínicas
comprovadas para tratamento.
O Programa Sorria Vitória permaneceu na agenda política local e norteou a
atenção à saúde bucal no Município por vários anos. Após 1998, o Município ampliou
suas responsabilidades na gestão da atenção básica e passou a implementar a Estratégia
Saúde da Família.
No que concerne à saúde bucal, prevalecia no início dos anos 2000 o Programa
Sorria Vitória, com suas limitações quanto ao atendimento integral, pela restrição a
determinadas faixas etárias. Para implantação do Sistema Integrado de Serviços de
Saúde na área odontológica, as principais dificuldades relacionavam-se à não
incorporação das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família e a
ausência de referência para as especialidades, embora já existisse, de forma restrita, a
especialidade de endodontia na rede de serviços de Vitória.
141
A incorporação das equipes de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família do
Município só viria a ocorrer em 2004, três anos após a instituição das equipes pelo
Ministério da Saúde. Uma das hipóteses para isso foi a força local do Programa Sorria
Vitória, que trabalhava com a perspectiva da promoção da saúde e estabilização da
doença, visando mudar o modelo de atenção. Outra explicação seria a posição do gestor
municipal da época, relutante à incorporação de tais equipes por considerar que a
configuração da saúde bucal no Município já seria adequada.
Somente em 2004, com o lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal é que
se abriram novas perspectivas para a odontologia no Brasil. Essa inflexão na política
nacional repercutiu decisivamente na organização da saúde bucal no Município.
A partir de então, o Município sofreu mudanças efetivas na política de saúde
bucal sob influência das transformações na política nacional primeiro pela implantação
das equipes de saúde bucal; segundo, pela inauguração do CEO. Tais serviços
permitiram ampliar o acesso às ações básicas e especializadas aos diversos grupos da
população, na tentativa de superação dos programas voltados a determinadas faixas
etárias ou a grupos sociais específicos.
Quanto às estratégias adotadas no Município para a expansão e organização do
atendimento na área de saúde bucal, os entrevistados destacaram que, desde os anos
1990, durante os diferentes períodos – de ênfase na municipalização, de predomínio do
Sorria Vitória e, a partir de 2004, de influência do Brasil Sorridente - foram relevantes
os investimentos em estrutura física para ampliação dos serviços de saúde e as
iniciativas de capacitação dos profissionais.
Observa-se que, nos quatro períodos analisados, a trajetória da política de saúde
bucal no município de Vitória expressou influências do contexto e da política nacional,
reiterando o peso do Executivo Federal na indução de políticas de saúde no caso
brasileiro.
No entanto, o estudo também evidenciou que a política municipal apresentou
algumas características e experiências próprias, como foi o caso do Programa Sorria
Vitória, predominante entre 1995 e 2003, que trouxe modificações ao modelo de
atenção e propiciou melhorias nos indicadores de saúde bucal do Município. O peso de
tal Programa contribuiu para postergar a implementação de equipes de saúde bucal
vinculadas à Estratégia de Saúde da Família, apesar da forte indução federal. Evidenciase nesse sentido uma lógica de dependência da trajetória (path-dependence)117, visto que
as escolhas locais prévias relativas à organização da saúde bucal – priorização do
142
atendimento a gestantes e a escolares, valorização do espaço da escola para captação –
adiaram a adoção de outros caminhos.
Portanto, no caso estudado, evidenciou-se a combinação de forte influência
nacional associada a especificidades da política e do sistema de saúde local,
expressando o dinamismo da implementação de políticas no contexto federativo
brasileiro. Nesse sentido, outro aspecto a ser mencionado é a fragilidade da participação
da esfera estadual na definição de políticas para a área de saúde bucal nos diversos
momentos, fragilidade que persistiu no período de influência do Brasil Sorridente.
Quanto ao papel dos gestores, segundo vários entrevistados a organização da
saúde bucal no município de Vitória foi favorecida em muitos momentos históricos pelo
apoio de gestores municipais que valorizavam a área. Outros atores também tiveram um
papel importante no processo de implementação da saúde bucal, tais como
o Ministério da Saúde, que influenciou sobremodo na indução de
políticas em vários momentos, ressaltando-se no período recente a normatização
e indução financeira para a inserção das equipes de saúde bucal e implantação
do CEO;
as equipes técnicas da área de saúde bucal no Município, que
trabalharam para melhorar a atenção prestada à população;
os movimentos sociais, que, embora de maneira mais isolada em nível
local, contribuíram principalmente para implantação do Sorria Vitória, por meio
do apoio para a captação das crianças;
o Ministério Público que teve um papel relevante na modificação do
quadro de funcionários, quando impôs a realização de concurso público na
Prefeitura Municipal de Vitória, em 2007, favorecendo a contratação de efetivos
em contraposição aos contratados, que se encontravam em grande número.
Por outro lado, a análise da trajetória da saúde bucal no Município também
permitiu identificar atores que, em alguns momentos, apresentaram resistências a
iniciativas de mudanças no modelo de atenção. Nesse sentido, os conselhos de classe
dos cirurgiões-dentistas mantiveram, durante décadas, posição contrária à inserção do
pessoal auxiliar no atendimento à população, obstruindo algumas iniciativas de
mudança do modelo de atenção à saúde que se apoiava na expansão do acesso por meio
da atuação de profissionais de nível técnico e auxiliar.
Essa situação só se alterou a partir do Brasil Sorridente, quando o Governo
Federal passou a enfatizar como elementos relevantes para a organização dos serviços
de saúde o trabalho em equipe e a incorporação do pessoal auxiliar. No período recente,
143
observa-se uma postura diferenciada dos conselhos de classe em relação a esse aspecto.
Isso talvez possa ser explicado por outras mudanças introduzidas pela Política Nacional
de Saúde Bucal, que envolvem uma expansão importante de postos de trabalho para os
cirurgiões-dentistas na atenção básica e especializada.
Um dos propósitos deste estudo foi analisar a atenção à saúde bucal no
município de Vitória na perspectiva da integralidade, compreendida como um princípio
do SUS ancorado na lógica do direito à saúde. Para isso, buscou-se considerar o
desenho da política e a organização da rede de serviços de saúde.
Nesse sentido, os resultados do estudo permitem afirmar que o período de
influência do Brasil Sorridente (2004-2010) apresentou condições mais favoráveis para
o fortalecimento da perspectiva da integralidade na atenção à saúde bucal do que os
momentos anteriores, pelo fato de essa diretriz estar fortemente presente na política
nacional.
Ainda que o Município tenha relevantes experiências anteriores de expansão do
acesso, a partir de 2004, observa-se, de forma mais contundente, a busca pela
integralidade na atenção à saúde bucal, por meio de um desenho mais abrangente da
política e da expansão de serviços de vários tipos, com destaque para a atenção básica e
a atenção especializada ambulatorial. Destacam-se como pontos importantes a oferta de
atendimento odontológico a toda a população, e não somente a grupos específicos; a
preocupação em aliar promoção, prevenção e tratamento (presentes desde o Sorria
Vitória); uma expansão importante da oferta de ações de saúde bucal na atenção básica,
por meio das equipes de saúde bucal; uma expansão expressiva de atendimentos
especializados por meio da conformação de um CEO, a partir de uma unidade anterior.
Particularmente, a implantação do Centro de Especialidades Odontológicas
representou um grande avanço para o Município, ao proporcionar o acesso ao
atendimento especializado e favorecer a continuidade da atenção, fatores fundamentais
para o princípio da integralidade.
Por outro lado, a análise da implementação da política e da configuração do
sistema de atenção em saúde bucal no Município revela limitações importantes a serem
equacionadas.
A oferta de serviços é uma das grandes limitações, já que Vitória apresenta um
único CEO, com poucos profissionais atuando para atender a demanda do próprio
Município e de municípios vizinhos, tais como Viana, Santa Leopoldina e Cariacica.
Além disso, não há a oferta de alguns procedimentos, tais como a prótese parcial
144
removível, provocando um atendimento restritivo, fragmentado e pouco resolutivo ao
paciente na especialidade de prótese dentária.
Essa oferta reduzida, aliada a grande demanda, configura-se como um dos
motivos para a longa fila de espera e, consequentemente, para o alto índice de
absenteísmo às consultas encontrado neste estudo. Tal fato evidencia a ausência de
monitoramento das filas de espera e gera ociosidade dos profissionais, impacto na
produção e prejuízo financeiro.
Portanto, há necessidade de ampliar mais o acesso às especialidades tanto
quantitativamente quanto qualitativamente por meio da implantação de novos
procedimentos e de novas especialidades, como é o caso da ortodontia.
Essa dificuldade de acesso às especialidades pode ser atribuída a vários fatores, e
não apenas a uma oferta reduzida. Dentre outros fatores, podem-se destacar
encaminhamentos incorretos, indicações não condizentes com a especialidade,
orientações inadequadas, desconhecimento com relação aos protocolos, ou mesmo a
grande demanda de anos de exclusão a essas especialidades.
Os fatores mencionados acima, exceto o último, remetem à questão da
integração dos serviços entre a atenção básica e as especialidades, que apresenta
dificuldades. Apesar de existir um fluxo formal entre os dois níveis bem organizado,
articulado e definido, observou-se uma fragilidade grande em termos de integração. Não
há mecanismos de coordenação nem comunicação entre os dois níveis a não ser no
papel. Há um distanciamento grande entre os níveis, com cada um no seu núcleo de
execução, impedindo uma maior integração. Observou-se na fala de vários entrevistados
que essa conduta está muito relacionada com o próprio perfil profissional, de não sair de
seu lugar e não olhar o outro de modo mais amplo.
A atenção básica também apresentou uma baixa produção, denotando, segundo
os entrevistados, um processo de trabalho inadequado às características da estratégia
saúde da família.
Nesse sentido, segundo Franco e Magalhães Júnior118, realizar encaminhamentos
sem ter esgotado todas as possibilidades diagnósticas na rede básica denota um modo de
operar o trabalho em saúde em que falta solidariedade com o serviço e
responsabilização no cuidado com o usuário. Isso gera excesso de encaminhamento para
especialistas e alto consumo de exames, além de contribuir para a pouca resolutividade
dos serviços, uma vez que esse tipo de assistência não atua sobre as diversas dimensões
do sujeito/usuário. Ainda de acordo com os autores, a integralidade começa pela
organização dos processos de trabalho na atenção básica, em que a assistência deve ser
145
multiprofissional, operando através de acolhimento e vínculo com a clientela, por cujo
cuidado a equipe se responsabiliza.
O estudo também revelou problemas na articulação e organização dos processos
de trabalho entre as especialidades. Isso foi apontado pelos profissionais do CEO
principalmente em relação à baixa produção do laboratório de prótese dentária (LRPD),
o que gera pouca resolutividade e configura-se como um limitador para a ampliação do
acesso a essa especialidade. Assim, há insuficiente coordenação entre os serviços e
monitoramento do processo de trabalho dos profissionais do LRPD.
Embora a dimensão do cuidado relacionado às práticas clínicas não tenha sido
abordada no presente estudo, observou-se na fala dos entrevistados que é uma das
dimensões da integralidade a ser mais bem trabalhada.
Este estudo oferece uma visão parcial do problema, visto que não foram
entrevistados os profissionais da atenção básica nem os usuários. Entretanto abre
questões que podem ser enfocadas em novas pesquisas, tais como a análise da dimensão
do cuidado das equipes de saúde bucal no Município para concretização da
integralidade, a avaliação da implantação das equipes de saúde bucal no município
como um dispositivo para mudança do modelo de atenção, entre outras.
A pesquisa sugere que se deva melhorar a integração entre os vários níveis de
atenção e que os processos de trabalho, os protocolos e os fluxos sejam mais bem
compartilhados e discutidos entre os profissionais da rede. Assim eles poderão
apreender melhor as responsabilidades e possibilidades de cada nível de atenção bem
como a importância do atendimento integral ao usuário. Sugere também a necessidade
de se adotarem mecanismos de coordenação entre os serviços, de modo a facilitar a
organização do sistema e proporcionar maior acesso aos munícipes.
Este estudo permitiu identificar alguns avanços ocorridos na área de saúde bucal
no Brasil, na última década, após a formulação da Política Nacional de Saúde Bucal, e
constatar a importância dessa política para a implementação da política de saúde bucal
no município de Vitória. A incorporação das equipes de saúde bucal na Estratégia de
Saúde da Família e a implantação do CEO, por sua vez, configuraram-se como
importantes estratégias para a ampliação do acesso ao atendimento odontológico e
garantia da integralidade.
146
Referências Bibliográficas
1.
Brasil. Ministério da Saúde. Projeto SB Brasil 2003: condições de saúde bucal da
população brasileira 2002 – 2003: resultados principais. Brasília, 2004a.
2.
Narvai PC. Saúde bucal no Brasil: muito além do céu da boca. Rio de Janeiro:
Fiocruz; 2008.
3.
Brasil. Ministério da Saúde. Relatório Final da 1ª. Conferência Nacional de Saúde
Bucal. Brasília, 1986.
4.
Moysés SJ. Saúde Bucal. In: Giovanella L, Escorel S, Lobato LVC, Noronha JC,
Carvalho AI, organizadores. Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de
Janeiro: Fiocruz; 2008. p.705 – 734.
5.
Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de
Atenção Básica. Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Brasília, 2004b.
6.
Abrucio FL. Reforma política e federalismo. In: Benevides MV, Kerche F,
Vannuchi P, organizadores. Reforma Política e Cidadania. São Paulo: Fundação
Perseu Abramo; 2003. p.225-265.
7.
Arretche M. Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de coordenação
e autonomia. São Paulo em Perspectiva. 2004, 18 (2): p. 17-26.
8.
Kingdon JW. Agendas, alternatives and public policies. 2nded. New York:
HarperCollins, 1995.
9.
Ham C, Hill M. The Policy Process in the Modern Capitalist State. 2nd ed. New
York: Harvester Wheatsheaf; 1993.
10.
Howlett M, Ramesh M, Perl A. Studying public policy: policy cycles and policy
subsystems. 3rd ed. Canada: Oxford University Press; 2009.
11.
Souza C. Estado da Arte da pesquisa em Políticas Públicas. In: Hochman G,
Arretche M, Marques E, organizadores. Políticas Públicas no Brasil. Rio de
Janeiro: Fiocruz; 2008. p. 65 – 86.
12.
Viana AL, Baptista TWF. Análise de Políticas de Saúde. In: In: Giovanella L,
Escorel S, Lobato LVC, Noronha JC, Carvalho AI, organizadores. Políticas e
Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2008. p.65 -105.
13.
Viana AL. Abordagens Metodológicas em políticas públicas. Revista de
Administração Pública. 1996, 30 (2).
147
14.
Mazmanian D, Sabatier PA. Implementation and Public Policy. London:
University Press of America, 1989.
15.
Hogwood BW, Gunn LA. Policy Analysis for the Real World. Oxford: Oxford
University Press; 1984. p.196-218. [Resumo elaborado por Labra, ME].
16.
Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal;
1988.
17.
Noronha JC, Lima LD, Machado CV. O Sistema Único de Saúde – SUS. In:
Giovanella L, Escorel S, Lobato LVC, Noronha JC, Carvalho AI, organizadores.
Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2008. p.435 –
472.
18.
Paim JS. O que é o SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2009.
19.
Sabatier PA, Jenkins-Smith HC. The Advocacy Coalition Framework. In: Sabatier
PA. Theories of the Policy Process. United States of America: Westview Press;
1999. p. 117 – 166.
20.
Lima, LD. Estados federativos e políticas públicas. In: Lima, Luciana Dias.
Federalismo, relações fiscais e financiamento do Sistema Único de Saúde: a
distribuição de receitas vinculadas à saúde nos orçamentos municipais e estaduais.
Rio de Janeiro: Museu da República; 2007. p.31-60.
21.
Almeida MHT. Federalismo,democracia e governo no Brasil: ideias, hipóteses e
evidências. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais.
São Paulo. 2001, (51): p.13-34.
22.
Mattos RA. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que
merecem ser defendidos. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Os sentidos
da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio de Janeiro: Abrasco; 2001.
p.39-64.
23.
Mattos RA. Integralidade e a formulação de Políticas Específicas de Saúde. In:
Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Construção da integralidade: cotidiano,
saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: Abrasco; 2003. p. 45-59.
24.
Pinheiro R, Ferla AA, Silva Júnior AG. Integralidade na atenção à saúde da
população.In: Marins JJ et al, organizadores. Educação Médica em
Transformação:instrumentos para a construção de novas realidades. São Paulo:
Hucitec; 2004. p.269-284.
148
25.
Mattos RA. Repensando a organização da rede de serviços de saúde a partir do
princípio da integralidade. In: Pinheiro R, organizadora. Razões Públicas para a
integralidade em saúde. Rio de Janeiro: Abrasco; 2007. p. 369-383.
26.
Starfield B. Atenção Primária: Equilíbrio entre Necessidades de Saúde, Serviços e
Tecnologia. Brasília: Ministério da Saúde, Unesco; 2002. p. 313- 415.
27.
Hartz ZMA, Contandriopoulos AP. Integralidade da atenção e integração de
serviços de saúde:desafios para avaliar a implantação de um “sistema sem muros”.
Cad Saúde Pública. 2004, 20 (2): 331-336.
28.
Giovanella L, Lobato L, Carvalho AL, Connil EM, Cunha EM. Sistemas
municipais de saúde e a diretriz da integralidade da atenção: critérios para
avaliação. Saúde Debate. 2002; 26: 37-61.
29.
Yin RK. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2 ed. São Paulo: Bookman;
2001.
30.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE cidades@. [acessado em set
/2009]. Disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
31.
Espírito Santo [Estado]. Secretaria Estadual de Saúde. Lei no. 58 de 21 de
fevereiro de 1995. [acessado em 22 de setembro de 2009]. Disponível em
http://www.saude.es.gov.br.
32.
Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde. Plano Municipal
de Saúde 2010-2013. Vitória; 2009 a.
33.
Prefeitura Municipal de Vitória [homepage]. Vitória, Espírito Santo. 2010
[acesso: 22 de maio de 2010]. [4 telas]. Disponível em:
http://www.vitoria.es.gov.br.
34.
Prefeitura Municipal de Vitória. Lei no. 6.077 de 29 de dezembro de 1993.
Regulamenta a organização do Município em bairros e dá outras providências.
Vitória; 1993.
35.
Prefeitura Municipal de Vitória. “Vitória do Futuro”: Plano estratégico da cidade
1996-2010; 1996.
36.
Instituto Jones dos Santos Neves. [homepage]. Vitória, ES. [acesso: 15 de jun. de
2010]. [3 telas]. Disponível em: http://www.ijsn.es.gov.br.
149
37.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM no. 673 de 03 de junho de 2003.
Atualiza e revê o incentivo financeiro às Ações de Saúde Bucal, no âmbito do
Programa de Saúde da Família, parte integrante do Piso de Atenção Básica –
PAB. Brasília, 2003.
38.
Emmerich, A. A história da Odontologia no Brasil Colonial. In: Emmerich, A. A
Corporação Odontológica e o seu Imaginário. Vitória: Edufes; 2000. p 53-79.
39.
Escorel S, Teixeira LA. História das Políticas de Saúde no Brasil de 1822 a 1963:
do império ao desenvolvimentismo populista. In: Giovanella L, Escorel S, Lobato
LVC, Noronha JC, Carvalho AI, organizadores. Políticas e Sistemas de Saúde no
Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2008. p. 333 – 384.
40.
Zanetti CHG. As marcas do mal-estar social no sistema nacional de saúde tardio:
o caso das políticas de saúde bucal no Brasil dos anos 80. [Dissertação]. Rio de
Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 1993. 145 p.
Mestrado em Saúde Pública.
41.
Narvai PC. Saúde Bucal: assistência ou atenção? São Paulo: FSP; 1992
(mimeo).[acesso
em
15
mar
2010].
Disponível
em
http://www.ccs.ufsc.br/spb/os3_narvai.pdf.
42.
Nickel DA, Lima FG, Silva BB. Modelos assistenciais em saúde bucal no Brasil.
Cad. Saúde Pública. 2008, 24 (2): 241-246.
43.
Narvai PC. Saúde Bucal Coletiva: caminhos da odontologia sanitária à
bucalidade. Revista de Saúde Pública. 2006, 40:141-147.
44.
Brasil. Lei Federal no. 6.050 de 24 de maio de 1974. Dispõe sobre a fluoretação
da água em sistemas de abastecimento quando existir estação de tratamento.
Brasília, 1974. [acesso em 10 de set. de 2009]. Disponível em
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128460/lei-6050-74
45.
Frias AC, Narvai PC, Araújo ME, Zilbovicius C, Antunes JLF.Custo da
fluoretação das águas de abastecimento público, estudo de caso: município de São
Paulo, Brasil, período de 1985-2003. Cadernos de Saúde Pública. 2006, 22(6):
1237-1246.
46.
Zanetti CHG. Em busca de um paradigma na programação local em saúde bucal
mais resolutivo no SUS. Divulgação Saúde em Debate. 1996, 13: 18-35.
47.
Serra CG. A saúde bucal como política de saúde. Análise de três experiências
recentes: Niterói, Campinas e Curitiba. [dissertação]. Rio de Janeiro: Instituto de
Medicina Social; 1998. 205p. Mestrado em Saúde Coletiva.
150
48.
Bartole, MS. Concepção e Formulação de Políticas e Programas com enfoque da
integralidade: o exemplo da Política Nacional de Saúde Bucal. In: Macau Lopes,
MG, organizadora. Saúde bucal coletiva: implementando idéias, concebendo
integralidade. Rio de Janeiro: Rubio; 2008. p.161-173.
49.
Oliveira AGRC, Arcieri RM, Unfer B, Costa ICC, Mores E, Saliba NA. Modelos
assistenciais em saúde bucal no Brasil: tendências e perspectivas. Ação coletiva.
1999, vol.II (1).
50.
Manfredini MA. Saúde bucal no Brasil em 2008 e nos 20 anos de SUS. In:
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde/Departamento de Análise
de Situação em Saúde. Saúde Brasil 2008: 20 anos de Sistema Único de Saúde no
Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2009, p. 155-174. [acesso em 20 set 2010].
Disponível em www.saude.gov.br/svs.
51.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM no.613 de 30 de junho de 1989.
Aprova a Política Nacional de Saúde Bucal. Brasília, 1989. [acesso em 5 de ago.
de
2009].
Disponível
em
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474.
52.
Garcia DV. A construção da política nacional de saúde bucal: percorrendo os
bastidores do processo de formulação [Dissertação]. Rio de Janeiro: Instituto de
Medicina Social; 2006. 104 p. Mestrado em Saúde Coletiva.
53.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 184 de 10 de outubro de 1991. Aprova a
nova tabela de procedimentos odontológicos. Brasília, 1991. [acesso em 5 de ago.
de
2009].
Disponível
em
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474.
54.
Carvalho LAC, Scabar LF, Souza DS, Narvai PC. Procedimentos coletivos de
saúde bucal: gênese, apogeu e ocaso. Saúde Soc.São Paulo. 2009, 18 (3): p. 490499.
55.
Brasil. Ministério da Saúde. Relatório Final da 2ª. Conferência Nacional de Saúde
Bucal. Brasília,1994.
56.
Levcovitz E, Lima LD, Machado CV. Política de saúde nos anos 90: relações
intergovernamentais e o papel das Normas Operacionais Básicas. Ciência e Saúde
Coletiva. 2001, 6 (Sup 2): 269-291.
57.
Bodstein R. Atenção Básica na Agenda da Saúde. Ciência e Saúde Coletiva. 2002,
7(3):401-412.
58.
Roncalli AG. Epidemiologia e saúde bucal coletiva: um caminhar compartilhado.
Ciênc e Saúde Coletiva. 2006, 11(1): 105-114.
151
59.
Castro ALB. A condução federal da política de atenção primária à saúde no
Brasil: continuidades e mudanças no período de 2003 a 2008. [Dissertação]. Rio
de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 2009.
215 p. Mestrado em Saúde Pública.
60.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n.1444 de 28 de dezembro de 2000.
Estabelece incentivo financeiro para a reorganização da atenção à saúde bucal
prestadas nos municípios por meio do programa de saúde da família. Brasília,
2000.
[acesso
em
10
de
ago.
de
2009].
Disponível
em
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474
61.
Brasil. Ministério da Saúde Portaria n.267 de 6 de março de 2001. Aprova as
normas e diretrizes de inclusão da saúde bucal na estratégia saúde da família.
Brasília, 2001. [acesso em 10 de ago. de 2009]. Disponível em
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474
62.
Brasil. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Orientações
para implantação de equipes de saúde bucal no programa saúde da família.
Brasília, 2004c.
63.
Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica, Saúde da Família,
Atenção Primária. Brasília, 2009. [acesso em 12 de nov. de 2009] Disponível em
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/historico_cobertura_sf/historico_cobertura_sf_rel
atorio.php.
64.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM n.º 95 de 26 de janeiro de 2001.
Aprova a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS/SUS 01/01.
Brasília, 2001.
65.
Fome zero e boca cheia de dentes. 2002. 8p. Mimeografado.
66.
Bartole MS. Da boca cheia de dentes ao Brasil Sorridente: uma análise retórica da
formulação da Política Nacional de Saúde Bucal [Dissertação]. Rio de Janeiro:
Instituto de Medicina Social; 2006. 129 p. Mestrado em Saúde Coletiva.
67.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n.º 673, de 3 de junho de 2003. Atualiza e
revê o incentivo financeiro às ações de saúde bucal no âmbito do Programa de
Saúde da Família, parte integrante do Piso da Atenção Básica. Brasília, 2003.
68.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 74, de 20 de janeiro de 2004.
Reajusta os valores dos incentivos financeiros às ações de saúde bucal no âmbito
do Programa de Saúde da Família. Inclui procedimento de moldagem para prótese
e da outras providências. Brasília, 2004d.
152
69.
Brasil. Ministério da Saúde. Notícias: Saúde libera R$ 3,7 milhões para
atendimento odontológico especializado. Brasília, 24 de Dezembro de 2009 às
13:01.http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDet
alheNoticia&id_area=124&CO_NOTICIA=10996. 2009 a
70.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 1.571, de 29 de julho de 2004.
Estabelece o financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas.
Brasília, 2004e.
71.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 599, de 24 de março de 2006.
Define a implantação de Especialidades Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios
Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelece critérios, normas e
requisitos para seu credenciamento. Brasília, 2006 a.
72.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 600, de 24 de março de 2006.
Institui o Financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas. Brasília,
2006 b.
73.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 1.572, de 29 de julho de 2004.
Estabelece o pagamento de próteses dentárias totais em Laboratórios Regionais de
Próteses Dentárias – LRPD. Brasília, 2004f.
74.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 2.374, de 7 de outubro de 2009.
Altera os valores dos procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde realizados
pelos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. Brasília, 2009 b.
75.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 2.375, de 7 de outubro de 2009.
Define os recursos anuais para o financiamento de procedimentos de prótese
dentária.Brasília, 2009 c.
76.
Brasil. Ministério da Saúde. Relatório Final do I Encontro Nacional de Centros de
Especialidades Odontológicas e Equipes de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde
da Família. Brasília, 2009 d.
77.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 2.371, de 7 de outubro de 2009.
Institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Componente Móvel
da Atenção à Saúde Bucal - Unidade Odontológica Móvel - UOM. Brasília, 2009
e.
78.
Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de
Atenção Básica, Saúde Bucal, Territórios da Cidadania. [acesso em 10 de Nov. de
2009] Disponível em http://dab.saude.gov.br/CNSB/territorios_cidadania.php.
2009 f.
153
79.
Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de
Atenção Básica, Saúde Bucal. Cadernos de Atenção Básica. Brasília, 2006.
80.
Brasil. Ministério da Saúde. Projeto SB Brasil 2010: condições de saúde bucal da
população brasileira 2010: resultados principais. Brasília, 2010.
81.
Baptista TWF. A política nacional de saúde bucal no governo Lula. 2008. Texto
integrante do relatório científico final do projeto de pesquisa “O papel do
Ministério da Saúde na política de saúde brasileira no período de 2003 a 2006”.
Rio de Janeiro: FAPERJ, 2008. p. 65-81.
82.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 91, de 10 de janeiro de 2007.
Regulamenta a unificação do processo de pactuação de indicadores e estabelece os
indicadores do pacto pela saúde, a serem pactuados por municípios, estados e
Distrito Federal. Brasília, 2007.
83.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 2.848, de 6 de novembro de
2007. Publica a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2007.
84.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 321, de 8 de fevereiro de 2007.
Institui a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2007.
85.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 2.669, de 3 de novembro de
2009. Estabelece as prioridades, objetivos, metas e indicadores de monitoramento
e avaliação do Pacto pela Saúde, nos componentes pela Vida e de Gestão, e as
orientações, prazos e diretrizes do seu processo de pactuação para o biênio 2010 2011. Brasília, 2009 f.
86.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 3.840 de 7 de dezembro de 2010.
Inclui a Saúde Bucal no Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde, e
estabelece as diretrizes, orientações e prazos do processo de ajuste de metas para o
ano de 2011. Brasília, 2009 f.
87.
Beltrame SM, Silva, FJD. A saúde bucal no município de Vitória: um resgate
histórico. Vitória, 2000. 5f. Digitado.
88.
Bisi CR et al. Estado e Políticas Públicas. [Monografia]. Vitória: Secretaria
Estadual de Saúde; Escola Nacional de Saúde Pública; Universidade Federal do
Espírito Santo. 1997. Especialização em Planejamento e Gestão de Recursos
Humanos em Saúde.
154
89.
Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde. Lei n. 2548, de
15 de fevereiro de 1978. Vitória, 1978.
90.
Olisoa DM. Municipalização da Saúde em Vitória-ES: uma experiência
participativa. [Dissertação]. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, Escola
Nacional de Saúde Pública; 1999. 139 p. Mestrado em Saúde Pública.
91.
Espírito Santo [Estado]. Secretaria Estadual de Saúde. Lei n. 4317 de 4 de janeiro
de 1990. [acessado em 22 de agosto de 2010]. Disponível em
http://www.saude.es.gov.br.
92.
Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde. Lei n. 3711, de
10 de janeiro de 1991. Institui o fundo municipal de saúde e dá outras
providências. Vitória, 1991.
93.
Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde. Lei n. 3712, de
17 de janeiro de 1991. Vitória, 1991.
94.
Mendes EV. A Reforma Sanitária e a Educação Odontológica. Cadernos de Saúde
Pública [online]. 1986, 2 (4): 533-552. [acesso em 10 de set de 2010] Disponível
em http://www.scielo.br/pdf/csp/v2n4/v2n4a12.pdf.
95.
Faria M, Abreu MH, Lucas SD, Werneck MA. Avaliação da mudança do trabalho
clínico na Faculdade de Odontologia da UFMG. Arq. odontol. 2008, 44 (4): 3441.
96.
Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde Lei no. 3983 de
08 de Novembro de 1993. Dispões sobre a nova estrutura organizacional da
Secretaria Municipal de Saúde. Vitória, 1993.
97.
Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde. Plano de Ação
1997-2001. Vitória, 1997.
98.
Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde. Relatório
Seminário SILOS. Vitória, 1998.
99.
Nonato GS, Ghil IE, Ferreira JT, Santos MI, Sartori SR, Torres WL. Mudança de
Paradigma em Odontologia. [Especialização] Vitória: Secretaria Municipal de
Saúde, Programa Saúde da Família; 1998.
100. Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde. Procedimentos
coletivos em odontologia. Vitória, 1995.
155
101. Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde Relatório de
Gestão 2000/2001. Vitória, 2000.
102. Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde Projeto de
Implantação do Sistema Integrado de Serviços de Saúde – SISS na Região de São
Pedro. Vitória, 2001.
103. Silva VC. O processo de implantação do Sistema Integrado de Serviços de Saúde
em Vitória – ES: contribuição à discussão da integralidade na atenção à saúde.
[Dissertação]. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde
Pública; 2004. 151 p. Mestrado em Saúde Pública.
104. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n.º 101 de 11 de fevereiro de 1998. Brasília,
1998.
105. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n.º 1.510 de 5 de agosto de 2003. Brasília,
2003.
106. Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde. Relatório do I
Fórum Municipal de Saúde Bucal Coletiva. [Relatório cedido pela coordenadora
de saúde bucal do município]. Vitória, 2004.
107. Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde Relatório de
Gestão 2006. Vitória, 2007.
108. Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde. Relatório de
Gestão 2007. Vitória, 2008.
109. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n.º 13 de 8 de janeiro de 2008. Brasília,
2008.
110. Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde. Relatório de
Gestão 2008. Vitória, 2009 b.
111. Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde. Protocolo de
atenção à saúde bucal. Vitória, 2009 c.
112. Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde. Relatório de
Gestão 2009. Vitória, 2010.
113. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n.º 132 de 8 de março de 2005. Brasília,
2008. Habilita Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios
Regionais de Prótese Dentária (LRPD). Brasília, 2005.
156
114. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 2.898 de 21 de setembro de 2010.
Atualiza o anexo da Portaria GM/MS n. 600 de 24 de março de 2006. Brasília,
2010.
115. Pinheiro R. As práticas do Cotidiano na relação oferta e demanda dos serviços de
saúde: um campo de estudo e construção da integralidade. In: Mattos RA,
Pinheiro R. Os Sentidos da Integralidade na Atenção e no cuidado a Saúde. Rio de
Janeiro: Abrasco; 2001. p.39-64.
116. Cecílio LCO. Modelos tecno-assistenciais em Saúde da pirâmide ao círculo: uma
possibilidade a ser explorada. Cad. Saúde Pública.1997,13 (3): 469-478.
117. Pierson P. Politics in time. History, institutions and social analysis. Princeton:
Princeton University Press; 2004.
118. Franco TB, Magalhães Júnior HM.Integralidade na Assistência à Saúde: a
organização das linhas do cuidado. In:Merhy EE, Magalhães Júnior HM, Rimoli
J, Franco TB, Bueno WS. O Trabalho em Saúde: olhando e experienciando o SUS
no cotidiano. São Paulo: Hucitec; 2003. p.125-133.
157
Apêndice A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Dirigentes da política e das unidades especializadas e odontológos do CEO)
Você está sendo convidado para participar da pesquisa de mestrado em
desenvolvimento na Ensp/Fiocruz: “Política Nacional e Contexto Local: Uma Análise
da Implementação da Política de Saúde Bucal no Município de Vitória, do Espírito
Santo” Você foi selecionado por sua atuação como dirigente/ profissional da área de
saúde bucal.
A sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de
participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua
relação com a pesquisadora ou com a Ensp/Fiocruz.
O objetivo geral deste estudo é analisar o Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO) como dispositivo crítico da Política de Saúde Bucal na perspectiva da
integralidade, com a realização de um estudo de caso no município de Vitória-E. S.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em conceder entrevista, falando da trajetória
da saúde bucal na área de sua abrangência e sobre sua experiência no/com o CEO.
Sua participação pode contribuir para a análise da trajetória da saúde bucal e ajudar a
identificar os pontos relevantes para a melhoria na atenção à saúde bucal.
As informações obtidas através dessa pesquisa serão divulgadas sem identificação de
seu nome. A referência às informações fornecidas pelos entrevistados eventualmente
será feita somente com menção ao cargo/ função que ocupam na rede, contudo, há
possibilidade de identificação mediante função. Após o término do estudo, as
informações ficarão guardadas com a pesquisadora, armazenadas de forma segura e
protegidas contra revelação não autorizada.
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do
pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua
participação, agora ou a qualquer momento.
_________________________________________________________________
Priscilla Caran Contarato
Mestranda em Saúde Pública
Ensp/ Fiocruz
Cristiani Vieira Machado
Orientadora e Pesquisadora do
Daps/Ensp/Fiocruz
Endereço e telefone do Pesquisador Principal:
Priscilla Caran Contarato: Av. João Batista Parra, 775 , apto 1002 -Praia do Suá - Vitória, ES CEP: 29052-123. Tel. – (27) 3327 3743/ (27) 8821-9027
Endereço e telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública CEP / ENSP: Rua Leopoldo Bulhões, 1.480, andar térreo – Manguinhos - Rio de Janeiro, RJCEP. 21041-210. Tel e Fax - (21) 2598-2863
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e
concordo em participar.
Rio de Janeiro, ____ de _______________ de 2010.
_________________________________________
Sujeito da pesquisa
158
Apêndice B
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
Escola Nacional de Saúde Pública
Comitê de Ética em Pesquisa da ENSP
Dissertação: Política Nacional e Contexto Local: Uma Análise da Implementação
da Política de Saúde Bucal no Município de Vitória, do Espírito Santo
Roteiro semi-estruturado de entrevista
(Coordenador Estadual de Saúde Bucal)
Data da entrevista:
Local da entrevista:
Nome:
Cargo ocupado/ função: Coordenadora de Saúde Bucal do Estado do Espírito Santo
Tempo de ocupação do cargo/ função:
Trajetória profissional relevante anterior ao cargo (UF de origem, formação e atuação
profissional; se atuava em SMS ou SES):
Como se deu historicamente a estruturação da política de saúde bucal no Estado?
Na sua visão, já ocorreram mudanças nas estratégias do Estado na área de saúde bucal?
Quais foram? E quais foram os principais fatores que explicam essas mudanças?
Na sua opinião, qual a prioridade da política de saúde bucal na agenda do governo do
Estado? E na agenda da SES?
Quais são as estratégias prioritárias adotadas no âmbito da política de saúde bucal pelo
estado?
Como essa política se relaciona com as demais áreas e políticas estaduais de saúde?
Qual tem sido o papel da esfera estadual para a concretização desta política (financeiro,
fiscalização, apoio)?
Quais são os principais atores envolvidos na formulação e na implementação dessa
política? (interna e externamente ao estado – ex: gestores de outras esferas, profissionais
de saúde, movimentos sociais)? Que atores a apóiam ou não a apóiam?
Quais foram/tem sido os maiores avanços dessa política no estado no período?
Quais foram/ tem sido as maiores lacunas e dificuldades das políticas nessa área no
período?
Perguntar sobre dados disponíveis sobre a evolução da política.
Considerações finais do entrevistado.
159
Apêndice C
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
Escola Nacional de Saúde Pública
Comitê de Ética em Pesquisa da ENSP
Dissertação: Política Nacional e Contexto Local: Uma Análise da Implementação
da Política de Saúde Bucal no Município de Vitória, do Espírito Santo
Roteiro semi-estruturado de entrevista
(Coordenador Municipal de saúde bucal)
Data da entrevista:
Local da entrevista:
Nome:
Cargo ocupado/ função: Coordenadora de Saúde Bucal do Município de Vitória
Tempo de ocupação do cargo/ função:
Trajetória profissional relevante anterior ao cargo (UF de origem, formação e atuação
profissional; se atuava em SMS ou SES):
Como se deu historicamente a estruturação da política de saúde bucal no município?
Na sua visão, já ocorreram mudanças nas estratégias do município na área de saúde
bucal? Quais foram? E Quais foram os principais fatores que explicam essas mudanças?
Na sua opinião, qual a prioridade dessa política na agenda do governo municipal; da
SMS e do estado?
Quais são as estratégias prioritárias adotadas pelo município no âmbito da política de
saúde bucal?
Como essa política se relaciona com as demais áreas e políticas de saúde do município?
Quais são os principais atores envolvidos na formulação e implementação dessa
política? (interna e externamente ao município– ex: gestores de outras esferas,
profissionais de saúde, movimentos sociais)? Que atores a apóiam ou que não apóiam?
Qual tem sido o papel do CEO na atenção à saúde bucal? Como vê a sua atuação? (em
relação à integração com outros serviços; capacidade de resolver problemas de saúde
bucal?) Quais são os pontos positivos e fragilidades da atuação do CEO no município?
Quais foram/tem sido os maiores avanços do município nessa área no período?
Quais foram/ tem sido as maiores lacunas e dificuldades das políticas nessa área no
período?
Perguntar sobre dados disponíveis sobre a evolução da política.
Considerações finais do entrevistado.
160
Apêndice D
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
Escola Nacional de Saúde Pública
Comitê de Ética em Pesquisa da ENSP
Dissertação: Política Nacional e Contexto Local: Uma Análise da Implementação
da Política de Saúde Bucal no Município de Vitória, do Espírito Santo
Roteiro semi-estruturado de entrevista
(Gerentes do Centro de Especialidades Odontológicas e de Unidades
Especializadas)
Data da entrevista:
Local da entrevista:
Nome:
Cargo ocupado/ função:
Tempo de ocupação do cargo/ função:
Trajetória profissional relevante anterior ao cargo (UF de origem, formação e atuação
profissional; se atuava em SMS ou SES):
1)
Como se deu historicamente a estruturação da política de saúde bucal no
município?
2)
Na sua visão, já ocorreram mudanças nas estratégias do município na área de
saúde bucal? Quais foram? Quais os fatores que explicam essas mudanças?
3)
Na sua opinião, qual a prioridade dessa política na agenda do governo
municipal?
4)
Quais são as estratégias prioritárias adotadas no âmbito da política de saúde
bucal no município?
5)
Como você vê o papel do CEO nessa política? Como tem sido a atuação do CEO
na prática?
6)
Como o CEO se articula com os demais serviços da rede?
7)
Que tipos de ações o CEO desenvolve satisfatoriamente e quais não consegue
desenvolver? Porque?
8)
Quais foram/tem sido os maiores avanços do CEO?
9)
Quais foram/ tem sido as maiores lacunas e dificuldades do CEO?
10)
Como têm funcionado os LRPD?
11)
Como tem sido a articulação dos protesistas (cirurgiões-dentista da prótese) com
os profissionais do LRPD?
Perguntar sobre dados disponíveis sobre a evolução da política, dados de produção,
cumprimento de metas.
Considerações finais do entrevistado.
161
Apêndice E
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
Escola Nacional de Saúde Pública
Comitê de Ética em Pesquisa da ENSP
Dissertação: Política Nacional e Contexto Local: Uma Análise da Implementação
da Política de Saúde Bucal no Município de Vitória, do Espírito Santo
Roteiro semi-estruturado de entrevista
(Cirurgiões-dentista do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO)
Data da entrevista:
Local da entrevista:
Tempo de inserção no CEO/ Tipo de vínculo:
Tempo de inserção na rede municipal de saúde :
Formação e atuação profissional (especialidade):
Como se deu sua inserção no CEO (concurso, contrato, outros)?
Você fez algum tipo de capacitação antes de entrar no CEO?
Qual a sua visão sobre o papel do CEO?
Como é realizado o acesso das pessoas ao CEO (Ex. marcação de consulta, retorno)?
No CEO são adotados protocolos clínicos? Qual a sua opinião sobre estes instrumentos?
Na sua opinião, como os profissionais da rede básica estão se comportando em relação
aos protocolos para encaminhamento ao CEO ?
Como são organizados os fluxos entre a atenção básica e o CEO (referência, contrareferência)?
Na sua opinião, como o CEO está articulado na rede de serviços?
Quais foram/tem sido os maiores avanços do CEO?
Quais foram/ tem sido as maiores lacunas e dificuldades do CEO?
Para os profissionais que fazem prótese perguntar sobre os LRPD (articulação destes
com a prótese, funcionamento, profissionais).
Considerações finais do entrevistado.