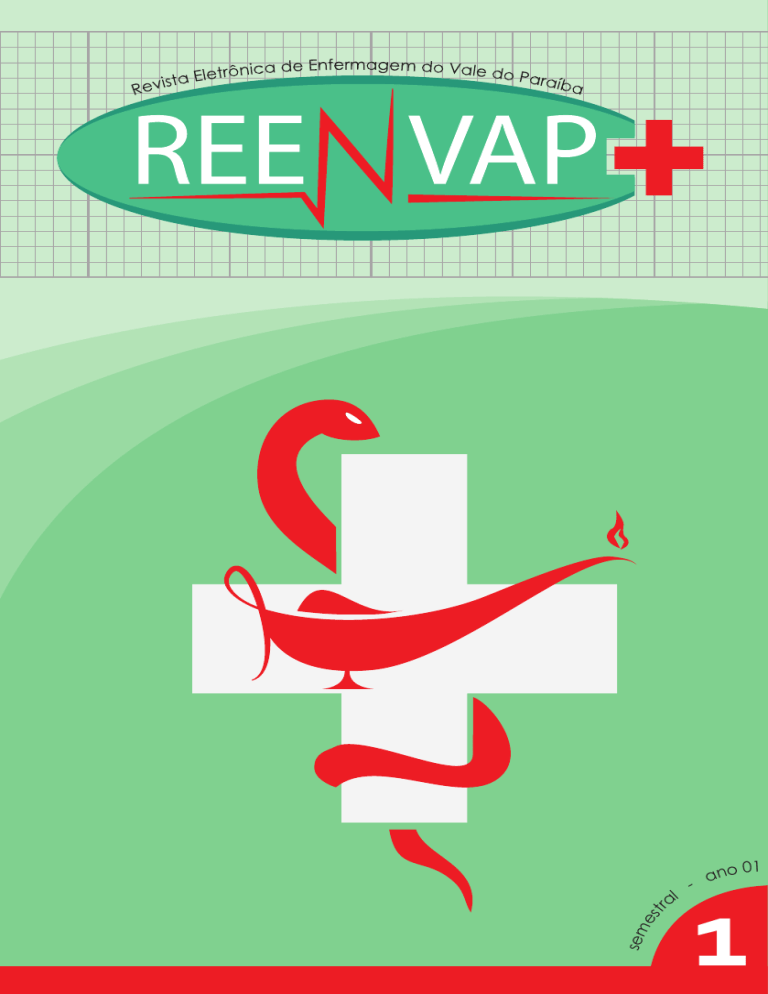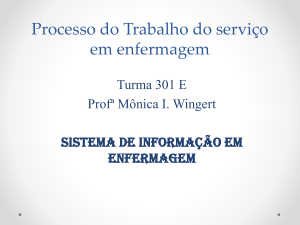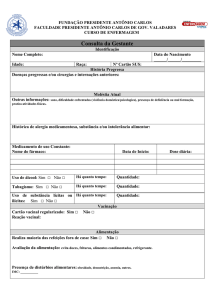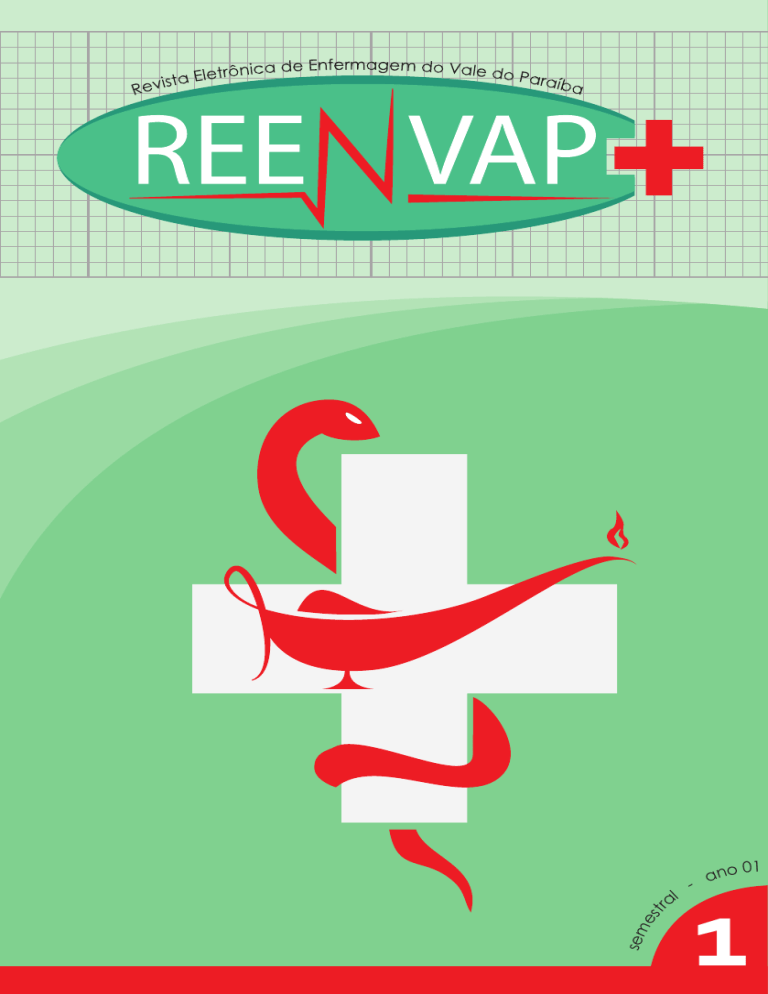
sem
es
tr
al
01
ano
1
-
01
Semestral - Ano 1
2011
DIREÇÃO GERAL:
Profa. Dra. Olga de Sá
REVISÃO:
Élcio Roefero, Regina Rodrigues Godoy Serapião
SECRETÁRIA:
Maria Aparecida S.Boncristiano
ESTAGIÁRIA:
Ana Carolina Araújo Lorena
CONSELHO EDITORIAL:
Profª. Dra. Ir. Olga de Sá
Diretora Geral das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila.
DIAGRAMAÇÃO:
Guilherme P Ragazzo
COORDENAÇÃO DO ISPIC:
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro
COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES:
Prof. M. Sc. Elcio Roefero
IMPRESSÃO/ACABAMENTO:
GRAFIST - Gráfica Santa Teresa
12 2124-2890 / [email protected]
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro
Professor Titular e Coordenador do Instituto Superior de Pesquisa
e Iniciação Científica das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila.
Profª Dra. Ana Cristina Mancussi e Faro
Professora Livre Docente E.E. da Universidade de São Paulo
Profª Dra. Maria Filomena Ceolim
Professora Livre Docente da Universidade Estadual de Campinas
Profª Dra. Cristina Maria Galvão
Professora Titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo.
Profª Dra. Maria Angela Boccara de Paula
COORDENAÇÃO GERAL:
Claudia Lysia de Oliveira Araújo
COMISSÃO EDITORIAL:
Professora Universidade de Taubaté
Profª Dra. Maria Odete Pereira
Pós-Doutoranda PNPD/CAPES no Programa de Pós-Graduação da
Escola de Enfermagem – USP Departamento de Enfermagem MaternoInfantil e Psiquiátrica
Profª. Me. Ana Beatriz Pinto da Silva Morita
Profª. Me. Ciliana Antero Guimarães Silva Oliveira
Profª. Me. Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Profª. Me. Fabíola Vieira Cunha
Profª. Me. Katia Margareth Bitton Moura
Profª. Me. Mara Filomena Falavigna
Profª. Me. Regina Celia
Profª. Me. Rosana Tupinambá Viana Frazili
Profª. Me. Valdinéa Luiz Hertel
Profª. Dra. Vanessa Brito Poveda
Profª. Me. Maria Joana Martins
REENVAP: Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba. Lorena - SP, ano 1, n. 01, ago./dez. 2011 (2011 - ).
ISSN:
Semestral
1. Periódico. I. Enfermagem
Editorial
Uma Revista é sempre uma voz. Uma Revista nova é uma voz
nova. No caso, esta voz nova da Enfermagem, no Vale do Paraíba,
depois de tantos anos de existência do curso, na FATEA de Lorena,
nos fala de “cuidar”.
“Cuidado”, diz o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, vem do
latim cogitare, agitar no espírito, remover no pensamento, pensar,
meditar, projetar, preparar; sinonímia de inquietação, meiguice
e providência e antinonímia de desleixo, desmazelo, negligência.
“Cuidar” é a vocação do enfermeiro, da enfermeira. O enfermeiro(a)
se inquieta, providencia, não é negligente, descuidado, desleixado.
“Cuidar” é uma face do humano, tão esquecida, senão agredida, no
mundo moderno. Todos queremos usufruir, “tirar vantagem”, ser
atendidos. Ninguém quer “cuidar”, pois isso exige desprendimento,
atenção ao outro, capacidade de escuta, capacidade de ver.
Esta Revista está cheia de vozes, que nos falam do “cuidar”: cuidar
da mulher, que se sente agredida na sua integridade feminina
e na sua beleza; cuidar do trabalhador produtor, que deseja
melhorar sua performance; cuidar do paciente com úlcera por
pressão do ambiente onde se encontra; cuidar do sono, dos que
trabalham a noite toda e estudam de dia; cuidar de quem cuida –
o enfermeiro(a) – de pacientes com acidente vascular isquêmico;
cuidar dos hipertensos, cuidar da vida onde ela existe, onde nasce,
onde está ameaçada.
Cuidar de nós mesmos, para que vivamos a realidade cotidiana,
crescendo em solidariedade e fraternidade, capazes de olhar o
outro e amá-lo, na sua diferença.
Olga de Sá
Sumário
ACEITAÇÃO E SENTIMENTOS DA MULHER
MASTECTOMIZADA
Fabíola Vieira Cunha
Aline Salles Lacerda
Daiana Mesquita Sampaio
Leila Cristina Ferreira da Silva
Mariane Navarro Segura de Oliveira
PROGRAMAS DE TREINAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS PARA
ORGANIZAÇÕESAUSÊNCIA DE ELEMENTOS
DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
08
20
Paulo Sergio de Sena
OCORRÊNCIA DE ÚLCERA POR PRESSÃO
EM UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR NO
INTERIOR DE SÃO PAULO
Ana Beatriz Pinto da Silva Morita
Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Simone Aparecida Santos Silva
Tatiana Roberta Galante.
36
INFLUÊNCIA DO SONO NAS ATIVIDADES
ACADÊMICAS DOS GRADUANDOS DE
ENFERMAGEM QUE TRABALHAM NA ÁREA
NO PERÍODO NOTURNO
53
Cláudia Lysia de Oliveira Araújo
Rosana Tupinambá Viana Frazili
Elaine Cristina de Almeida
ESTUDO PILOTO SOBRE A ATUAÇÃO DO
ENFERMEIRO NO CUIDADO DO PACIENTE
COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
ISQUÊMICO
63
Vanessa de Brito Poveda
Sonia Maria Filipini
Evelin Teo Vasconcellos Santana de Souza
Kenny Cruaia de Oliveira
PERFIL DOS PACIENTES HIPERTENSOS
ATENDIDOS EM UMA INSTITUIÇÃO
RELIGIOSA FRENTE À ADESÃO AO
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO
Cristiane Karina Malvezzi
Luciane Déscio Kishi Ida
Michelli Aparecida da Silva
Wilma de Melo Campos
72
Aceitação e Sentimentos da
Mulher Mastectomizada
Fabíola Vieira Cunha
Professora Mestre na Graduação em
Enfermagem das Faculdades Teresa D’Ávila
na área de Centro Cirúrgico
Aline Salles Lacerda
Daiana Mesquita Sampaio
Leila Cristina Ferreira da Silva
Mariane Navarro Segura de Oliveira
Graduadas em Enfermagem das Faculdades
Teresa D’Ávila
RESUMO
A mastectomia o procedimento cirúrgico utilizado como forma de tratamento
para a maioria das mulheres com câncer de mama e suas consequências
trazem danos físicos e emocionais.Esse trabalho se propôs a investigar 6
mulheres mastectomizadas, com idades entre 26 a 65 anos, frequentadoras
de um serviço de apoio aos pacientes em tratamento oncológico. A pesquisa foi
realizada em forma de questionários com perguntas abertas e fechadas sobre
os sentimentos e aceitação da mastectomia. A analise demonstrou que o grupo
de mulheres entrevistadas teve respostas semelhantes, demonstrando uma
boa aceitação da cirurgia e sentimentos de esperança e alegria pela chance de
cura proporcionada pela mastectomia.
PALAVRAS-CHAVE:
Mastectomia, Sentimentos, Aceitação.
ABSTRACT
The mastectomy the surgical procedure used as a form of treatment for most
women with reast cancer and its consequences bring physical and emotional
damage. This work is proposed to investigate 6 mastectomized women, aged
26 to 65 years, frequentadoras the house in support of cancer treatment - ATO.
It was made a search in the form of questionnaires with questions open and
closed on the feelings and acceptance of mastectomy. The analysis showed
that the group of women interviewed had similar responses, demonstrating
the acceptance of surgery and feelings of hope and joy for the chance of cure
offered by mastectomy.
KEYWORDS:
Mastectomy, Emotions, Risk-Taking
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 08-19
9
INTRODUÇÃO
O Câncer é um processo patológico que começa quando uma célula
anormal é transformada pela mutação genética do DNA celular. Essa
célula anormal forma um clone e começa a proliferar-se de maneira
anormal, ignorando as sinalizações do crescimento no ambiente
circunvizinho à célula (BRUNNER & SUDDARTH, 2000).
Existem inúmeros padrões de crescimento celular, designados pelos termos
hiperplasia, metaplasia, displasia, anaplasia e neoplasia. As células cancerosas
são descritas como neoplasias malignas (BRUNNER & SUDDARTH, 2000).
Sabemos que o câncer de mama ou carcinoma mamário é o resultado de
multiplicações desordenadas de determinadas células que se reproduzem em
grande velocidade, desencadeando o aparecimento de tumores ou neoplasias
malignas que podem vir a afetar os tecidos vizinhos e provocar metástases.
Este tipo de câncer aparece sob forma de nódulos, que, na maioria das vezes,
podem ser identificados pelas próprias mulheres, por meio da prática do autoexame (DUARTE E ANDRADE, 2003).
A mastectomia é um dos tratamentos a que a maioria das mulheres com
câncer de mama é submetida, e os seus resultados poderão comprometêlas física, emocional e socialmente. A mutilação dela decorrente favorece
o surgimento de muitas questões na vida das mulheres, especialmente
aquelas relacionadas à imagem corporal (FERREIRA E MAMEDE, 2003).
Atualmente, a mastectomia somente é indicada para tumores avançados e
consiste na retirada da mama afetada juntamente com os linfonodos axilares
(DUARTE E ANDRADE, 2003).
São três as ações de saúde consideradas fundamentais para o diagnóstico
precoce de câncer de mama: auto-exame das mamas, AEM, realizado de
forma adequada; exame clínico das mamas, ECM, feito por um profissional
especializado e mamografia (DUARTE E ANDRADE, 2003).
Essas ações podem contribuir para que, no surgimento de um tumor maligno,
o tratamento apropriado não requeira uma intervenção cirúrgica agressiva
para o corpo feminino (DUARTE E ANDRADE, 2003).
Ao receber um diagnóstico, a mulher passa a ter dois tipos de problemas: o
medo do câncer propriamente dito, e da mutilação de um órgão que representa
a maternidade, a estética e a sexualidade feminina (FERREIRA E MAMEDE,
2003, p 299-304).
Neste contexto torna-se importante o cuidado por parte dos profissionais da
10
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.08-19
saúde e dos familiares (WALDOW, 2001).
O cuidado nasce de um interesse, de uma responsabilidade, de uma
preocupação, de um afeto, o qual, em geral, implicitamente inclui o maternar
e o educar que, por sua vez, implica ajudar a crescer. O cuidado, mesmo no
silêncio, é interativo e promove crescimento (WALDOW, 2001).
Os estudos epidemiológicos também apontam o câncer de mama como uma
patologia de incidência aumentada em mulheres em idade de ciclo reprodutivo,
que indica o envolvimento dos hormônios reprodutivos femininos na etiologia
(CANTINELLI et al, 2006).
Apesar de ser considerado um câncer de relativamente bom prognóstico, se
diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer de
mama continuam elevadas no Brasil, muito provavelmente porque a doença
ainda seja diagnosticada em estádios avançados. Na população mundial, a
sobrevida média após cinco anos é de 61% (INCA, 2006).
O câncer de mama permanece como o segundo tipo de câncer mais frequente
no mundo e o primeiro entre as mulheres (INCA, 2006).
O número de casos novos de câncer de mama esperados para o Brasil em
2006 é de 48.930, com um risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres
(INCA, 2006).
Em relação ao aspecto sexual os seres humanos são sexuais do momento do
nascimento até a morte, e ser sexual é uma parte básica do ser humano. Se esse
fato é desconsiderado pela enfermeira ou médico, o cliente, com frequência, se
considera como menos que humano. Até há pouco tempo, os profissionais de
saúde se inclinaram a focalizar os aspectos físicos e emocionais do ser humano,
desconhecendo o psicossexual (OTTO, 2002).
Dependendo da fase de atendimento a que a mulher se encontra, ou seja, na
fase diagnóstica, cirúrgica ou em processo de reabilitação, as redes de suporte
são distintas. O parceiro sexual, na fase de reabilitação, é uma das fontes
mais importantes na assistência à mulher com câncer de mama (BIFFI E
MAMEDE, 2004).
A compreensão dos significados dos fenômenos é de fundamental importância
para entendermos porque as mulheres mastectomizadas, na medida em
que vivenciam a doença, compartilham de experiências que vão adquirindo
significados individuais e coletivos. Por isso, acreditamos que esse referencial
seja o mais adequado para identificarmos como elas percebem a possibilidade
de uma recorrência do câncer de mama (ALMEIDA et al, 2001).
Finalmente, ancorada na interpretação fenomenológica, é possível tecer
considerações sobre as possibilidades do cuidado prestado a essa clientela,
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 08-19
11
propondo que tal cuidado deva ser realizado considerando-se a mulher como
ser singular, como cidadã, como pessoa responsável por sua saúde e seu autocuidado, como um todo de carne e espírito, mente e corpo, ao qual se deve
prestar assistência que congregue técnica, ciência e humanização (CAMARGO
E SOUZA, 2003).
OBJETIVO
Identificar a experiência de um grupo de mulheres frente à indicação de uma
cirurgia de mastectomia; Identificar o tempo de aceitação para cirurgia e quais
foram seus sentimentos; Correlacionar os sentimentos com: relação com próprio
corpo, família, convívio social e sexualidade.
MÉTODO
Este trabalho é uma pesquisa do tipo descritiva exploratória qualitativa.
A opção pela abordagem metodológica qualitativa indicou ser a mais apropriada.
A metodologia qualitativa apresenta uma proposta que busca compreender o universo
de significados culturais e a visão de mundo que permeia a experiência destas pacientes.
Sendo assim a metodologia qualitativa explora a experiência das pessoas na sua
vida cotidiana, pois busca compreender questões da realidade que não podem
ser quantificadas, tais como explorar, conhecer, entender e interpretar um
fenômeno, situações e eventos que sejam passados ou presentes na sua vida.
Apesar das dificuldades óbvias de tratamento desse tema, parece cabível
concluir que o centro da questão qualitativa é o fenômeno participativo.
A pesquisa foi desenvolvida numa instituição que oferece apoio ao tratamento
oncológico, na região do Vale do Paraíba, sem fins lucrativos sendo mantida
através de doações e voluntariado.
A Instituição foi criada no ano de 2002 por um médico psiquiatra e por uma
advogada, funciona com uma equipe multiprofissional (psicólogo, médico
psiquiatra e voluntários).
Os pacientes chegam até a instituição através de orientação de voluntários que
fazem visitas aos mesmos em hospital que realiza tratamento oncológico ou por
indicação do próprio médico que identifica a necessidade de um apoio psicosocial.
Na instituição são desenvolvidas atividades de caráter psicológico como
palestras e terapias em grupo ou individual aos pacientes, familiares e
12
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.08-19
voluntários da instituição, além de promover campanhas de prevenção, ajuda
básica aos pacientes necessitados através de uma cesta básica mensal e próteses
confeccionadas na própria instituição pelos voluntários.
A instituição oferece dormitórios, banho e refeições para pacientes que se
sintam desabilitados após uma seção de tratamento ambulatorial.
Participaram da pesquisa seis mastectomizadas que estão realizando
tratamento oncológico e frequentam a instituição ou que estão em fase de
estadiamento.
Foram solicitadas às participantes que assinassem um termo de consentimento
livre e esclarecido, sendo excluídas da pesquisa as pacientes que não aceitaram
participar da pesquisa.
A pesquisa foi realizada de fevereiro a março de 2008; com pacientes que
frequentaram a instituição neste período.
Obtida autorização formal por escrito da instituição Apoio ao Tratamento
Oncológico (ATO), o presente projeto foi submetido à apreciação e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas Teresa D Ávila.
A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista pelas pesquisadoras
na instituição conforme data e horários estabelecidos pela responsável, sendo
realizada em uma sala reservada.
A entrevista foi realizada através de um instrumento elaborado pelas
pesquisadoras com perguntas abertas e fechadas com os seguintes itens:
Identificação: foi feita conforme as iniciais das participantes; Diagnóstico:
informações sobre a fase de descoberta do diagnóstico e início do tratamento;
Instituição: foi levantado o tempo de frequência em que a participante utiliza o
serviço e qual a importância da instituição para ela; Sentimentos: foi solicitado
que a paciente refira seus sentimentos quando recebeu o diagnóstico de câncer
e após o procedimento cirúrgico da mastectomia; Família: relacionamento
familiar, como foi a fase durante o diagnóstico e procedimento cirúrgico;
Convívio Social: foi solicitado à paciente que relate o processo de adaptação
ao trabalho e lazer após a doença, se houve interrupção de suas atividades; se
a iniciativa foi própria ou por orientação médica; Sexualidade: como procedeu
a seu relacionamento sexual após cirurgia; teve apoio do parceiro; se sentiu
rejeitada, teve medo ou vergonha, quanto tempo levou para superar essas
dificuldades.
Os dados coletados foram expressos em sentimentos de forma objetiva, como
sendo positivos os sentimentos de segurança, esperança, aceitação, confiança,
felicidade, boa aceitação e sentir-se bem. E como negativo os sentimentos de
medo, angústia, insegurança, dúvidas, preocupação, choque, revolta.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 08-19
13
Na identificação foram utilizadas inicias do nome e na apresentação dos
resultados foram transferidas para nomes de flores conforme a descrição:
Violeta; Jasmim; Tulipa; Margarida; Rosa; Orquídea.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O uso da abordagem qualitativa exploratória, para realização de nossa
pesquisa, foi fundamental para compreendermos os sentimentos e o cotidiano
do grupo de mulheres entrevistadas, pois buscamos compreender questões da
realidade que não podem ser quantificadas.
A população deste estudo foi composta por seis mulheres que frequentam
uma instituição de apoio às doenças oncológicas localizado no vale do Paraíba,
entrevistadas pelas pesquisadoras entre novembro de 2007 e janeiro de 2008.
Dentre os dados colhidos todas as variáveis foram preenchidas.
Quadro 1 - Dados relacionados à identificação das participantes e importância de
frequentar a instituição, trabalho Aceitação e Sentimentos da Mulher Mastectomizada.
(
N
=
6
)
Variável
Idade
Estado Civil
Grau de Escolaridade
Importância de
Frequentar a Instituição
Total
%
26 a 35 anos
01
16,6
36 a 45 anos
01
16,6
46 a 55 anos
01
16,6
56 a 65 anos
03
50
Solteira
02
33,3
Casada
01
16,6
Viúva
03
50
E.F.* Incompleto
03
50
E.F.* Completo
02
33,3
E.M.** Completo
01
16,6
Melhor aceitação
06
100
Não teve diferença
00
0
* Ensino Fundamental
** Ensino Médio
A faixa etária dessas mulheres variou de 26 a 35 anos, de 36 a 45 anos, de 46
a 55 anos e de 56 a 65 anos. Em estudo realizado por Amorim (2007), a faixa
14
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.08-19
etária das participantes varia entre 49 e 74 anos, estando em concordância
com esse estudo, onde metade das participantes tem idade próxima à pesquisa.
Quanto ao estado civil, três são viúvas, duas são solteiras e uma é casada. Em
relação ao nível de escolaridade, três das mulheres não completaram o ensino
fundamental e duas completaram, uma delas concluiu o ensino médio.
Em estudo realizado por Amorim (2007), a faixa etária das participantes varia
entre 49 e 74 anos; com nível de escolaridade que varia entre 3º ano primário a
curso superior e o estado civil das pesquisadas varia entre casada, solteira e viúva
No trabalho realizado por Duarte e Andrade (2003) a faixa etária das participantes
é de 34 a 55 anos com nível de escolaridade entre 2º grau completo e o nível superior,
e quanto ao estado civil, as mulheres eram casadas solteiras e divorciadas.
Segundo Cavalcante, Fernandes e Rodrigues (2004) a faixa etária das mulheres
pesquisadas varia de 36 a 70 anos; o estado civil é bastante diversificado,
variando em casadas, solteiras, viúvas e amasiadas.
Relacionado à frequência na instituição duas frequentam de um a 30 dias, duas
de 31 a 50 dias e duas acima de 60 dias, todas relataram melhor aceitação da
doença e da mastectomia após frequentarem a instituição.
Segundo Cavalcante, Fernandes e Rodrigues (2004) as mulheres que
frequentaram o grupo de apoio por um período maior de três (3) meses
revelaram ter a oportunidade de partilhar experiências com as pessoas que
sofreram dos mesmos problemas, sendo uma forma de se sentirem incluídas
no grupo, de se sentirem apoiadas e terem conseguido externar sentimentos.
Quadro 2 - Dados relacionados à aceitação da cirurgia pelas participantes do trabalho
de Aceitação e Sentimentos da Mulher Mastectomizada. (N= 6)
Variável
Aceitação
Total
%
Sentimentos após
notícia do procedimento
Aceitaram bem
03
50
Tiveram medo e insegurança
03
50
Sentimentos após
procedimento
Sentiram-se bem
05
83,3
Sentiu revolta
01
16,6
1 a 6 dias
04
66,6
7 a 13 dias
02
33,3
Tempo para se olhar no
espelho
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 08-19
15
No presente estudo houve aceitação da mastectomia por duas participantes
as demais relataram medo e insegurança. Em estudo realizado por Regis e
Simões à mastectomia como tratamento observa-se sentimentos de tristeza,
depressão e aceitação. A tristeza relacionada à mutilação de uma parte do corpo,
a depressão muitas vezes, estava associada à sua própria imagem construída
em pensamentos; a aceitação diante da mastectomia surge como uma chance
de cura e uma necessidade para se evitar a morte.
Nesse estudo, após o procedimento cirúrgico, cinco mulheres relataram sentiremse bem e felizes e apenas uma relatou sentimento de revolta. Segundo Amorim
(2007) a perda o medo e a revolta são sentimentos que acompanham o percurso
dessas mulheres e essa perda está intimamente ligada à imagem corporal.
Com relação à imagem corporal quatro das mulheres levaram até seis dias
para se olharem no espelho e duas, de sete a treze dias, razão relatada devido
ao curativo oclusivo e cuidados com o local. Os primeiros contatos que as
mulheres estabelecem com seu corpo operado são com o espelho, conforme
estudos já realizados e para algumas, o fato de observarem o corpo em que
uma das mamas ou as duas não estão mais presentes provoca um sentimento
de estranheza e muito sofrimento (BRUNNER & SUDDARTH, 2000).
Quadro 3 - Dados relacionados ao aspecto Familiar e Social das participantes do trabalho de Aceitação e Sentimentos da Mulher Mastectomizada. (N= 6)
Variável
Teve apoio
Sofreu rejeição
Continuou a exercer suas funções
Continuaram suas atividades de lazer
Total
%
Sim
06
100
Não
00
00
Sim
00
00
Não
06
100
Sim
05
83,3
Não
01
16,6
Sim
06
Não
00
As seis participantes receberam apoio familiar e alegaram que em nenhum
momento sofreram rejeição por parte dos familiares. Apesar do impacto que
uma doença como o câncer de mama causa nas pessoas, observou-se nas
famílias a presença de relações afetuosas, uma maior segurança na união,
buscando um melhor enfrentamento do problema (WALDOW, 2001).
Quanto às atividades sociais nesse estudo da maioria das mulheres cinco
relatou ter voltado ao trabalho, porém em menor intensidade, uma relatou não
16
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.08-19
ter voltado ao trabalho, pois estava impossibilitada de fazer esforço físico com
o braço e todas relataram ter continuado suas atividades de lazer.
Os relatos de algumas entrevistadas demonstram claramente que a
doença provocou uma série de mudanças em suas vidas, interferindo
sobremaneira no modo como se sentiram em relação a si mesmas e que o
contato com o mundo externo despertou uma série de fantasias e medos,
implicando numa mudança de comportamento, em que as mulheres mais
sociáveis tornaram-se reservadas (CANTINELLI et al, 2006).
Quadro 4 - Dados relacionados à sexualidade após a Mastectomia das participantes do
trabalho de Aceitação e Sentimentos da Mulher Mastectomizada. (N= 6)
Total
%
Mantém relação sexual
Variável
01
16,6
Não mantém relação sexual
05
83,3
Ao se tratar de relacionamento sexual obtivemos dados não apenas relacionados
à mastectomia, mas também ao cotidiano dessas mulheres. A maioria (cinco)
das mulheres não manteve relação sexual após a mastectomia com os seguintes
relatos:
“Sou viúva, mas tinha me divorciado antes dele morrer, depois disso não
tive mais nada com ninguém”. Violeta
“Tive apoio do meu companheiro, mas não quero continuar a ter relações
sexuais”. Jasmim
“Meu parceiro não sabe da Mastectomia, porém mantivemos relação
sexual após 2 meses do procedimento cirúrgico”. Tulipa
“Não mantenho relações sexuais, pois estou viúva.” Margarida
“Nunca Mantive relação sexual”. Rosa
“Sou casada, mas não tenho relação sexual com meu companheiro há 7
anos”. Orquídea
As mamas, além de desempenharem um importante papel fisiológico em
todas as fases do desenvolvimento feminino que vão desde a puberdade
à idade adulta, também representam em nossa cultura um símbolo
de identificação da mulher, possuindo uma forte carga simbólica de
feminilidade, sexualidade e maternidade. A sua feminilidade é expressa pelo
erotismo, pela sensualidade e pela sexualidade (CANTINELLI et al, 2006).
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 08-19
17
No que se refere aos relacionamentos amorosos, associam a sexualidade ao
aspecto genital, e durante as relações sexuais sentem-se inibidas, e tentam
ocultar a mama mutilada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa nos possibilitou compreender a grande variedade de sentimentos
apresentados por essas mulheres e as diferentes formas adotadas por elas
para enfrentarem a doença.
De acordo com algumas literaturas, as mulheres se dizem tristes e revoltadas
pela mutilação causada pelo procedimento, depressivas e com medo da morte.
Neste estudo podemos destacar a grande vontade das mulheres de lutar pela
vida e os sentimentos positivos como esperança e alegria pela chance de cura
proporcionada pelo procedimento cirúrgico, além de uma boa aceitação pela
mastectomia e suas consequências.
Acredita-se que isso seja consequência de um apoio não só de seus familiares e
amigos, mas também pelo fato das pacientes terem uma boa aceitação quanto à
sua doença, reconhecendo a necessidade de apoio psicológico, orientação quanto
à mudança de hábitos em seu cotidiano após a mastectomia e a convivência
com mulheres que vivenciam ou vivenciaram o mesmo problema, apoio esse
que as mulheres encontram no ATO, onde foi realizada a pesquisa.
É importante destacar que a maioria das mulheres reagiu a essa situação
de maneira semelhante e positiva, conforme algumas variáveis que dizem
respeito à aceitação da cirurgia, importância de frequentar a instituição,
aspecto familiar/social e a sexualidade.
A comunicação é um dos instrumentos utilizados em grupos de auto-ajuda na
tentativa de oferecer uma melhoria na qualidade de vida aos seus integrantes,
podendo proporcionar um maior conhecimento de si mesmo e do próximo,
estabelecer relacionamentos significativos, examinar e estimular mudanças
de atitudes e comportamentos.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, A. M.; MAMEDE, M. V.; PANOBIANCO, M. S.; PRADO, M. A. S. Construindo
o Significado da Recorrência da Doença: A Experiência de Mulheres com Câncer
de Mama. Rev. Latino-Am. Enfermagem. v..9 ,n.5, p.63-69, 2001.
AMORIM, C. M. B. F. Doença Oncológica da mama - Vivência de mulheres
mastectomizadas. 2007.365f. Tese (Doutorado em Ciências de Enfermagem) –
Universidade do Porto. Porto, 2007.
18
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.08-19
BIFFI, R. G., MAMEDE M. V. Suporte Social na Reabilitação da Mulher
Mastectomizada: O Papel do parceiro sexual. Revista da escola de Enfermagem
da USP.v.38, n.3, 262-9, 2004. Disponível em http://www.adobe.com/products/acrobat/
readstep2.html. Acesso em: 15 jan. 2008
BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgica. 9ª Ed. Rio
de Janeiro, 2000.
CAMARGO, T. C., SOUZA, I. E. O. Care to mastectomized woman: discussing
ontic aspects and the ontological dimension in nurses performance at a Cancer
Hospital. Rev. Latino-Am. Enfermagem. v.11, n.5, 614-621, 2003..
CANTINELLI, F. S., CAMACHO, R. S., SMALETZ, O., GONSALES, B. K., BRAGUITTONI,
E., RENNÓ JR. J. A Oncopsiquiatria no Câncer de Mama – Considerações a
Respeito de Questões do Feminino. Rev. psiquiatr. clín. v.33, n.3,124-133, 2006.
CAVALCANTE, P. P., FERNANDES, A. F. C., RODRIGUES, A. C. A interação no grupo
de auto-ajuda: suporte na reabilitação de mulheres mastectomizadas. Rev. da Rede de
Enfermagem.v.34, n.6, 2004.
DEMO, P. Avaliação Qualitativa. 8ª ed. Campinas: Autores Associados, 2005.p. 12-20.
DUARTE, T. P., ANDRADE, A. N. Enfrentando a mastectomia: análise dos relatos
de mulheres mastectomizadas sobre questões ligadas à sexualidade. vol. 8, no.
1, p. 155-163, 2003.
FERREIRA, M. L. S. M., MAMEDE, M. V. Representação do corpo na relação consigo
mesma após mastectomia. Rev. Latino-Am. Enfermagem.v.11, n.3, p. 299-304, 2003.
GERALDA, D. M. R., MERIGHI, M. A. B., OLIVEIRA. S. M. J. V. Abordagens
Qualitativas para a Enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem da USP. v. 29,
n.3, p. 297-309, 1995.
INCA – Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2006 - Incidência de Câncer no
Brasil, Ministério da Saúde.2005. OTTO, S. G. Oncologia: Reichmann e Affonso. Editores, Rio de Janeiro, 2002.
PIMENTEL, A. F. Convergências entre a Política Nacional de Humanização e a
Musicoterapia. 2005,38f. Monografia- Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca.
Rio de Janeiro, 2005. VICTORIA, C. G., KNAUTH, D. R., HASSEN, M. N. A. Pesquisa Qualitativa em Saúde:
uma introdução ao tempo. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000, p.65-67.
WALDOW, V. R. Cuidado Humano – O Resgate Necessário, 3º de. Porto Alegre:
Sagra Luzzatto, 2001.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 08-19
19
Programas de Treinamento de Recursos
Humanos para Organizações.
Ausência de Elementos de Qualidade de
Vida no Trabalho.
Paulo Sergio de Sena
Biólogo. Doutor em Ciências Sociais – Antropologia – Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. M. Sc. em Ciência Ambiental – Universidade de São Paulo. Especialista em Gestão
de Recursos Humanos. Docente da Disciplina
Saúde Ambiental das Faculdades Integradas
Teresa D´Ávila – Fatea.
RESUMO
Há um discurso que permeia o meio empresarial e que defende a necessidade das
empresas em adotarem um programa de cursos de treinamento para seus atores
produtivos, com o objetivo de melhorarem a performance competitiva. Essa necessidade
está crescendo nas organizações e enfrenta uma zona de silêncio entre a expectativa para
com o programa de treinamento e os resultados efetivos desse treinamento no processo
produtivo. A problemática se instala diante da ineficácia do programa de treinamento.
Este trabalho explorou a hipótese da ausência de elementos que norteiam a qualidade
de vida no trabalho como fator gerador da ineficácia dos programas de treinamento. Os
resultados ratificaram tal hipótese, apresentando aproximadamente 40% dos principais
cursos de treinamento para empresas, oferecidos pelo mercado, com a exploração de
62,5% dos elementos da qualidade de vida do trabalho apresentados por WALTON
(1973) e atualizado por RODRIGUES (1994). Há também um tratamento inadequado
e próximo da ausência da temática de ações comunitárias e de responsabilidade social,
que ficou relegado a 5% dos cursos de treinamento avaliados. Portanto, a sugestão
para as Organizações é que devem investir em Cursos de treinamento, mas que os
Programas de Treinamentos escolhidos sejam capazes de conciliar desenvolvimento
pessoal, competência técnica, responsabilidade social e qualidade de vida no trabalho.
PALAVRAS-CHAVE:
Qualidade de Vida, Qualidade de Vida no Trabalho.
ABSTRACT
There is a discourse that permeates the business community and advocating the need for
companies to adopt a program of training courses for their productive actors, in order to
improve competitive performance. This need is growing within organizations and faces
a zone of silence between the expectation for the training program and actual results of
this training in the production process. The problem sets in front of the inefficiency of the
training program. This paper explored the hypothesis of the absence of evidence to guide
the quality of work life as a factor giving rise to the ineffectiveness of training programs.
These results confirm this hypothesis, showing approximately 40% of the major training
courses for companies, offered by the market, with the holding of 62.5% of the elements
of life quality of work presented by Walton (1973) and updated by Rodrigues (1994).
There is also an inappropriate treatment and near absence of the theme of community
action and social responsibility, who were relegated to 5% of training courses evaluated.
So the suggestion is that the organizations should invest in training courses, but that
the Selected Training Programs are able to combine personal development, technical
competence, social responsibility and quality of work life.
KEYWORDS:
Quality of Life, Quality of Working Life.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 20-35
INTRODUÇÃO
... Se você está interessado realmente em fazer seu negócio prosperar, deixe de
colocar empecilhos para com treinamentos de pessoas e comece já... Antes que
seja tarde demais..., comentários desse naipe são apresentados todos os dias
para as Organizações, com o objetivo de inserir um programa de treinamento
para os mais diferentes tipos de negócios do mercado.
No entanto, há um estado de desinteresse crescente se instalando no meio
organizacional quanto à eficácia dos cursos de treinamento. Este estado pouco
motivador diante dos cursos de treinamento veio nortear esse trabalho, criando
um espaço para se problematizar a eficácia desses cursos, que, em geral, têm
resultados pós-cursos, muito aquém daqueles esperados pelas organizações
junto aos seus colaboradores.
Há uma série de hipóteses, apresentadas pela literatura, para responder a
essa inquietação, que pode ser sintetizada como segue:
“... depois de aplicado, o programa de treinamento deve ser acompanhado.
Não adianta fazer treinamento, pequenas reuniões, ou programas de
incentivo se os empresários não acompanham seus funcionários... ou que
a maior parte da eficácia dos programas está mais no acompanhamento
do que no treinamento propriamente dito... ou ainda que a Chefia tem que
ser o modelo quando cobra de seus subordinados atitudes apropriadas.
Não adianta dizer ‘faça o que eu digo’... ‘se não faz o que é sugerido’; os
funcionários não acreditam e não executam...”. (OSSO, 2002, p.1)
Apesar dessa hipótese de OSSO (2002) ser tão abrangente ou generalista, não
está revertendo o quadro de descrédito para com os cursos de treinamento de
Recursos Humanos. Assim, este trabalho enunciou outra hipótese, que não
descartou as anteriores, que são bastante relevantes, mas vem somar outro
parâmetro, a Qualidade de Vida no Trabalho. Assim, a hipótese deste trabalho
pode ser enunciada como se segue: Os cursos de treinamento oferecidos para
as Organizações não exploram adequadamente os elementos da Qualidade de
Vida no Trabalho sugeridos por WALTON (1973).
Para testar esta hipótese foi desenvolvido um modelo de diagnóstico dos Cursos
de Treinamentos, oferecidos às Organizações quanto aos Elementos para a
Qualidade de Vida no Trabalho.
Dois grupos de informações foram delineados:
dos elementos para a qualidade de vida no trabalho; e
dos cursos de treinamentos para as organizações.
22
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.20-35
Para o grupo de elementos para a qualidade de vida no trabalho foram tomados
os conceitos de WALTON (1973), atualizados por RODRIGUES (1994) e
constam dos seguintes parâmetros:
1. Compensação Adequada e Justa
2. Condições de Segurança e Saúde do Trabalho
3. Oportunidade Imediata para a Utilização e Desenvolvimento da
Capacidade Humana
4. Oportunidade Futura para Crescimento Contínuo e Segurança
5. Integração Social na Organização de Trabalho
O Constitucionalismo na Organização do Trabalho
O Trabalho e o Espaço Total da Vida
A Relevância Social da Vida do Trabalho
Para o grupo referente aos os cursos de treinamentos oferecidos pelo mercado
para as organizações, foram tomados 20 (vinte) Cursos mais comuns do
mercado, com seus devidos ementários apresentados em seguida:
Treinamento 1 – Administração de Benefícios
Treinamento 2 – Administração de Cargos e Salários
Treinamento 3 – Abordagem Moderna da Análise de Desempenho
Treinamento 4 – Administração do Tempo e Delegação
Treinamento 5 – Como Negociar com Sucesso
Treinamento 6 – Como Gerenciar Equipes com Sucesso
Treinamento 7 – Desenvolvimento Comportamental
Treinamento 8 – Participação nos Lucros e Resultados
Treinamento 9 – Remuneração Estratégica – novas tendências
Treinamento 10 – Estratégia e Orientação para Cliente-Prestação de Serviço
Treinamento 11 – Desenvolvimento de Habilidades de Liderança
Treinamento 12 – Formação de Instrutores de Treinamento
Treinamento 13 – Liderança de Reuniões
Treinamento 14 – Técnicas de Apresentação
Treinamento 15 – Técnicas de Entrevista
Treinamento 16 – Treinamento Operacional e Manuais de Operação
Treinamento 17 – Implantação da Qualidade
Treinamento 18 – Administração de Pessoal
Treinamento 19 – Auxiliar Administrativo – Departamento Pessoal
Treinamento 20 – CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Esse referencial metodológico serviu de arcabouço para desenhar o perfil dos Cursos
de Treinamento para Organizações mais difundidos no mercado, quanto aos elementos
de Qualidade de Vida no Trabalho, bem como, sugerir inovações para uma possível
mudança paradigmática nesses cursos, que estão mais preocupados com os processos
de produção e menos com o potencial humano de seus clientes internos e externos.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 20-35
23
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Um cenário econômico que tenta responder aos desafios da globalização parece
que está levando as organizações a repensarem seus conceitos estruturais
e de competitividade. FERNADES (2001) apontou que muitas dessas
transformações têm resultados comprometidos, porque não incluem o fator
humano em suas inovações que deveriam passar por um programa de melhoria
da qualidade de vida no trabalho, a qual permitiria reconciliar os objetivos dos
indivíduos em situação de trabalho e os propostos pelas organizações.
FRANÇA (2002) acrescentou outros elementos para se pensar o tema
Qualidade de Vida no Trabalho nos dias atuais como a capacidade de
administrar as turbulências do mercado competitivo, com mudanças nos
hábitos pessoais e dos processos de trabalho, com foco no bem estar do dia a
dia e na longevidade mantendo uma excelente saúde biopsicossocial. Para
esta autora ainda, a gestão da qualidade de vida no trabalho nas empresas
que atuam no Brasil é heterogênea e muito dependente de uma liderança
que acredite estrategicamente nestas ações. Os programas mais tradicionais
atuam especialmente sobre a eliminação de doenças, condições de riscos
clínicos, benefícios e promoção de saúde. Outros, que são a minoria, investem
em educação, imagem corporativa através de políticas de qualidade de vida.
As ações comunitárias e de responsabilidade social, embora algumas vezes
associadas às metas de qualidade de vida no trabalho, se referem a cidadania
nas questões em torno da empresa e não diretamente na qualidade de vida
no trabalho.
A grande dificuldade de se estabelecerem medidas para a qualidade de vida,
seja genericamente para a vida, seja para seguimentos mais específicos como
o trabalho, abriu um espaço de silêncio na discussão. Porém, para WALTON
(1973), atualizado por RODRIGUES (1994), os elementos para a qualidade
de vida no trabalho foram eleitos e conceituados partindo dos seguintes
parâmetros:
1- Compensação Adequada e Justa
O conceito de compensação adequada é um tanto relativo, porém a honestidade
dessa compensação pode ser gerada por abordagens que passem pela relação
salário/experiência + responsabilidade; pela demanda de mão-de-obra; ou
ainda pela média da compensação da comunidade profissional em questão.
24
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.20-35
2 - Condições de Segurança e Saúde do Trabalho
Entre os vários fatores que podem envolver este item, alguns são muito
relevantes: razoabilidade para os horários de trabalho; padronização do período
de trabalho; ambiente físico de trabalho com menores riscos de doenças e danos;
relação entre tipo de trabalho e limite de idade para realizá-lo.
3 - Oportunidade Imediata para a Utilização e Desenvolvimento da
Capacidade Humana
Para dificultar a tendência do trabalho de ser fracionado, inabilitado e oneroso
quanto ao controle de sua qualidade, é importante investir na autonomia
do trabalho, nas múltiplas habilidades, na informação e perspectivas, na
completude das tarefas e no planejamento.
4 - Oportunidade Futura para Crescimento Contínuo e Segurança
Aqui se foca a atenção nas oportunidades da carreira e o quanto é importante
se investir na formação do cliente interno de uma organização. Para tanto,
é importante inventariar as habilidades recém-adquiridas para uso em
trabalho futuro, criar condições para que as atividades atuais possam expandir
as habilidades para um desenvolvimento futuro, garantir um processo de
progresso dentro da organização e criar um clima organizacional que inspire
a segurança de emprego ou de renda, associado ao trabalho do trabalhador.
5 - Integração Social na Organização de Trabalho
Para uma boa integração social no trabalho é importante atentar para os
seguintes elementos: a. ausência de preconceitos raciais, sexuais, religião,
nacionalidade, estilo de vida e aparência física; b. ausência de estratificação
organizacional, ressaltando um clima de comunidade na organização.
6 - O Constitucionalismo na Organização do Trabalho
Direitos e Deveres dos trabalhadores são elementos essenciais para se buscar
uma elevada qualidade de vida no trabalho. Dentre estes direitos é importante
destacar o direito à privacidade, o direito de posicionamento diante de cada
questão e o direito de tratamento justo para com a diversidade de assuntos
de uma organização.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 20-35
25
7 - O Trabalho e o Espaço Total da Vida
As relações pessoais / sociais ou em outras esferas da vida podem ser afetadas
por uma experiência positiva ou negativa no ambiente de trabalho. Portanto,
a relação entre o trabalho e o espaço total da vida deve obedecer a um critério
de equilíbrio, que pode ser exercitado dentro da própria organização.
8 - A Relevância Social da Vida do Trabalho
Nesse contexto de relevância social o trabalhador deve ter a oportunidade
de se sentir sua auto-estima ampliada, o que leva a um número crescente de
trabalhadores a valorizar seus trabalhos e carreiras.
CURSOS E TREINAMENTOS PARA ORGANIZAÇÕES
As empresas estão preocupadas com o estado acelerado da demanda por novas
tecnologias, novas metodologias e novos processos na concepção, na fabricação
e comercialização de seus produtos. Para tanto, nos últimos anos, estes atores
organizacionais vêm engrossando o mercado para cursos, entre os quais se destacam
os cursos e treinamentos para o desenvolvimento de clientes internos e com extensão
para os clientes externos.
Os cursos de treinamentos são os meios utilizados para levar o indivíduo à adquirir
habilidade para fazer o que faz, no menor tempo, com o menor esforço, com o menor
custo e com a maior eficiência (SILVEIRA, 2002).
Há inúmeros cursos e treinamentos neste vasto mercado, que necessitam ser
observados mais de perto. Neste sentido, este trabalho tomou 20 desses cursos
destinados a treinamentos nas organizações, os quais estão mais presentes no dia
a dia das organizações. Juntamente com os títulos dos cursos e treinamentos foi
possível acessar seus ementários, para compreender sua amplitude na eficácia de
sua proposta. A saber:
Treinamento 1 – Administração de Benefícios
Ementário: Impactos situacionais sobre benefícios; o papel da administração
de benefícios no contexto atual de RH; tipos de concessão de benefícios;
efeitos psicológicos do “direito adquirido”; seletividade de benefícios por
nível hierárquico; elegibilidade versus riscos tributários; benefícios flexíveis
– vantagens e desvantagens; principais benefícios; assistência médica;
previdência complementar; seguro de vida – pool internacional; veículo
designado – fórmula de mensuração; outros tipos – assistência alimentação,
26
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.20-35
transporte, creche, etc.; benefícios para aposentados; correlação entre novas
formas de emprego e a concessão de benefícios.
Treinamento 2 – Administração de Cargos e Salários
Ementário: A administração de salários no contexto de RH; descrição de cargos;
manual de descrição – pontos chaves; administração de carreiras; avaliação de
cargos; sistemas não quantitativos; sistemas quantitativos; carreiras técnicas;
curva de maturidade; pesquisa salarial; tipos de pesquisa – cargo ou job match;
definição do mercado e cargos chave; coleta de dados e tabulação; estrutura salarial;
tipos de estrutura/características básicas; sistemas de avaliação versus estrutura;
administração do salário base.
Treinamento 3 – Abordagem Moderna da Análise de Desempenho
Ementário: O papel da análise de desempenho na estratégia de RH; avaliação
de desempenho – problemas da abordagem convencional; vinculação rígida com
o processo de remuneração; avaliação de desempenho baseada em objetivos
inadequados e fatores de personalidade; avaliação de desempenho centrada nas
chefias; análise de desempenho – estratégia moderna; coerência com o processo
de remuneração; análise de desempenho integrada às estratégias da empresa;
oportunidade para ouvir as expectativas e motivações dos liderados; análise racional
dos pontos fortes e pontos a desenvolver – plano de ação; comprometimento do
líder em ajudar no desenvolvimento do liderado; consenso sobre objetivo macro da
área a ser atingido ao final do exercício; utilização de time de avaliadores – chefia,
pares, liderados, principais cliente internos e principais fornecedores internos.
Treinamento 4 – Administração do Tempo e Delegação
Ementário: As interdependências da administração do tempo e delegação com
as demais competências gerenciais; gerenciamento do tempo; registro diário das
responsabilidades e tarefas; como definir prioridades – critérios de importância
e urgência; pontos de estrangulamento gerados pelo próprio gerente; como
administrar os desperdiçadores de tempo do ambiente organizacional; como
otimizar adequadamente o tempo ganho; instrumentos práticos de planejamento
e controle do tempo; o processo de delegação; necessidades da delegação; como
delegar a autoridade e compartilhar a responsabilidade; vantagens e desvantagens
da delegação; os erros mais comuns da delegação; tarefas que podem e não podem
ser delegadas; como praticar o processo de delegação em 6 etapas; plano de ação;
como planejar a mudança na administração do tempo e delegação para a fase pós
treinamento.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 20-35
27
Treinamento 5 – Como Negociar com Sucesso
Ementário: Conceitos básicos sobre negociação; como identificar e negociar com
os estilos de negociação; o processo de negociação – Método de 4 pontos; analise
o objetivo da negociação; prepare a negociação; avalie a negociação; como criar
um clima de confiança na negociação; a influência do “saber ouvir” no processo de
negociação; o “feed back” construtivo; as sete regras para administrar o “insucesso”
da negociação; quais os comportamentos positivos e negativos mais comuns na
negociação; as táticas mais utilizadas no processo de negociação; os principais
erros da negociação.
Treinamento 6 – Como Gerenciar Equipes com Sucesso
Ementário: A dinâmica de grupo; fases do desenvolvimento da equipe; o trabalho
em equipe – tipos de grupos; regras para o sucesso de trabalho em equipe; como
dar e receber “feed back” construtivo; comportamentos grupais; administração
de conflitos; como administrar comportamentos inadequados; a importância do
consenso; técnicas para tomada de decisão grupal: brainstorming, NGT, Diagrama
de afinidades, etc.; a estrutura do processo grupal.
Treinamento 7 – Desenvolvimento Comportamental
Ementário: O processo eficaz da comunicação; conceitos e características do uso
adequado do “feed back”; os principais obstáculos à comunicação; como combater
os males do boato nas organizações; motivação: necessidades e objetivos; os
mecanismos de defesa da motivação; hierarquia das necessidades de Maslow; teoria
de motivação/higiene de Herzberg; teorias X e Y de Mcgregor; sucessão contínua de
comportamento de liderança de Tannenbaum e Schmidt; a grade gerencial de Blake
e Mouton; eficácia situacional – teoria 3D de Reddin; estilos gerenciais – Hersey
e Blanchard; a teoria do ciclo vital; regra para o sucesso do trabalho em equipe;
administração de conflitos grupais; técnicas para tomada de decisão em grupo.
Treinamento 8 – Participação nos Lucros e Resultados
Ementário: Participação nos lucros ou resultados?; centralização /
descentralização do processo; tipos de negociação (sindicato/empregados);
vínculo do PLR com a política de remuneração; estruturação da comissão de
negociação – empresa; treinamento (simulação) dos negociadores da empresa;
plano de divulgação (visibilidade, marketing dos conceitos chaves); eleição dos
representantes dos empregados; processo de negociação; regras para definição
dos parâmetros das metas e resultados (gatilho, limite máximo); fórmula
28
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.20-35
ideal de pagamento; acompanhamento da evolução das metas e resultados
negociados.
Treinamento 9 – Remuneração Estratégica – novas tendências
Ementário: Impactos organizacionais sobre a remuneração; definição do “Mix” ideal
à organização; alternativas de administração de salário base; ausência do mérito;
mérito parcial; mérito tipo “lump sum”; aumento por seniosidade; pagamento
por habilidade; pagamento por competência; benefícios - critérios de concessão;
benefício ideal versus níveis de risco; benefícios flexíveis; principais tipos de salário
variável; “Gainsharing”/ “Profitsharing”; bônus e gratificações; incentivos de longo
prazo; prêmios de reconhecimento; comissões; participação nos lucros e resultados
(Medida Provisória).
Treinamento 10 – Estratégia e Orientação para Cliente-Prestação de
Serviço
Ementário: A evolução da qualidade total na área de prestação de serviços;
necessidades e expectativas do cliente – conceituação; a importância de se
perguntar aquilo que o cliente deseja responder e não aquilo que se acha que o
cliente deseja responder; projeto visão cliente; definir objetivos – abrangência de
atuação; identificar os clientes – segmentar clientes para eventual atendimento
diferenciado; necessidades e expectativas segundo a visão do fornecedor;
necessidades e expectativas segundo a visão do cliente – focus groups; ajuste da
visão do fornecedor e clientes; priorização das necessidades a serem pesquisadas;
estruturação do questionário de pesquisa; pesquisa de avaliação da satisfação do
cliente; implantação do plano de melhoria.
Treinamento 11 – Desenvolvimento de Habilidades de Liderança
Ementário: A integração do líder nas funções da administração; o papel do líder
eficaz no desenvolvimento das organizações; como estabelecer uma relação
de parceria com o líder imediato; estratégias para enfrentar mudanças com
sucesso; planejamento: o uso prático na definição de objetivos; os princípios da
Organização – tendências atuais; a administração eficaz do próprio tempo e
dos liderados; delegação: importância e vantagens; os princípios da motivação;
processo de comunicação – utilização do “feed back”; os impactos negativos dos
boatos; a prática comportamental das teorias situacionais de estilos gerenciais;
técnicas para coordenação de reuniões; a avaliação de desempenho tradicional
versus o processo de compromisso de desenvolvimento entre líder e liderado;
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 20-35
29
como ter sucesso no trabalho em equipe – técnicas e administração de conflitos.
Treinamento 12 – Formação de Instrutores de Treinamento
Ementário: A importância do treinamento na consecução das metas de
produtividade e qualidade das áreas da empresa; levantamento de necessidades
– conceituação e tipos diferenciados pelo nível funcional; técnicas de elaboração
do manual do participante; elaboração do manual do instrutor – resumo de
conteúdo programático classificado em itens do programa/texto/guia/técnicas e
recursos audiovisuais utilizados; regras básicas para a difusão eficaz; métodos e
técnicas de treinamento; preparação de recursos audiovisuais; utilização didática
dos recursos audiovisuais; avaliação da aprendizagem (tipos de provas teóricas e
práticas); avaliação de reação.
Treinamento 13 – Liderança de Reuniões
Ementário: Planejamento e preparação das reuniões – perguntas chaves;
métodos para tomada de decisão em grupo; princípios e regras sobre o processo
decisório grupal; o papel do coordenador da reunião; preparar a reunião – pauta,
participantes, material e local; assegurar a dinâmica positiva da reunião pela
eficácia no uso de perguntas chaves; conseguir a participação equilibrada de todos os
integrantes da reunião; assegurar a consecução dos objetivos da reunião; avaliação
e registros das reuniões – tipos de atas; principais tipos de reuniões; quando fazer
e quando não fazer reunião.
Treinamento 14 – Técnicas de Apresentação
Ementário: Benefícios pessoais e profissionais para os apresentadores;
características chaves de uma apresentação eficaz; como preparar sua apresentação
com eficácia; conhecer os participantes; pesquisa do assunto; definir os objetivos e
ideias centrais; profundidade do conteúdo em função da plateia, objetivos e tempo
disponível; o planejamento dos recursos didáticos; suportes didáticos – os três diga
a eles, as transições, os fatores de atenção; como selecionar e preparar os recurso
audiovisuais; as técnicas de treinamento; regras práticas como elaborar o manual
do participante; o roteiro do apresentador/instrutor; as técnicas de apresentação; a
utilização adequada da voz; as expressões não verbais; harmonia com a linguagem
verbal; como encarar o medo com naturalidade; administrando o estresse; a técnica
das perguntas; como gerenciar situações e participantes problemas; a avaliação
das palestras e cursos/seminários; plano de ação para a fase pós-treinamento.
30
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.20-35
Treinamento 15 – Técnicas de Entrevista
Ementário: O papel da entrevista face ao processo de recrutamento e seleção;
entrevista de seleção e entrevista técnica: papel e responsabilidades; os principais
tipos de entrevista; métodos mais eficazes na aplicação da entrevista; roteiro
da entrevista; preparação – análise do currículo; realização – aspectos pessoais
e profissionais; interpretação dos dados – registro das entrevistas, currículo,
referências; avaliação dos candidatos – perfil ideal do cargo versus perfil dos
candidatos; perguntas chaves; regras básicas para uma entrevista eficaz.
Treinamento 16 – Treinamento Operacional e Manuais de Operação
Ementário: Análise do posto – Manual de Operação; perfil do posto (características
psicofísicas); procedimentos operacionais, decomposição dos postos em funções,
tarefas, operações e passos, análise de risco; análise do saber/saber fazer
identificação dos conhecimentos gerais, tecnológicos e específicos (saber); análise do
nível de complexidade das operações (saber fazer), através dos critérios percepção
das informações; qualidade da resposta; tempo de resposta e consequências dos
erros; estruturação do treinamento teórico; formulação dos módulos teóricos;
manual do participante (apostila); manual do instrutor (texto guia, técnicas de
treinamento, recursos audiovisuais); consolidação do manual de operação.
Treinamento 17 – Implantação da Qualidade
Ementário: Conceituação da qualidade; abordagem corretiva; abordagem
preventiva; abordagem estratégica; qualidade total; gestão pela qualidade; missão,
política, cultura e política da empresa; técnicas de gerenciamento; controle, análise
e melhoria de processos; normatização e padronização de sistema de qualidade;
auditoria de sistema de qualidade; metodologias de implantação; housekipping; 5S.
Treinamento 18 – Administração de Pessoal
Ementário: Recrutamento e seleção de pessoal; admissão de pessoal, horário e
jornada de trabalho, folha de pagamento, 13o salário, férias; poder disciplinador
do empregador; rescisão de contrato de trabalho; seguro desemprego; impressos,
tabelas e cálculos referentes a assuntos de administração de pessoal.
Treinamento 19 – Auxiliar Administrativo – Departamento Pessoal
Ementário: Introdução à administração trabalhista; aspectos legais da duração
do trabalho; aspectos legais da remuneração; aspectos legais das férias; aspectos
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 20-35
31
legais do 13o salário; aspectos legais da rescisão do contrato de trabalho.
Treinamento 20 – CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Ementário: A segurança e a saúde do trabalhador; estudo da NR-5; acidentes e
doenças do trabalho; legislação trabalhista e previdenciária; higiene do trabalho
e medidas e controle de riscos; riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos;
risos de acidentes e de incêndios; AIDS: noções básicas e medidas de prevenção.
RESULTADOS
A matriz de análise utilizada para avaliar os Elementos para a Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT) (WALTON, 1973 in RODRIGUES, 1994), contido ou explorado pelos
20 cursos e treinamentos trabalhados por este espaço, pode ser observada abaixo:
Matriz Análise dos Elementos para a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)
(WALTON, 1973 apud RODRIGUES, 1994), sobre os cursos e treinamentos.
Treinamentos ►
10 ∑
%
Constitucionalismo na
Organização do Trabalho
8
40
O Trabalho e o Espaço Total
da Vida
4
20
A Relevância Social da Vida do
Trabalho
1
5
Compensação Adequada e Justa
8
40
Oportunidade imediata para a
utilização e desenvolvimento da
Capacidade Humana
7
35
Oportunidade Futura para
o Crescimento Contínuo e
Segurança
8
40
▼Elementos QVT
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.20-35
Condições de Segurança e Saúde
do Trabalho
4
20
Integração Social na
Organização de Trabalho
8
40
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑
%
Constitucionalismo na
Organização do Trabalho
8
40
O Trabalho e o Espaço Total
da Vida
4
20
A Relevância Social da Vida do
Trabalho
1
5
Compensação Adequada e Justa
8
40
Oportunidade imediata para a
utilização e desenvolvimento da
Capacidade Humana
7
35
Oportunidade Futura para
o Crescimento Contínuo e
Segurança
8
40
Condições de Segurança e Saúde
do Trabalho
4
20
Integração Social na
Organização de Trabalho
8
40
Treinamentos ►
▼Elementos QVT
Compilando os resultados temos:
Constitucionalismo na Organização do Trabalho, Compensação Adequada e Justa,
Oportunidade Imediata para a Utilização e Desenvolvimento da Capacidade
Humana, Oportunidade Futura para o Crescimento Contínuo e Segurança e
Integração Social na Organização de Trabalho foram os elementos necessários
para a qualidade de vida no trabalho presentes em cerca de 35 a 40% dos cursos
e treinamentos avaliados, representando de 7 a 8 desses cursos e treinamentos.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 20-35
33
Somente 62,5% dos elementos da qualidade de vida no trabalho foram
contemplados por até 40% dos cursos de treinamento.
Os elementos Trabalho e Espaço Total da Vida e Condições de Segurança
e Saúde no Trabalho compuseram 4 dos cursos e treinamentos avaliados,
representado somente 20% do total.
A Relevância Social da Vida no Trabalho ficou relegada a apenas um dos cursos
e treinamentos avaliados, perfazendo 5% do total de 20 cursos e treinamentos
tratados.
CONCLUSÕES
Há uma tendência de se associar as dificuldades econômicas de uma empresa
a situações que se originam em seu exterior, ignorando o dia a dia de seu
ambiente interno. A maioria dos problemas é criada dentro da própria empresa,
e muitas vezes por falta de um gerenciamento adequado das mudanças prédificuldades. Outras vezes, as dificuldades já estão instaladas, mas em estado
latente, esperando algumas decisões para que se manifestem. Nesse contexto,
equivale dizer que os problemas estão diretamente relacionados a tomadas de
decisão, e esta decisão se relaciona, também diretamente, com o nível pessoal
de cada ator humano produtivo.
Diante desse argumento, há necessidade de se investir em uma política de
treinamento intensivo e permanente para cada setor da Organização. Porém, a
maioria dos cursos de treinamentos oferecidos pelo mercado não responde a esse
parâmetro de desenvolvimento pessoal, mas sim ao treinamento técnico, que
embora importante, há de dialogar com a pessoa que compõe o processo de produção.
Este trabalho pode constatar que dos principais cursos de treinamento
oferecidos pelo mercado, 60%, não exploram adequadamente os elementos de
Qualidade de Vida no Trabalho sugeridos por WALTON (1973), atualizados
por RODRIGUES (1994), e os 40% restantes, não exploram a totalidade dos 8
elementos para essa qualidade.
Consideramos que os Cursos de Treinamento deveriam criar um clima
organizacional para mudanças nos hábitos pessoais e dos processos de trabalho.
Focar o bem-estar cotidiano e a longevidade como resultando de uma excelência na
saúde biopsicossocial. O que se observou foi um contingente, de no máximo 40%
dos cursos, que poderiam contribuir para focar a qualidade de vida no trabalho.
Os resultados pareceram mais animadores quando comparamos com os
comentários de FRANÇA (2002), que afirmou que os programas mais
tradicionais dos cursos de treinamento atuam especialmente sobre a eliminação
34
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.20-35
de doenças, condições de riscos clínicos, benefícios e promoção de saúde; para
esta análise, os resultados mostraram que somente 20% dos Cursos avaliados
apresentavam este perfil. No entanto, houve concordância com a autora, com
relação ao tratamento inadequado e quase ausente da temática de ações
comunitárias e de responsabilidade social, que ficaram relegados a 5% dos
cursos de treinamento avaliados.
Portanto, é possível admitir que a hipótese trabalhada foi confirmada:
“Os cursos de treinamento oferecidos para as Organizações não exploram
adequadamente os elementos da Qualidade de Vida no Trabalho sugeridos
por WALTON (1973)”.
Estes resultados não devem desestimular as Organizações quanto aos Cursos
de Treinamentos, mas têm por objetivo incentivar e orientar o investimento e
a escolha dos Cursos de treinamentos, adotando Programas de Treinamentos
capazes de criar um movimento dialógico entre o desenvolvimento pessoal e
a competência técnica, objetivando a promoção de mudanças, isto é, capacitar
os atores humanos produtivos a fazerem uma troca de paradigma; o que
pode determinar a facilidade ou dificuldade de cada um conseguir isto, vai
mostrar ainda, que depende da Plasticidade (flexibilidade) de cada pessoa. É
imprescindível compreender que a plasticidade é a capacidade da pessoa em
poder trocar de paradigma para trazer benefícios para a Organização.
REFERÊNCIAS
FERNANDES, E. Qualidade de Vida no Trabalho. São Paulo: MLP Assessoria
Imprensa Casa da Qualidade Editora, 2001.
FRANÇA, A.C.L. Qualidade de Vida no Trabalho.
OSSO, S.I. Treinamento: você tem que pensar nisso. Disponível em: http://siosso.
vilabol.uol.com.br/treinamento.htm.
RODRIGUES, M.V.C. Qualidade de Vida no Trabalho: evolução e análise no nível
gerencial. 8ed. Petrópolis: Vozes, 1994.
SILVEIRA, J. Por que cursos, seminários, workshops, treinamentos, etc. na e/ou para
empresas?
WALTON, R.E. Quality of Working Life: what is it? Sloan Management, Review,
v.15(1):11-21, 1973.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 20-35
35
Ocorrência de Úlcera por Pressão em uma
Instituição Hospitalar
no Interior de São Paulo
Ana Beatriz Pinto da Silva Morita
Enfermeira e Pós-graduada em Estomaterapia pela Universidade de Taubaté. Mestre no
Cuidar em Enfermagem pela Universidade de Guarulhos. Professora e Coordenadora do
Curso de Enfermagem da Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila (FATEA).
Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Enfermeira, Mestre em Enfermagem pela UNICAMP e Doutoranda em Enfermagem pela
Universidade São Paulo. Professora na Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila (FATEA).
Simone Aparecida Santos Silva
Enfermeira e Pós-graduada em Saúde Coletiva pela
Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila (FATEA).
Tatiana Roberta Galante
Enfermeira pela Faculdades Integradas Teresa
D’ Ávila (FATEA).
RESUMO
Este estudo parte do princípio que as úlceras por pressão surgem com maior frequência
durante o período de internação dos pacientes. Sendo assim, pretendeu-se pesquisar a
ocorrência de úlcera por pressão em uma instituição hospitalar localizada no interior
de São Paulo para conhecer a realidade em nossa comunidade e com isto obter subsídio
para futuros estudos. Tem como objetivo verificar a ocorrência de UP na clínica médica
feminina e masculina em uma instituição hospitalar no interior de São Paulo, investigar
origem (domiciliar ou hospitalar) e localização anatômica da UP e caracterizar o perfil
do portador da úlcera por pressão. É um estudo descritivo-exploratório prospectivo de
abordagem quantitativa. Após autorização do Comitê de Ética e Pesquisa, o paciente
ou familiar responsável após ouvir as explicações necessárias das pesquisadoras quanto
ao estudo, que permitiram sua participação, assinaram o termo de consentimento
livre e esclarecido. Os dados foram coletados durante 30 (trinta) dias consecutivos. O
resultado obtido neste estudo foi de quatro UP de origem equitativa, demonstrando que
a origem não focou somente a instituição, mas também o domicílio, não correspondendo
ao esperado. Dessa forma, conclui-se que os resultados encontrados evidenciaram que
ainda existem pontos a serem explorados nesta área.
PALAVRAS CHAVE:
Úlcera por pressão, Escala de Braden, Enfermagem.
ABSTRACT
Este estudo parte do princípio que as úlceras por pressão surgem com maior frequência
durante o período de internação dos pacientes. Sendo assim, pretendeu-se pesquisar a
ocorrência de úlcera por pressão em uma instituição hospitalar localizada no interior
de São Paulo para conhecer a realidade em nossa comunidade e com isto obter subsídio
para futuros estudos. Tem como objetivo verificar a ocorrência de UP na clínica médica
feminina e masculina em uma instituição hospitalar no interior de São Paulo, investigar
origem (domiciliar ou hospitalar) e localização anatômica da UP e caracterizar o perfil
do portador da úlcera por pressão. É um estudo descritivo-exploratório prospectivo de
abordagem quantitativa. Após autorização do Comitê de Ética e Pesquisa, o paciente
ou familiar responsável após ouvir as explicações necessárias das pesquisadoras quanto
ao estudo, que permitiram sua participação, assinaram o termo de consentimento
livre e esclarecido. Os dados foram coletados durante 30 (trinta) dias consecutivos. O
resultado obtido neste estudo foi de quatro UP de origem equitativa, demonstrando que
a origem não focou somente a instituição, mas também o domicílio, não correspondendo
ao esperado. Dessa forma, conclui-se que os resultados encontrados evidenciaram que
ainda existem pontos a serem explorados nesta área.
KEY WORDS:
Ulcer for pressure, Scale of Braden, Nursing.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 36-51
37
INTRODUÇÃO
As úlceras por pressão (UP) são conhecidas desde o início dos tempos, sendo
objeto de estudos em relação a sua manifestação no doente e ao seu tratamento
(DEALEY, 1996). Sempre foram um problema para os serviços de saúde,
especialmente para as equipes de enfermagem pois a incidência é alta e
encontram-se dificuldades em preveni-las e tratá-las, além de prolongar a
internação do paciente (JORGE e DANTAS, 2005).
O National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), órgão norte-americano
que se reúne periodicamente para sistematizar, levantar dados estatísticos
e estabelecer diretrizes para prevenção e tratamento de úlcera por pressão,
menciona prevalências variáveis conforme a clientela, e o tipo de instituição,
como 3% a 14% em hospitais gerais, 15% a 25% em serviços de pacientes
crônicos e 7% a 12% em atendimento domiciliar (JORGE e DANTAS), e inseri
também a UP como um indicador de qualidade do cuidado prestado aos
pacientes hospitalizados (RANGEL, 2004).
Em 1989, a NPUAP promoveu a primeira Conferência Nacional de Consenso
para alertar sobre a gravidade do problema da UP e despertar a necessidade
de atenção, principalmente dos órgãos do governo americano (COSTA, 2003).
Em estudos realizados na Europa, Canadá, e África do Sul, de 3% a 11% dos
pacientes hospitalizados apresentam UP. Outros autores relatam que as UPs
são complicações comuns em pacientes com curto ou longo tempo de internação
e que em unidades de terapia intensiva (UTI) a incidência de UP em doentes
cirúrgicos atinge o índice de 17% (FERNANDES, 2000).
Os avanços tecnológicos têm contribuído significantemente para o progresso
dos tratamentos e cuidados com os pacientes hospitalizados. É necessário,
porém, que os profissionais saibam fazer uso dessa tecnologia para promover
uma melhor qualidade no atendimento (COSTA, 2003).
A necessidade do conhecimento científico nessa área é destacada por vários
autores, no sentido da busca da qualidade de assistência, pois é uma área na
qual frequentemente a prática é baseada em mitos, tradições e conhecimento
comum (RANGEL, 2004).
Na busca por uma melhor qualidade da assistência nos serviços de saúde, é
importante reconhecer a UP como um problema extenso capaz de interferir
nessa qualidade, sendo, portanto, necessário que não só os enfermeiros, mas
toda a equipe multiprofissional esteja envolvida e estimulada a conhecer
e entender o que são as UPs, suas causas e os fatores de riscos, a fim de
implementarem ações efetivas de prevenção e tratamento (COSTA, 2003) .
A perda da integridade da pele produz, então, significantes consequências
38
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.36-51
para o indivíduo, para a instituição e para a comunidade (JORGE e DANTAS,
2005, p. 287-96).
A UP é uma lesão que pode apresentar um período de desenvolvimento bastante
rápido e após sua instalação, o paciente pode experimentar um período de
hospitalização ainda mais longo, causando-lhe sofrimento pela dor física,
sofrimento emocional pelos diversos aspectos de uma hospitalização longa e pela
própria lesão e, muitas vezes, causa deformações e exposição a complicações
mais sérias ocasionadas pela presença da úlcera (sepse, osteomielite, celulite,
etc) (FERNANDES, 2000).
A equipe de enfermagem deve olhar holisticamente o cliente com UP. Além de
conhecer o processo cicatricial e sistêmico das UPs, deve-se procurar as causas
do estabelecimento de determinadas lesões. Tais considerações implicam o
estado nutricional, presença de infecções, à função dos diferentes sistemas.
Assim, a enfermagem estará buscando princípios científicos para identificação
e eliminação dos agentes que causam as UPs (MENEGHIN e LOURENÇO,
1998, p. 13-19).
Existe um custo em se tratar UP, mas também há um custo relacionado
com sua prevenção, geralmente menos dispendioso, principalmente no que
se refere aos aspectos psíquicos e sociais relacionados ao sofrimento do
paciente e família. Esses custos têm impulsionado os profissionais de saúde,
particularmente os enfermeiros, a desenvolverem estratégias para mudar tal
situação (PARANHOS, 1999).
Os custos estimados para o tratamento de UP nos Estados Unidos da América
(EUA), são cerca de U$2000 a U$2500 por indivíduo por ano, o que é associado
aos dados de prevalência e incidência que refletem o escopo do problema
e a consequente preocupação revelada através das constantes e recentes
publicações acerca do tema (PARANHOS, 1999). No Brasil, infelizmente,
ainda não foram encontrados estudos que demonstrem o valor estimado para
o tratamento de UP.
Com base nas informações supracitadas, vivência prática das autoras na
fase da graduação e na literatura nacional e internacional, este estudo parte
do princípio que as UPs surgem com maior frequência durante o período de
internação dos pacientes. Sendo assim, pretende-se pesquisar a ocorrência de
UP em uma instituição hospitalar localizada no interior de São Paulo para
conhecer a realidade em nossa comunidade e com isto obter subsídio para
futuros estudos.
A pele é o maior órgão do corpo, constituindo cerca de 10% do peso corporal.
Está constantemente exposta a agressões físicas e mecânicas permanentes ou
não. As funções da pele são: proteção, sensibilidade, termorregulação, excreção,
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 36-51
39
metabolismo e imagem corporal (HESS, 2002).
A pele possui duas camadas: a epiderme, mais superficial, e a derme, subjacente
àquela. A derme é rica em fibras colágenas e elásticas e dão à pele a capacidade
de distender-se quando tracionada, voltando ao seu estado original quando a
tração é interrompida. É ricamente irrigada, possuindo uma extensa rede de
capilares e nervos. Repousa na tela subcutânea, que é rica de tecido adiposo
(SILVA, 1998).
Quando a integridade da pele é alterada e aparece uma ferida, inicia-se o
processo de cicatrização. A primeira fase é a inflamatória, seguida pela fase
proliferativa e a fase final é a fase de maturação ou remodelagem. Os pacientes
que não apresentam condições de comprometimento sistêmico passam por
todas as fases de cicatrização sem dificuldade (HESS, 2002).
A UP, um dos principais exemplos de integridade da pele prejudicada,
representa uma ameaça direta para o indivíduo, causando desconforto,
prolongamento da doença, demora na reabilitação e alta, podendo até levar à
morte por sepse (PARANHOS, 1999).
É definida como uma área localizada de morte celular, desenvolvida quando um
tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura
por um período prolongado de tempo (RANGEL, 2004; NPUAP, 1989, p. 24-28).
As UPs podem desenvolver-se em proeminências ósseas e ocorre em maior
frequência nas regiões: sacra, coccígea, tuberosidade isquial, trocanteriana,
escapular, occipital e maléolos laterais, podendo também se desenvolver em
outros locais do corpo sob excesso de pressão (HESS, 2002).
Apesar de existirem outros fatores de risco envolvidos no desenvolvimento das
UPs, a principal causa é, portanto, a pressão constante mantida por um certo
período de tempo (HESS, 2002).
A pressão normal de fechamento capilar é de aproximadamente 32 mmHg nas
arteríolas e 12 mmHg nas vênulas. A pressão externa maior que 32 mmHg
pode causar dano por restrição do fluxo sanguíneo para a área. Uma vez que a
pressão é aplicada em tecidos moles por longo período, vasos capilares podem
colapsar ou trombosar (RANGEL, 2004).
A baixa intensidade da pressão por um longo período de tempo pode causar o
mesmo dano que uma pressão de alta intensidade e curta duração. Os tecidos do
corpo têm diferentes tolerâncias para a pressão e isquemia, sendo que o tecido
muscular é mais sensível do que a pele (2). A continuidade da oclusão capilar leva
à falta de oxigênio e nutrientes e ao acúmulo de restos tóxicos que acarretam
primeiramente a necrose muscular, de tecido subcutâneo e, por fim, necrose
da derme e epiderme (BLANES, YOSHITOME E FERREIRA, 1989. P. 37-45).
40
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.36-51
Existem ainda outros fatores considerados secundários que contribuem para
o desenvolvimento da úlcera por pressão: são os intrínsecos e os extrínsecos.
Os intrínsecos são: estado nutricional do paciente, anemia, imobilidade,
infecção e febre, pele sensível, distúrbios vasculares, diminuição ou perda da
tonicidade muscular, distúrbios neurológico e fecal, bem como envelhecimento.
Os extrínsecos são aqueles que atuam nos tecidos, umidade, higiene deficiente
do paciente e do leito, uso de instrumentos ortopédicos, repouso em superfícies
duras, colocação inadequada e prolongada de comadre, injeções repetidas no
mesmo local, posicionamento de agentes químicos e físicos (RANGEL, 2004).
Em 1989, o NPUAP apresentou a classificação dos estágios da úlcera por
pressão. A Agency for Health Care Policy and Research – AHCPR, em 1992,
adotu-o para identificação e clarificação do nível de lesão da UP, permitindo a
uniformização das informações (FERNANDES, 2000; NPUAP, 1989, p. 24-28).
Estágios da úlcera por pressão (UP):
Estágio I – Eritema da pele intacta que não embranquece após remoção
da pressão. Em indivíduos com a pele mais escura, a descoloração da pele,
o calor, o edema ou endurecimento também pode ser indicadores;
Estágio II – Perdas parciais da pele envolvendo a epiderme, derme ou
ambas. A úlcera é superficial e apresenta-se como uma abrasão ou cratera
rasa;
Estágio III – É a perda da pele na sua espessura total, envolvendo danos
ou necrose do tecido subcutâneo que pode se aprofundar, não chegando até
à fáscia. A úlcera se apresenta clinicamente como uma cratera profunda.
Estágio IV – Perda da pele na sua total espessura com uma extensa
destruição, necrose dos tecidos ou danos aos músculos, ossos ou estruturas
de suporte como tendões ou cápsulas das juntas.
Para aplicar esta classificação com segurança, a enfermeira deve saber
identificar a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo e diferenciar o tecido
granulado, músculo, tendões e ossos (SILVA, 1998).
Para identificar os fatores preditivos para o desenvolvimento de UP, vários
autores têm desenvolvido e implementado algumas escalas como as de Norton,
Gosnel, Wartelow e a de Braden, dentre outras (COSTA, 2003).
O enfermeiro, dentro da equipe de enfermagem, é o profissional habilitado a
avaliar e diagnosticar os indivíduos em risco de desenvolver a UP, além de
assegurar o tratamento adequado e individualizado.
O público exige cada vez mais dos profissionais a responsabilidade pelos
resultados de suas ações, e o enfermeiro precisa ter conhecimentos e habilidades
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 36-51
41
para que o cuidado de enfermagem seja eficiente e seguro (RABEH 2001).
OBJETIVOS
Verificar a ocorrência de UP na clínica médica feminina e masculina em uma
instituição hospitalar no interior de São Paulo;
Investigar origem (domiciliar ou hospitalar) e localização anatômica da UP;
Caracterizar o perfil do portador da UP.
MÉTODOS
Estudo descritivo-exploratório de abordagem quantitativa, realizado numa
instituição hospitalar situada no Vale do Paraíba, estado de São Paulo (a
instituição hospitalar teve garantia de anonimato). A população estudada
constituiu-se de todos os pacientes adultos (a partir de 40 anos) internados nas
clínicas médicas feminina e masculina independente de sexo, raça e patologia
associada, e que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
Esta população foi escolhida devido aos aspectos fisiológicos que acometem os
indivíduos a partir desta idade.
A literatura demonstra que com o avanço da idade há alteração da espessura
epidérmica, entre elas a perda muscular, suas propriedades como a percepção
da dor e da resposta inflamatória, ficando assim a pessoa idosa mais suscetível
às Ups (FERNANDES, 2000; BLANES, DUARTE, CALIL e FERREIRA, 2003).
Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades
Integradas Teresa D’Ávila–FATEA na cidade de Lorena com o número de
protocolo do parecer 12/2006, foi agendada com a gerente de Enfermagem
da instituição a data para a coleta dos dados. Na ocasião da coleta dos dados
os pacientes selecionados foram informados quanto aos objetivos do estudo,
a garantia do seu anonimato, ausência de sansões ou prejuízos pela não
participação ou pela desistência, a qualquer momento, o direito de resposta às
dúvidas e a inexistência de qualquer ônus financeiro ao participante. Os que
concordaram em participar da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Os dados foram coletados pelas autoras da pesquisa
durante 30 (trinta) dias consecutivos entre os dias 12 de Fevereiro e 13 de
Março por meio de visita aos pacientes admitidos neste período, quando foi
realizado o exame físico pelas autoras da pesquisa no dia de sua admissão e
alta em busca de indícios de UP, que se caracteriza por eritema da pele intacta
no estágio I, perda parcial da pele envolvendo epiderme, derme ou ambas no
42
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.36-51
estágio II, necrose do tecido subcutâneo no estágio III e danos aos músculos,
fáscias e ossos no estágio IV.
Como instrumento de coleta foi utilizado um formulário de admissão e de alta
(Anexo 1), com questões acerca do paciente (idade, sexo) e questões acerca da
úlcera por pressão (origem, localização anatômica, estágios). Os resultados
foram inseridos em uma planilha do programa Microsoft Excel e foram
representados em forma de tabelas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A clínica médica feminina e masculina onde foi realizado o estudo constitui-se
de 30 e 16 leitos respectivamente, totalizando 46 leitos.
A partir da aplicação do instrumento de coleta de dados obtiveram-se o perfil
e o tempo de internação da população participante do estudo, apresentados
em tabelas:
Quadro 1: Distribuição da população com UP e sem UP, segundo a variável idade, tempo de internação
e sexo. Lorena, 2007.
Pacientes
Variáveis
Sexo
Idade
Tempo de
Internação
Com UP
Sem UP
N
%
N
%
Feminino
2
50%
59
54,4%
Masculino
2
50%
50
45,88%
Total
4
100%
109
100%
Min/ Max
65 / 83
40 / 92
Média
77,75
62,66
Mediana
81
64
DP
8,77
13,57
Variância
76,92
184,1
Min/ Max
3 / 15
1 / 22
Média
8,75
4,64
Mediana
8,5
4
5,68
3,36
32,3
11,30
DP
Variância
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 36-51
43
No período de 30 dias foram avaliados 113 pacientes.
A idade dos portadores das UPs deste estudo foi entre 65 e 84 anos, com a
média de idade de 77,7 anos dos pacientes com UP e 62,6 sem UP. O público
alvo restringiu-se a indivíduos do sexo feminino e masculino acima de 40 anos,
devido a idade ser um fator predisponente ao aparecimento das UPs.
A idade influenciou nos resultados do estudo, pois a literatura demonstra
que com o avanço da idade muitas transformações fisiológicas ocorrem,
alterando a espessura epidérmica, entre elas a perda da massa muscular,
diminuição da camada dérmica, da sua vascularização, suas propriedades como
a percepção da dor e da resposta inflamatória. São mudanças que ocorrem
lenta e progressivamente, ficando então a pessoa idosa mais suscetível as UPs
(FERNANDES, 2000; MENEGHIN e LOURENÇO, 1998; BLANES, DUARTE,
CALIL e FERREIRA, 2003).
De acordo com o estudo de Blanes, Duarte, Calil e Ferreira (2003) a média
de idade dos pacientes com UP foi de 64 anos, contrapondo com 77,7 anos da
população deste estudo, não havendo grandes alterações. Em outro estudo, mas
não utilizando a referência média de idade e sim a faixa etária, foi constatado
na população mais idosa, acima de 61 anos 18,2%, tendo concentração baixa
provavelmente por se tratar de um serviço de admissão, retaguarda e clínica
neurológica do Pronto Socorro de um hospital geral de clínicas e universitário
no Município de São Paulo (MENEGHIN e LOURENÇO, 1998).
A presença de UP nos pacientes hospitalizados foi a mesma em ambos os sexos,
sendo dois (50%) femininos e dois (50%) masculinos. Não foram encontrados
na literatura trabalhos que relacionem a presença de UP com o sexo masculino
e feminino.
A média entre os sexos dos pacientes sem UP teve uma leve predominância
no sexo feminino com 61 (54,12%) das internações.
O presente estudo também pôde nos demonstrar que o tempo de internação
variou de 3 a 15 dias, com média de 8,7 dias para os pacientes portadores de
UP e 4,6 dias para pacientes sem UP. Um dos estudos demonstrou que 7,7%
dos pacientes acamados em hospitais podem desenvolver UP em uma semana
e incidência de 24% em unidades geriátricas ou ortopédicas durante períodos
de internação de até três semanas. Por outro lado, a presença da UP pode vir a
prolongar o tempo de internação, devido a suas particularidades no tratamento
(BLANES, DUARTE, CALIL e FERREIRA, 2003).
Comparando sexo, idade e tempo de internação observa-se que o tempo
de internação no sexo feminino foi bastante expressivo sendo de 13,5 dias
contrapondo-se à média de 4 dias no sexo masculino. Partindo destes dados
44
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.36-51
constata-se que apesar dos sujeitos masculinos permanecerem por um tempo
menor e terem uma idade menor, o número de ocorrência de UP foi igual ao do
sexo feminino. Fato este, que provavelmente se justifica pelo sujeito masculino
encontrar-se confuso, agitado, necessitando de restrição. A literatura mostra
que a restrição da mobilidade corporal dificulta a mudança de posição corporal
levando o indivíduo a desenvolver a UP (FERNANDES, 2000).
Quadro 2: Distribuição dos pacientes com e sem UP segundo o sexo. Lorena, 2007.
Variáveis
Masculino
C/ UP
S/ UP
C/ UP
S/ UP
79/84
40/92
65/83
41/90
Média Mediana
81,5
61,03
74
64,58
DP
81,5
62
74
65,5
Variância
3,536
13,65
12,73
13,35
12,5
186,4
162
178,2
12/15
0/22
3/5
0/13
13,5
5,0847
4
4,12
Min / Max
Idade
Feminino
Min / Max
Média Mediana
Tempo de
DP
Internação
Variância
13,5
5
4
3
2,1213
3,4205
1,4142
3,2491
4,5
11,7
2
10,557
A média de idade do sexo feminino com UP foi maior do que no sexo masculino,
sendo de 81,5 anos.
O tempo de internação também foi bastante expressivo no sexo feminino,
sendo de 13,5 dias.
Segundo FERNANDES (2000), é de suma importância a implantação de
campanhas preventivas da UP, especialmente quanto à faixa etária atingida,
fatores de risco, tempo de permanência no hospital e desenvolvimento de
sequelas (FERNANDES 2000).
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 36-51
45
Quadro 3: Distribuição conforme tempo de internação e local de origem. Lorena, 2007.
Origem da UP
Tempo de Internação
Total
1-5
6-10
11-15
Domiciliar
2
-
-
2
Hospitalar
2
-
-
2
Total
4
-
-
4
A origem da UP não variou quantitativamente, sendo o mesmo resultado para
ambos. Dois (50%) hospitalar e dois (50%) domiciliar.
Os portadores das UPs de origem domiciliar eram acometidos por patologias
que os impediam de deambular e limitavam sua movimentação no leito. Foi
observado um grande despreparo do familiar e/ou do cuidador no cuidado
profilático dessas lesões em pacientes acamados, sendo importante uma
sistematização de orientação aos familiares e/ou cuidadores na alta hospitalar
e um bom acompanhamento ambulatorial.
O tempo de internação para o desenvolvimento de UP nos pacientes no hospital
variou de um a cinco dias.
Segundo os resultados do estudo anterior, a maioria das lesões teve inicio na
instituição hospitalar durante o período de internação, sendo que apenas em um
(9,5%) dos pacientes a UP iniciou-se no domicílio (MENEGHIN e LOURENÇO
1998. P. 13-19), contrapondo-se ao resultado deste estudo que foi equitativo.
Foi realizada também a caracterização quanto à localização. Observamos o
total de seis (100%) úlceras, sendo que todas se encontravam no estagio II.
No que diz respeito à localização das UPs, a região sacral é a predominante
com exceção de um paciente que, além desta, ainda desenvolveu a UP na região
escapular de ambos os lados.
Estudos demonstram que há predomínio de UP na região sacral, pois a pressão
exercida neste local é maior, tendo uma incidência de 36 a 49% seguida da
região do calcâneo que é de 19 a 36% (BRYANT, 2000). Também é muito
comum a ocorrência da fricção em pacientes acamados que seguido da força
de cisalhamento (consequência de mobilização ou posicionamento incorreto)
provoca danos em tecidos mais profundos. Além disso, a região sacral possui
pouca cobertura muscular e tecido adiposo estando, portanto, sujeita a uma
pressão maior (MENEGHIN e LOURENÇO, 1998).
Em relação aos antecedentes clínicos, um (25%) tinha diagnóstico de fratura
de fêmur, um (25%) de diabetes mellitus e doença vascular encefálica, um
46
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.36-51
(25%) hipertensão arterial e diabetes mellitus e um (25%) icterícia, sendo que
este último estava restrito ao leito por apresentar períodos de agressividade
devido ao seu estado patológico. Sabe-se também que a imobilização é mais um
fator que contribui com aparecimento das Ups (MENEGHIN e LOURENÇO,
1998. P. 13-19).
CONCLUSÃO
O presente estudo sobre a ocorrência de UP em uma instituição hospitalar
localizada no interior de São Paulo permitiu as conclusões que se seguem:
Num período de 30 dias o número de pacientes internados foi de 113, destes,
quatro apresentaram UP nas regiões sacrococcígea e escapular.
Destes quatro portadores de UP, 2 (50%) são de origem domiciliar e dois (50%)
de origem hospitalar.
Quanto ao sexo o resultado é equitativo. Com idade mínima de 65 anos e idade
máxima de 84 anos e o tempo de internação entre 3 a 15 dias.
REFERÊNCIAS
BLANES, I., DUARTE, I.S., CALIL, J.A., FERREIRA, L.M. Avaliação clínica e
epidemiológica da UP em pacientes internados no Hospital São Paulo, 2003.
BLANES, L., YOSHITOME, A.Y, FERREIRA, L.M. Úlcera por pressão: utilizando
instrumentos de avaliação de risco como estratégia para a prevenção. Rev Estima 2003;
1: 37-45.
BRYANT, R.A.. Acute and Chronic Wounds: Nursing Management (2º ed.). St Louis:
Mosby, 2000.
COSTA, I.G. Incidência de úlcera por pressão e fatores de risco relacionados em pacientes
de um centro de terapia intensiva. Biblioteca digital de teses e dissertações. São Paulo:
Escola de enfermagem da Universidade de São Paulo; 2003.
DEALEY, C. Cuidando de feridas: um guia para enfermeiras. São Paulo: Atheneu, 1996.
FERNANDES, L.M. Úlcera de pressão em pacientes críticos hospitalizados – uma revisão
integrativa da literatura. [on-line]. Biblioteca digital de teses e dissertações. Ribeirão
Preto: Escola de enfermagem da Universidade de São Paulo; 2000.
HESS, C.T. Tratamento de feridas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso; 2002.
JORGE, A.S., DANTAS, S.R.P.E. Abordagem multiprofissional do tratamento de feridas.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 36-51
47
In: Paranhos WY. Úlceras por pressão. São Paulo (SP): Atheneu; 2005, p. 287-96.
MENEGHIN, P., LOURENÇO, M.T.N. A utilização da Escala de Braden como
instrumento para avaliar o risco de desenvolvimento de úlceras de pressão em pacientes
de um serviço de emergência. Rev Derm Nursing 1998; volume 1: 13-19.
NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL. Pressure ulcer prevalence,
cost and risk assessment: consensus development conference statement. Decubitus,
v.2,n.2,p. 24-28; 1989.
PARANHOS, W.Y. Avaliação de risco para úlceras de pressão por meio da escala de
Braden, na língua portuguesa. [tese]. São Paulo: Escola de enfermagem da Universidade
de São Paulo; 1999.
RABEH, S.A.N. Úlcera de pressão: a clarificação co conceito e estratégias para divulgação
do conhecimento na literatura de enfermagem. Biblioteca digital de teses e dissertações.
Ribeirão Preto: Escola de enfermagem da Universidade de São Paulo; 2001.
RANGEL, EML. Conhecimento, práticas e fontes de informação de enfermeiros de um
hospital sobre a prevenção e tratamento da úlcera por pressão. Biblioteca digital de teses
e dissertações,Ribeirão Preto: Escola de enfermagem da Universidade de São Paulo; 2004.
SILVA, M.S.M.L. Fatores de risco para úlcera de pressão em pacientes hospitalizados.
Feridoteca – tese de mestrado úlcera de pressão. João Pessoa: Universidade Federal
da Paraíba; 1998.
.The Cleveland Clinic, Pressure ulcers. Disponível em: http://www.clevelandclinic.org/
health/health-info/docs/3600/3638.asp?index=12019.
48
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.36-51
ANEXO 1
FORMULÁRIO DE ADMISSÃO
Unidade:
Data:
Dados do paciente
Nome:
Leito:
Data da admissão:
Data de nascimento:
Sexo:
Patologia associada:
Tempo de internação:
Dados da úlcera por pressão (UP)
Data do aparecimento:
Aparecimento:
( ) domiciliar
( ) hospitalar
Localização anatômica
( ) Trocânter
( ) D
( )E
( ) Ísquio
( ) D
( )E
( ) Calcâneo
( ) D ( )E
( ) Escapular
( ) D
( )E
( ) D
( )E
( ) Sacro coccígea
( ) Maléolo
( ) L
( )M
( ) Outros:­­­­­­­­­­­­­­______________________________
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 36-51
49
Características da UP
Estágio I
( )
quantidade:______
Estágio II
( )
quantidade:______
Estágio III
( ) quantidade:______
Estágio IV
( )
quantidade:______
Sem estágio
( )
Necrose amarela
( )
Porcentagem aprox.:_______
Necrose preta
( )
Porcentagem aprox: _______
Total de UP:__________
Estágios:______________
50
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.36-51
FORMULÁRIO DE ALTA
Unidade:
Data:
Dados do paciente
Nome:
Leito:
Data da alta:
Data de nascimento:
Sexo:
Patologia associada:
Tempo de internação:
Dados da úlcera por pressão (UP)
Data do aparecimento:
Aparecimento:
( ) domiciliar
( ) hospitalar
Localização anatômica
( ) Trocânter
( ) D
( )E
( ) Ísquio
( ) D
( )E
( ) Calcâneo
( ) D ( )E
( ) Escapular
( ) D
( )E
( ) D
( )E
( ) Sacro coccígea
( ) Maléolo
( ) L
( )M
( ) Outros:­­­­­­­­­­­­­­______________________________
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 36-51
51
Características da UP
Estágio I
( )
quantidade:______
Estágio II
( )
quantidade:______
Estágio III
( ) quantidade:______
Estágio IV
( )
quantidade:______
Sem estágio
( )
Necrose amarela
( )
Porcentagem aprox.:_______
Necrose preta
( )
Porcentagem aprox: _______
Total de UP:__________
Estágios:______________
52
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.36-51
Influência do Sono nas Atividades
Acadêmicas dos Graduandos de
Enfermagem que Trabalham na Área no
Período Noturno
Cláudia Lysia de Oliveira Araújo
Professora Mestre do Curso de Enfermagem das
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – Lorena/SP
Rosana Tupinambá Viana Frazili
Professora Mestre do Curso de Enfermagem das
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – Lorena/SP
Elaine Cristina de Almeida
Graduanda do 4° ano de Enfermagem das
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – Lorena/SP
RESUMO
O sono é um estado de inconsciência, composto por vários estágios, os quais
se diferenciam em REM e NREM, apresentando-se normalmente à noite,
período no qual a luminosidade é diminuída, passando assim por ciclos, o ciclo
circadiano e claro e escuro. O estudo partiu do princípio de que estudantes
que associam a faculdade com trabalho noturno têm uma maior dificuldade
em atentar-se às aulas e ao trabalho. Sendo assim, uma pesquisa foi realizada
com 38 alunos da graduação em enfermagem, com o objetivo de averiguar
como a privação do sono fisiológico, devido ao trabalho hospitalar, influencia
diretamente no desempenho acadêmico dos mesmos. Quando um indivíduo
passa muitas horas acordado, ele cai em sono profundo, este fato se dá
através de uma substância denominada substância do sono. Foi demonstrado
que a maioria dos estudantes pode ser classificada como indiferentes e
modera damente matutinos, o que dificulta ainda mais o trabalho em turnos
noturnos. Assim sendo, conclui-se que por mais que estudos sobre o tema
sejam realizados, ainda faz-se necessário um estudo mais aprofundado, para
que possamos avaliar melhor e quiçá melhorar a atenção desses estudantes/
trabalhadores em sala de aula e em horário de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE:
Sono, Enfermagem, Trabalho noturno.
ABSTRACT
The sleep is a state of unconsciousness, composed of several stages, which
are differentiated into REM and NREM, giving up usually at night, a period
in which the brightness is reduced, going so cycles, the cycle and circadian
clear and dark. The study broke the principle that students who associate the
college with night shift have greater difficulty to look to the lessons and work.
Therefore, a search was conducted with 38 students in the graduate nursing,
in order to ascertain how the deprivation of sleep due to physiological hospital
work in academic performance directly affects them. When an individual
spends many hours agreed, he falls into deep sleep, this fact is given by a
substance called substance of sleep. It has been shown that most students
can be classified as indifferent and moderately matutinos, which further
complicates the work in shifts night. Thus it appears that for more than
studies on the subject are made, yet it is necessary to further study, so we
can better assess and per-haps improve the care of these students / workers
in the classroom and in hours of work.
KEYWORDS:
Sleep, Nursing, Night shift.
54
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.53-62
INTRODUÇÃO
Por volta de 1950, Kleitman, Aseriusky e Dement descreveram duas formas
básicas da divisão do sono, o sono REM (movimento rápido dos olhos) e a NREM
que é o oposto da REM, ou seja, não há movimentação dos olhos (FREITAS,
et al. 2002).
O sono é conceituado como uma etapa de inconsciência no qual a pessoa pode
ser acordada por estímulos sensoriais ou outros. Existem vários estágios do
sono, desde o de ondas leves e o sono de movimentos rápidos, sendo que, o sono
tem uma finalidade de repouso psíquico no sono REM, enquanto o descanso
físico na fase não REM (GUYTON, 2000).
Quando adormece, o indivíduo passa por todos os cinco estágios de sono, dos
quais as primeiras quatro fases correspondem ao sono NREM e a quinta por
sua vez atinge a fase REM, repetindo todo esse ciclo umas cinco vezes no
sono noturno, durando cada ciclo aproximadamente um tempo de 90 minutos
(FREITAS, et al. 2002).
Muitas funções do organismo sofrem consideráveis modificações pelo sono,
bem como às variações dos batimentos cardíacos, pressão arterial e frequência
respiratória, sendo que esse período é o mais vulnerável para várias doenças,
principalmente as respiratórias (GUYTON, 2000).
O ser humano passa por todos esses ciclos, o qual fica 30% sonhando, 20% em
sono profundo e 50% em sono leve (FREITAS, et al. 2002).
O estado de sono ocorre em condições normais à noite, isto é, quando a
luminosidade ambiental é muito reduzida ou ausente, pois há assim o aumento
da produção da melatonina (hormônio regulador do sono). Sendo assim, foi
estabelecido um ciclo vigília-sono, sendo ele em função da luz (GUYTON, 2000).
O desempenho físico e mental do ser humano está diretamente ligado a uma
boa noite de sono. Passar a madrugada em claro assemelha-se ao estado de
embriaguez leve, ou seja, sem o merecido descanso o organismo deixa de
cumprir tarefas importantíssimas, como a função motora, e a capacidade de
raciocínio (BITTENCOURT, et al.2005).
Numa pesquisa realizada em ratos, foi demonstrado que a falta de sono ativa
a sexualidade, aumenta a sensibilidade à dor e prejudica o fígado e o coração,
mas nem sempre os efeitos que acometem os roedores, acontecem em seres
humanos (BITTENCOURT, et al.2005).
O sono tem fundamental importância no bom desempenho profissional,
atenção, coordenação motora, ritmo mental e principalmente o alerta que são
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 53-62
55
influenciados pelo estado de fadiga. Esta necessidade de sono varia de pessoa
para pessoa e não depende do trabalho em turnos, porém este fator pode
modificar o padrão de sono, diminuindo o tempo total de sono principalmente
dos trabalhadores noturnos (MELLO, et al. 1989).
O trabalho em turno é específico, sendo de atividade ininterrupta, noturna
e desgastante. Pessoas que trabalham em períodos noturnos têm uma
probabilidade maior de apresentar perturbações em seu ritmo biológico
– endógeno associados ao “relógio biológico” e ao esquema social imposto
externamente. Situação na qual é exigido trabalho noturno contínuo, sendo
assim, muitas vezes a eficiência do desempenho decai devido ao débito de sono
acumulado. Estudos realizados por cronobiologistas mostram que se formos
privados do sono noturno, o sono diurno não compensa essa perda (MARTINHO;
CIPPOLA, 2001).
Essa sobrecarga de trabalho, noturna, cotidiana afeta o sono, que associado a
mais atividades, como por exemplo, a faculdade, faz com que esses estudantes/
trabalhadores não consigam se desligar dos problemas mesmo quando vão
para a cama. Com toda essa irregularidade de sono, toda a qualidade de vida
vai sendo prejudicada, pois a pessoa passará todo o dia sonolenta, sem ânimo
e com baixa concentração nas atividades, acabando por influenciar os estudos
(COREN – SP, 2005).
A fadiga devido ao sono pode atingir indivíduos de qualquer idade, causando
alterações no estado psicossomático (esforço físico e/ou mental), podendo ser
associada às condições do ambiente, a fatores devido ao excesso de trabalho,
a condições individuais e pressão psicológica (MARZIALE; ROZESTRATEN,
1995).
Se esse estudante/trabalhador não permitir uma diminuição da sobrecarga
psíquica, surge um estado de tensão e desprazer, levando à fadiga mental.
Essa por sua vez, leva a outros sintomas, tais como: dor, ansiedade, angústia,
diminuição da memória, tendência a hipocondria, alterações visuais,
mau-humor, diminuição da libido, distúrbios do sono, etc (MARZIALE,
ROZESTRATEN; 1995).
Enfim, uma boa noite de sono está cientificamente comprovada que não
só renova as energias, mas pode também levar a uma restauração óssea e
muscular, fortalecendo o sistema imunológico e ajudando no tratamento de
doenças cardiovasculares, sendo assim, não só os trabalhadores de enfermagem,
mas todos os trabalhadores do período noturno correm os riscos de ter
problemas de saúde, afetando não só a vida emocional, mas também a vida
social e resumindo, toda a saúde (BELLINI, 2004).
56
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.53-62
MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva através de coleta de dados,
de natureza quanti-qualitativa.
O estudo foi realizado em uma faculdade privada de enfermagem do Vale do
Paraíba no estado de São Paulo.
Após a autorização da instituição onde foi realizada a investigação, o projeto
foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades
Integradas Teresa D’Ávila.
A população desta pesquisa foram os graduandos do primeiro, segundo e
terceiros anos do curso de enfermagem da FATEA que trabalham no período
noturno em hospitais, que aceitaram participar da pesquisa assinando o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.
Após a aprovação pelo referido CEP sob o Protocolo n°34/2007 foi dado início à
coleta de dados, a qual todos os sujeitos que aceitaram participar da pesquisa
foram assegurados do anonimato das informações, bem como, foi garantida a
eles, a possibilidade de desistirem do estudo a qualquer momento sem nenhum
tipo de sanção ou ônus financeiro.
Os pesquisadores empregaram os seguintes instrumentos: Ficha de
Identificação composta de questões que buscaram conhecer a visão dos
graduandos quanto a seus desempenhos dentro de sala de aula e também a
percepção da influência que a privação do sono traz em seus desempenhos e o
HORNE & OSTEBERG (1976) questionário que identifica as preferências de
indivíduos matutinos e vespertinos.
Os dados obtidos por meio do método quanti-qualitativos e análises
interpretativas foram apresentados por meio de gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observa-se que metade dos alunos 19 (50%) apresenta idade entre 27 a 34 anos,
quinze (39.5%) entre 19 e 26 anos e quatro (7.9%) de 35 a 42 anos de idade.
Através dos dados encontrados nota-se que a predominância no curso de
enfermagem é de pessoas com 27 a 34 anos. Apesar deste dado, outros estudos
revelam que a predominância de pessoas em cursos de enfermagem é ainda
mais jovem, como afirma LISBOA (2006), 40,4% estão situados na faixa
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 53-62
57
entre 20 e 22 anos, assim como KAWAKAME, MIYADAHIRA (2005) houve
o predomínio da faixa jovem de 17 a 20 anos e FILIPINI (2005) diz em seu
estudo que grande maioria dos alunos (64%) está representada por aqueles
com idades entre 18 e 25 anos.
Quanto ao gênero, 33 (86.84%) dos participantes do estudo são do sexo feminino
e cinco (13.16%) são do sexo masculino; afirmando que a enfermagem é
caracterizada pela presença maciça das mulheres (LISBOA, 2006).
Foi observado que doze (34.21%) estão casados ou em relação equivalentes,
um (2.63%) se enquadra em demais situações, os demais declaram-se solteiros.
Na composição familiar (57.9%) dos participantes do estudo não têm filhos e
dezesseis (42.1%) têm variando de um a três filhos.
Observa-se também que em sua grande maioria, 63.16% eram solteiros, o
que justifica grande parte dos estudantes não terem filhos, o que também
afirma FILIPINI (2005) em seu estudo: 77% solteiros e 73% não têm filhos,
já FISCHER, et al (2002) contradiz , demonstrando em seu estudo com 26
trabalhadores, que desses, 16 viviam com um(a) companheiro(a) ou eram
casados, dois eram divorciados e três eram viúvos, assim sendo, 21 pessoas
(80,8%) relataram ter filhos.
Negaram ser etilista 30 (78.95%) dos estudantes. Ao considerar a amostragem
da pesquisa, pode-se afirmar que o número de estudantes que faz uso de tabaco
é elevado, levando em conta que 21,05% são fumantes, pois segundo SANTOS;
RODRIGUES; REINALDO (2007), em seu estudo, numa amostragem
ainda maior (60 pessoas), apenas 11 (6,7%) dos acadêmicos de enfermagem
informaram fazer uso de tabaco; e SAWICKI; ROLIM (2004) que de uma
amostra de 279 graduandos, 23 (8,2%) eram fumantes.
Observa-se que mais da metade dos estudantes (52.63%) consomem álcool
esporadicamente, 17 (44.74%) não consomem álcool e um (2.63%) consome
regularmente; BALAN, CAMPOS (2006) diz em seu estudo, 90% das
graduandas de enfermagem fazem uso de bebida alcoólica.
Quanto ao cronotipo, 18 (47.37%) enquadrando-se como indiferentes; quatro
(10.53%) pessoas como matutinas, 11 (28.94%) como moderadamente
matutinas, cinco (13,16%) como moderadamente vespertinas e nenhuma pessoa
vespertina foi encontrada; o que dificulta ainda mais a manutenção do estado
de alerta em sala de aula e ambiente de trabalho e segundo GERMANO, et al
(2004) 60% eram do cronotipo intermediário.
Quanto à profissão, nove (23.68%) são auxiliares de enfermagem e vinte nove
(76.32%) são técnicos de enfermagem; mas, segundo estudo realizado por
FISCHER, et al (2002) vinte são auxiliares de enfermagem.
58
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.53-62
De acordo com a pesquisa realizada, 33 (86.84%) dos entrevistados afirmaram
sempre trabalhar, quatro (10.53%) afirmaram ter início na vida de trabalho no
primeiro ano e um (2.63%) iniciou a vida de trabalho no terceiro ano.
Quanto à sonolência no trabalho, 30 (78.95%) estudantes declaram sentir e
apenas oito (21.05%) negaram sonolência neste período.
Nota-se que a sonolência predomina em 26 (42.1%) na metade do expediente
de trabalho, seguido de sete (18.42%) no final do expediente, três (7.9%) em o
todo período e dois (5.26%) no começo do expediente.
Observa-se que 11 (28.95%) pessoas notaram queda no rendimento escolar
após começarem a trabalhar, nove (23.68%) não notaram e quatro (10.53%)
não repararam no seu rendimento em sala de aula.
Quanto ao seu rendimento em sala de aula 23 (60.53%) dos entrevistados
acreditam que são afetados devido à privação do sono noturno, 11 (28.95%)
acreditam que são afetados às vezes, dois (5.26%) acreditam que são afetado
quase sempre e dois (5.26%) não acreditam que a privação do sono pode
interferir em seu rendimento em sala de aula.
Através da pesquisa percebe-se que 18 (47.37%) estudantes sentem sono em sala
de aula, 14 (36.84%) às vezes sentem sono em sala de aula, cinco (13.16%) quase
sempre sentem sono em sala de aula, um (2.63%) não sente sono em sala de aula.
Quanto ao tempo de trabalho 86.84% afirma sempre trabalhar, já FILIPINI
(2005) relata que 50% de sua população de estudo trabalham há mais de quatro
anos, enquanto os outros 50% trabalham há até quatro anos.
Segundo estudo realizado por MATHIAS; SANCHEZ; ANDRADE (2006), 56%
declaram que as horas de sono perdidas não são repostas na noite seguinte,
já nossa pesquisa revela que onze (28.95%) notaram queda no rendimento
escolar, após começarem a trabalhar, nove (23.68%) não notaram e quatro
(10.53%) não repararam se seu rendimento em sala de aula teve uma queda.
Avaliando-se os tipos de alimentação chega-se ao seguinte resultado: dois
(5,26%) consomem frutas, carne vermelha e carne branca; dois (5,26%)
consomem frutas, doces, gorduras, carne vermelha, carne branca e peixes; dois
(5,26%) consomem frutas, legumes e carne vermelha; dois (5,26%) consomem
frutas, legumes, carne vermelha, carne branca e peixes; dois (5,26%) consomem
frutas, legumes, doces, cereais, laticínios, carne vermelha e carne branca; dois
(5,26%) consomem frutas, legumes, doces, carne vermelha e carne branca; dois
(5,26%) consomem frutas, legumes, doces, gordura, laticínio, carne vermelha
e carne branca; quatro (10,53%) consomem frutas, legumes, doces, gorduras,
cereais, laticínios, carne vermelha, carne branca e peixes e 20 (52.65%) dos
entrevistados possuem uma alimentação diferenciada.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 53-62
59
CONCLUSÃO
Após a realização da pesquisa conclui-se que a maioria dos estudantes de
enfermagem em uma faculdade privada que participaram da pesquisa são
considerados jovens.
O questionário de HORNE & OSTEBERG (1976) permitiu mostrar a
prevalência de indivíduos indiferentes e moderadamente matutinos, o que
dificulta ainda mais a manutenção do estado de alerta em sala de aula e
ambiente de trabalho.
Estudantes que possuem um estilo de vida menos saudável apresentaram uma
queixa maior em relação à sonolência. A vida dupla de estudante/trabalhador
torna a rotina mais corrida, proporcionando uma minimização no desempenho
acadêmico.
Apesar de o sono ser de grande importância em nossa vida não só em seus
aspectos fisiológicos, mas psicológicos e mentais as pessoas não podem deixar
de trabalhar, pois dependem do salário que também é de grande importância.
Com isso elas produzem mais para ganhar mais ou elevar o status social.
Devido a este fator as pessoas preferem não dormir para ganhar mais ou dormir
menos do que precisam e acabam esquecendo-se da qualidade de vida que todos
nós devemos ter. Deixam de lado, muitas vezes não tendo a informação, que
o dormir bem é o principal fator que as deixam preparadas para enfrentar as
dificuldades de seu cotidiano.
A má alimentação dessas pessoas mostra também uma das dificuldades
relatadas em nosso estudo em relação ao sono.
Se os estudantes pesquisados não diminuírem a sobrecarga psíquica, ou seja, as
noites não dormidas, surgirão tensão e desprazer, levando-os à fadiga mental.
Por fim, são necessárias novas investigações a respeito da perspectiva no
trabalho e desempenho acadêmico dos estudantes de enfermagem que
trabalham em turnos noturnos.
60
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.53-62
REFERÊNCIAS
BALAN, T.G; CAMPOS, C.J.G. Padrão de consumo de bebidas alcoólicas entre
graduandas de enfermagem de uma Universidade Estadual Paulista.
BELLINI, N. “Você dorme bem?”. Rev. Problemas Brasileiros. São Paulo: Sesc/
Senac n. 365:14-17, 2004.
BITTENCOURT, L.R.A.; SILVA, R.S.; SANTOS, R.F.; PIRES, M.L.N.; MELLO, M.T. Excessive daytime sleepiness. Rev Bras Psiquiatr 27 (1): 16-21, 2005. COREN – SP. “Quando a noite chegar”. 55, p.18-19. 2005.
MARTINHO, M.M.F; CIPOLLA, J.N. “Variabilidade circadiana da temperatura oral
e do ciclo vigília-sono em enfermeiras de diferentes turnos de trabalho”. Rev. Ciên.
Méd.S. São Paulo, 10 (3): p. 71-78, 2001.
FILIPINI, S.M. Estudo da incidência de sonolência diurna e performance
acadêmica em estudantes do curso de Enfermagem da Universidade do Vale
do Paraíba. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Programa de Pós
Graduação em Ciências Biológicas da Universidade do Vale do Paraíba.São José dos
Campos, 2005.
FISCHER, F.M, et al. “Percepção de sono: duração, qualidade e alerta em
profissionais da área de enfermagem”. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, 18(5),
p. 1261-1269, 2002.
FREITAS, E.V, et al. Tratado de geriatria e gerontologia.2 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
GERMANO, R.M, et al. “Avaliação do Nível de atenção de um grupo de
funcionários: estudo baseado em aspectos cronobiologicos”. Arq. Apadec,
8(supl.): Mai, 2004.
GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia médica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
HORNE, J.A; OSTEBERG, O. “A self-assessment questionnarie to determine
morningness-everningness in human circadian rhythm”. Internacional Journal of
Chronobiology. v.4,n.2, p. 97-110.1976.
LISBOA, M.T.L; OLIVEIRA, M.M; REIS, L.D. “O trabalho noturno e a prática de
enfermagem: uma percepção dos estudantes de enfermagem”. Esc. Anna Nery.v.10,
n.3,p. 393-398,2006.
MARZIALE, M.H.P; ROZESTRATEN, R.J.A. “Turnos alternantes: fadiga mental de
enfermagem”. Rev. Latino-Am. Enf. Rio de Janeiro, 3 (1): p. 59-78,1995
MATHIAS, A; SANCHEZ, R.P; ANDRADE, M.M.M. “Incentivar hábitos de sono
adequados: um desafio para os educadores”. Núcleos de Ensino da Unesp. São
Paulo,v.5,p.251-258, 2006.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 53-62
61
MELLO, M.T; SANTOS, E.H.R; TUFIK, S. apud RUTENFRANZ. “Sonolência durante
o horário de trabalho: um grande perigo para a ocorrência de acidentes”. CNT/SEST/
SENAT.1989.
KAWAKAME, P.M.G; MIYADAHIRA, A.M.K. “Qualidade de vida de estudantes de
graduação em enfermagem”. Rev. esc. enferm. USP. São Paulo, 39(2), p. 164-172,
Junho 2005
SANTOS, K.P; RODRIGUES, A.; REINALDO, M.A.S. “Relação entre a formação
acadêmica dos estudantes de enfermagem e sua percepção quanto ao tabagismo”. Revista
Eletrônica de Enfermagem. Goiânia, 9(2): p. 432-442, Mai-Ago 2007.
SAWICKI, W.C; ROLIM, M.A. “Graduandos de enfermagem e sua relação com o
tabagismo”. Rev Esc Enferm USP. São Paulo,38 (2), p. 181-9, 2004.
62
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.53-62
Estudo Piloto Sobre a Atuação do
Enfermeiro no Cuidado do Paciente com
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico
Vanessa de Brito Poveda
Enfermeira. Professora Doutora do curso de
graduação em Enfermagem das Faculdades
Integradas Teresa D´Ávila e da Universidade
do Vale do Paraíba
Sonia Maria Filipini
Enfermeira. Mestre. Professora do curso de
graduação em Enfermagem da Universidade
do Vale do Paraíba
Evelin Teo Vasconcellos Santana de Souza
Kenny Cruaia de Oliveira
Acadêmicas do quarto ano do curso de graduação da Universidade
do Vale do Paraíba
RESUMO:
Objetivou-se identificar a atuação do enfermeiro no atendimento ao paciente com
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico em uma Unidade de Terapia Intensiva e verificar
os conhecimentos dos enfermeiros sobre a fisiopatologia da doença e a implementação
da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Para tanto, procedeu-se
a um estudo quantitativo, do tipo descritivo-exploratório, em que se aplicou um
questionário aos enfermeiros atuantes em uma Unidade de Terapia Intensiva de um
hospital filantrópico no interior do estado de São Paulo, que continha questões sobre
os cuidados de enfermagem e a aplicação do processo de enfermagem, bem como, as
principais manifestações clínicas e fatores de risco para o acidente vascular cerebral.
Compuseram a amostra seis sujeitos, sendo três (50%) do sexo masculino e três (50%)
do feminino, quatro (66,7%) tinham entre 25 e 30 anos. Quanto ao conhecimento 66,6%
dos enfermeiros analisados erraram as questões referentes à SAE e 71,4% acertaram
as referentes à fisiopatologia da doença. Concluímos que apesar da exigência legal da
implementação da SAE nos hospitais, muitos enfermeiros ainda parecem apresentar
dúvidas quanto às suas fases.
PALAVRAS CHAVE:
Acidente cerebral vascular, Enfermagem, Processos de Enfermagem.
ABSTRACT:
: The objective was to identify the role of nurses in care of patients with ischemic stroke
in an intensive care unit and check the knowledge of nurses on the pathophysiology
of the disease and the implementation of the Nursing Care System (NCS). To this
end, we proceeded to a quantitative study, a descriptive and exploratory, where he
applied a questionnaire to nurses working in an intensive care unit of a philanthropic
hospital in the state of São Paulo, which contained questions about nursing care and
the application of the nursing process, as well as the main clinical manifestations and
risk factors for stroke. The sample comprised six subjects, three (50%) were male and
three (50%) females, four (66.7%) were between 25 and 30 years. Regarding knowledge
66.6% of nurses missed analyzed the issues of SAE and 71.4% were correct regarding
the pathophysiology of the disease. We conclude that despite the legal requirement for
the implementation of the NCS in hospitals, many nurses still seem to have doubts
about its phases.
KEY WORDS:
Stroke, Nursing, Nursing process.
64
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.63-71
INTRODUÇÃO
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é definido como a interrupção do fluxo
sanguíneo, em determinada região do cérebro, resultando uma súbita lesão da
mesma, ocasionando determinados sintomas que caracterizam o AVC (FERRAZ
& PEDRO, 2003).
Portanto, o AVC refere-se a um déficit neurológico resultante da insuficiência
de suprimento sanguíneo cerebral, que pode ser descrito como temporário
(episódio isquêmico transitório) ou permanente. Entre seus principais fatores de
risco estão a hipertensão arterial sistêmica (HAS), as cardiopatias e o diabetes
mellitus (DM), além da associação com outras etiologias, tais como coagulopatias,
tumores, artrites inflamatórias e infecciosas (RADANOVAC, 2000).
O AVC é uma das maiores causas de morte no Brasil e a principal causa de lesão
permanente em adultos (FERRAZ & PEDRO, 2003). E deixa em suas vítimas
sequelas incapacitantes, como, limitações motoras, sensitivas, sensoriais, de
compreensão e expressão dos pensamentos, além de, segundo a área lesada do
cérebro, manifestações como dificuldade na deglutição, paralisias de músculos
da face, dificuldade na movimentação dos olhos, convulsões, lesões extensas ou,
localizadas (PERLINI & FARO, 2003).
Estas sequelas restringem as atividades da vida diária tornando suas vítimas
frequentemente dependentes de terceiros, restringindo sua independência,
comprometendo a administração de sua vida pessoal e familiar (PERLINI &
FARO, 2003).
A maior parte dos acidentes vasculares cerebrais é causada por trombose
vascular, que ocorre quando a formação de um coágulo superpõe a um
estreitamento gradual do vaso ou a alterações no revestimento luminal do vaso.
A doença aterosclerótica é uma das causas mais comuns de AVC na atualidade.
Causas menos comuns incluem doenças infecciosas, como a Sífilis e a Triquinose,
que geram uma lesão na parede vascular (FERRAZ & PEDRO, 2003).
A assistência de enfermagem ao paciente deve focalizar os cuidados à assistência
ventilatória, aplicação da escala de Glasgow, permeabilidade do cateter de
monitorizarão da pressão intracraniana, administração de medicamentos
específicos como Nitroprussiato de Sódio, cabeceira elevada na hipertensão
craniana, observação dos sinais vitais e controle hídrico rigorosos. Compete
ainda à enfermagem a prevenção de infecções e da trombose venosa profunda,
além da manutenção das necessidades básicas (NISHIDE et al, 2000).
Este estudo objetivou conhecer a atuação dos enfermeiros frente aos pacientes
com AVCI internados em uma Unidade de Terapia Intensiva, e especificamente,
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 63-71
65
verificar os conhecimentos dos enfermeiros sobre a fisiopatologia da doença e
a implementacao da sistematizacao da assistência de enfermagem.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa.
O estudo será realizado com a equipe de Enfermeiros de um hospital filantrópico
do interior do Estado de São Paulo, que atuem na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). Os critérios de inclusão foram: todos os profissionais enfermeiros que
estiverem disponíveis no setor e exclusão: profissionais que recusarem assinar
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aqueles que se encontrarem
afastados ou de férias.
Após a instituição fornecer a autorização formal para a realização do estudo,
os sujeitos que concordaram em participar da pesquisa, assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo recebido informações quanto
aos objetivos da mesma e ser garantido a todos, o seu anonimato; a ausência
de sanções ou prejuízos pela não participação ou pela desistência, a qualquer
momento; o direito de resposta às dúvidas; a inexistência de qualquer ônus
financeiro ao participante.
O protocolo deste estudo foi elaborado seguindo os padrões éticos para pesquisa
clínica em seres humanos, segundo a resolução 196/96 do Ministério da Saúde
e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do
Paraíba, sob número de protocolo H241/CEP 2009.
A partir daí aplicou-se um questionário aos sujeitos da pesquisa, que continha
questões sobre os cuidados de enfermagem e a aplicação do processo de
enfermagem, bem como, as principais manifestações clínicas e fatores de risco
para o acidente vascular cerebral.
O instrumento de coleta de dados foi submetido à validação aparente e de
conteúdo por três juízes com experiência na área.
Os resultados foram digitados e tabulados eletronicamente, analisados
quantitativamente e representados em forma de tabelas e figuras.
RESULTADOS
A amostra foi composta por seis sujeitos, sendo três (50%) do sexo masculino
66
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.63-71
e três (50%) do feminino; entre estes, quatro (66,7%) tinham entre 25 e 30
anos e a mesma quantidade atuava no serviço entre 1 e 5 anos. Cinco (83.3%)
possuíam especialização, sendo um (16,7%) em UTI/cardiologia, um (16,7%)
em Terapia Intensiva e um (16,7%) em Nefrologia e os demais em áreas não
voltadas à atuação do enfermeiro em Unidade de Terapia Intensiva (tabela1).
Quadro 1 – Distribuição das variáveis demográficas dos sujeitos investigados. São José dos Campos,
2010.
VARIÀVEIS
N
%
Feminino
3
50%
Masculino
3
50%
TOTAL
6
100
20-25 anos
1
16.7%
25-30 anos
4
66.7%
35-40 anos
1
16.7%
TOTAL
6
100
SEXO
IDADE
TEMPO QUE EXERCE A FUNÇÃO
>1 ano
2
33.4%
1 a 5 anos
4
66.6%
TOTAL
6
100%
UTI/ Cardiologia
1
16.7%
Terapia intensiva
1
16.7%
Nefrologia
1
16.7%
Gestão em enfermagem
1
16.7%
Enfermagem do Trabalho
1
16.7%
Enfermagem em docência
1
16.7%
1
16.7%
6
100
ESPECIALIZAÇÂO
TOTAL
Conforme se observa na Quadro 2, os enfermeiros quando questionados sobre
a Sistematização da Assistência de Enfermagem apresentaram dúvidas,
que se refletiram em erros em 66,6% das questões respondidas. Os sujeitos
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 63-71
67
entrevistados apresentaram maiores dúvidas/erros em relação à coleta de dados
(66,6%), diagnósticos (83,3%) e prescrição de enfermagem (66,6%).
Quadro 2 - Distribuição da porcentagem de acertos e erros sobre SAE. São José dos
Campos, 2010.
Acertos
Erros
N
%
N
%
Parâmetros essenciais na coleta de dados
2
33,3
4
66,6
Diagnósticos de enfermagem frequentes
1
16,7
5
83,3
Prescrição de enfermagem
2
33,3
4
66,6
Cuidados de enfermagem essenciais ao paciente
com AVCI
3
50
3
50
Evolução de enfermagem
-
-
-
-
TOTAL
8
33,3
16
66,6
Tema das questões
Questões SAE
Entretanto, quando estes mesmos enfermeiros são questionados sobre a
fisiopatologia da doença apresentam resultados opostos, que se refletem em
71,4% de acertos nas questões propostas, destacando-se os acertos quanto aos
fatores de risco para o AVCI (83,3%), exames laboratoriais indicados (83,3%)
e controle da pressão arterial (100%) (Quadro 3).
Quadro 3 - Distribuição da porcentagem de acertos e erros sobre fisiopatologia. São
José dos Campos, 2010.
Questões sobre a doença
Acertos
Fatores de risco para o AVCI
5
83.3
1
16.7
Elevação da cabeceira
4
66,6
2
33,4
Principais manifestações clínicas
3
50
3
50
Temperatura ideal para evolução do paciente
com AVCI
4
66.6
2
33.4
Temperatura ideal para evolução do paciente
com AVCI
5
83.3
1
16,7
Complicações tardias
3
50
3
50
Equilíbrio da pressão arterial
6
100
-
-
TOTAL
30
71,4
12
28,5
N
68
Erros
%
N
%
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.63-71
DISCUSSÃO
Podemos afirmar que as doenças cardiovasculares constituem um dos maiores
fatores de riscos nos casos de AVCI (SILVA et al., 2008). Preconiza-se que o
foco da prevenção e controle do AVC esteja centrado na redução da exposição
aos fatores de risco, como aspectos comportamentais, associados ao tabagismo,
dieta, sedentarismo, ingestão de álcool e uso de anticoncepcionais e ao controle
de patologias ou distúrbios metabólicos associados como, hipertensão arterial
sistêmica, cardiopatia, obesidade, hiperlipidêmicas, diabetes (SILVA et al., 2008).
É vital o equilíbrio da hipertensão arterial gradativamente até que permaneça
estável, para a prevenção de lesões cerebrais. OLIVEIRA; KLANT; FRIEDRICH
(2008) afirmam que o controle da pressão arterial não poderá ser reduzido
excessivamente e não ultrapassar a dose do Nitroprussiato de Sódio de 10
microgramas/kg/minutos.
RADANOVIC (2000) ressalta, como um dos parâmetros essenciais no
atendimento ao paciente com AVCI, a coleta de dados, que inclui um bom
histórico clínico, os exames que foram realizados nesse período, além da
necessidade de monitorização contínua da glicose nas primeiras 48 a 72 horas,
contudo em seu estudo houve a impossibilidade de se obter este dado em
mais de 1/5 dos prontuários investigados, apontando que este fato tem dois
significados igualmente relevantes: primeiro, o dado não foi colhido durante
a realização da história clínica; segundo, durante o período de tratamento
da fase aguda do AVC não foi realizado exame de glicemia. Tendo em vista a
importância do controle dos fatores de risco para a profilaxia de novos eventos e
do controle metabólico para melhor evolução do quadro instalado, este aspecto
do atendimento não pode ser negligenciado
Assim, como pudemos perceber nesta investigação, o conhecimento do
enfermeiro que atuava na Unidade de Terapia Intensiva investigada era amplo
quando inquirido sobre a fisiopatologia da doença e seus respectivos fatores de
risco, aspecto contrastante quando comparado ao conhecimento do enfermeiro
sobre a SAE e as ações específicas a serem realizadas em seu atendimento de
enfermagem ao paciente sobre a mesma patologia.
Aspecto este que reforça a questão da dominação do modelo biomédico no
atendimento a saúde, voltado a aspectos mecanicistas, centrado na doença do
paciente e não necessariamente no paciente (BARROS, 2002). Estes aspectos
parecem refletir na atuação dos enfermeiros clínicos entrevistados.
Embora a enfermagem proponha justamente o oposto quando define os
diagnósticos de enfermagem como julgamentos clínicos “das respostas do
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 63-71
69
indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde/ processos vitais
reais ou potenciais” (NANDA, 2009), ou seja, o atendimento do enfermeiro deve
basear-se não apenas nas respostas a problemas de saúde do indivíduo, mas
também a todos os aspectos em que estes problemas de saúde podem refletir
na vida do paciente.
Contudo os enfermeiros da Unidade de Terapia Intensiva entrevistados
afirmaram que no setor em que atuam não se aplica a Sistematização da
Assistência de Enfermagem.
AMANTE; ROSSETTO; SCHNEIDER (2007) afirmam que o enfermeiro é o
líder da equipe de enfermagem e através da Sistematização da Assistência
de Enfermagem (SAE), assegura uma prática assistencial adequada e
individualizada. Os diagnósticos de enfermagem identificam a situação de
saúde/doença dos indivíduos internados na UTI, resultando em um cuidado
de enfermagem individual e integral.
Atualmente a Resolução COFEN nº 358/2009 dispõe sobre a obrigatoriedade da
Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo
de enfermagem em ambientes, públicos ou privados em que ocorrem o cuidado
Profissional de Enfermagem.
Nesse contexto, a SAE tem sido objeto de diversos estudos, tanto na formação
como nos serviços de saúde, com a finalidade de aprimorar o conhecimento
científico dos cuidados em enfermagem, assegurar uma assistência
individualizada e garantir autonomia profissional (BACKES et al., 2008).
CONCLUSÃO
Concluímos que apesar da exigência legal do COFEN (2009) que impõe
a implementação da SAE nos serviços de atendimento à saúde, muitos
enfermeiros ainda parecem apresentar dúvidas quanto às suas fases.
Estas dúvidas não se refletem na fisiopatologia, o que reforça a preocupação
da assistência à saúde baseada em problemas clínicos de saúde, o que é dado
pelo sistema biomédico de atendimento à saúde dominante.
Entretanto, acreditamos que o atendimento de enfermagem deve ir além da
doença apresentada pelo indivíduo, já que a assistência de enfermagem está
dirigida ao indivíduo e como ele reage a seus problemas de saúde e como estes
afetam não somente a ele, como as pessoas à sua volta, sejam essas pessoas
membros de sua família ou da comunidade.
70
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.63-71
REFERÊNCIAS
AMANTE, L. N.; ROSSETTO, A. P.; SCHNEIDER, D. G.“ Sistematização da Assitência
de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva sustentada pela teoria de Wanda
Horta“. Revista Esc. Enfermagem USP, vol.43, n 1, 2008.
BACKES, D.S; KOERICH, M.S; NASCIMENTO, K.C; ERDMANN, A.L. “Sistematização
da Assistência de Enfermagem Como fenômeno Interativo e Multidimensional“. Revista
Latino Americana de enfermagem, vol.16, n 6, 2008.
BARROS, J.A.C. “Pensando o processo saúde doença: a que responde o modelo
biomédico?”. Saúde e Sociedade, v. 11, n. 1, p. 67-84, 2002.
COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução 358/2009.
FERRAZ, A.C.; PEDRO, M.A. “Acidente vascular cerebral isquêmico”. In: KNOBEL, E.
et al. Terapia Intensiva – neurologia. São Paulo: Atheneu. 2003.
NANDA – NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION. Diagnósticos
de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2009-2011. Porto Alegre:
Artmed, 2010.
NISHIDE, V.M; CINTRA, E.A; NUNES, W.A. Assistência de enfermagem ao
paciente critico. Ed. São Paulo: Atheneu, 2002.
OLIVEIRA, F.P; KLANT, C.L; FRIEDRICH, M.A.G. “Aplicabilidade e segurança
do nitroprussiato de sódio para controle da pressão arterial durante trombólise no
tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico agudo”. Scientia Medica, v.18,
n.3, p. 119-123, jul./set. 2008.
PERLINI, N.M.O.G; MANCUSSI, A.C; FARO. “Cuidar de pessoa incapacitada por
acidente vascular cerebral no domicílio: o fazer do cuidador familiar”. Rev Esc Enferm
USP, v. 39, n.2, p. 154-63, 2005.
RADANOVIC, M. “Características do atendimento de pacientes com acidente vascular
cerebral em hospital secundário”. Arq Neuro Psiquiatra, v.58, n.1, 2000.
SILVA, L.D; HENRIQUE, D.M; SCHUTZ, V. “Ações do enfermeiro na terapia
farmacológica para o acidente vascular cerebral: uma revisão integrativa”. Rev. Enferm.
UERJ, v. 17, n. 3, p. 423-9, jul/set, 2009.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 63-71
71
Perfil dos pacientes hipertensos atendidos
em uma instituição religiosa frente à
adesão ao tratamento medicamentoso.
Cristiane Karina Malvezzi
Doutora em Ciências. Professora Titular das
Faculdades Integradas Teresa D’Avila – FATEA
Luciane Déscio Kishi Ida
Michelli Aparecida da Silva
Wilma de Melo Campos
Bacharel em Enfermagem pelas Faculdades
Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
RESUMO:
A pressão arterial elevada ou simplesmente hipertensão é o principal fator de risco
para doença cardiovascular e seu controle adequado reduz a morbimortalidade e
melhora a qualidade de vida dos portadores dessa doença. O presente estudo objetivou
a análise dos perfis dos pacientes hipertensos atendidos em um ambulatório de
uma instituição religiosa de uma cidade do Médio Vale do Paraíba, em relação aos
fatores comportamentais, sociais e econômicos que dificultam a adesão ao tratamento
medicamentoso anti-hipertensivo. Embora ainda haja grande evidência de não adesão
à terapia medicamentosa seja por fatores comportamentais ou por falta de recursos
financeiros, merece destaque em nosso estudo a otimização dos medicamentos antihipertensivos prescritos pelo médico cardiologista e o controle eficaz da hipertensão
arterial em 80% dos pacientes pesquisados, quando estes foram analisados sob o ponto de
vista da última aferição da pressão arterial relatada no prontuário Em relação à adesão
à terapia medicamentosa anti-hipertensiva é preciso favorecer condutas que aumentem o
grau de adesão, onde sejam conjugados os objetivos da equipe multidisciplinar e o desejo
do paciente em participar do processo de manutenção de sua própria saúde.
PALAVRAS CHAVE:
Hipertensão, Pacientes internados, Estâncias para tratamentod e saúde,
Adesão ao tratamento
ABSTRACT:
High blood pressure or hypertension is the only major risk factor for coronary
cardiovascular. Your adequate control reduces morbidity and improves quality of life
of these patients. This study aimed at analyzing the profiles of hypertensive patients
seen at a clinic for a religious institution in a city in the Middle Paraíba Valley in
relation to behavioral, social and economic problems that hinder treatment adherence
antihypertensive. While there is ample evidence of non-compliance with drug therapy
are the behavioral factors or lack of financial resources is highlighted in our study the
optimization of antihypertensive medications prescribed by a cardiologist and effective
control of hypertension in 80% of patients studied when they were analyzed from
the point of view of the last blood pressure measurements reported in the medical.
With respect to adherence to drug therapy antihypertensive is a need to encourage
behaviors that increase the level of compliance, which are combined the objectives
of the multidisciplinary team and the patient’s desire to participate in the process of
maintaining their own health.
KEY WORDS:
Hypertension, Impatientes, Health Resorts, Adherence to drug treatment.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 72-84
73
INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é fator de risco maior para doenças
decorrentes de aterosclerose e trombose, tais como cardiopatia isquêmica,
acidente vascular encefálico, vasculopatia periférica, insuficiência cardíaca e
renal (BRANDÃO, 2006, p.327).
A HAS afeta aproximadamente um bilhão de pessoas em todo o mundo. Com o
envelhecimento populacional, a prevalência da hipertensão arterial aumentará,
a não ser que medidas preventivas sejam implementadas (BATISTA,PEREIRA,
KOLMANN,2003, p.149 – 152). Dados do Ministério da Saúde evidenciam que
a Hipertensão Arterial Sistêmica afeta de 11 a 20% da população adulta com
mais de 20 anos. Aproximadamente 85% dos pacientes com acidente vascular
encefálico e 40% das vítimas de infarto agudo do miocárdio apresentaram
hipertensão associada (OHARA, 2008, p. 279 – 321).
A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) em sua V Diretrizes Brasileiras
de Hipertensão Arterial (2006) classifica os valores da pressão arterial numa
aferição casual para maiores de dezoito anos (Quadro 1).
Quadro 1 – Classificação da Pressão Arterial segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2006)
Classificação
Ótima
Normal
Pressão Sistólica
(mmHg)
Pressão Diastólica
(mmHg)
< 120
< 80
< 130
< 85
Limítrofe
130-139
85-89
Hipertensão: Estágio I
140-159
90-99
Hipertensão: Estágio II
160-179
100-109
Hipertensão: Estágio III
≥ 180
≥ 110
Hipertensão sistólica
isolada
≥ 140
< 90
O controle da hipertensão arterial está intimamente ligado a mudanças de
hábitos de vida: alimentação adequada, prática regular de exercícios físicos
e abandono do tabagismo; estas estratégias se referem às atividades de
autocuidado que, muitas vezes deveriam ser orientadas por profissionais e
precisam ser realizadas pelas pessoas portadoras de hipertensão para o ideal
controle dos níveis pressóricos (CADE, 2001, p. 43 – 50).
Depois de diagnosticada a hipertensão, o tratamento será feito baseado nos
74
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.72-84
níveis pressóricos individuais e possíveis lesões em órgãos alvos, podendo ser
farmacológico ou não (MION, PIERIN, GUIMARÃES, 2001, p. 249).
Segundo a classe de anti-hipertensivos os medicamentos utilizados são:
diuréticos, bloqueadores betadrenérgicos, antagonista dos canais de
cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina, antagonistas
do receptor AT1 da angiotensina II (ARA), agonistas alfa 2 centrais e
vasodilatadores diretos (SBC, 2006, p. 24-79).
Os medicamentos utilizados para tratar a hipertensão diminuem a resistência
periférica, volume sanguineo ou força e frequência da contração miocárdica
(BRUNNER & SUDDARTH, 2006, p. 904 – 916).
Para que a equipe de saúde obtenha sucesso sobre a terapêutica
medicamentosa e não medicamentosa dos pacientes hipertensos, fatores
como o grau de adesão do paciente submetido ao tratamento devem ser
avaliados. A adesão ao tratamento é um meio para alcançar um fim, uma
abordagem para manutenção ou melhora da saúde, visando a reduzir os
sinais e sintomas de uma doença (MILLER et al.,1997, p. 1085-1090).
As definições de adesão devem sempre abranger e reconhecer a vontade do
indivíduo em participar e colaborar com seu tratamento, o que não é abordado
em algumas concepções (GUSMÃO, MION, 2006, p.23-25).
OBJETIVOS
Caracterizar o perfil dos pacientes portadores de hipertensão arterial e
determinar as características associadas à adesão e à não-adesão do tratamento
medicamentoso para o controle da Hipertensão Arterial Sistêmica.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo-quantitativo transversal, em que a população
de estudo foram os pacientes portadores de HAS em atendimento ambulatorial
em uma instituição religiosa de uma cidade do Médio Vale do Paraíba.
A coleta de dados foi realizada em prontuários dos pacientes hipertensos
atendidos a partir de janeiro de 2004 a fevereiro de 2009. Foi elaborado um
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 72-84
75
instrumento para a coleta de dados para sistematizar as informações descritas
no prontuário. Os dados foram coletados de janeiro a março de 2009. Foram
analisadas as seguintes variáveis: sexo, idade (< ou >60 anos), tempo de
acompanhamento ambulatorial, última aferição da pressão arterial descrita
no prontuário, classe de medicamentos em uso.
Para a definição da não adesão ou adesão medicamentosa dos pacientes foi
utilizado o teste de Morisky (MION et al., 2006, p. 55-58), que é composto por
quatro perguntas, que objetivam avaliar o comportamento do paciente em
relação ao uso habitual do medicamento (Quadro II) (MORISKY et al., 1982,
p. 1835-1838 ). O paciente é classificado no grupo de alto grau de adesão,
quando as respostas a todas as perguntas são negativas. Porém, quando pelo
menos uma das respostas é afirmativa, o paciente é classificado no grupo
de baixo grau de adesão. Esta avaliação permite, também, discriminar se o
comportamento de baixo grau de adesão é do tipo intencional ou não intencional,
sendo, também, possível caracterizar pacientes portadores de ambos os tipos de
comportamento de baixa adesão (SEWITCH et al., 2003, p. 1535-1544). Para
validar esse teste no prontuário foram pesquisadas as anotações da equipe
médica que fossem coniventes para responder às quatro perguntas. Como
havia anotações da equipe médica em relação à dificuldade do paciente em
tomar os medicamentos por falta de recursos financeiros e por fazer confusão
ao tomar os medicamentos, formulamos uma questão para avaliar o aspecto
social e econômico desses pacientes.
Quadro II– Perguntas que compõe o teste de Morisky e classificação dos dois tipos de comportamentos
de baixo grau de adesão, indicados por respostas afirmativas
Perguntas referentes ao teste de Morisky
Não
intencional
“Você, alguma vez se, esquece de tomar o seu remédio?”
X
“Você, às vezes, é descuidado quanto ao horário de
tomar o seu remédio?”
X
Intencional
“Quando você se sente bem, alguma vez, você deixa de
tomar seu remédio?”
X
“Quando você se sente mal, com o remédio, às vezes,
deixa de tomá-lo?”
X
(Sewitch, 2003)11
76
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.72-84
RESULTADO E DISCUSSÃO
Quadro I– Pacientes hipertensos pesquisados quanto ao sexo e idade.
Sexo
N
%
Idade
N
%
Feminino
47
69,12
> 60 anos
40
58,88
Masculino
21
30,88
< 60 anos
28
41,12
* N: Número absoluto de pacientes; (%): Percentual; >: maior; <: menor
Na Quadro I, observamos maior prevalência dos pacientes hipertensos
pesquisados do sexo feminino (69,12%). No entanto, a prevalência global de
hipertensão entre homens (26,6%) e mulheres (26,1%) mostra que o sexo não
é fator de risco para hipertensão.6 Quanto à idade 58,88% possuem mais de 60
anos e 41,12% possuem menos de 60 anos. Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE,
o país tem 17 milhões de pessoas com HAS. No total do número de pessoas
estima-se que 35% têm mais de 40 anos. Porém, o governo reconhece o baixo
índice de controle dessa patologia, em virtude da evolução, em princípio,
assintomática; a dificuldade para o diagnóstico e tratamento e ainda a baixa
adesão dos pacientes ao tratamento prescrito.12
Quadro II – Classe de Medicações anti-hipertensivas utilizadas pelos pacientes pesquisados.
Medicações anti-hipertensiva utilizadas)*
N
%**
Antagonistas dos canais de cálcio
32
47,06
Diuréticos
29
42.65
Antagonistas dos receptor AT1 da angiotensina II (ARA)
24
35
Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA)
19
27,94
Bloqueadores Beta adrenérgicos
19
27,94
Vasodilatadores diretos
5
7,35
Agonistas alfa 2 centrais
4
5,88
Bloqueadores alfa 1 adrenérgicos
1
1,47
*Classificação segundo Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2006)6
**O total excede a porcentagem, visto que cada paciente pode fazer uso de mais de um
medicamento.
N: Número absoluto de pacientes; %: Percentual
Na Quadro II, podemos observar que 47,06% dos pacientes fazem uso dos
antagonistas dos canais de cálcio, que é o vasodilatador de primeira escolha
para o controle da HAS na instituição pesquisada. Em seguida temos o uso
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 72-84
77
dos diuréticos que correspondem a 42,65%, seguidos de 35,29% de pacientes
que fazem uso dos antagonistas do receptor AT1 da angiotensina II (ARA). O
antagonista do receptor da angiotensina II, em sua maioria são medicamentos
considerados de alto custo para a realidade dos países em desenvolvimento.
Porém, são muito utilizados na instituição porque são eficazes e possuem menos
efeitos colaterais. Estudos de MION et al. (2006)13 verificou uma maior adesão
à terapêutica medicamentosa com classes de anti-hipertensivos mais modernos
(Antagonistas dos canais de cálcio, Inibidores da ECA e antagonistas dos
receptores AT1 da angiotensina II), visto que são muito mais seletivos que as
classes de drogas mais antigas ( diuréticos, beta bloqueadores e simpatolíticos
de ação central). Drogas que apresentam sabidamente menor número de efeitos
colaterais, em especial os antagonistas dos receptores AT1 da angiotensina II,
são capazes de melhorar a adesão à terapêutica inicialmente proposta.13 Esses
dados serviram como base para uma significativa comparação com os achados
da pesquisa. Os antagonistas dos receptores AT1 da angiotensina II são um
medicamento comumente prescrito pela instituição no intuito de otimizar o
tratamento medicamentoso e aumentar o conforto do paciente favorecendo a
adesão e a qualidade de vida.
Quadro III - Perguntas que compõem o teste de Morisky sobre o uso de medicamento antihipertensivo e classificação dos tipos comportamentais de baixo grau de adesão, indicadas por
respostas afirmativas.
Perguntas referentes ao teste de Morisky
Não
intencional
“Você, alguma vez, se esquece de tomar o seu remédio?”
X
“Você, às vezes, é descuidado quanto ao horário de
tomar o seu remédio?”
X
Intencional
“Quando você se sente bem, algumas vezes, você deixa
de tomar seu remédio?”
X
“Quando você se sente mal, com o remédio, às vezes,
deixa de tomá-lo?”
X
(Sewitch, 2003, p. 1535-1544)
Considerando a Quadro III, para observação da análise dos 68 pacientes
pesquisados, verificamos que 33 pacientes (48,52%) foram inclusos no alto grau
78
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.72-84
de adesão, pois não responderam “sim” para nenhuma questão e seguem com
fidelidade às prescrições médicas quanto ao uso dos medicamentos. Os outros
36 pacientes pesquisados (52,94%) foram inclusos no baixo grau de adesão,
sendo que, 21 pacientes (30,88%) apresentaram baixa adesão não intencional,
9 pacientes (13,23%) apresentaram baixa adesão intencional e 5 pacientes
(7,35%) baixa adesão dos dois tipos de comportamentos. Em relação ao tipo
de não-adesão do paciente atendido neste ambulatório, observou-se por meio
do Teste de Morisky que o comportamento do tipo não intencional foi aquele
que predominou, ou seja, pacientes que esquecem ou são descuidados para
tomar os medicamentos no horário correto. O predomínio do comportamento
não intencional para a não adesão medicamentosa anti-hipertensiva,
provavelmente é reflexo de uma boa orientação ao paciente pelos profissionais
de saúde que o atendem e da prescrição de drogas que sabidamente causam
menores efeitos colaterais pela instituição pesquisada.
Quadro IV – Relação entre Última aferição da Pressão Arterial e o número de pacientes aderentes
e não aderentes ao tratamento medicamentoso anti-hipertensivo.
Última aferição da Pressão Arterial
Aderentes
Não
Aderentes
N
%
N
%
Ótima
6
18,18
2
5,71
Normal
11
33,33
8
22,85
Limítrofe
12
36,36
16
45,71
Estágio I
3
9,09
8
22,85
Estágio II
0
-------
1
2,85
Estágio III
1
3,03
0
-------
N: número de pacientes; %: Percentual
A Quadro IV mostra importante relação entre a adesão à terapia medicamentosa
anti-hipertensiva e o controle da pressão arterial. Aproximadamente 51% dos
pacientes considerados aderentes ao tratamento medicamentoso, quando
analisados sob o ponto de vista da última aferição da pressão arterial relatada
no prontuário, apresentaram uma pressão arterial na classificação ótima
e normal, enquanto apenas 28% dos pacientes considerados não aderentes
estavam com a pressão arterial dentro da faixa de normalidade. Ao relatar esses
fatos, observamos um maior controle da Pressão Arterial entre os pacientes
que relataram ser aderentes ao tratamento medicamentoso, ficando evidente,
dessa maneira que é imprescindível estabelecer metas que procurem elevar
o grau de adesão do paciente hipertenso. Para isso devem-se considerar as
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 72-84
79
cinco dimensões da adesão: fatores sociais e econômicos, a equipe/sistema de
saúde, as características da doença, terapias da doença e fatores relacionados
ao paciente (WHO, 2003,p.138 ).
Quadro V– Dificuldade do paciente em adquirir ou tomar os medicamentos de forma correta.
Dificuldade em tomar
os medicamentos
N*
(%)
A) Não possui dificuldade
para aquisição de
medicamentos
39
62,90
B) Se há falta do
medicamento na farmácia
do ambulatório fica difícil
a aquisição por falta de
recursos financeiros.
17
27,40
C) Faz confusão ao tomar
os medicamentos
2
3,22
D) Pacientes que
responderam a questão
BeC
6
9,67
N: Número absoluto de pacientes; (%): Percentual
* 6 pacientes foram excluídos, pois não havia relatos no prontuário.
Na Quadro V, constata-se que 62,90% dos pacientes não possuem dificuldade
em adquirir os medicamentos na farmácia de modo particular, 27,40% a
aquisição dos medicamentos fica difícil por falta de recursos financeiros. Se
somarmos os pacientes que responderam as questões B e C respectivamente a
porcentagem para a dificuldade para aquisição dos medicamentos é de 37,07%.
A maioria dos hipertensos estudados são pessoas carentes e com baixo grau
de escolaridade, dados estes que podem ser considerados como dificultadores
nos processos de adesão ao tratamento. Porém na análise do prontuário,
não havia dados que pudessem confirmar essa fala. Todavia, cada paciente
que é atendido na instituição de estudo, em primeira instância passa por
uma entrevista com a Assistente Social para avaliar a real necessidade de
atendimento especializado com o médico cardiologista e outros profissionais
da área da saúde. Para confirmar os dados para a dificuldade em adquirir
os medicamentos a WHO afirma que os benefícios da farmacoterapia não
se distribuem homogeneamente entre as camadas sociais. O acesso aos
medicamentos segue as desigualdades sociais e econômicas. Vinte e cinco por
cento da população mundial estão sem assistência farmacêutica completa, isto
é, não têm acesso ­ou têm acesso limitado ­aos fármacos (WHO, 1998, p.123).
80
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.72-84
No Brasil estima-se que 23% da população consumam 60% da produção, e
que 64,5 milhões de pessoas, em condições de pobreza, não tenham como
comprar remédios (BERMUDEZ, 1995, p.204). A dificuldade para a aquisição
dos medicamentos fere a Constituição Federal de 1988 em que no artigo 196
encontramos a seguinte citação: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, Artigos 196;
197; 198 (PARÁGRAFO ÚNICO – EC 29); 200).
Gráfico 1 – Relação entre tempo de acompanhamento ambulatorial e a última aferição da Pressão Arterial.
Tempo de Acompanhamento Ambulatorial em Anos x Última Aferição da Pressão Arterial
60%
% de Pacientes Pesquisados no Prontuário
50%
7,55%
40%
30,18%
ótima
normal
30%
limitrofe
11,11%
20%
25,92%
Estágio I
41,50%
20%
20%
Estágio II
Estágio III
37,03%
10%
50%
17%
25,92%
0%
10%
< 3 anos
3,77%
> 3 anos
> 5 anos
Tempo de Acompanhamento Ambulatorial em Anos
No gráfico 1, observamos que em relação ao tempo ambulatorial menor que
3 anos, que corresponde a 20 dos pacientes pesquisados, 20% dos pacientes
possuem uma pressão arterial considerada ótima, 20% normal, 50% limítrofe
e 10% no estágio III para a HAS. Em relação ao tempo de acompanhamento
ambulatorial maior que 3 anos, que corresponde a 27 dos pacientes pesquisados,
11,11% dos pacientes possuem uma pressão arterial considerada ótima, 25,92%
normal, 37,02% limítrofe e 25,92% % no estágio I para a HAS. Já em relação
aos pacientes com mais de 5 anos de acompanhamento, que correspondem a
53 dos pacientes pesquisados observamos que 7,55% possuem uma pressão
arterial considerada ótima, 30,18% normal, 41,59% limítrofe, 17% no estágio
I e 3,77% no estágio II para a HAS, não havendo grandes significâncias entre
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 72-84
81
os 3 grupos perante os anos de acompanhamento, evidenciando com esses
achados, que o objetivo das equipes multidisciplinares é estabelecer o controle
da HAS, independente do tempo de acompanhamento. Porém, ao considerarmos
a classificação da pressão arterial, independente do tempo de acompanhamento
ambulatorial, verificamos que a pressão arterial está sendo mantida de alguma
maneira, pois para 80% dos pacientes atendidos neste ambulatório a pressão
arterial está dentro da classificação considerada ótima (<120 x <80 mmHg),
normal (< 130 x < 85 mmHg) e limítrofe (130-139 x 85-89 mmHg). Podemos
considerar a hipótese de que a manutenção da pressão arterial, independente
do paciente possuir uma doença associada ou não à própria hipertensão, está
sendo mantida através da medicação prescrita pelo médico cardiologista.
Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, deixam claro que o tratamento
medicamentoso associado ao não medicamentoso objetiva a redução da pressão
arterial para valores inferiores a 140 mmHg de pressão sistólica e 90 mmHg
de pressão diastólica (SBC, 2006, p. 24-79).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O controle da Hipertensão Arterial, seja através de métodos de uso de terapia
medicamentosa ou não medicamentosa, aumenta a sobrevida dos pacientes
hipertensos e evita o agravamento de inúmeras co-morbidades que podem
estar relacionadas ou não à própria hipertensão.
Em relação à adesão à terapia medicamentosa anti-hipertensiva é preciso
favorecerem condutas que aumentem o grau de adesão, onde sejam conjugados
os objetivos da equipe multidisciplinar e o desejo do paciente em participar
do processo de manutenção de sua própria saúde. Para isso, é preciso o
fortalecimento do relacionamento interpessoal entre as equipes e o paciente
no intuito de se modificar a conduta comportamental, seja ela não intencional
ou intencional e promover uma ação pedagógica que seja capaz de explicitar
os inúmeros riscos que o paciente pode adquirir diante da não adesão à
terapêutica. E, para garantir que todos tenham acesso aos medicamentos é
preciso que os profissionais que se comprometeram em cuidar da saúde de
outrem estabeleçam uma postura de esclarecimento ao paciente, para que o
mesmo possa cobrar das autoridades municipais, estaduais e federais o Direito
Integral à Saúde proposto pela Constituição Federal de 1988. Baseando-se
em todos esses aspectos citados, a Enfermagem possui um grande papel para
o desenvolvimento de metas que possam ser direcionadas ao paciente e que
possam aumentar e favorecer as condições de autocuidado.
82
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.72-84
Merece destaque, na análise dos 68 pacientes hipertensos pesquisados, que
embora ainda haja alta prevalência de não adesão ao tratamento prescrito
para hipertensão, seja ela do tipo comportamental ou por falta de recursos
financeiros, ainda que sejam evidentes, o tratamento medicamentoso, quando
analisado sob o ponto de vista da última aferição da pressão arterial foi eficaz
para 80% dos pacientes. Concluímos que, o aprimoramento de condutas
para o controle da Hipertensão Arterial pode trazer inúmeros benefícios ao
paciente, melhorando as questões sobre a adesão à terapêutica medicamentosa
e consecutivamente aumento da qualidade de vida desses pacientes.
REFERÊNCIAS
BRANDÃO, Andréa et al – Hipertensão (Departamento de Hipertensão Arterial da
Sociedade Brasileira de Cardiologia) Rio de Janeiro : Elsevier, p. 327, 2006.
BATISTA, M. C. B.; PEREIRA, R. B. L; KOLMANN Jr, O – Tratamento da
hipertensão arterial em pacientes coronariopatas – Rev Bras Hipertens. vol 06,
nº 4,p.149 – 152, 2003.
OHARA, Elisabeth and Saito, Raquel. Saúde da família: considerações teóricas e
aplicabilidade. São Paulo : Martinari, p 279 – 321, 2008
CADE, Nágela Valadão - A teoria do déficit de autocuidado de Orem aplicada em
hipertensas - Revista Latino-americana de enfermagem, p. 43 – 50, 2001.
MION Jr, Décio; PIERIN, A.M.G,; GUIMARÃES, A. - Tratamento da Hipertensão
Arterial – Resposta de Médicos Brasileiros a um Inquérito. Rev. Assoc. Med.
Bras. vol.4, n.3, p. 249, 2001.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, V Diretrizes Brasileiras de
Hipertensão Arterial. São Paulo: Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade
Brasileira de Cardiologia; p 24-79, 2006.
BRUNNER & SUDDARTH. Enfermagem Médica Cirúrgica. Vol. 2. Guanabara
Koogan, 2006 ,p. 904 – 916
MILLER, N.H.; HILL,M.; KOTTKE, T.; OCKENE, I.S. – The multilevel compliance
challenge: recommendations for a call action. A statement for health care
professionales- Circulation, p. 1085-1090, 1997.
GUSMÃO, J.L.; MION Jr, Décio. Adesão ao tratamento – conceitos. Rev Bras
Hipertens vol.13(1), p.23-25, 2006.
MORISKY, D.E.; LEVINE, M.; GREEN, L.W.; SMITH, C.R. Health education
program effects on the management of hypertension in the elderly. Arch. Intern.
Med., v. 142, n.10, p. 1835-1838, 1982.
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 72-84
83
SEWITCH, M.J.; ABRAHAMOWICZ, M.; BURKUN, A.;BITTON, A.; WILD, G.E.;
COHEN, A.; DOBKIN, P.L. Patient nonadherence to medication in inflammatory
Bowel disease. Am. J. Gastroenterol., v. 98, n. 7, p. 1535-1544, 2003.
MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção básica. Hipertensão Arterial Sistêmica para o Sistema Único de Saúde.
Brasília. Ministério da Saúde: 2006
MION Jr, Décio.; SILVA, G.V.S.; ORTEGA, K.C.; NOBRE,F. A importância da
medicação anti-hipertensiva na adesão ao tratamento. Rev Bras Hipertens , Vol
13, p. 55-58 , 2006.
WHO (World Health Organization). Aderence to long-term therapies: Evidence
for actions. 2003. ISBN 9241545992 p.138
WHO (World Health Organization). The World Drug Situation.Geneva. p.123, 1998.
BERMUDEZ, J. A. Z. Indústria Farmacêutica, Estado e Sociedade. São Paulo:
Editora Hucitec/ Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, p.2004, 1995.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 1988: Título VIII – Da Ordem Social; Capítulo
II – Seção II, DA SAÚDE – Artigos 196;197;198 (PARÁGRAFO ÚNICO – EC 29); 200
84
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p.72-84
Normas
para apresentação de originais
Na revista podem ser publicados artigos escritos por outros especialistas, desde
que o tema seja de interesse para a área de Enfermagem.
Opiniões e conceitos emitidos nos manuscritos são de exclusiva responsabilidade
dos autores, não refletindo necessariamente a posição da Comissão de
Editoração. A revista não assume a responsabilidade por equívocos gramaticais,
e se dá, portanto, ao direito de decidir quanto a alterações e correções.
Os manuscritos resultantes de estudos que envolvem seres humanos deverão:
indicar os procedimentos adorados para atender o constante da Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, indicar o numero do protocolo de
aprovação do projeto de pesquisa, e encaminhar cópia do protocolo como
documento suplementar.
Os artigos enviados serão primeiramente analisados pela Comissão de
Editoração em relação à adequação à linha editorial e às normas da revista. A
decisão desta análise será comunicada aos autores. Posteriormente a avaliação
do artigo é realizada por pares de consultores, membros do Conselho Editorial
ou Ad-Hoc, convidados pela Comissão Editorial. A identidade do autor e a da
instituição de origem é mantida sob sigilo, bem como entre o autor e o consultor.
Os pareceres são apreciados pela Comissão de Editoração que emite o parecer
final, ou no caso de divergência entre os pareceres, solicita um terceiro parecer
O artigo encaminhado aos autores para reformulação deverá retornar ao
Conselho Editorial no prazo máximo de30 dias. Fora esse prezo será considerada
nova submissão. Os autores deverão manter seus emails atualizados para
receber toda comunicação.
O Autor, identificando a necessidade de solicitar uma errata, deverá enviá-la
no prazo máximo de 30 dias após a publicação do artigo, e ficarà a critério da
Revista a decisão sobre sua relevância e possível distribuição.
1. INFORMAÇÕES GERAIS
Os arigos devem ser digitados no
programa word for windows ou outro
similar, na fonte Times New Roman 12,
em folha tamanho A4. Eles devem ser
encaminhados por email devidamente
identificado. O texto não deve ser
formatado, ou seja, a tabulação dever ser
manual, não devem ser usados recuos nem
a numeração automática do programa. O
entrelinhamento deve ser simples.
2. DIVISÃO DO TEXTO
A numeração das partes do artigo deve ser
progressiva, seguindo as determinações da
norma Vancouver.
3. CITAÇÕES
As citações quando maiores de 3 (três)
linhas, devem vir separadas do texto, com
uma linha em branco antes e outra depois
do texto, com uma linha em branco antes e
outra depois da citação. Tanto o tamanho
da fonte, quanto a margem da citação não
devem diferir do resto do texto. A única
diferença é o espaço antes e depois desta.
As citações serão formatadas no processo
de diagramação.
4. NOTAS
Todas as notas devem vir como notas de
rodapé.
5. REFERÊNCIAS
As referências deverão seguir as
orientações da norma Vancouver.
6. TABELAS E GRÁFICOS
As tabelas não devem ser diagramadas,
porém é necessário que seja anexada uma
cópia impressa (ou desenho) da forma final
da tabela. As colunas devem ser digitadas
uma abaixo da outra, deixando-se uma
linha em branco entre cada nova coluna.
Os gráficos podem ser produzidos no word.
Também podem ser entregues originais
(cópias nítidas e de boa qualidade) para
serem escaneadas. Tabelas e gráficos
não devem ser coloridos, somente podem
ser utilizadas variações de cinza na sua
composição.
7. ARTIGOS E RESENHAS
Os artigos devem conter um número
mínimo de 10 laudas e um máximo de 18,
sendo acompanhadas de resumos com até
10 linhas em português e inglês e de 3 a
5 palavras-chave, também em português
e inglês. Devem também conter os dados
relativos à formação do autor, vinculação
institucional, e-mail, número de telefone.
8. PERIODICIDADE E PRAZO PARA
ENTREGA DOS ORIGINAIS:
A revista é semestral. Os textos devem ser
entregues à redação até o dia 15 de março
– para publicação no primeiro semestre; e
até 15 de setembro – para publicação no
segundo semestre.
9. OS ORIGINAIS DEVERÃO SER
ENVIADOS PARA:
Faculdades Integradas Teresa
D´Ávila
Av. Dr. Peixoto de Castro, 539 – Vila
Celeste
CEP 12.606-580 – Lorena – SP
Identificando-se como assunto REENVAP
Claudia Lysia
[email protected]
REENVAP - Revista Eletrônica de Enfermagem do Vale do Paraíba, Lorena, n. 1, ago./dez., 2011. p. 86-87
87